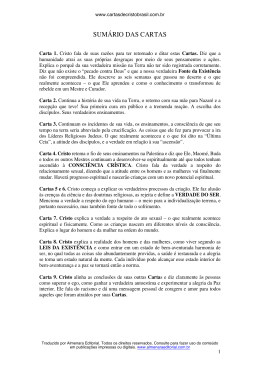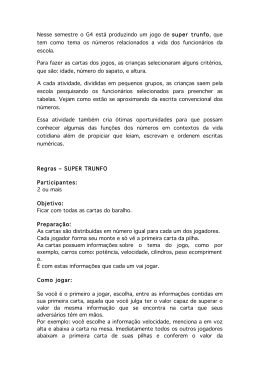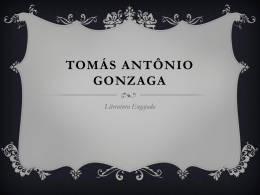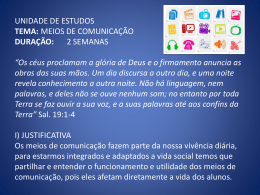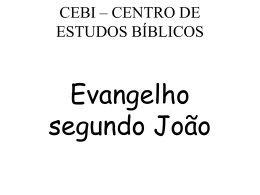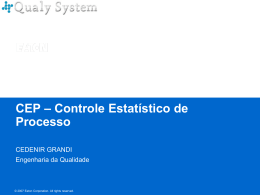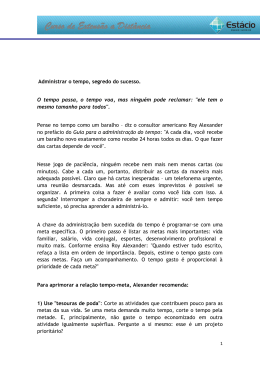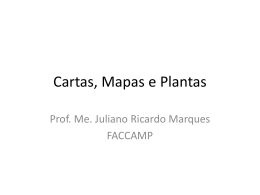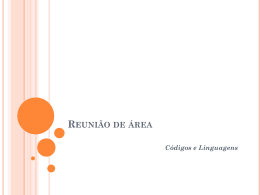Universidade Federal do Rio de Janeiro Eu te amo, eu lhe adoro, eu quero você: a variação das formas de acusativo de 2ª pessoa em cartas pessoais (1880-1980) Camila Duarte de Souza Rio de Janeiro Fevereiro de 2014 2 Eu te amo, eu lhe adoro, eu quero você: a variação das formas de acusativo de 2ª pessoa em cartas pessoais (1880-1980) Camila Duarte de Souza Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro como quesito para a obtenção do Título de Mestre em Letras Vernáculas (Língua Portuguesa). Orientadora: Professora Doutora Célia Regina dos Santos Lopes Rio de Janeiro Fevereiro de 2014 3 Eu te amo, eu lhe adoro, eu quero você: a variação das formas de acusativo de 2ª pessoa em cartas pessoais (1880-1980) Camila Duarte de Souza Orientadora: Célia Regina dos Santos Lopes Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Letras Vernáculas (Língua Portuguesa). Examinada por: _________________________________________________ Presidente, Professora Doutora Célia Regina dos Santos Lopes – UFRJ _________________________________________________ Professora Doutora Márcia Cristina de Brito Rumeu – UFMG _________________________________________________ Professora Doutora Silvia Regina de Oliveira Cavalcante – UFRJ _________________________________________________ Professor Doutor Leonardo Lennertz Marcotulio – UFRJ (Suplente) _________________________________________________ Professora Doutora Rosane de Andrade Berlinck – UNESP (Suplente) Rio de Janeiro Fevereiro de 2014 4 Souza, Camila Duarte de. Eu te amo, eu lhe adoro, eu quero você: a variação das formas de acusativo de 2ª pessoa em cartas pessoais (1880-1980) / Camila Duarte de Souza. Rio de Janeiro: UFRJ – FL, 2014. Orientador: Célia Regina dos Santos Lopes Dissertação (mestrado) – UFRJ / Faculdade de Letras / Programa de PósGraduação em Letras Vernáculas, 2014. Referências Bibliográficas: 147-156 1. Acusativo de 2ª pessoa; 2. Cartas pessoais; 3. Sociolinguística histórica. I. Lopes, Célia Regina dos Santos. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, PósGraduação em Letras Vernáculas. III. Eu te amo, eu lhe amo, eu quero você: a variação das formas de acusativo de 2ª pessoa em cartas pessoais (1880-1980). 5 SOUZA, Camila Duarte de. Eu te amo, eu lhe adoro, eu quero você: a variação das formas de acusativo de 2ª pessoa em cartas pessoais (1880-1980). Dissertação de Mestrado em Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ, 2014. Resumo O presente trabalho orienta-se para o estudo da variação das formas do complemento verbal acusativo de 2ª pessoa do singular no período de um século: 1880 a 1980. Na perspectiva tradicional de “uniformidade de tratamento”, o pronome acusativo original de 2ª pessoa seria apenas o clítico te, no entanto, outras estratégias também são possíveis no português brasileiro, como o pronome você, os clíticos lhe e o/a e, até mesmo, o objeto nulo Ø. Dessa maneira, levantamos todas as formas variantes do complemento em questão, com o objetivo de investigar os fatores de natureza linguística e extralinguística que estariam influenciando no uso das diferentes estratégias acusativas. Para tanto, utilizamos um corpus constituído por 521 cartas pessoais escritas no referido período e trocadas por indivíduos oriundos do Rio de Janeiro. Como aparato teórico-metodológico, utilizamos a Sociolinguística histórica (ROMAINE, 1982; CONDE SILVESTRE, 2007; HERNÀNDEX-CAMPOY & CONDE SILVESTRE, 2012), para o tratamento dos dados históricos. Em síntese, esta dissertação constatou que, dentre todas as formas acusativas de 2ª pessoa do singular, o clítico te foi o mais empregado em todos os subsistemas tratamentais de sujeito (tu, você e tu~você) e ao longo de todo o século, revelando, assim, que a função acusativa se mostra como um contexto de resistência à inserção da forma gramaticalizada você. Ainda observamos que os clíticos de 3ª pessoa o/a foram a segunda estratégia mais utilizada e que o você-acusativo começou a surgir no 2º período (1906-1930). Palavras-chave: Acusativo de 2ª pessoa, Cartas pessoais, Sociolinguística histórica. 6 SOUZA, Camila Duarte de. Eu te amo, eu lhe adoro, eu quero você: a variação das formas de acusativo de 2ª pessoa em cartas pessoais (1880-1980). Dissertação de Mestrado em Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ, 2014. Abstract The present work is oriented towards the study of the variation of the forms of accusative verbal complement of 2nd person singular in the period of a century: 18801980. In the traditional perspective of "uniformity of treatment", the original accusative pronoun of 2nd person would be only the clitic te, however, other strategies are also possible in Brazilian Portuguese, as the pronoun você, the clitics lhe and o/a and even the null object Ø. In this way, we raised all the variant forms of the complement at issue, with the aim to investigate the linguistic and extralinguistic factors that would be influencing the use of different accusative strategies. For that, we use a corpus constituted by 521 personal letters written in the period mentioned and exchanged by individuals from the Rio de Janeiro. As theoretical and methodological apparatus, we use the Historical Sociolinguistics (ROMAINE, 1982; CONDE SILVESTRE, 2007; HERNÀNDEX-CAMPOY & CONDE SILVESTRE, 2012), for the treatment of historical data. In summary, this dissertation found that, among all forms of accusative 2nd person singular, the clitic te was the most used in the all subsystems of treatment of the subject (tu, você e tu~você) and over the whole the century, thus revealing that the accusative function shows itself as a context of resistance to insertion of the grammaticalized form você. We still observe that the 3rd person clitics o/a were the second most frequent strategy and that the você-accusative started to appear in 2nd period (1906-1930). Keywords: Accusative of 2nd person, Personal letters, Historical Sociolinguistics. 7 Ao meu pai Rinaldo e à minha mãe Márcia, grandes responsáveis, abaixo de Deus, por tudo que sou. 8 AGRADECIMENTOS Agradeço primeiramente a Deus, fonte de amor, bondade e misericórdia, a quem eu sempre recorro tanto nos maus quanto nos bons momentos, seja para pedir forças seja para agradecer. Sem a Sua ajuda este sonho certamente não teria se concretizado! Aos meus pais, Rinaldo e Marcia, exemplos de caráter, companheirismo e amor, por terem me dado todo o suporte necessário para que eu chegasse até aqui, por me mostrarem o valor da educação, tanto a que vem de casa quanto a aprendida em salas de aula. À Célia Lopes, uma grande pessoa, professora, pesquisadora e orientadora; pessoa “humana” e humilde, capaz de entender as angústias, medos e ansiedades de uma mestranda; peça fundamental desde a Iniciação Científica! À Silvia Cavalcante, pelo apoio e co-orientação no início da Iniciação Científica e pelas valiosas contribuições para a minha pesquisa e para a minha vida acadêmica! À minha maninha Jéssica, que sempre me apoiou e acreditou em mim, em meio a briguinhas, conselhos e conversas. A toda a minha família: meus tios (as), primos (as), dindos... Seria impossível citar todos aqui, tendo em vista o enorme tamanho da minha família. Sinto-me muito feliz por saber a força da nossa união e da nossa fé! Aproveito para fazer um agradecimento especial aos meus avós Antônio e Maria, pessoas super dedicadas e carinhosas; nordestinos que vieram para o Rio tentar uma vida melhor, como muitos outros o fizeram e que tiveram muitas conquistas!Agradeço o apoio durante toda a minha jornada e o carinho que vocês sempre me deram. Tenho muito orgulho de ser a neta mais velha de vocês! Ao Douglas, pessoa que entrou em minha vida no momento em que menos esperava e mais precisava. Obrigada pela paciência, pelo carinho e amor com que sempre me trata, por me acalmar, por levantar minha autoestima nos momentos difíceis e tristes e por ser esse companheiro nota mil!Eu te lhe o amo você! Ao Thiago, meu grande companheiro de jornada. Nossa, quantos ônibus lotados, engarrafamentos, estresses, provas tivemos de enfrentar! Vejo que tudo isso foi menos difícil tendo você em minha companhia. Quantos sonhos compartilhamos, quantas conversas, quantos estudos durante esses seis anos de caminhada. Valeu, amigo!! 9 Às professoras Luciana e Rosana, com as quais tive aula de português no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, respectivamente; professoras espetaculares, que me despertaram para o estudo da língua portuguesa! Aos meus amigos e amigas que sempre me incentivaram! Em especial às minhas amigas Maria e Lu, que sempre torceram verdadeiramente por mim e com as quais eu sei que posso contar! Ao meu bebezinho Kaká, pela ternura e pelo carinho; por sempre conseguir me alegrar após um dia super cansativo e por ser muito mais que um animalzinho de estimação, por ser um membro da família! Aos meus alunos do Colégio Pedro II, Campus Realengo II, que me perguntavam pela minha dissertação sobre “algo da segunda pessoa” e que torceram por mim!Obrigada pelo aprendizado recíproco e pelo carinho e atenção! Ao Cnpq, pelo apoio financeiro. Enfim, a todos que, diretamente ou indiretamente, me ajudaram a tornar este sonho realidade! 10 SINOPSE Estudo da variação entre as formas de acusativo de 2ª pessoa do singular a partir da análise de cartas pessoais escritas nos séculos XIX e XX. 11 “(...) toda e qualquer língua humana, em qualquer período de sua história, é, foi e sempre será inevitavelmente heterogênea.” (Marcos Bagno) 12 Sumário 1. Introdução..........................................................................................................18 2. Conhecendo a literatura sobre o objeto de estudo..........................................22 2.1. A introdução do você no sistema pronominal do PB...............................22 2.2. O acusativo de 2ª pessoa do singular no latim.........................................26 2.3. O que diz a tradição gramatical sobre o tema?.......................................28 2.4. O que dizem os estudos linguísticos sobre o tema?..................................32 2.5. Lheísmo – o uso do lhe como acusativo....................................................44 3. Fundamentação teórica: Sociolinguística histórica........................................49 3.1. Principais problemas..................................................................................51 3.2. O princípio da uniformidade linguística e o perigo do anacronismo......54 3.3. Reconstruindo o material linguístico histórico........................................56 3.3.1. A utilidade da linguística do corpus...............................................58 3.4. Reconstruindo o contexto social................................................................59 3.5. O papel das redes sociais............................................................................63 3.5.1. O estudo das redes sociais na Sociolinguística histórica..............64 3.6. Afinal, por que cartas pessoais?................................................................66 4. Metodologia........................................................................................................69 4.1. A formação do corpus.................................................................................69 4.2. Retomando a Sociolinguística histórica: Problemas e “soluções” do corpus............................................................................................................76 4.3. Grupos de fatores........................................................................................80 4.3.1. Variável dependente........................................................................81 4.3.2. Fatores linguísticos..........................................................................82 4.3.3. Fatores extralinguísticos.................................................................87 5. Descrição e análise dos resultados obtidos......................................................93 5.1. Analisando os fatores linguísticos.............................................................96 5.2. Analisando os fatores extralinguísticos...................................................110 5.3. A alternância te e o/a................................................................................131 5.4. A alternância te e você..............................................................................138 5.5. A alternância te e lhe................................................................................140 6. Considerações finais........................................................................................144 7. Referências bibliográficas...............................................................................147 13 Índice de gráficos Gráfico 1: Distribuição das variantes para a representação da função acusativa. Fonte: Duarte (1986)...................................................................................................................33 Gráfico 2: Percentual de ocorrência das variantes acusativas no corpus........................94 Gráfico 3: Posição do clítico te em lexias simples e nos complexos verbais................104 Gráfico 4: Distribuição das formas acusativas ao longo de um século.........................110 Gráfico 5 : A forma na posição de sujeito ao longo dos períodos analisados...............111 Gráfico 6: Percentual de ocorrência das variantes acusativas nas cartas com uso exclusivo de tu das diversas famílias.............................................................................115 Gráfico 7: Percentual de ocorrência das variantes acusativas nas cartas com uso exclusivo de você das diversas famílias........................................................................116 Gráfico 8: Percentual de ocorrência das variantes acusativas nas cartas com mescla de tratamento das diversas famílias....................................................................................117 Gráfico 9: Correlação entre o tratamento empregado na posição de sujeito e as estratégias acusativas nas cartas de homens e mulheres................................................129 14 Índice de quadros Quadro 1: Distribuição dos 3 subsistemas dos pronomes pessoais pelas regiões brasileiras. Quadro extraído de Lopes e Cavalcante (2011, p. 39)..................................24 Quadro 2: A declinação dos pronomes pessoais de 1ª e 2ª pessoa no latim (adaptado de FARIA, 1958) .................................................................................................................27 Quadro 3: Pronomes pessoais sob a ótica da tradição gramatical ..................................28 Quadro 4: Os principais elementos que constituem uma carta........................................90 Quadro 5: Situação atual dos pronomes pessoais.........................................................147 15 Índice de tabelas Tabela 1: Distribuição das variantes usadas segundo o traço semântico do objeto. Fonte: Duarte (1986), p.26..........................................................................................................33 Tabela 2: Distribuição das formas de referência à 2ª pessoa em posição acusativa no falar soteropolitano. (ALMEIDA, 2009).........................................................................34 Tabela 3: O continuum estilístico estabelecido por Labov (1972a; em Romaine, 1982, p.18 apud Conde Silvestre, 2007, p.54)...........................................................................61 Tabela 4: Principais informações sobre o corpus adotado..............................................75 Tabela 5: Correlação entre o tratamento na posição de sujeito e as estratégias utilizadas como complemento acusativo.........................................................................................97 Tabela 6: Correlação entre as estratégias acusativas e sua posição em relação ao verbo predicador......................................................................................................................103 Tabela 7: Correlação entre os tempos e modos verbais e as estratégias acusativas......107 Tabela 8: Correlação entre as estratégias acusativas e as famílias................................114 Tabela 9 : Correlação entre o subgênero da carta e as estratégias acusativas...............118 Tabela 10: Correlação entre as formas acusativas e a parte da carta em que o dado se encontra.........................................................................................................................126 Tabela 11: Atuação da variável subgênero da carta no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. o/a)........................................................................................131 Tabela 12: Atuação da variável forma na posição de sujeito no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. o/a).........................................................................132 Tabela 13: Atuação da variável posição do item pronominal em relação ao predicador no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. o/a)................................132 Tabela 14: Atuação da variável tempo e modo verbais no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. o/a).........................................................................136 Tabela 15: Atuação da variável período no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. o/a)..........................................................................................................137 Tabela 16: Atuação da variável período no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. você).......................................................................................................138 Tabela 17: Atuação da variável subgênero da carta no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. você).......................................................................................139 16 Tabela 18: Atuação da variável parte da carta no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. você)............................................................................................139 Tabela 19: Atuação da variável subgênero da carta no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. lhe).........................................................................................141 Tabela 20: Atuação da variável forma na posição de sujeito no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. lhe).........................................................................141 Tabela 21: Atuação da variável família no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. lhe)..........................................................................................................142 Tabela 22: Atuação da variável tempo e modo verbais no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. lhe).........................................................................143 17 Índice de figuras Figura 1: Continuum entre fala e escrita realizado com base no trabalho no Schneider (2002) apud Conde Silvestre (2007)................................................................................66 Figura 2: Oswaldo Cruz..................................................................................................71 18 1. INTRODUÇÃO O presente trabalho objetiva descrever e analisar a variação das formas de acusativo de 2ª pessoa do singular em cartas pessoais escritas por diferentes famílias oriundas do Rio de Janeiro e trocadas durante um século (1880-1980). Algumas pesquisas já se debruçaram sobre as estratégias acusativas de referência ao interlocutor (ALMEIDA, 2009, CAMARGO JR., 2007); contudo, não se tem notícias de estudos que analisem especificamente esse fenômeno na diacronia. Sendo assim, partimos de um corpus formado por 521 cartas pessoais escritas entre 1880 e 1980. Tal período é importante, pois nos permite observar o comportamento das formas acusativas durante a virada do século XIX para o XX e na fase de implementação da forma você no português brasileiro (doravante, PB). Segundo algumas pesquisas (DUARTE, 1995, MACHADO, 2006, 2011; RUMEU, 2004, 2008), o aumento da nova forma em variação com tu se deu a partir da década de 1930. Acreditamos que a entrada da forma inovadora você tenha criado uma reorganização no uso das estratégias de 2ª pessoa do singular na função acusativa, assim como em outras posições da sentença. O pronome original utilizado como complemento acusativo (para a tradição gramatical, objeto direto) seria apenas o clítico te, conhecido na Gramática Tradicional (doravante, GT) como pronome oblíquo átono. A questão central é que, com a implementação do você no sistema pronominal, outras formas também passaram a desempenhar a referida função. Dessa maneira, indivíduos brasileiros podem produzir: (1) “Eu te amo.” (2) “Eu lhe adoro” (3) “Eu quero você” (4) “Eu o/a aprecio” Além dessas formas variantes, é possível também o uso do objeto nulo, como no exemplo, a seguir: (5) “Você sabe que é minha luz, quero muito abraçar Ø!” 19 Além do clítico te, outra forma prevista pela GT para a função acusativa de 2ª pessoa são os clíticos o/a. Isso porque a mesma prevê que a simetria no tratamento deve ser mantida: se se usa o tu na posição de sujeito, deve-se empregar o clítico te na função acusativa (exemplo 6); em contrapartida, caso se use o você, deve-se utilizar os pronomes acusativos o/a (exemplo 7), já que estes são prototipicamente de 3ª pessoa, assim como o você. (6) “Tu sabes que eu te amo!” (7) “Você sabe que eu o/a amo!” Não obstante a uniformidade de tratamento apresentada nos exemplos 6 e 7, percebemos no PB uma larga utilização do você na posição de sujeito com o teacusativo, demonstrando que o mesmo pode se associar tanto ao tu quanto ao você: (8) “Você sabe que eu te amo!” Como vemos, a realidade do PB com relação ao emprego dos pronomes acusativos de 2ª pessoa está muito distante do que prevê a tradição gramatical. Tendo em vista que ainda não se fez uma descrição geral de como se constituiu e como foi se estruturando esse elenco das formas de complemento acusativo de 2ª pessoa do singular, pretendemos, com este trabalho, responder às seguintes questões: 1. Sabendo que o você passou a assumir no PB os mesmos contextos funcionais que tu a partir do século XX, a função acusativa de 2ª pessoa do singular é um contexto de favorecimento a essa forma inovadora ou de resistência à sua utilização? Em outras palavras, a forma você é muito utilizada como complemento acusativo? 2. Que fatores linguísticos e extralinguísticos condicionavam a escolha por uma forma pronominal acusativa em detrimento de outra? Cabe ressaltar que partimos de uma análise quantitativa e, por vezes, qualitativa, a depender dos resultados obtidos. Para tanto, elencamos uma série de hipóteses – 20 algumas levantadas por mim, outras, a partir da observação de estudos realizados sobre pronomes: 1. O pronome original te seria a estratégia mais produtiva como pronome acusativo de 2ª pessoa do singular. Em função disso, a posição acusativa seria mais resistente à entrada do você (LOPES & CAVALCANTE, 2011; LOPES, 2008); 2. Em função acusativa de 2ª pessoa do singular, o lhe seria mais produtivo do que os clíticos acusativos o/a, devido ao traço [animacidade], pois tanto o lhe quanto a 2ª pessoa possuem traço [+animado] ao passo que os clíticos o/a não apresentam tal traço; 3. Acreditamos que o objeto nulo não seja uma estratégia recorrente para a função acusativa de 2ª pessoa. Para esta hipótese, nos baseamos em resultados de pesquisas acerca da 3ª pessoa (cf. DUARTE, 1986, 1989; CYRINO, 1994), uma vez que esses autores verificaram que o traço [animado] do referente favorece o objeto nulo e a 2ª pessoa sempre carrega o traço [+animado]; 4. A função acusativa de 2ª pessoa seria realizada preferencialmente por clíticos, diferentemente da 3ª pessoa que experimentaria a sua queda, principalmente na oralidade (DUARTE, 1986; LOPES & CAVALCANTE, 2011); 5. Quando o remetente usa exclusivamente o tu na posição de sujeito, usa preferencialmente o te como complemento acusativo, conservando a uniformidade do tratamento; 6. Ao empregar somente o você na posição de sujeito, o missivista teria preferência por formas relacionadas à 3ª pessoa; 7. Quando o remetente alterna tu e você na função de sujeito, a forma pronominal te é a mais utilizada na função acusativa para marcar a 2ª pessoa, seja em referência ao paradigma de tu seja para o paradigma de você. 8. O objeto nulo figuraria preferencialmente em cartas nas quais o missivista alterna entre os pronomes tu e você na posição de sujeito (LOPES & CAVALCANTE, 2011); 9. O clítico lhe seria produtivo em contextos formais, isto é, de [+monitoramento] (GOMES, 2003; ALMEIDA, 2009); 21 10. As cartas amorosas favoreceriam o uso da forma relacionada ao pronome tu – clítico te – já que este possui um caráter mais íntimo; 11. O pronome lexical você começaria a atuar como pronome acusativo de 2ª pessoa a partir das décadas de 1920 e 1930, já que nessa época a forma você teria se implementado no quadro de pronomes do PB (cf. DUARTE, 1995; MACHADO, 2006, 2011; RUMEU, 2004, 2008). Cumpre destacar que, dentre os motivos que nos fizeram escolher o gênero epistolar, estão a grande ocorrência de pronomes de 2ª pessoa que há nele e, ainda, o fato de poder conter características da oralidade, principalmente em se tratando de cartas particulares, o que pode propiciar mais variação das formas empregadas. Pelo fato dessas missivas serem do passado, ou seja, por utilizarmos um material linguístico histórico, nossa pesquisa se pauta na Sociolinguística Histórica (ROMAINE, 1982; CONDE SILVESTRE, 2007; HERNÀNDEX-CAMPOY & CONDE SILVESTRE, 2012). Esta dissertação está dividida em seis capítulos. O primeiro é a introdução do trabalho. No capítulo 2, apresentamos a literatura sobre o nosso objeto de estudo, versando sobre a introdução do você no sistema pronominal do PB e sobre a origem do acusativo de 2ª pessoa, ou seja, como era essa função no latim. Expomos também os pontos de vista de diferentes gramáticas tradicionais atuais acerca do tema e resenhamos estudos linguísticos sobre este fenômeno. Por último, reservamos uma seção específica para tratarmos do uso do clítico lhe como complemento acusativo de 2ª pessoa do singular. No capítulo 3, comentamos a fundamentação teórica desta pesquisa, a Sociolinguística histórica, abordando os principais problemas da mesma bem como destacando suas principais preocupações teóricas. Além disso, discutimos o motivo que nos levou a adotar as cartas pessoais como corpus. No capítulo posterior, trazemos a metodologia aqui utilizada, exibindo a formação do corpus, seus problemas e “soluções” e os grupos de fatores. No capítulo 5, apresentamos os resultados obtidos através da análise dos fatores linguísticos e extralinguísticos. Por fim, no capítulo 6, encerra-se o trabalho, com as considerações finais e com o confronto entre as hipóteses e os resultados obtidos. 22 2. CONHECENDO A LITERATURA SOBRE O OBJETO DE ESTUDO Este capítulo visa apresentar o nosso objeto de estudo; para tanto, foi organizado da seguinte forma: na seção 1.1, comentamos acerca da introdução do você no sistema pronominal do PB; na seção 1.2, apresentamos a função acusativa de 2ª pessoa em sua origem, isto é, no latim; na seção 1.3, podemos observar como a tradição gramatical aborda o nosso fenômeno; a seção 1.4 se dedica aos estudos linguísticos sobre o tema; por fim, na seção 1.5, trazemos considerações a respeito do uso do lhe como acusativo, o chamado lheísmo. 2.1. A introdução do você no sistema pronominal do PB Como a variação nos pronomes-objetos em função acusativa deve-se, principalmente, à integração do você no quadro dos pronomes, é conveniente fazermos uma breve consideração acerca desse pronome, demonstrando como ele entrou no sistema pronominal, bem como destacando suas principais características no PB. O português herdou do latim duas formas de tratamento: o vós e o tu, usadas, entre os séculos XIII e XIV, de acordo com a intimidade entre os interlocutores, como ainda ocorre no francês. A primeira forma era empregada quando havia mais de um interlocutor e para se referir a um único interlocutor em situações de respeito/cortesia, e a segunda era utilizada no tratamento com um interlocutor do mesmo nível social ou em relações assimétricas de superior para inferior (CINTRA, 1986; TEYSSIER, 2001). No entanto, em virtude de modificações nas relações sociais e econômicas, houve a introdução de formas mais respeitosas no tratamento com o rei: Vossa Mercê, Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Excelência e Vossa Majestade. (MENON, 1995). Em todos esses sintagmas possessivos, o verbo é conjugado na 3ª pessoa, pois as mesmas equivalem a uma locução nominal substantiva. As formas Vossa Mercê e Vossa Senhoria foram tão amplamente usadas1 que acabaram perdendo seu valor honorífico e 1 Devido às alterações de valores decorrentes das modificações por que passou a sociedade portuguesa, os nobres começaram a empregar o Vossa Mercê e o Vossa Senhoria entre si e a exigir esse tratamento das pessoas de categoria social inferir para se referir a eles. Os que possuíam posições sociais mais baixas também passaram a utilizar essas formas, imitando os nobres (MENON, 1995). Foi daí que resultou o uso tão grande dessas formas. 23 passaram, posteriormente, (principalmente o Vossa Mercê) a ser empregadas por outros estratos sociais, deixando de ser utilizadas para se dirigir somente ao rei. No que tange ao desgaste fonético da forma Vossa Mercê, as etapas, consoante Teyssier (2001), teriam sido essas: Vossa mercê > Vossemecê > Vosmecê > voacê > você. Dessa erosão fonética, como vemos, surgiu o famoso você, que, a partir do século XIX, “entrou” no PB e, posteriormente, se consolidou (MACHADO, 2006; LOPES & DUARTE, 2003; LOPES E MACHADO, 2005; RUMEU, 2004; 2008, entre outros). Menon (1995) assinala que ocorreram modificações de valor com o você, que passou de um tratamento não-íntimo para um tratamento íntimo, embora sempre tenha sido uma forma de se referir à 2ª pessoa: num primeiro momento, o você era usado em uma relação de inferior para superior, posteriormente, em uma relação entre iguais e de superior para inferior. A expressão nominal passou por um processo de gramaticalização, mudou da categoria nome para pronome, ou seja, se pronominalizou. A erosão fonética aludida é uma das consequências dessa gramaticalização. Durante o processo de gramaticalização do você não houve perda de todas as características originais (expressão nominal de tratamento) e nem adoção completa de propriedades da classe nova (pronome de 2ª pessoa) (LOPES, 2008). Isso gerou incompatibilidade entre interpretação semântica e formal, já que a especificação original de 3ª pessoa persiste, embora a interpretação semântico-discursiva passe a ser de 2ª pessoa. Sendo assim, novas possibilidades de combinação passaram a ser amplamente utilizadas, como em (9) (9) Vocêi disse que eu tei acharia na faculdade para pegar o teui livro.2 A tradição gramatical, no entanto, condena esse tipo de correlação (você – te – teu), salientando que se trata de “mistura de tratamento”3, pois, de acordo com sua visão, se o você é oriundo de uma expressão que leva o verbo para a 3ª pessoa, deve, então, se combinar com formas de 3ª pessoa, a fim de que se mantenha a uniformidade de tratamento. Podemos dizer que a forma você possui especificidades que a diferem dos outros pronomes pessoais devido aos traços persistentes de sua história como item lexical (MACHADO, 2006). Em se tratando de persistências formais e semânticas, as primeiras 2 3 Exemplo retirado de Lopes (2009). Para maiores detalhes sobre mistura de tratamento, ver a seção 2.3 da presente dissertação. 24 são mais marcantes: além da conservação da flexão verbal de 3ª pessoa, conforme vimos anteriormente, há também a manutenção da flexão de número e, ainda, a possibilidade de funcionar em diversas funções, diferentemente dos demais pronomes pessoais, que, para mudarem a função, modificam a forma. O único traço semântico que “persiste” reside no uso do você como indeterminador, que seria uma herança da forma de tratamento Vossa Mercê (MACHADO, op. cit). De acordo com Machado (2008), a entrada de você(s) efetuou-se em dois pontos distintos do paradigma pronominal do PB: no singular, variando com o pronome tu, e, no plural, substituindo o vós. Esta forma arcaizante ainda pode ser encontrada em textos bíblicos e, talvez, em templos religiosos. Quanto ao uso tu x você, a autora destaca a existência de três momentos diferentes ao longo do século XX: na primeira década, a predominância de tu, seguindo uma tendência do século XIX; a partir da década de 20, a ascensão e consolidação de você como estratégia principal de referência à 2ª pessoa, e, no final do século, o retorno do pronome tu – usado com verbo na 3ª pessoa – concorrendo com a forma você. Embora a atual situação do sistema pronominal do PB ainda careça de um completo mapeamento descritivo4, Lopes e Cavalcante (2011) apontam a coexistência de pelo menos três subsistemas de tratamento na função de sujeito: (i) você, (ii) tu e (iii) você/tu. Em algumas localidades, o uso de você é majoritário ou exclusivo, em outras, predomina o tu com ou sem concordância; porém, verifica-se a variação você/tu na maior parte do Brasil. Vejamos o quadro a seguir, apresentado por Lopes e Cavalcante (2011). Subsistema/Região Centro-Oeste Sudeste Sul Nordeste (1)Você Você Você Você Tu Tu Tu Você/Tu Você/Tu Você/Tu Você (2)Tu (3)Você/Tu Você/Tu (DF) Você/Tu Norte Quadro 1: Distribuição dos 3 subsistemas dos pronomes pessoais pelas regiões brasileiras Quadro extraído de Lopes e Cavalcante (2011, p. 39) Podemos observar no Quadro 1 uma síntese dos resultados descritos por Scherre et al (2009), mas de forma adaptada, visto que Lopes e Cavalcante (op. cit) reduzem os 4 Para uma excelente síntese dos estudos da variação você e tu nas regiões do Brasil na posição de sujeito ver Scherre et al (2009). 25 seis subsistemas propostos por Scherre et al para apenas três. Vale ressaltar que o quadro nos dá um olhar amplo sobre o fenômeno, não se atendo a informações mais detalhadas, como presença/ausência de concordância. Nele, percebemos que o você se generalizou no PB como pronome pessoal seja variando com o tu seja como tratamento exclusivo. Além das diferenças regionais verificadas, outros fatores também condicionam o uso de tu ou de você. Por um lado, observa-se o favorecimento de “tu” em atos diretivos, contextos de referência determinada, situações mais solidárias e íntimas na fala de jovens do sexo masculino, principalmente os de menor escolaridade (e de áreas rurais?). Por outro, tem-se notado maior neutralidade, caráter “menos invasivo”, contexto indeterminado favorecendo o emprego da forma “você”, principalmente, entre as mulheres. (LOPES, 2009, p. 3) A consolidação de você como a principal forma de tratamento no PB não só modificou o paradigma dos pronomes pessoais, como também contribuiu para a alteração no comportamento do sujeito em relação ao seu preenchimento. Com a sua entrada no quadro pronominal, a 2ª pessoa deixou de ser indicada pelo verbo e passou a ser revelada pelo pronome, já que a marca verbal de pessoa limitou-se ao Ø, que é característico da 3ª pessoa. Isso fez com que o PB, que era, segundo Duarte (1993, 1995) uma língua de sujeito nulo entre o final do século XIX e início do XX, iniciasse uma mudança paramétrica, tornando-se uma língua de sujeito [+preenchido]. Não obstante a larga utilização do você como sujeito, convém destacarmos que a sua implementação no sistema não se deu da mesma forma em todo o quadro de pronomes, afinal, os processos de mudança não atingem o sistema linguístico em sua totalidade (LOPES, 2009; LOPES & CAVALCANTE, 2011). Trabalhos anteriores (cf. LOPES & CAVALCANTE, 2011; OLIVEIRA, SOUZA & LOPES, 2011, entre outros) mostraram que as posições de sujeito e de complemento oblíquo preposicionado têm se mostrado como contextos mais favorecedores à introdução da nova forma gramaticalizada, ao passo que os complementos acusativo e dativo seriam mais resistentes à entrada do você, preservando formas relacionadas ao pronome primitivo tu, principalmente através do clítico te. No caso das posições oblíquas, Oliveira, Souza & Lopes (2011) citam dois possíveis fatores que poderiam justificar essa facilitação à forma [+inovadora]: o fato de 26 não ser uma relação central (como o OD e o OI) e a inexistência de um clítico específico. Conforme pudemos observar nesta seção, a entrada do você no quadro de pronomes do PB causou muitas mudanças que dizem respeito não somente ao sistema pronominal, mas também a outros pontos da gramática, como o preenchimento do sujeito e a conjugação verbal. Tal inserção está atrelada, sobretudo, à variação de formas como complemento acusativo, brevemente comentada na introdução do presente trabalho e que será abordada ao longo desta dissertação, já que nos interessa, em particular. 2.2.O acusativo de 2ª pessoa do singular no latim O acusativo é um dos seis casos que existiam no latim e corresponde ao objeto direto. A flexão de caso consiste na alteração da terminação da palavra de acordo com a função sintática. Ou seja, nessa língua, as funções distinguiam-se através da marcação morfológica. No português, no entanto, assim como nas demais línguas românicas, essa marcação flexional se perdeu em favor do uso das preposições e da ordem fixa das sentenças (SVO). Gramáticos históricos observam que, de todas as classes de palavras, são os pronomes os que mais guardam vestígios da declinação latina (COUTINHO, 1972; NUNES, 1987; SAID ALI, 1966). Câmara Jr. (1985, p.96), porém, discorda de tal afirmação, alegando que a mesma é “inexata e confunde sistemas de formas inteiramente diversos”. O autor enfatiza que o sistema de pronomes do português em muito se distingue do sistema de casos do latim. Willians (1994, p. 148) também compartilha dessa opinião, destacando que o quadro pronominal do português não deve ser visto como uma reprodução fiel dos pronomes latinos. Vejamos, então, como era a declinação dos pronomes pessoais do singular de acordo com os casos latinos: SINGULAR 1ª pessoa 2ª pessoa 27 Nominativo ego tū tū Vocativo Acusativo mē tē Genitivo meī tuī Dativo mihī tibī Ablativo mē tē Quadro 2: A declinação dos pronomes pessoais de 1ª e 2ª pessoa no latim (adaptado de FARIA, 1958) Convém destacarmos que não existe um consenso no que tange a origem do clítico acusativo de 2ª pessoa, expresso pelo pronome te, conforme visto no Quadro 2. Por um lado, acredita-se que as formas idênticas de acusativo e dativo encontradas hoje no português originaram-se no tē acusativo latino (cf. CÂMARA JR., 1985; WILLIANS, 1994). Isto quer dizer que, embora o te seja empregado nas funções acusativa e dativa, ele tem sua origem no acusativo do latim clássico. Por outro lado, a exposição de Coutinho (1972) demonstra que os clíticos acusativos e dativos tiveram origens distintas: o primeiro veio direto do latim – “te (acus.) > te” – ao passo que o segundo originou-se da forma legítima tibī, que resultou em ti. Coutinho (1972, p. 254) assinala que “a forma arcaica átona ti deu te, o que explica o emprego desta variação pronominal como objeto indireto em português”. Por fim, a importância desta seção deve-se ao fato de podermos observar a função acusativa em sua origem, verificando que a forma utilizada no latim para expressar a função em questão era o clítico te. 28 2.3. O que a tradição gramatical diz sobre o tema? Na seção 2.1, vimos como surgiu o você e apresentamos algumas características de seu uso no PB. Já em 2.2, percebemos que, no latim, o te era o pronome acusativo original de 2ª pessoa do singular. Nesta seção e na próxima, nos voltaremos para a posição acusativa de 2ª pessoa, analisando qual é o tratamento dispensado a ela e aos demais pronomes pessoais pelas gramáticas tradicionais (GTs) (em 2.3) e, ainda, observando as conclusões a que os estudos linguísticos sobre a referida função chegaram (em 2.4). Atualmente, muito se comenta sobre a artificialidade com que, muitas vezes, nos deparamos nas normas das gramáticas tradicionais. Em diversos casos, suas prescrições não estão de acordo com o uso efetivo que o falante faz da língua, pois elas não levam em conta os processos de variação e mudança que ocorreram (e ocorrem) na língua. A esse respeito, Perini (2000) argumenta [...] é claro que precisamos de melhores gramáticas: mais de acordo com a linguagem atual, preocupadas com a descrição da língua e não com receitas de como as pessoas deveriam falar e escrever. (PERINI, 2000, p. 56) Trazendo a discussão para o campo dos pronomes, vejamos, a seguir, o quadro de pronomes pessoais, normalmente veiculado pela tradição gramatical. Pronome objeto singular plural Pronome sujeito Objeto direto Objeto indireto 1ª pessoa eu me me 2ª pessoa tu te te 3ª pessoa ele o/a lhe 1ª pessoa nós nos nos 2ª pessoa vós vos vos 3ª pessoa eles os/as lhes Quadro 3: Pronomes pessoais sob a ótica da tradição gramatical O primeiro grande equívoco dos gramáticos é não incluir as formas você e vocês em tal quadro, uma vez que a primeira suplantou o pronome tu no PB, salvo algumas 29 particularidades regionais, e a segunda substituiu o vós, o qual está presente talvez apenas na esfera religiosa. Cunha & Cintra (2008, p.303) classificam você e vocês como pronomes de tratamento, ressaltando que “valem por verdadeiros pronomes pessoais” e levam o verbo para a 3ª pessoa, embora designem a 2ª pessoa. Em Bechara (2009), tais formas são tratadas como formas substantivas de tratamento ou formas pronominais de tratamento utilizadas no tratamento familiar. Rocha Lima (2011), numa visão mais coerente, os apresenta como pronomes de segunda pessoa que requerem para o verbo as terminações da terceira, também salientando que são utilizados no tratamento familiar. Percebemos, com isso, que há divergência entre as principais gramáticas normativas do PB acerca da classificação do você. No que tange ao uso do tu e do você, comentam Cunha & Cintra (2008 [1985]): No português do Brasil, o uso de tu restringe-se ao extremo Sul do país e a alguns pontos da região Norte, ainda não suficientemente delimitados. Em quase todo o território brasileiro, foi ele substituído por você como forma de intimidade. Você também se emprega, fora do campo da intimidade, como tratamento de igual para igual ou de superior para inferior. (CUNHA & CINTRA, 2008 [1985], p. 306) Ora, há nesse trecho uma incoerência. Se os autores confirmam que o você substituiu o tu em praticamente todo o país, por que não consideram o primeiro um pronome pessoal (que de fato o é) e ainda insistem em tratá-lo como pronome de tratamento, omitindo-o do quadro de pronomes pessoais? Isso mostra que, mesmo depois de ter seu uso consolidado no PB, o você ainda não recebeu um tratamento adequado nas GTs. Outro problema com o quadro pronominal apresentado pela tradição gramatical diz respeito a não introdução da forma inovadora a gente, embora diversos estudos linguísticos tenham demonstrado que ela vem suplantando o pronome nós nos últimos 30 anos (cf. OMENA, 1986, 2003; LOPES, 1993, 1999, 2003; MACHADO, 1995, entre outros). Seu caso é ainda mais grave do que o do você, pois, na maioria das GTs, não há qualquer menção a sua utilização. Freire (2005) comenta que, em função de as gramáticas não reconhecerem o uso legítimo de a gente como forma de indicar a 1ª pessoa do discurso, cabe aos professores de português na escola a tarefa de explicar esse uso e a devida concordância. O autor termina dizendo que “talvez seja por isso que 30 muitos acabem por recomendar o uso dessa expressão somente na língua oral, desaconselhando-o totalmente na escrita formal” (FREIRE, 2005, p. 12). Quanto ao uso dos pronomes de 2ª pessoa em função de objeto, notamos que o quadro expõe tanto para o acusativo quanto para o dativo apenas o clítico te, não levando em conta as variações existentes no PB. No caso do objeto direto, Almeida (2009), por exemplo, constatou o emprego das estratégias te, lhe, o/a, Ø, você, além de senhor(a), pelos missivistas. O objeto indireto, por sua vez, de acordo com diversos estudos linguísticos (LOPES & CAVALCANTE, 2011; GOMES, 2003), pode ser realizado pelas formas te, lhe, a/para você, Ø, a/para ti. Entretanto, convém ressaltar que o clítico te é previsto pela GT quando o interlocutor é tratado pelo pronome tu; caso contrário, isto é, se o falante/escrevente utilizar o você, deve, então, empregar formas da 3ª pessoa, a fim de que se mantenha a uniformidade de tratamento, conforme visto na seção 2.1. Sobre isso, o professor Pasquale nos diz: Quando você mistura as pessoas, você fere a uniformidade de tratamento. Manter a uniformidade de tratamento significa manter a mesma pessoa ao longo do texto. Se você usa a segunda pessoa (TU), mantenha tudo na segunda: tu, te, ti, contigo, teu. Se você usa a terceira pessoa (VOCÊ, SENHOR), mantenha tudo na terceira: seu, com você, se, si, o, a, lhe. Se é segunda, é segunda; se é terceira, é terceira. Não misture. Uniformidade de tratamento é isso. (CIPRO NETO, s/d, CD-Rom apud BRITO, 2001, p. 64) Dessa forma, além do te, os clíticos de 3ª pessoa o/a e lhe também são permitidos pela gramática normativa nas funções acusativa e dativa de 2ª pessoa, respectivamente, caso o sujeito seja tratado por você. Todavia, para muitos falantes, a famigerada mistura de tratamento fica só na teoria. A maioria nem percebe que a uniformidade de tratamento foi quebrada em uma frase do tipo “Você sabe que te amo”.5 Isso porque, de acordo com os estudos linguísticos, o clítico te ainda é muito produtivo, independentemente do sujeito ser tu ou você. Sendo assim, não nos parece lógico que se continue a preconizar tal uniformidade de tratamento. Em relação à 3ª pessoa, as GTs não aceitam, por exemplo, a queda do lhe OI referente à 3ª pessoa e sua extensão no OD de 2ª pessoa e a substituição do pronome objeto o/a pelo pronome ele/ela e/ou pelo objeto nulo na função anafórica de OD. 5 Brito (2001) empreende um ótimo trabalho acerca da uniformidade de tratamento. 31 Segundo Castilho (2010), Câmara Jr. (1975b) explica fonologicamente o desaparecimento progressivo do clítico o: Predominando no PB a próclise, esse pronome quando junto ao verbo organiza uma palavra fonológica, como em o vi, transcrito /ovi/ e dito [u’vi]. Sendo constituído por uma vogal átona, o pronome sofre aférese6, fato comum nesses casos, como se vê em magina, no lugar de imagina. Sucede que a perda fonológica dessa vogal acarreta um transtorno morfológico (aparece uma casa vazia no quadro dos pronomes) e sintático (não temos como representar o objeto direto pronominal). Para resolver tudo, atribui-se a ele o caso acusativo, donde 57(b) [Ainda não vi ele hoje], ou omite-se o clítico, como em 57(b) [Ainda não vi Ø hoje]. (CASTILHO, 2010, p. 480) Este uso de ele, no entanto, é condenado por Cunha & Cintra (2008). Os autores dizem que tal emprego é frequente na fala vulgar e familiar do Brasil e que, ainda que seja uma construção com raízes antigas no idioma, deve ser evitada. Percebemos, com isso, que alguns usos são conhecidamente estigmatizados, como o uso do ele em função acusativa anafórica. Contudo, outros não apresentam estigma, como o você na posição de sujeito, a mistura de tratamento – pelo menos, entre a maioria da população do PB – e a variação dos pronomes objetos de 2ª pessoa do singular. O caso do pronome você é interessante porque, no Rio de Janeiro, geralmente, os mais velhos não gostam de ser tratados por tu por parte dos mais novos – o famoso tu sem concordância –, pois soa, para eles, como um desrespeito. Alguns dizem: “Tu não, você!”, evidenciando que o tu remete a um tratamento extremamente íntimo. E o mais curioso é o fato de o você ser a forma inovadora. Mas será que eles se dão conta disso? Isso prova que o você já está tão enraizado no PB que muitos desconhecem a sua origem, estigmatizando a forma mais antiga tu, a depender do contexto em que é utilizada. Por fim, assim como em outros tópicos presentes na GT, os pronomes pessoais também carecem de abordagens mais fiéis ao uso efetivo da língua. A tradição, por vezes, omite as mudanças em curso e até as que já foram plenamente realizadas, apresentando uma distribuição desatualizada dos pronomes, não condizente com 6 Aférese, segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa 3.0 (2009) : “1- Rubrica: fonética processo de mudança linguística que consiste na supressão de fonema(s) no princípio do vocábulo (p.ex., de enojo formou-se nojo; de enamorar formou-se namorar).” Há ainda a seguinte observação na seção “Gramática e Uso”: “sincronicamente, ocorre com frequência em uso informal e/ou popular da língua (p.ex., de professor forma-se fessor; de você formam-se ocê e cê; de estava forma-se tava, de espera forma-se pera).” 32 quaisquer variedades em uso e incompatível com os resultados das pesquisas linguísticas realizadas sobre o PB. Afinal, por que não aceitar as variações/mudanças se a maioria da população as usa? 2.4. O que dizem os estudos linguísticos sobre o tema? Grande parte dos trabalhos linguísticos sobre clíticos no PB ocupa-se do estudo da variação das formas acusativas de 3ª pessoa (cf. OMENA, 1978; DUARTE, 1986, DUTRA, 2003; FIGUEIREDO, 2009; HORA & BALTOR, 2007, entre outros). Dessa maneira, em resposta à pergunta “Você ama a Maria?”, poderíamos ter: (10) Clítico – Eu a amo. (11) Pronome lexical – Eu amo ela. (12) SN anafórico – Eu amo a Maria. (13) Objeto nulo – Eu amo Ø . Em geral, os trabalhos comprovam a queda do clítico acusativo 7 – variante padrão – em detrimento de um uso muito frequente do pronome lexical e do objeto nulo. As pesquisas também revelam que a animacidade do antecedente é um dos fatores mais relevantes na escolha das estratégias acusativas: o uso do pronome lexical é favorecido pelo traço [+animado] do referente, enquanto o traço [– animado] privilegia o objeto nulo. Veremos abaixo um Gráfico e uma Tabela extraídos do trabalho de Duarte (1986), que ilustram os referidos resultados: 7 Principalmente na fala. 33 5% 15% 17% 63% Clítico Pronome lexical SN anafórico Ø Gráfico 1: Distribuição das variantes para a representação da função acusativa. Fonte: Duarte (1986) O Gráfico 1 demonstra claramente a queda no uso dos clíticos acusativos, totalizando apenas 5%. O SN anafórico e o pronome lexical aparecem em segundo e terceiro lugar na ordem de utilização, respectivamente, apresentando porcentagens muito próximas. O objeto nulo foi majoritário na pesquisa de Duarte (1986), representando mais da metade dos dados, com 63%. Traço semântico [+animado] [- animado] TOTAL Variantes Clítico 78,4% 21,6% 100% Pronome lexical 98,4% 7,6% 100% Objeto nulo 23,7% 76,3% 100% Tabela 1: Distribuição das variantes usadas segundo o traço semântico do objeto Fonte: Duarte (1986), p.26. Com a Tabela 1, notamos uma taxa muito alta de utilização (98,4%) do pronome lexical quando o referente possui o traço semântico [+ animado] e uso muito produtivo (76,3%) do objeto nulo quando o traço semântico do referente é [- animado], corroborando o que foi dito no início desta seção. Redirecionando o foco desta revisão bibliográfica para a análise da 2ª pessoa na função acusativa, expomos os resultados de dois trabalhos que versam especificamente sobre essa posição sintática na sincronia atual: Almeida (2009) e Camargo Jr. (2007). Apresentamos posteriormente outras pesquisas cujo foco não é exatamente a expressão da 2ª pessoa na função de objeto direto, mas que trazem alguns resultados acerca das 34 estratégias empregadas na referida função e na posição de objeto indireto, como Dalto (2002), Lopes & Cavalcante (2011), Sales (2007) e Lopes, Rumeu & Carneiro (no prelo); o primeiro é de cunho sincrônico e aborda a região Sul do Brasil; os demais são de caráter histórico e estudam diferentes regiões através de cartas pessoais: Lopes & Cavalcante – Rio de Janeiro; Sales – Bahia e Lopes, Rumeu & Carneiro – Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Almeida (2009) investigou os fatores linguísticos, extralinguísticos e pragmático-discursivos que norteiam a escolha do falante soteropolitano por uma das formas disponíveis para representar o objeto direto de 2ª pessoa. A autora utilizou como corpus amostras de fala de 36 pessoas, distribuídas pelos dois sexos, em três faixas etárias: faixa 1 (25 a 35 anos), faixa 2 (45 a 55 anos), faixa 3 (65 a 75 anos), considerando-se os níveis de escolaridade: ensinos fundamental e superior. Foram encontradas no corpus seis formas para se dirigir ao interlocutor: clítico te, clítico lhe, clítico o/a, pronome de tratamento senhor/senhora, pronome lexical você e objeto nulo. No entanto, a autora excluiu da análise o clítico o/a e a forma de tratamento senhor/senhora, em virtude de suas poucas ocorrências. Vejamos, a seguir, as porcentagens de uso de cada estratégia: Variantes Nº de ocorrências % Lhe 251 37 Te 247 36 Objeto nulo 141 21 Você 43 6 TOTAL 682 100 Tabela 2: Distribuição das formas de referência à 2ª pessoa em posição acusativa no falar soteropolitano. (ALMEIDA, 2009) Notamos que, em Salvador, os clíticos te e lhe apresentam as maiores porcentagens: 36% e 37%, respectivamente, evidenciando uma forte concorrência entre eles na comunidade. O objeto nulo é a terceira estratégia mais utilizada, totalizando 21%, seguida do pronome você, com apenas 6%. A autora destaca que o OD nulo parece configurar-se, em algumas situações, como uma estratégia de esquiva, uma vez que você denota intimidade; senhor/senhora são muito formais; lhe apresenta ao falante 35 a incerteza quanto ao seu status, já que serve a relações solidárias e não-solidárias, e te é proeminentemente mais íntimo e mais informal (ALMEIDA, 2009, p. 171). Almeida (2009) empreendeu sua análise a partir de dois esquemas analíticos: primeiramente, confrontou a variante lhe com as demais; depois, observou a alternância lhe/te, visto que esses clíticos foram os mais produtivos em sua amostra. Os fatores mais relevantes nos dois esquemas foram praticamente os mesmos: o preenchimento do sujeito (este, contudo, foi relevante somente na alternância lhe/outros), o paralelismo discursivo, o grau de monitoramento, o tipo de discurso, a faixa etária e o sexo do informante8. Em relação ao preenchimento do sujeito, a autora verificou que o falante tem preferência pela utilização do clítico lhe quando a posição de sujeito está preenchida, ao passo que houve um grande número de objeto nulo quando o sujeito também era nulo. Dessa forma, Almeida (2009) conclui que houve certa simetria para a relação preenchimento do sujeito e do objeto e justifica-a: A justificativa para essa simetria encontra-se no fato de que o falante, ao responder afirmativamente ou negativamente às perguntas feitas pelo documentador, empregou uma estratégia comum de respostas em português (cf. exemplo (128)) [aqui, exemplo(14)], utilizando apenas o verbo, sem preencher o sujeito e o objeto. (ALMEIDA, 2009, p. 135) (14) DOC: Se eu falasse chinês, você me entenderia? INF: Entenderia. [SSA.04.M.F.I –A] Outro fator linguístico importante foi o paralelismo discursivo. A pesquisadora constatou que (i) o pronome lhe é mais usado em sequência discursiva cuja forma antecedente é também o pronome lhe; que (ii) há o favorecimento de lhe quando na oração anterior emprega-se a forma você e o objeto nulo como OD e que (iii) o pronome te no início da sequência foi o único contexto inibidor do lhe na ocorrência subsequente. Tendo em vista a hipótese de que as características da situação comunicativa regulam a escolha das formas de tratamento, Almeida (2009) nota que há um valor social e pragmático atribuído ao clítico lhe em Salvador, visto que o falante prefere usar 8 Vale ressaltar que a ordem dos fatores aqui empreendida não retrata a ordem de relevância de seleção dos mesmos no programa Varbrul utilizado pela autora. Optou-se por esta ordem tendo em vista a explicação conjunta de variáveis de mesma natureza, a saber: linguística, pragmático-discursiva e social. 36 o lhe em contextos de [+ monitoramento]. Já o pronome te apresenta comportamento oposto, sendo mais favorável em situações de menor formalidade, quando se analisa o grau de monitoramento. Quanto ao tipo de discurso, a autora constatou que há maior utilização de lhe em contextos de fala relatada própria ou fala relatada de outrem. Esta última situação demonstra que, para marcar o distanciamento que existe em relação à situação narrada, a opção seria usar o lhe. Atendo-nos agora aos fatores sociais, a variável faixa etária demonstrou que os falantes mais velhos expressaram preferência pela variante lhe. Na verdade, o emprego desse clítico decresce à medida que diminui a faixa etária, sugerindo que, em Salvador, há uma tendência a um processo de mudança em curso que ocorre em direção ao uso de te, já que os falantes da faixa 1, os mais novos, tendem a usar mais esse clítico. Em relação ao fator sexo do informante, a análise demonstrou preferência dos homens pelo uso do clítico lhe e das mulheres pela forma te, revelando que elas lideram a mudança na comunidade. O fator escolaridade não foi relevante para o fenômeno investigado pela pesquisadora, mas vale comentar que o controle dessa variável não demonstrou estigmatização da forma lhe em Salvador; ou seja, os falantes não têm consciência de que empregar esse pronome em função acusativa de 2ª pessoa do singular seria, de certo modo, infringir uma norma da gramática, visto que esta prevê o uso ou de te, se o sujeito for tu ou de o/a, caso o sujeito seja você; logo, não há policiamento quanto ao seu uso. Por fim, vejamos a explicação de Almeida (2009) a respeito das mudanças ocorridas com os pronomes de 2ª pessoa em Salvador: Obviamente já foi o pronome te em Salvador, como o foi em todo o PB, a forma majoritária para se referir ao interlocutor em relações entre iguais ou de superior para inferior, de modo que essa forma guardou sempre o traço de [+ intimidade]. Com a reorganização do sistema pronominal, gerada pela inserção do item no quadro de pronomes pessoais, o clítico lhe encontrou ambiente favorável para infiltrar-se no paradigma de segunda pessoa, alternando, inclusive, entre o dativo e o acusativo. O que os dados desta pesquisa sugerem é que lhe teria sido, na capital baiana, em algum momento, a forma majoritária para preencher a posição de objeto de segunda pessoa e experimenta agora concorrência com a forma te, que estaria voltando a fazer parte do repertório linguístico dos falantes da capital baiana. (ALMEIDA, 2009, p. 163) 37 Camargo Jr. (2007) se propôs a estudar a realização do acusativo de 2ª pessoa do singular no PB, tomando por base um corpus formado por textos de alunos do Ensino Fundamental II de uma escola particular da cidade de São Paulo. Os alunos seguiram uma proposta de redação cujo objetivo era direcioná-los à produção do referido pronome. Havia, inclusive, a orientação aos registros formal e informal da língua. A hipótese do autor é a de que os clíticos te e lhe são usados em contextos informais e formais, respectivamente, e que o educando adquire o pronome lhe na escola. De um total de 1.524 dados computados nas quatro séries do Ensino Fundamental, 595 ocorrências são da modalidade discursiva formal (40%) e 929 (cerca de 60%) são da modalidade informal. O autor atribui essa disparidade na quantidade de dados entre as duas modalidades ao fato de que, na modalidade informal, o aluno tem maior liberdade ao uso da língua, e, uma vez que a informalidade produz um contexto semelhante ao da língua oral, o aluno sentiria maior segurança (ou maior liberdade) na escolha da forma a preencher a posição de objeto direto, o que não ocorre na modalidade formal, pois neste contexto o aluno do Ensino Fundamental certamente tentará se valer do sistema e da norma gramatical empreendidas na escola, desde o início do processo de letramento, gerando um contexto não tão livre, no que se refere ao uso corrente da língua. (CAMARGO JR., 2007, p. 43) O pesquisador destaca que o referido contraste visa a demonstrar a relevância do contexto e da situação na expressão do OD de 2ª pessoa do singular. Tanto na modalidade discursiva formal quanto na informal, o autor constatou que o OD é preenchido por pronome (clítico ou tônico), sintagma nominal (SN) ou objeto nulo, porém com diferentes frequências. Na modalidade formal, o SN é majoritário, com 46,1%. O clítico é o segundo mais produtivo, totalizando 41,5%. Em seguida, aparece o pronome tônico (você, senhor) com 9%. O objeto nulo é o menos utilizado (3,3%). Já na modalidade informal, o clítico é o mais frequente (83,2%). As demais estratégias apresentam porcentagens muito baixas: pronome tônico (apenas a forma você) – 12,2%; SN – 1,4% e objeto nulo – 3,2%. Notamos diferenças no que refere ao uso das estratégias acusativas de 2ª pessoa em ambas as modalidades. Enquanto no contexto formal as duas formas preferenciais de preenchimento do OD foram o clítico e o sintagma nominal, na modalidade informal optou-se majoritariamente pelos clíticos, somando mais da metade dos dados. 38 Dentre os resultados concernentes ao tipo de clítico empregado, Camargo Jr. (2007) verificou que os clíticos o/a foi o mais frequente na modalidade formal (61,5%) e que o te foi o mais produtivo na modalidade informal (84,4%). O clítico pronominal lhe foi o menos empregado nas duas modalidades (formal: 15,8%; informal: 4,2%). Tal constatação contraria a expectativa inicial de que o estaria em desuso e lhe seria a opção para o registro formal. Em relação aos clíticos o/a na modalidade formal, o autor destaca que sua utilização foi preferencial em todas as séries analisadas, apresentando um aumento no uso ao longo das séries. E ainda ressalta que tais resultados vão de encontro àqueles relativos ao emprego dessa forma pronominal na função acusativa de 3ª pessoa, o que o fazem inferir que o clítico o/a não está em vias de desaparecer do Português Padrão. Segundo o autor, estaria ocorrendo uma especialização9 de uso que ocorre por meio de uma reanálise, isto é, “o clítico “o” deixa de ser usado em referência à 3ª pessoa e começa a assumir a função específica de referência ao interlocutor” (CAMARGO JR., 2007, p. 50). No entanto, não nos parece que essa seja a realidade do PB. Acreditamos que o tipo de corpus utilizado pelo autor – redações escritas por alunos no ambiente escolar – tenha direcionado esse resultado, pois, conforme já comentado aqui, diversos estudos linguísticos já apontaram altas frequências para o clítico te. Um fato que aparece em destaque no trabalho de Camargo Jr. (2007) é a duplicação do objeto, aqui reproduzida: (15) Exemplos retirados da modalidade formal: 5ª série: (i) Eu gostaria de lhe convidar você para participar de uma reunião... (ii) Para tanto, quero te convidar o deputado para participar de uma reunião... (iii) Gostaria de lhe convida-lo para participar de uma reunião... 6ª série: (iv) nós o ouvimos o senhor dizer muitas vezes que é importante... 9 O autor caracteriza a especialização de formas como “o processo pelo qual uma forma que antes era utilizada em um determinado contexto passa a ser utilizada em outro contexto, sem que a forma anteriormente utilizada e que caiu em desuso desapareça. Em outras palavras, uma estrutura gramatical qualquer cai em desuso e, aos poucos, encontra uma nova função dentro do sistema.” (CAMARGO JR., 2007, p. 86) 39 (v) nós o receberemos o senhor com um café da manhã... 7ª série: (vi) Outro motivo interessante é o de te encontrá-lo e debater sobre os assuntos. Exemplo retirado da modalidade informal: 5ª série: (vii) Ontem, eu a vi você no clube, conversando com suas amigas. O autor explica esses casos como formados por hipercorreção 10, pois o aluno, ao procurar comunicar-se adequadamente num contexto formal, preocupa-se com a utilização de um item que não lhe é natural e acaba selecionando mal as formas. Nesse sentido, supomos que o fato de os clíticos o/a terem sido majoritários em sua pesquisa deve-se à hipercorreção, à qual o autor mesmo se referiu. Em suma, Camargo Jr. (2007) afirma que a realização da função acusativa de 2ª pessoa do singular não depende de questões gramaticais, mas do registro do discurso. Dalto (2002) estudou o funcionamento dos pronomes-objeto de 1ª e de 2ª pessoas nas capitais dos três estados da região Sul do Brasil. Para tanto, utilizou amostras de fala de Florianópolis, de Curitiba e de Porto Alegre que fazem parte do Banco de Dados do Projeto VARSUL (Variação Linguística Urbana da Região Sul do Brasil). Nas três cidades, o número de dados da 1ª pessoa foi extremamente superior aos da 2ª pessoa, totalizando, respectivamente, 1674 e 477 ocorrências. Mas, para a autora, essa disparidade não surpreende, visto que o corpus é constituído por entrevistas em que o falante expõe experiências pessoais, levando-o a produzir mais pronomes de 1ª pessoa. A hipótese da autora de que os falantes produziriam, na posição de objeto, não só o clítico pronominal, as formas tônicas e o objeto nulo, como também formas lexicais (como eu, tu), não se confirmou. Em Florianópolis, não houve ocorrências desse tipo. Em Curitiba, encontrou-se apenas um dado em que o pronome eu 10 Camargo Jr. (2007, p. 84), com base na dissertação de Silva (2007), define hipercorreção: “[...] desvio ocasionado pela preocupação em reproduzir um enunciado (na escrita ou na fala) correto, definido como uma forma de bom uso da língua, de modo a fugir das variantes linguísticas consideradas pouco prestigiadas para uma situação formal de interlocução. Isso ocorre, sobretudo, quando o indivíduo é exposto à norma gramatical, prevista pela escola.” 40 desempenha a função de objeto. Na amostra de Porto Alegre, foram somente cinco ocorrências também com o pronome eu. Dentre todos os resultados da pesquisa de Dalto (2002), focaremos naqueles que nos interessam em particular, tendo em vista o fenômeno que analisamos – pronomeobjeto de 2ª pessoa em função acusativa: O clítico te foi o mais empregado como forma de 2ª pessoa nas três cidades; Em Florianópolis, em Curitiba e em Porto Alegre o OD é um fator que não favorece o uso do objeto nulo, e sim tende a manter a utilização do pronomeobjeto; Os informantes com mais de 50 anos tendem a utilizar mais o pronome-objeto, ao passo que os falantes mais jovens apresentam maior tendência à aplicação da regra do objeto nulo; Em contexto de narrativa, houve maior propensão para que o objeto nulo não ocorresse. Já em contextos argumentativos, houve maior probabilidade de uso do objeto nulo; Entre os modos e tempos verbais, o pretérito perfeito e o futuro do indicativo revelaram-se inibidores do emprego do objeto nulo, enquanto o pretérito imperfeito do indicativo favoreceu tal uso. Comentamos, a seguir, os resultados dos três trabalhos de cunho diacrônico, conforme mencionado anteriormente. Lopes e Cavalcante (2011) analisaram as consequências da implementação do você no quadro do PB a partir da correlação entre o avanço dessa nova forma na posição de sujeito e a retenção do clítico te como complemento acusativo e dativo. No trabalho, foram utilizadas cartas pessoais cariocas escritas entre o final do século XIX até a metade do século XX. Dos 360 dados que as autoras obtiveram, 209 (58% do total) foram com o clítico te. Esta forma foi a mais frequente tanto como OD (89%) quanto como OI (56%). Na função acusativa, o pronome você aparece como o segundo mais produtivo (7,6%), seguido do zero (1,9%) e do o/a (0,3%). Na correlação das formas acusativas de 2ª pessoa com o sujeito, o te mostrou-se majoritário independentemente se o missivista tenha usado apenas o tu (97,2%), somente o você (75%) ou tenha alternado você/tu na 41 posição de sujeito. Já o pronome acusativo você não apareceu com o tu exclusivo na função de sujeito. Quanto ao dativo, houve mais variação no número de formas encontradas, assim distribuídas: te – 56%; zero – 20,7%; lhe – 13,5%; para você – 4,3%; a você – 3,4%; a/para ti – 2,4%. Quando feita a correlação entre as formas dativas e o sujeito, verificou-se que (i) houve a hegemonia do te em cartas com uso exclusivo de tu; (ii) quando o predomínio do você-sujeito começa a se fixar nas décadas de 1910/20, notouse um equilíbrio entre as formas variantes, com destaque para o zero e (iii) nas cartas com alternância entre tu e você, optou majoritariamente pelo clítico te e pelo zero. (LOPES & CAVALCANTE, 2011, p. 59). Sales (2007) realizou um estudo sobre os pronomes pessoais em cartas particulares da Bahia escritas na década de 40 do século XX. A autora dividiu o corpus em dois grupos para o tratamento quantitativo: o primeiro caracteriza documentos de autoria própria, como cartas, bilhetes, dedicatórias e relato pessoal; o segundo apresenta versos, poemas. Em relação à função acusativa11, os clíticos te e lhe apresentaram as maiores frequências no grupo 1: 55,71% e 24,29%, respectivamente. No grupo 2, o pronome te também mostrou-se majoritário (63,16%); porém, o segundo mais produtivo foi o clítico o/a (21,05%), deixando o lhe em terceiro lugar (5,26%). Sales (2007) comenta que se tem atribuído o uso de lhe em função acusativa ao fato de o pronome você vir sendo mais utilizado do que o tu na referência ao interlocutor. A autora ainda ressalta que os dados de seu corpus demonstram que a variação você/tu favoreceu o uso do lhe como acusativo de 2ª pessoa, visto que, no grupo 1, observou-se 15,84% de uso do pronome tu e 18,81 % para uso de você na função de sujeito (e uma porcentagem considerável de lhe acusativo: 24,29%, conforme vimos acima). Os dados relativos às formas empregadas na posição de sujeito também servem para ilustrar que o uso da forma de 2ª pessoa te, no grupo 1, não corresponde somente à forma tu, mas também à forma você. Com isso, a autora conclui que a utilização da forma inovadora você não desvaloriza o emprego do clítico te em favor de lhe na função acusativa. Contudo, a pesquisadora argumenta que não se pode atribuir o uso do lhe em função acusativa somente à forma você, pois esta ainda não substituiu completamente o 11 Ressaltamos que a autora não faz distinção entre as pessoas gramaticais, apenas entre as funções. 42 pronome tu. Tal argumento encontra respaldo em seus dados do grupo 2, haja vista que, com relação à participação dos pronomes pessoais na função de sujeito, o tu teve uma ocorrência de 18,18% e o você não apresentou ocorrências, mas, mesmo assim, o lhe obteve um uso de 5,26%. Na função dativa, o clítico te é mais frequente no grupo 2 (84,62%), mas não o é no grupo 1 (38,71%); o pronome lhe é majoritário neste grupo (40,86%), no entanto, este não foi encontrado no grupo 2. O uso do te dativo também se deu tanto com o sujeito você quanto com o tu no grupo 1. A explicação da pesquisadora para o fato de não ter ocorrido o clítico lhe em função dativa no grupo 2 reside na natureza dos documentos: os textos pertencentes a esse grupo constituem-se de versos e poemas, ou seja, são manuscritos cuja estrutura de produção pode ter recebido influências de modelos formais, o que geralmente pode bloquear inovações. O artigo de Lopes, Rumeu & Carneiro (2013) objetivou estudar o comportamento dos pronomes de 2ª pessoa na posição de sujeito e de complemento verbal através de cartas escritas no Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais em fins do século XIX e início do XX. Em se tratando da função acusativa, o clítico te foi majoritário nas cartas do Rio de Janeiro (93,5%); nas cartas baianas, o lhe (50%) se mostrou mais produtivo e nas missivas de Minas Gerais, foi observado o mesmo percentual para o te (42%) e para o o/a (42%). Segundo as autoras, o tratamento empregado na posição de sujeito demonstrou influenciar a distinção diatópica. Com o uso exclusivo de tu nessa posição, o uso de te foi praticamente categórico nas três regiões. Quando somente o você foi utilizado como sujeito, as autoras observaram a coexistência de estratégias acusativas associadas aos dois paradigmas e comportamento divergente nas três localidades: Rio de Janeiro – variação entre te (75%) e você (25%), ou seja, o paradigma de tu predominou; Bahia – houve a ocorrência de todas as formas (te, lhe, o/a, você e zero), com um uso mais produtivo de lhe (56%), seguido de o/a (30%), portanto, de formas do paradigma de você, e, em Minas Gerais, também ocorreu predomínio do paradigma de você, com 71% de o/a, 14% de você e 14% de lhe. A alternância entre tu e você na posição de sujeito só foi encontrada em cartas cariocas, e, com esse tratamento, o te prevaleceu como estratégia acusativa, com 90%. Nas demais regiões, houve a utilização do tratamento formal senhor/senhora como 43 sujeito. Tal uso associou-se apenas a formas de 3ª pessoa: Bahia – 50% de lhe e 50% de o/a e Minas Gerais – 83% de o/a e 17% de lhe. Quanto ao complemento dativo, as estratégias predominantes no Rio de Janeiro foram o clítico te (67%) e o objeto nulo (14,3%). Na Bahia e em Minas Gerais, o pronome lhe foi majoritário, com 64,1% e 51%, respectivamente. Naquela, a segunda forma mais produtiva foi o objeto nulo (13%), nessa, foi o clítico te (28%). O tratamento utilizado na posição de sujeito também interferiu no uso do complemento dativo. Nas cartas mineiras e cariocas, se o tu-sujeito era utilizado, empregava-se, preferencialmente, o te: 88% no Rio de Janeiro e 84% em Minas Gerais. Já na Bahia, poucas foram as cartas com tu-sujeito. Quando houve uso exclusivo de você-sujeito, ocorreu variação nas formas dativas, sobretudo nas cartas cariocas (te – 27%, lhe – 29% e objeto nulo – 30%). Em contrapartida, nas outras duas localidades, as estratégias acusativas acompanharam, quase sempre, a forma empregada na posição de sujeito, sendo o clítico lhe muito frequente, com 78% na Bahia e 75 % em Minas Gerais. Em relação às cartas nas quais houve mescla de tratamento, assim como na função acusativa, o clítico te foi majoritário no Rio de Janeiro (69%). O objeto nulo foi a segunda variante mais empregada (14%). Nos demais estados, as ocorrências de objeto nulo foram pouco numerosas. Em síntese, verificamos com esses trabalhos que: O clítico te, quando não é majoritário, fica entre as formas acusativas mais utilizadas; O te aparece tanto com tu quanto com o você na posição de sujeito; O lhe é produtivo em dialetos nordestinos; O lhe é produtivo em contextos mais formais; O te é produtivo em contextos de menor formalidade; A função acusativa de 2ª pessoa não favorece o emprego do objeto nulo como ocorre na 3ª pessoa; Fatores de natureza extralinguística apresentam grande influência no uso das estratégias acusativas. 44 2.5. Lheísmo – o uso do lhe como acusativo Dedicamos esta seção para dar conta do clítico lhe, pois este pronome interessa à presente pesquisa, já que assume outras funções no PB além do seu valor original (pronome dativo de 3ª pessoa), alcançando, sobretudo, a posição aqui estudada – acusativo de 2ª pessoa. Inclusive, muitos estudos linguísticos atestam a queda do lhe em sua função canônica e seu uso muito produtivo como OD de 2ª pessoa, principalmente em dialetos nordestinos. Possenti (2002 apud ALMEIDA, 2009, p. 60) aponta que o “emprego de lhe como OD está presente não apenas na fala do indivíduo comum, mas ‘em todos os espaços mais ou menos cultos’”. Tal uso tem sido ainda apontado como consequência da reformulação do quadro pronominal do PB, ocasionado pela inserção de novas formas pronominais como é o caso, principalmente, de você. Ao uso do lhe como objeto direto dá-se o nome de lheísmo, por analogia a palavra leismo, que, em espanhol, designa o emprego da forma le do pronome de 3ª pessoa como única no acusativo masculino singular (NASCENTES, 1960). Cabe ressaltar que tal uso não é um fenômeno recente na língua, pois se encontram, já no português arcaico, exemplos de lhe como objeto direto. Freire (2005, p. 2) acredita que o lhe esteja passando por um processo de especialização, dito de outro modo, “estaria deixando de ser uma forma tanto de terceira quanto de segunda pessoa para figurar exclusivamente na referência à segunda pessoa, seja na função acusativa seja na dativa”. Contudo, nos estudos de Ramos (1999) e Lucas (2008) verificou-se que o lhe também é usado como complemento direto anafórico de 3ª pessoa no PB. Então, não podemos dizer que a especialização do clítico lhe seja somente em direção à 2ª pessoa. Acerca deste emprego, Almeida (2011) levanta a hipótese de que talvez ele seja mais frequente em situações de fala monitorada e na escrita, configurando-se como uma estratégia de não comprometimento, uma vez que preencher o objeto tanto com o pronome lexical ele/ela quanto com o clítico canônico o/a gera estigmas; este último por ser pouco natural. Reproduzimos, a seguir, um exemplo do referido uso: (16) Já não era tão jovem, sua força de vontade estaria à prova por longos e cansativos meses. A delicada cirurgia exigiria mãos habilidosas para voltar a exercer, em plenas condições, o ofício que tanto lhe apaixona.12 12 Exemplo reproduzido de Possenti (2002 apud ALMEIDA, 2011, p. 2402) e extraído da coluna Dr. Sócrates, da revista Carta Capital. 45 De acordo com Ramos (1999) o emprego de lhe como mostrado no exemplo acima ocorre no PB, nas variedades africanas e no galego e é condicionado pelo traço [+humano] do antecedente. Sendo assim, o falante estranharia uma construção do tipo (17) *Está vendo aquele caderno, (lhe) pegue-lhe para mim. em que o referente é [-humano]. A autora ainda salienta que o estranhamento quando o lhe possui um referente dessa natureza é mais patente na língua falada e escrita espontânea do que na língua falada e escrita monitoradas. Feitas essas breves considerações, devemos ter em mente que o uso de lhe como dativo de 2ª pessoa, ainda que não seja o prototípico, é aceito pela tradição gramatical quando se trata o sujeito por você, a fim de que mantenha a uniformidade de tratamento, conforme já comentado. Neste caso, muda-se a pessoa, mas a função continua a mesma. Outra ocorrência de lhe já aqui discutida – acusativo de 3ª pessoa – pode ser visualizada no exemplo (16). Nesse caso, se mantém a pessoa, muda-se a função. Mais surpreendente do que os dois casos anteriores é o emprego de lhe como acusativo de 2ª pessoa, visto que, além da pessoa (3ª → 2ª), sua função prototípica também é alterada (dativo → acusativo). Ainda que fuja totalmente à função canônica do lhe, este uso é bastante produtivo. Mas, afinal, o que levou ao uso do lhe como acusativo? Alguns autores empreenderam explicações acerca desse uso, vejamos algumas delas. Nascentes (1960) sublinha que o funcionamento de lhe como complemento acusativo está relacionado à diminuição do uso deste pronome como dativo e à analogia com os clíticos me e te, que podem funcionar tanto como acusativo quanto como dativo; afinal, dessa forma fica muito mais uniforme: “me acusativo e dativo, te acusativo e dativo, e lhe também, acusativo e dativo” (NASCENTES, 1960, p. 109). Para Ramos (1999), o uso de lhe como acusativo é decorrente da pressão do sistema pronominal. De acordo com a autora, a perda da distinção tu-você em algumas regiões do país [...] fez com que o lhe (forma dativa de terceira pessoa) invadisse o domínio acusativo do te, e deu sua parcela de contribuição para o desuso pronominal da forma o. A esses fatos soma-se um outro, que já se manifestara desde o século XIX; nas variedades do PB que ainda conservam a distinção tu-você, a referência direta ao ouvinte numa situação de respeito/cortesia praticamente especializou o lhe como 46 acusativo de você, senhor/senhora (RAMOS, 1999, p. 81, grifos no original). Menon (1995) sugere que o lhe passou por um processo de regularização de formas, a exemplo de me e te. No entanto, a autora adverte que ele não se transformou simplesmente em pronome bifuncional, podendo exercer duas funções. Ela explica que o lhe passou a ser empregado junto com o pronome você, provavelmente, em razão da origem do pronome. Dessa maneira, assim como aconteceu com a forma verbal correspondente, o lhe teria sido “carregado” com o significado de 2ª pessoa, acompanhando a forma você em seu processo de pronominalização. Oliveira (2003) assume a hipótese de que o emprego de lhe como objeto direto deriva da reanálise do objeto direto preposicionado (Odprep), que é favorecido pelo traço [+humano] do objeto no século XIX. A pesquisadora ainda explica que, neste século, o índice de uso de Odprep na Bahia era muito alto; a isso se deve, então, à alta produtividade de lhe com verbos transitivos diretos nessa região. Observemos a explicação da autora: O uso recorrente do Odprep com pronomes de tratamento aponta para o uso do Odprep com a 2ª pessoa indireta. Duarte (1993), ao analisar o preenchimento do sujeito, atesta a perda da 2ª pessoa direta, em favor da 2ª pessoa indireta, representado pelo pronome você, o qual ativa a concordância verbal de 3ª pessoa. Graças à distribuição harmônica dos pronomes, o uso de você leva ao uso de outras formas pronominais de 3ª pessoa (clíticos acusativos, clíticos dativos e possessivos) para remeter a uma 2ª pessoa. Com a falta de distribuição harmônica entre os pronomes acusativos de 3ª pessoa [+gênero], e os de 1ª e 2ª pessoas [-gênero], de um lado, e com a perda dos clíticos acusativos (Duarte 1989; Pagotto op.cit; Cyrino, op.cit, entre outros), de outro, a representação da 2ª pessoa com uma forma pronominal de 3ª pessoa fica descoberta. Lhe era o único clítico que apresentava o traço [+humano] e que não apresentava a marca de gênero. Lhe pôde, então, ser reanalisado como [+pessoa], na esteira do Odprep, e passar a referir a 2ª pessoa indireta, independentemente da transitividade do verbo (OLIVEIRA, 2003, p. 5-6). Monteiro (1994, p.86) identifica alguns motivos para a existência do clítico lhe no quadro pronominal de 2ª pessoa na função acusativa: (i) estratégia de esquiva ao emprego do clítico acusativo, uma vez que o mesmo está em processo de extinção; (ii) conservação de uma simetria morfossintática com outros pronomes (me, te, se) que exercem a função acusativa; (iii) ausência da preposição, o que desestabiliza o 47 antagonismo entre os dois tipos de complemento verbal e (iv) recurso para anular a ambiguidade entre as referências à 2ª ou à 3ª pessoa. Tendo em vista os diversos estudos sobre o tema, notamos que, embora cada explicação tenha suas especificidades, algumas são semelhantes. Em suma, os motivos apontados para a presença do lhe como objeto direto de 2ª pessoa são: diminuição deste pronome como dativo; desuso do clítico acusativo o/a; analogia com outros pronomes que exercem tanto a função acusativa quanto a dativa; perda da distinção tu/você em algumas localidades do Brasil; acompanhamento da gramaticalização do você, o que teria transportado o significado de lhe para a 2ª pessoa; reanálise do objeto direto preposicionado; estratégia de esquiva ao clítico acusativo e ausência da preposição. Como já vimos os motivos que podem ter levado o lhe a figurar na função de objeto direto, citemos, com base em Ramos (1999), os três comportamentos que este clítico assume no PB como acusativo. Cabe ressaltar que a pesquisadora trata tais comportamentos como três gramáticas, haja vista a sua abordagem gerativista. 1) Gramática A: Gramática do eixo Rio-São Paulo. O pronome você é usado como expressão universal de tratamento13; usa-se o lhe para a realização do dativo de 2ª pessoa numa relação de respeito/cortesia e te para o tratamento mais familiar e informal; 2) Gramática B: Corresponde às regiões de Maceió, Recife, Salvador e João Pessoa. O pronome você é a forma de tratamento universal e houve a substituição do lhe pelo te como acusativo e como dativo. Nessas localidades, o lhe não se restringe aos contextos de formalidade, respeito/cortesia, e sim se propaga no trato familiar e informal; 3) Gramática C: Gramática de São Luís (Maranhão). Nesta região, conserva-se a distinção tu-você para o tratamento íntimo/familiar e de respeito/cortesia, respectivamente. O emprego de te e de lhe atende a tal distinção. O te é usado como clítico de tu e o lhe como clítico de você, senhor/senhora seja como acusativo seja como dativo. 13 Não corroboramos, porém, com essa afirmação, uma vez que, no Rio de Janeiro, o tratamento com o pronome tu na posição de sujeito também é largamente utilizado, todavia, tal uso é feito sem concordância verbal, como em “Tu foi no cinema ontem?” 48 Por fim, os estudos têm demonstrado que o uso do lhe na 2ª pessoa em função acusativa é bastante recorrente no PB, atendendo, porém, a uma distribuição regional, já que não ocorre em todo o território brasileiro com a mesma frequência, sendo mais habitual em falares nordestinos. Até em músicas populares brasileiras ele aparece: “Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo14”, demonstrando que “tanto faz usar lhe ou te para se referir a você” (BAGNO, 2009, P. 228). Tudo isso aponta para a remodelagem do quadro de pronomes pessoais no PB, tornando evidente que não devemos desconsiderar alguns usos que o falante faz da língua só porque não são previstos pela tradição gramatical. A língua não é estável, ela varia e muda, mesmo que lenta e gradualmente; devemos, portanto, estar atentos às variações e às mudanças, entendê-las e absorvê-las, afinal, elas são o uso efetivo que fazemos da língua, e não uma regra imposta, não condizente com a realidade ou algo superficial. 14 O exemplo foi retirado de Bagno (2009, p. 228) e encontra-se na canção “Sua estupidez” de Roberto & Erasmo Carlos. 49 3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: SOCIOLINGUÍSTICA HISTÓRICA A Sociolinguística histórica empreende um estudo histórico dos processos de mudanças, a partir das correlações entre fatores linguísticos e sociais; para tanto, aplica os princípios da Sociolinguística15 (sincrônica16) no estudo e interpretação de materiais históricos. Dessa forma, para cumprir o propósito da presente dissertação, que é o de analisar as formas acusativas de segunda pessoa do singular em cartas pessoais escritas por cariocas em fins do século XIX e meados do XX, a pesquisa será desenvolvida à luz da Sociolinguística histórica, por acreditarmos que melhor dá conta do objetivo exposto, uma vez que se trata de um corpus histórico. O artigo “Empirical Foundations for a Theory of Language Change” (1968) de Uriel Weinreich, William Labov e Marvin I. Herzog pode ser considerado um dos trabalhos fundadores da Sociolinguística histórica. Nele, os autores discordam de propostas de explicação de mudança que partam de descrições estáticas e homogêneas da língua. Em contrapartida, propõem que a chave para uma compreensão racional dos processos de mudança linguística é a observação e descrição da heterogeneidade ordenada que define todas as línguas vivas, usadas para a comunicação cotidiana por uma comunidade de fala. (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968, p. 144 apud CONDE SILVESTRE, 2007, p.31, tradução nossa) Weinreich, Labov e Herzog salientam a importância da heterogeneidade ordenada, que significa que existe variação linguística, porém essa variação não é aleatória, caótica, mas sim organizada e condicionada por diversos fatores (linguísticos 15 A Sociolinguística, habitualmente denominada de “Sociolinguística variacionista” ou “teoria da variação”, firmou-se nos Estados Unidos na década de 1960, sob a liderança do linguista William Labov. Tal área “estuda a língua em seu uso real, levando em consideração as relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais da produção linguística. Para essa corrente, a língua é uma instituição social e, portanto, não pode ser estudada como uma estrutura autônoma, independente do contexto situacional, da cultura e da história das pessoas que a utilizam como meio de comunicação. [...] Um dos seus objetivos é entender quais são os principais fatores que motivam a variação linguística, e qual a importância de cada um desses fatores na configuração do quadro que se apresenta variável.” (CEZARIO & VOTRE, 2008, p. 141, grifo dos autores) 16 Sabemos que o estudo sincrônico é aquele que analisa a língua numa determinada fase ou época, isto é, é feito um recorte no tempo. Já o estudo diacrônico investiga as mudanças das línguas através do tempo. Então, o trabalho sincrônico também pode ser histórico, ou seja, nem todo trabalho histórico é diacrônico. Entretanto, neste trabalho, quando nos referimos à Sociolinguística sincrônica, tal como Conde Silvestre (2007), atribuímos a ela um caráter atual, em contraposição ao caráter histórico da Sociolinguística histórica. 50 e extralinguísticos). A esse respeito, Almeida (2009, p. 84) salienta que “a competência do falante também é ordenada e estruturada, na medida em que ele sabe escolher dentre formas que se alternam no sistema aquela que melhor atende aos seus objetivos comunicativos.” Suzanne Romaine define a Sociolinguística histórica em sua obra SocioHistorical Linguistics. Its status and Methodology (1982), sendo, portanto, considerada a pesquisadora pioneira no desenvolvimento metodológico e prático desta disciplina. A proposta da autora é a imbricação das disciplinas Sociolinguística e Linguística histórica em uma Linguística sócio-histórica, já que aquelas possuem questões importantes para esta: de uma, aproveita-se, por exemplo, o aspecto social conjugado aos fatores linguísticos, de outra, assemelha-se o caráter histórico. Já Bergs (2005) considera a natureza híbrida da sociolinguística histórica por empreender o campo da interseção da linguística, ciências sociais e história; [...] ele vê a sociolinguística histórica como uma disciplina potencial de si mesma, que pode se desenvolver com seus próprios objetivos, metodologia e teorias, divorciada da sociolinguística dos dias atuais, por um lado, e da linguística histórica, de outro. (BERGS, 2005, p. 8-9 e 21 apud NEVALAINEN; RAUMOLIN-BRUNBERG, 2012, p. 26, tradução nossa.) De uma forma ou de outra, é certo que a Sociolinguística histórica possui um caráter interdisciplinar, uma vez que encerra âmbitos de investigação conexos, como, as já mencionadas, Linguística histórica, Sociolinguística sincrônica e ciências sociais, além de manter estreitas relações com áreas que podem ser de grande ajuda em suas investigações, tais como a história social e a linguística do corpus, que serão abordadas posteriormente neste trabalho. 3.1. Principais problemas 51 Pensemos em um paleontólogo que deseja estudar alguma forma de vida existente em períodos geológicos passados. É certo que tal pesquisador não encontrará animais pré-históricos vivos, contudo, ele não deixará de realizar suas pesquisas por não poder encontrar animais vivos; ele se contentará com os fósseis, ou seja, o que restou.17 Da mesma forma que os paleontólogos, os pesquisadores em Sociolinguística histórica enfrentam problemas com o material que desejam analisar, que, neste caso, é o linguístico. Enquanto a Sociolinguística sincrônica conta com uma diversidade, quantidade e autenticidade de dados, a informação de que dispõe o investigador em Sociolinguística histórica é escassa e fragmentária, fazendo com que os dados do passado sejam insatisfatórios em vários sentidos. Primeiramente, tais dados se conservaram no meio escrito – já que, em períodos históricos anteriores, não existiam meios técnicos de gravação de voz – , e devido a isso, os textos, muitas vezes, aparecem isolados e desprovidos dos componentes do contexto e da situação em que foram escritos. Em segundo lugar, os textos do passado são meros restos de corpora textuais muito maiores e vieram até nós por azar. Sendo assim, esses textos que se conservaram não trazem todos os estilos, registros ou variedades vinculáveis ao passado das línguas. Neste sentido, as fontes ou o material de análise da Sociolinguística histórica podem sofrer com a falta de representatividade, em virtude dos dados serem, muitas vezes, desiguais, como consequência da preservação aleatória de alguns textos e descarte também aleatório de outros. O problema em questão geralmente não acomete a Sociolinguística sincrônica, pois o investigador possui um controle maior do corpus, uma vez que ele mesmo, muitas vezes, capta o seu próprio material, através de gravações18, fazendo com que este seja autêntico e permitindo um melhor manejo dos dados linguísticos e sociais. Como a Sociolinguística histórica depende do material linguístico que sobreviveu por azar, quase sempre o pesquisador terá de trabalhar com coleções de tamanho limitado, ainda que sejam aquelas compiladas em grandes corpora computadorizados. Sendo assim, a sua tarefa será sempre limitada aos dados linguísticos disponíveis. Às vezes, o pesquisador precisa, inclusive, alterar ou adaptar o 17 Esta analogia com a biologia foi retirada do texto “The Use of Literary Sources in Historical Sociolinguistic Research”, de K. Anipa, presente no livro The Handbook of Historical Sociolinguistc (2012). 18 No entanto, o investigador em Sociolinguística sincrônica enfrenta o que Labov denomina paradoxo do observador, isto é, “como [...] coletar uma vasta quantidade de material, sem que a presença do pesquisador interfira na naturalidade da situação de comunicação?” (TARALLO, 2007, p.20) 52 fenômeno que se quer estudar, devido à falta ou a não suficiência de dados. Por isso que escolher bem o corpus é fundamental; essa atividade deve ser feita pensando-se no objeto de investigação. Além disso, há também limitações em relação aos dados do contexto social. Ambas as limitações aqui mencionadas fazem referência ao problema da validade empírica. Enquanto a pessoa que se dedica à investigação em sociolinguística sincrônica pode ter um conhecimento de primeira mão de fatores como a estratificação social da comunidade, a avaliação que nela se faz de certos comportamentos, atitudes, etc., o investigador em sociolinguística diacrônica deve reconstruir essa informação guiandose por dados históricos, cujo caráter fragmentário [...] tem sido mencionado repetidas vezes. (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 37, tradução nossa) Nesse processo de reconstrução citado por Conde Silvestre (2007), a história social é de grande ajuda. O problema é que nem sempre se consegue reconstruir os dados sociais do passado. Em se tratando de um corpus constituído por cartas, devemos levar em conta que, provavelmente, havia mais variação na língua falada no passado do que nos registros escritos que permaneceram, e isso se dá porque a língua escrita tende a ser mais conservadora, normativa e formal do que a língua oral, evitando, assim, variações. Então, como a investigação histórica depende de fontes escritas, nós, pesquisadores, devemos ter cuidado com a aparente uniformidade, ou seja, a aparente “invariação” (não-variação), que se deve em virtude do tipo de corpus e que pode acabar por não indicar a realidade linguística de uma comunidade. Já a Sociolinguística sincrônica tem a vantagem de poder trabalhar com dados de fala, podendo, consequentemente, abarcar uma maior quantidade de variações. Pensando nisso, houve a escolha, nesta dissertação, de um subtipo do gênero textual carta: as cartas pessoais, já que estas possuem uma escrita mais informal, distante de pressões normativas, diferentemente, por exemplo, de cartas oficiais. Maiores considerações acerca de tal gênero serão feitas no tópico 3.6. Apesar da reflexão empreendida na escolha do corpus desta dissertação, podemos, ainda, sofrer com o problema da autenticidade. A esse respeito, Labov (1994, p.11) observa que “as formas linguísticas em tais documentos [históricos] são frequentemente distintas do vernáculo dos escritores, e em vez disso refletem os 53 esforços para capturar um dialeto normativo que nunca foi língua nativa de nenhum falante.” (apud HERNÁNDEZ-CAMPOY; SCHILLING, 2012, p. 68, tradução nossa) Como resultado, muitos documentos vão carregados de hipercorreção. Diante disso, cabe a pergunta: até que ponto o material histórico pode refletir a língua da época que se analisa? Um problema concernente, principalmente, ao gênero carta é a autoria. A carta pode não ter sido escrita pelo remetente, e sim por um copista, isto é, o remetente dita a carta para que outra pessoa a escreva. Isso pode fazer com que o texto venha impregnado com características linguísticas do copista, misturadas com as do remetente. Ainda que as cartas sejam assinadas com um nome identificável, “nós não podemos ter sempre certeza se as pessoas cujos nomes aparecem no final dessas cartas foram os reais escritores.” (FAIRMAN, 2006, p. 64 apud ELSPASS, 2012, p. 158, tradução nossa) Por fim, existe o problema da validade social e histórica. Temos que ter em mente que a caracterização do passado é diferente da atual. Além disso, o período em análise pode ser amplo e a estrutura social, os comportamentos humanos e as atitudes variam no decorrer do tempo, que é o que acontece neste trabalho, já que é de cunho diacrônico. Pensemos assim: a configuração de um homem considerado culto na década de 1930 certamente não é a mesma da de um homem do século XXI. Então, nós não podemos utilizar características atuais para definir se a pessoa era culta ou não, e sim devemos nos voltar para as características da época, através do estudo da história social. A essa respeito, Barbosa (2005, p.30) nos diz: Teoricamente, para sabermos o quão culto um dado redator seria em uma determinada fase histórica, será necessário, primeiro, vislumbrar os valores de letramento da época que difiram dos da nossa; depois reconhecer os modelos textuais de padrão culto objetivamente à disposição. Dessa forma, as variáveis linguísticas e sociais podem ter mudado ao longo do tempo que é investigado e isso pode acabar não sendo controlado pelo pesquisador. Deve-se, então, conforme já citado, tentar reconstruir a configuração social para analisar o passado. Não obstante os problemas aqui expostos, tal como o paleontólogo não desiste de sua pesquisa, o investigador em Sociolinguística histórica deve enfrentar todos esses problemas, procurando “fazer o melhor uso dos maus dados” (LABOV, 1972). 54 3.2.O princípio da uniformidade linguística e o perigo do anacronismo No âmbito da geologia, Charles Lyell formulou19 uma ideia que dizia que os fenômenos geológicos que nós observamos no presente podem nos ajudar a inferir certo conhecimento sobre os que ocorreram no passado. Tal noção foi transplantada para a Sociolinguística histórica, tornando-se um dos princípios chave para esta área – o princípio da uniformidade linguística. Este princípio nos leva a crer que, se no presente encontramos variação e mudança linguística correlacionadas a determinadas variáveis independentes, assim também ocorria no passado. Sendo assim, Romaine conclui que os fatores linguísticos que são possíveis observar e analisar ao nosso redor não são absolutamente diferentes daqueles que atuaram no passado; o que significa que não há razões para duvidar que a variação linguística se manifestava no passado da mesma forma estruturada como se faz no presente. (ROMAINE, 1982, p.122; 1988a, p.1454 apud CONDE SILVESTRE, 2007, p. 41, tradução nossa) Dessa forma, não só o presente pode ser usado para explicar o passado, como também o passado pode ser usado na explicação do presente. Em relação à mudança linguística, Labov (1972, p. 161) nota que os mesmos mecanismos que atuaram para produzir mudanças no passado podem ser observados operando em mudanças atuais (apud NEVALAINEN; RAUMOLIN-BRUNBERG, 2012, p. 25). No entanto, devemos ter em mente que utilizar o presente para explicar o passado e vice-versa é complicado porque nunca há total confluência entre ambos. Pensemos: se o presente e o passado fossem totalmente iguais, não haveria a necessidade de aplicar métodos de investigação do presente na interpretação do passado, pois, uma vez que não existiriam diferenças entre os dois, não haveria nada para explicar (LABOV, 1994). Ainda com relação a essa conexão presente-passado e salientando os problemas subjacentes ao trabalho do linguista histórico, Labov (1994, p. 21) introduz o conceito de paradoxo histórico, observando que “a tarefa dos linguistas históricos é explicar as diferenças entre o passado e o presente; mas na medida em que o passado foi diferente do presente, não há como saber quão diferente era.” O paradoxo em questão deriva das 19 Em Principles of Geology (1833; em Christy, 1983: ix). 55 divergências nas configurações sociais entre o passado e o presente e do fato de as fontes de dados serem defectivas. Como podemos observar, essa relação entre o passado e o presente e o uso de um para explicar o outro podem ser benéficos por um lado, se pensarmos no princípio de uniformidade linguística, que muito pode ajudar na tarefa do pesquisador histórico. Entretanto, por outro lado, deve-se ter muito cuidado na própria aplicação deste princípio, pois a projeção direta para o passado de padrões e resultados obtidos na atualidade pode levar a anacronismos20. Devemos levar em conta que os atuais conceitos de classe, gênero, redes, normas, prestígio divergem significativamente nas diferentes comunidades. Conforme dissemos anteriormente, “ser culto” hoje em dia não é mesma coisa de “ser culto” na década de 1930, muito menos duzentos atrás, e assim por diante. Então, trazendo essa questão para a presente pesquisa, admitir padrões atuais para o passado é perigoso, pois corremos o risco de caracterizarmos erroneamente um missivista, o que pode nos levar a resultados enganosos. Tal anacronismo seria do tipo construcional, ou ideacional, que tem relação com a divisão de classe social. Há também outro tipo de anacronismo, o factual, que diz respeito a um erro de cronologia (BERGS, 2012). Reproduzindo aqui um exemplo apontado por Bergs (2012, p.82-83), muito estranho seria, ao assistirmos um filme sobre o Império Romano, observarmos um romano usando relógio de pulso, pois estes não existiam naquela época. Da mesma forma, não se pode falar acerca do pronome você no latim vulgar, já que tal forma é muito mais recente. Ainda que exista o perigo do anacronismo, o princípio de uniformidade linguística não deixa de ser uma importante ferramenta do pesquisador em Sociolinguística histórica. Devemos, contudo, ter em mente que as características de situações contemporâneas somente servem de modelo para o estudo histórico, se obedecerem às mudanças da relação entre variedade linguística e variáveis sociais concernentes para cada caso. 3.3. Reconstruindo o material linguístico histórico 20 Anacronismo, segundo o dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 3.0 (2009): 1 – erro de cronologia que geralmente consiste em atribuir a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que são de outra época, ou em representar, nas obras de arte, costumes e objetos de uma época a que não pertencem; 2 – atitude ou fato que não está de acordo com sua época; 3 – erro de data relativa a fatos ou pessoas. 56 Conforme já foi dito anteriormente, o pesquisador em Sociolinguística histórica depende de textos escritos no passado que se conservaram por acaso. E essa dependência de fontes escritas faz com que haja certo questionamento a respeito da viabilidade da investigação histórica. Já a pesquisa sincrônica considera-se como possuidora de um caráter mais autêntico, visto que seus dados são pertencentes ao meio oral, reproduzindo melhor as condições de emissão dos falantes e o contexto, concebendo-se, então, como uma investigação mais confiável. Nesta perspectiva, estabelece-se uma dependência da língua escrita em relação à oral e as manifestações da primeira são consideradas de cunho secundário para a investigação linguística (ROMAINE, 1982, p.122 apud CONDE SILVESTRE, 2007, p.43). Para Conde Silvestre (2007, p.43), esta ênfase na validade exclusiva da fala para a investigação sociolinguística não leva em consideração algumas propostas concernentes à distinção entre língua escrita e língua oral, que decorre da própria substância que cada uma utiliza – gráfica ou fônica – e, também, das necessidades comunicativas de cada sistema. Vejamos, então, algumas diferenças fundamentais entre fala e escrita. Primeiramente, pensemos que a comunicação oral é dinâmica, efêmera e demanda a presença dos participantes na troca comunicativa. Já a escrita se manifesta de forma estática e permanente e pode se realizar mesmo quando o emissor não está em contato direto com o seu interlocutor. Esta primeira distinção leva a diferenças estruturais, gramaticais e léxicas. No que tange às divergências estruturais, há, na escrita, uma construção mais cuidada, uma vez que a mensagem é emitida num meio estável e está destinada a ter uma longa duração; diferentemente da fala, que é espontânea e possui um caráter mais flexível. As diferenças gramaticais e léxicas abrangem o uso de expressões dêiticas, que aparecem mais no meio oral, já que necessitam de um contexto imediato para sua compreensão e abarcam também o caráter estilisticamente mais formal da língua escrita, na qual se infundi a noção de padrão. Considerar essas diferenças já é o bastante para perceber que a escrita independe da fala e admitir que a primeira não é simplesmente o registro mais ou menos perdurável da segunda. Além disso, ambas as expressões são usadas com propósitos diferentes em distintas situações de comunicação. Foi isso que levou Romaine (1988) 57 a sugerir que se desfaça, na investigação Sociolinguística histórica, a aparente relação de sinonímia entre língua e manifestação oral que prepondera na pesquisa sincrônica, a fim de que não exista mais a dependência do meio escrito em relação ao meio oral. Seguindo essas premissas, podemos assumir que a língua escrita pode ser analisada independentemente da expressão oral, entretanto também resulta importante para a sociolinguística histórica vislumbrar que a existência de diferenças substanciais, comunicativas ou estruturais, não supõe que o material linguístico escrito esteja isento de variabilidade. Neste sentido, se entende que ambas (expressão escrita e oral) se encontram, com suas características particulares, em relação de distribuição complementar e que a variação estruturada se manifesta em todos os meios de comunicação. (BIBER, 1988 apud CONDE SILVESTRE, 2007, p. 44, grifo do autor, tradução nossa) Dessa forma, Romaine (1988a, p. 1454) chega a uma conclusão, em forma de axioma: “os dados históricos são válidos em si mesmos – como, em geral, o são todas as amostras escritas, do presente ou do passado – independentemente de que reflitam com fidelidade as circunstâncias de sua emissão ou, ao contrário, estejam afastados delas.” (apud CONDE SILVESTRE, 2007, p. 45, tradução nossa) Cabe ressaltar, no entanto, que não são todos os documentos do passado que servem igualmente para a investigação sociolinguística, pois nem todos exibem o mesmo grau de variabilidade. Os textos mais produtivos para o pesquisador são aqueles que transferem para a escrita trocas comunicativas que ocorreram ou poderiam ter ocorrido no meio oral, pois, além de poderem manifestar mais variações, podem também auxiliar na correspondência das variáveis linguísticas com as condições pessoais de emissão e recepção (CONDE SILVESTRE, 2007, p.45). Levando em consideração essas e outras circunstâncias, muitos autores têm catalogado os materiais escritos relacionando-os com a confiabilidade que possuem para a investigação da mudança e variação no passado. Neste trabalho, nos ateremos ao catálogo proposto por Schneider (2002, p. 71-73 apud CONDE SILVESTRE, 2007, p. 45-46), que distingue cinco categorias de textos escritos que podem ser usados com certas garantias na pesquisa Sociolinguística histórica: a) registros diretos de atos de comunicação oral no momento do intercâmbio comunicativo, por exemplo, expedientes judiciais, processos, acusados, testemunhas; 58 b) registros de atos de comunicação realizados depois da emissão, exemplo: narração de escravos antigos; c) registros escritos que podem reproduzir o vernáculo, como cartas pessoais, diários; d) observações sobre o comportamento linguístico de outros falantes (pronunciamentos prescritivos sobre usos considerados vulgares, exemplo: viajantes, observação de estrangeiros etc); e) transcrições inventadas ou imaginadas, exemplos, obras literárias e teatro. Ainda que possam haver, nestes documentos, certos traços que apresentam distância em relação à realidade oral, o que pudemos perceber nesta seção é que a expressão escrita tem o seu valor, podendo ser utilizada em investigações históricas. Os materiais escritos apresentam variações linguísticas, mesmo que, em princípio, sejam em menor grau do que na língua oral, por todas as diferenças que foram aqui comentadas. 3.3.1. A utilidade da linguística do corpus A linguística do corpus forma o fenômeno linguístico através de uma coleção de textos (corpora). Ela tem se desenvolvido consideravelmente nas últimas décadas, devido aos avanços recentes no âmbito da informática e o tratamento digital da informação através de computadores. Com a linguística do corpus é possível compilar coleções que contêm todos os materiais históricos que sobreviveram, em geral ou dentro de um determinado período, permitindo seu tratamento digitalizado, o que proporciona a reconstrução da variabilidade linguística histórica e a seleção das variáveis que admitem um estudo sociolinguístico. Neste sentido, a linguística do corpus pode ajudar a resolver o problema do isolamento e o caráter fragmentário dos materiais históricos, na medida em que possibilita a manipulação simultânea da maioria dos textos preservados que pertencem a uma mesma época ou, ainda, permite analisá-los longitudinalmente ao longo de distintos períodos. Podemos dizer que a Sociolinguística e a linguística do corpus possuem um interesse em comum: o uso da linguagem. Sendo assim, a criação de corpora tem muito a oferecer porque (i) o uso de computadores permite aos pesquisadores manejar 59 simultaneamente uma quantidade muito grande de dados reais, sobrepujando as restrições de um trabalho somente pautado na intuição, (ii) concede a suas descobertas um alto grau de confiabilidade e (iii) coloca à disposição da comunidade científica todos os dados. Essa divulgação a outros pesquisadores é favorecida pelo desenvolvimento da internet, já que esta promove a circulação instantânea de coleções de textos, auxiliando a linguística do corpus. O uso de ferramentas computacionais facilita também o levantamento de dados (programas de concordância, pacotes estatísticos etc.) Segundo Conde Silvestre (2007, p.48, tradução nossa), “a linguística do corpus é uma das ferramentas mais adequadas para ‘fazer o melhor uso dos piores dados’”. No entanto, suas contribuições à Sociolinguística histórica são limitadas, pois, embora haja muitos benefícios (já aqui comentados), algumas vezes não é possível – ou é muito difícil – extrair informação confiável acerca de fatores externos que poderiam estar correlacionados com dados linguísticos do passado. 3.4. Reconstruindo o contexto social A Sociolinguística histórica deve se ocupar em reconstruir os fatores extralinguísticos que poderiam estar relacionados com a variação linguística. O pesquisador em Sociolinguística sincrônica, por exemplo, pode encontrar ajuda na sociologia, através de “um conhecimento de primeira mão sobre questões como a estratificação social da comunidade objeto de estudo e das atitudes ou comportamentos vigentes nela” (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 53, tradução nossa). Já a investigação histórica deve reconstruir essa informação mediante dados históricos, que, geralmente, são fragmentários. Logo, o pesquisador deve buscar meios que o auxiliem, como a análise do estilo e o registro ou, até mesmo, através de outras ciências, como a história social. A história social traz informação acerca dos diferentes grupos sociais do passado, o que inclui, por exemplo, suas estruturas e as relações e os conflitos entre eles. Sendo assim, investigar a história social da(s) comunidade(s) envolvida(s) nos estudos linguísticos é uma ótima alternativa para os pesquisadores em Sociolinguística histórica, pois lhes permite desvendar alguns aspectos desconhecidos, na medida em que reconstrói “de maneira realista e sem anacronias as circunstâncias sociais que 60 podem ter afetado a mudança e a variação no passado, incluindo o estabelecimento das estruturas socioeconômicas” (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 14, tradução nossa). Esse processo de reconstrução visa obter informações extralinguísticas, de cunho social ou individual, tais como a idade, o nível socioeconômico, escolaridade, o lugar de residência, a rede de relações interpessoais, já que nós, sociolinguistas, acreditamos que tudo isso pode influenciar o fenômeno linguístico investigado; então, quanto mais se sabe, melhor é a análise e mais verídico é o seu resultado. No entanto, às vezes, o trabalho se torna ainda mais árduo, pois nem pela história social se consegue reconstruir as características sociais da comunidade ou dos autores dos documentos em análise. Podemos citar como exemplo de trabalho que enfrentou tal problema o de Silva (2012): as cartas21 utilizadas em seu trabalho foram encontradas no lixo22, no bairro de Ramos, subúrbio do Rio de Janeiro. Certamente, este foi um grande achado, porém, a identificação do perfil social dos missivistas ficou prejudicada, já que eles eram pessoas não-ilustres, não contendo informações relevantes sobre eles em nenhum arquivo histórico e nem no endereço que constava no envelope das correspondências. Tendo em vista a impossibilidade de identificar dados sociais relativos aos remetentes, a autora elaborou uma proposta metodológica alternativa para a caracterização do grau de letramento dos missivistas, a partir da investigação de aspectos textuais e grafemáticos das cartas. Silva (2012) se pautou nos trabalhos de Marquilhas (1996) e Barbosa (1999) na análise de natureza filológica, com o intuito de mostrar marcas da oralidade na escrita e transposição de aspectos da fala para o texto escrito. Então, o que a autora pretende é “tentar captar na própria documentação características sociais dos remetentes, observando na estrutura das cartas, propriedades da escrita referentes à grafia e a organização do próprio texto” (SILVA, 2012, p. 34). Podemos dizer que, de certa forma, Silva (2012) fez uma investigação do estilo dos missivistas. Consoante Conde Silvestre a seleção de um estilo por parte do falante [ou escrevente] supõe que seus usos linguísticos se adaptam a algumas das possibilidades sociolinguísticas que se dão em sua comunidade, quer dizer, que se 21 Essas cartas foram trocadas pelo casal Jayme e Maria na década de 1930 e fazem parte da amostra investigada na presente dissertação. 22 O estudante da Faculdade de Letras da UFRJ Delano de Souza Garcia encontrou essas cartas e, gentilmente, as cedeu para o projeto de pesquisa coordenado pela professora Célia Regina dos Santos Lopes. 61 pode estabelecer uma correlação entre a frequência de aparição de certos traços no estilo de um falante [ou escrevente] individual e os que caracterizam habitualmente a um grupo social concreto. (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 53, tradução nossa) Então, através da observação de algumas características dos próprios autores dos documentos, podemos chegar a conclusões a respeito dos perfis sociais dos indivíduos com os quais estamos lidando e, até mesmo, conhecer melhor a sociedade na qual estão inseridos. Labov é considerado um dos autores pioneiros no estudo das relações entre estilo e nível social e sua utilização na Sociolinguística. Em seus estudos sobre a fala de Nova Iorque, o linguista notou a ocorrência de cinco estilos contextuais nas entrevistas realizadas por ele. Estes cinco estilos estão expostos num continuum que vai desde a emissão informal até a mais cuidada e se apoiam no grau de atenção que o falante presta a seu próprio discurso e na maior ou menor formalidade do contexto comunicativo. Estilo Grau de atenção do Contexto falante Fala espontânea Fala informal Fala cuidada Fala formal: leitura de textos Fala formal: leitura de listas de palavras e pares mínimos Mínimo Mínima formalidade Máximo Máxima formalidade Tabela 3: O continuum estilístico estabelecido por Labov (1972a; em Romaine, 1982, p.18 apud Conde Silvestre, 2007, p.54) Como podemos observar neste continuum, um grau menor de atenção está relacionado à fala espontânea, que é esperada em contextos de menor formalidade, por exemplo, em conversas cotidianas com amigos e/ou parentes. Já o grau máximo de atenção volta-se para contextos muito formais, como respostas em entrevistas de emprego, leitura de textos, listas de palavras e pares mínimos em voz alta. Embora o modelo proposto por Labov seja útil para o desenvolvimento da Sociolinguística histórica, tem recebido críticas de diferentes perspectivas. Estas críticas se referem ao fato de tal proposta subestimar, de certa forma, diversos componentes 62 essenciais do processo de comunicação, como o ouvinte, o canal, o código, o contexto situacional, a intenção do falante ou a relação entre interlocutores, pois todos estes também contribuem para a formalidade ou informalidade estilística. Traugott e Romaine fazem uma proposta (que pode ser aplicada na Sociolinguística histórica) de compreender o estilo como o resultado de uma relação comunicativa entre os participantes em um ato de fala, os quais negociam cada ato de fala e o dotam de um ou outro em virtude de uma série de fatores pessoais e contextuais, porém também em função de sua própria imersão na estrutura social da comunidade de fala, do desenvolvimento de funções socioprofissionais concretas e do estabelecimento de redes de relações pessoais além da interação comunicativa de que se trata (1985, p. 2829 apud CONDE SILVESTRE, 2007, p.59, tradução nossa) Sob esta perspectiva, uma reconstrução completa e válida dos estilos deve atender aos seguintes fatores23: 1) Fatores pessoais, que incluem: (a) o falante, (b) os interlocutores e (c) o tipo de relação que se estabelece entre eles. 2) Fatores não pessoais, que abrangem: (a) elementos discursivos, por exemplo, o tema (formal ou informal, pessoal ou não), o tipo de comunicação (monólogo, conversação livre etc) e o gênero discursivo (narrativo, expositivo etc) e (b) elementos contextuais, tais como o lugar (familiar ou não), o momento no qual ocorre a interação e o tipo de atividade pública ou privada que com ela se desenvolve. Outra forma de obter informação acerca dos estilos é por meio do estudo dos processos de acomodação linguística24, em virtude das relações sociopsicológicas entre os interlocutores (CONDE SILVESTRE, 2007, p.60). A acomodação linguística auxilia na reconstrução das diferenças socioculturais existentes em certas épocas, uma vez que é entendida como a alteração do estilo de forma consciente ou não, dependendo de alguns fatores, tais como o pertencimento a um grupo social e a identificação com suas normas, e a aproximação ou o afastamento 23 Os fatores em questão são detalhados por Moreno Fernández em Principios de sociolinguística y sociologia del language (1988, p. 98-103 apud CONDE SILVESTRE, 2007, p.59). 24 A teoria da acomodação linguística se desenvolveu durante a década de 1970, dentro da psicologia social. 63 do falante em relação ao seu interlocutor através da convergência ou divergência de estilos, respectivamente. Pudemos perceber, ao longo desta seção, que há a necessidade de adotar subterfúgios na tentativa de reconstruir o contexto social que envolve a realidade dos autores dos documentos: investigação da história social, estudo dos estilos e registros e, até mesmo, observação da acomodação linguística. Contudo, devemos ter em mente que não há uma fórmula definitiva que possibilite a reconstrução das variáveis extralinguísticas a partir do estudo de estilos e registros, pois tudo depende muito dos dados de que dispõe o investigador. 3.5. O papel das redes sociais O estudo das redes sociais pode auxiliar o trabalho do investigador em Sociolinguística; na verdade, segundo James e Lesley Milroy (apud CONDE SILVESTRE, 2007, p.166), o efeito delas sobre a linguagem pode ser acrescentado às variáveis independentes já frequentemente utilizadas, como idade, sexo, etnia, nível socioeconômico etc. Em sociologia, uma rede social se define como “o conjunto e o tipo de contatos pessoais que cada indivíduo estabelece com outros dentro de seu próprio grupo ou fora dele” (CONSE SILVESTRE, 2007, p.167); seria, segundo Moreno Fenández, a “trama de relações diretas entre indivíduos” (1998, p. 51-52 apud CONDE SILVESTRE, 2007, p. 167). As redes podem ser fechadas, compactas (close-knit), quando a maior parte dos seus integrantes se conhecem mutuamente e mantêm algum tipo de relação com os demais. Este tipo de rede, por conter vínculos estreitos entre os indivíduos, seria mais impermeável às mudanças, atuando como forças conservadoras que favorecem a manutenção das variedades locais. Ressalta-se que os indivíduos na parte central da rede são os menos inovadores, pois, como eles ficam mais “fechados”, dificultam o contato com outras redes, nas quais pode haver inovações. Há também as redes sociais abertas e menos trançadas. Nestas, figura o não conhecimento mútuo de todos os seus integrantes. Dessa forma, há o estabelecimento de vínculos fracos, fazendo com que tais redes sejam permeáveis à mudança linguística, 64 que se dissemina mais facilmente através delas. Neste caso, os falantes periféricos na rede são os mais inovadores, uma vez que podem entrar em contato com pessoas de outras redes, “captando” inovações. É importante salientar a diferença entre falantes inovadores e primeiros adeptos, a fim de demarcar as fases de origem e propagação das mudanças, já que se associam a falantes distintos no que tange a aspectos sociais e pessoais. Os falantes inovadores costumam ser indivíduos marginais, situados na periferia das redes sociais, capazes de estabelecer muitos vínculos fracos com membros de outros grupos. Eles iniciam as inovações e acabam transmitindo as variantes afetadas. Por outro lado, os primeiros adeptos são indivíduos centrais na rede, estabelecem vínculos mais estreitos dentro dela e começam a utilizar a nova variante ao interagirem com outros membros de sua rede social e de outras próximas. 3.5.1. O estudo das redes sociais na Sociolinguística histórica Precisamos ter em mente que há uma dificuldade maior na Sociolinguística histórica do que na Sociolinguística sincrônica para detectar as relações pessoais entre os indivíduos, porque o pesquisador depende dos dados que vieram até nós. E, ainda, muito mais difícil do que reconstruir os níveis socioeconômicos que podem ter influenciado a produção linguística no passado é estabelecer a rede de relações dos indivíduos. Neste sentido, o princípio de uniformidade pode ser um grande aliado, visto que da mesma forma que as redes sociais influenciam no comportamento linguístico do indivíduo hoje em dia, também influenciaram no passado. Bergs (2000, p. 41; também BAX, 2000 apud CONDE SILVESTRE, 2007, p. 177) destacou a prioridade de distinguir duas dimensões no estudo do papel das redes sociais em Linguística histórica. A dimensão estrutural “afeta o desenho e a densidade de cada rede e a localização de seus membros no centro ou na periferia” (CONDE SILVESTRE, 2007, p.177, tradução nossa). Para tanto, é preciso haver informação biográfica suficiente sobre os indivíduos afetados. Para esta dimensão, então, importa saber o desenho e a localização das pessoas na rede. Já o componente interativo, é “determinado pela periodicidade, intensidade, intimidade ou função das relações pessoais” (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 177, tradução nossa). Este componente 65 interessa-se pelas interações que ocorriam entre os indivíduos e, por isso mesmo, é mais difícil de reconstruir, já que se baseia em dados privados, íntimos. No que tange ao âmbito histórico, o conceito de rede social tem sido utilizado na verificação de correlações entre a estrutura social, mais ou menos densa, de diferentes comunidades do passado e o desenvolvimento de mudanças linguísticas de longo alcance na história da língua afetada. Trata-se um macronível de investigação que se derivou das propostas empreendidas por James e Lesley Milroy: se as redes sociais densas, cujos membros estão relacionados por vínculos fortes, são impermeáveis à mudança e promovem a manutenção de normas linguísticas estáveis, e, ao contrário, as redes menos trançadas, caracterizadas pela existência de vínculos fracos entre indivíduos, favorecem a inovação linguística e sua difusão, então, em um nível de análise macrossociolinguístico, as comunidades históricas pequenas e isoladas, pouco afetadas por colonizações ou contatos com outras comunidades, cujas populações, em consequência, tem estado unidas por vínculos fortes, tenderiam a exibir mudanças linguísticas menos bruscas ou aceleradas que aquelas outras abertas historicamente à influência externa e, portanto, menos estáveis socialmente, entre cujas populações se tem podido estabelecer redes sociais menos trançadas e com múltiplos vínculos fracos. (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 179, tradução nossa) Como exemplo, James e Lesley Milroy comparam a história de duas línguas germânicas: islandês e inglês. Aquele é mais conservador devido ao seu isolamento da Europa ser maior do que o do Reino Unido, e também em decorrência do tipo de hierarquização social vigente historicamente na Islândia, país que se caracterizou, na Idade Média, pela ausência de diferenças sociais extremas, por exemplo. Tudo isso fez com que o país tivesse redes sociais trançadas, cujos membros preservaram vínculos fortes durante gerações, favorecendo a estabilidade linguística. Em contrapartida, o inglês possui um caráter mais inovador, pois a presença de estrangeiros favoreceu redes sociais menos densas e o estabelecimento de vínculos fracos, promovendo, consequentemente, a variação e a mudança. Entre os fatores que permitem a desarticulação de vínculos fortes e redes sociais fechadas, contribuindo para a mudança estão: (a) a imigração e abertura de uma comunidade à influência estrangeira e a (b) urbanização e desenvolvimento das cidades. Citando o caso de Londres, o desenvolvimento demográfico, econômico e urbanístico que se deu nesta cidade durante o Renascimento favoreceu a mistura da população em uma cidade muito densamente povoada, levando ao aumento dos vínculos fracos entre 66 os moradores e fazendo com que as redes ficassem menos trançadas. Soma-se a isso a mobilidade geográfica e as possibilidades reais de promoção social (CONDE SILVESTRE, 2012). Dessa forma, o conceito de rede social é de grande importância para o pesquisador em Sociolinguística histórica, já que o seu estudo pode ajudar na compreensão de variações e mudanças linguísticas, através da relação destas com a estrutura social de uma comunidade. 3.6.Afinal, por que cartas pessoais? Conforme já foi visto aqui diversas vezes, o pesquisador em Sociolinguística histórica depende de documentos que vieram até nós por azar para cumprir seus estudos. Na verdade, poderíamos trocar a palavra “azar” pela palavra “sorte”, haja vista a dificuldade, na grande maioria dos casos, de se conseguir um bom material, ou seja, o investigador necessita de sorte para achar um material que lhe seja útil. Dada a diversidade de documentos históricos, cabe uma pergunta: por que optamos, neste estudo, em trabalhar com cartas e, mais especificamente, o porquê do subtipo cartas pessoais? Acreditamos que, no decorrer deste capítulo, algumas explicações neste sentido já foram dadas; as retomaremos, então, e daremos outras. Na seção 3.3, vimos o catálogo proposto por Schneider (2002), que distingue cinco categorias de textos escritos que podem ser utilizados no estudo em Sociolinguística histórica. Vale ressaltar que, utilizando essas mesmas categorias, foi proposto um continuum entre fala e escrita. | fala registros de | cartas julgamentos | dialeto escrita inventado, literário Figura 1: Continuum entre fala e escrita realizado com base no trabalho no Schneider (2002) apud Conde Silvestre (2007) Observando a proposta acima, podemos perceber que Schneider (2002) incluiu o gênero carta no meio do continuum entre fala e escrita, ou seja, embora a carta 67 compreenda um texto escrito, ela pode carregar características da oralidade, ainda mais se se trata de cartas pessoais. Dessa maneira, voltemos a uma explicação já aludida anteriormente nesta dissertação: o fato de termos escolhido cartas particulares devido ao fato destas possuírem uma escrita mais informal, afastada de pressões normativas; o que não ocorre em cartas oficiais, por exemplo. A esse respeito, comenta Souza (2012): [...] a carta pessoal estabelece uma comunicação marcada pela espontaneidade, já que o grau de relacionamento entre os missivistas é de proximidade. É claro que há níveis diferentes de intimidade entre remetente e destinatário, mas, de forma geral, as cartas pessoais são como “conversas escritas”, principalmente pela temática coloquial. (SOUZA, 2012, p.59) Sobre isso, Elspass (2012) salienta que as cartas não particulares e os diários são menos “orais” em virtude das circunstâncias em que e para quem foram escritos. Sendo assim, na escritura de cartas formais (por exemplo, cartas de recomendação), cartas em configuração comunicativa assimétrica, como cartas de apelo, ou diários com fins institucionais, os “escritores frequentemente recorrem a Tradições Discursivas com padrões de discurso altamente formalizados” (ELSPASS, 2012, p. 158, tradução nossa). Segundo o mesmo autor, os “textos privados podem ser considerados as fontes escritas mais ‘orais’ em história da língua” (ELSPASS, 2012, p.158, tradução nossa). Em função dessa maior “liberdade de escrita” presente nas cartas pessoais e consequente aproximação com a fala25, as cartas pessoais podem conter mais variações, o que é de grande valia para a pesquisa sociolinguística. Outro motivo que nos fez optar por esse gênero textual foi o fato de cartas serem um tipo de documento vantajoso no estudo histórico, visto que contêm informação sobre seus autores, as possíveis relações entre eles e seus remetentes, assim como os dados acerca do contexto social que envolve a comunicação, ainda que nem sempre isso seja possível, conforme já discutido aqui. Soma-se a essas motivações o fato de o nosso estudo debruçar-se sobre os pronomes de segunda pessoa. Pensemos que, ao estudarmos as estratégias de tratamento ao interlocutor, precisamos de uma amostra específica, que favoreça a ocorrência de tais pronomes. Neste sentido, a carta pessoal parece ser a melhor opção, haja vista a interação dos interlocutores dotada de maior proximidade, o que contribui para a 25 É claro que isso vai depender muito de alguns fatores, como grau de escolaridade, visto que, quanto menos contato com a escola, menor pressão normativa o indivíduo vai sentir e mais distante dos modelos de escrita ele ficará. 68 manifestação de pronomes de segunda pessoa. Dessa forma, podemos descartar a utilidade de diários para o presente estudo, por exemplo, uma vez que as cartas privadas são caracterizadas pelo diálogo e os diários particulares são estritamente monológicos por natureza (BARTON & HALL, 2000 apud ELSPASS, 2012), não favorecendo o uso de pronomes de segunda pessoa. Em suma, é certo que a utilização de cartas como amostra para o estudo em Sociolinguística histórica pressupõe alguns limites. Acreditamos, no entanto, que muitos deles já tenham sido aqui salientados ao refletirmos também acerca dos problemas concernentes aos diversos documentos históricos e que, ainda assim, esse tipo de documento seja o mais favorável à análise que nos propusemos a fazer. 4. METODOLOGIA 4.1. Formação do corpus 69 O corpus organizado para o presente trabalho é composto por 521 cartas escritas por indivíduos oriundos do Rio de Janeiro e pertencentes a dez diferentes grupos (familiares ou não) entre os anos de 1884 e 1985. Os missivistas, quando não nasceram nesse estado, nele passaram a maior parte da vida; em função disso, tiveram um contato muito grande com essa localidade, seja socialmente seja linguisticamente, o que nos fez inseri-los nessa amostra. A denominação das várias amostras é feita pelo nome da família, porque é dessa forma que o material foi armazenado nos arquivos públicos. Em nosso corpus, porém, há cartas de pessoas que não pertenciam a uma mesma família, como mostraremos mais adiante. Embora haja tal distinção, há certa homogeneidade entre as amostras no que diz respeito à categoria social 26 à qual os indivíduos pertenceram, apesar de não termos controlado essa característica como um grupo de fatores. (BERGS, 2012). É certo que a sociedade brasileira dos séculos XIX e XX apresentava uma estratificação social diferente da observada atualmente; contudo, é evidente que existe alguma distinção social orientada por fatores tanto econômicos quanto políticos e socioculturais. A maior parte do corpus foi recolhida no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (Família Cupertino do Amaral, Família Penna, Família Land Avellar, Família Pedreira Ferraz Magalhães e Família Brandão). As cartas da Família Cruz foram obtidas através do Departamento de Arquivo e Documentação (DAD) da Casa de Oswaldo Cruz (COC), no Rio de Janeiro. As demais missivas foram retiradas do livro do historiador Renato Lemos (Grupo “ilustres fluminenses”), do trabalho de Paredes Silva (1988) (Grupo “estudantes cariocas”) e do acervo do Projeto Labor Histórico (Família Lacerda e “Jayme e Maria, casal dos anos 30”). Não só as amostras destas duas últimas famílias, como também as das famílias Cupertino, Land Avellar, Penna e parte das cartas das famílias Cruz e Pedreira Ferraz Magalhães estão disponíveis no site do Projeto www.letras.ufrj.br/laborhistorico. Vale destacar que não obtivemos dados de acusativo de 2ª pessoa do singular nas dezessete missivas da família Cupertino do Amaral. Quanto ao número de informantes, são 23 homens e 21 mulheres, contabilizando 44 remetentes. Entretanto, o número total de redatores refere-se apenas àqueles cujas missivas continham dados de acusativo. Vejamos, a seguir, a descrição de cada grupo de remetentes. 26 Estamos seguindo o raciocínio de Bergs (2012). O autor salienta que seria um erro falar em classe social com relação a sincronias passadas, uma vez que tal conceito é atual e se aplica às sociedades contemporâneas. O termo “categoria social”, então, seria mais apropriado, por ser mais amplo do que classe social. 70 Família Penna27 A amostra é composta por 30 missivas pessoais e familiares; no entanto, somente encontramos dados de acusativo nas cartas familiares. Essas correspondências ativas e passivas de Affonso Penna Junior, filho do ex-presidente Affonso Augusto Moreira Penna e de Maria Guilhermina, foram escritas entre os anos de 1896 e 1926. Apesar do informante e dos demais indivíduos presentes na amostra terem nascido em Minas Gerais, viveram grande parte da vida no Rio de Janeiro. Dessa forma, assim como ressaltamos anteriormente, incluímos esses remetentes em nossa amostra carioca. Penna Junior se formou em Direito em 1902 pela Faculdade de Direito de Belo Horizonte; foi professor de Direito Internacional Público e de Direito Civil da mesma universidade, reitor da Universidade do Distrito Federal-RJ, juiz do Supremo Tribunal Eleitoral, jornalista e membro da Academia Brasileira de Letras. Casou-se com Marieta Germano Pinto Penna, com quem teve sete filhos. A maior parte do corpus é de cartas escritas pela sua mãe Maria Guilhermina e destinadas a ele. Família Land Avellar28 Corpus formado por 43 cartas familiares ativas e passivas de Alarico Land Avellar, escritas entre 1907 e 1917. Nascido no ano de 1882, em Vassouras, no Rio de Janeiro e filho de Júlio César Ribeiro de Avellar e Helena Land Avellar, o remetente foi jornalista, Delegado Fiscal e Diretor Secretário da Rede Ferroviária Federal. Família Cruz29 Da família Cruz, temos 54 cartas pessoais, familiares e amorosas escritas entre 1889 e 1915. Estas foram trocadas por Oswaldo Cruz e Emília (carinhosamente chamada por ele de “Miloca”) durante o período de noivado e casamento dos mesmos. Há também algumas escritas por Elisa (“Lizeta”), uma das filhas do casal e algumas de Oswaldo a amigos. 27 As missivas da família Penna foram transcritas e editadas por Pereira (2012). As cartas da família Land Avellar foram transcritas por Paula Fernandes Silva. 29 As cartas foram coletadas e transcritas por Thiago Laurentino de Oliveira, Marcos Daud e por mim. 28 71 Figura 2: Oswaldo Cruz 30 O médico, cientista, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista Oswaldo Cruz nasceu em 1872, em São Luís de Paraitinga, São Paulo. Aos cinco anos foi morar com sua família no Rio de Janeiro, aos 15 ingressou na Faculdade de Medicina e aos 24 especializou-se em Bacteriologia no Instituto Pasteur de Paris, o que só demonstra seu brilhantismo. O médico, fundador do Instituto Soroterápico Nacional (em 1900), atual Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, foi o pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil e chegou a ser nomeado membro da Academia Brasileira de Letras. Da sua união com Emília, teve seis filhos: Elisa, Bento, Hercília, Oswaldo, Zahra e Walter. Família Pedreira Ferraz Magalhães31 A amostra é constituída por 161 cartas trocadas, entre os anos de 1884 e 1948, por membros da Família Pedreira Ferraz Magalhães: Zélia, alguns de seus trezes filhos, seus pais, João Pedreira do Couto Ferraz e Elisa Amália de Oliveira Bulhões, e por seu marido, Jerônimo de Castro de Abreu Magalhães. A família em questão era muito religiosa; os filhos de Zélia e Jerônimo foram educados sob rígidos parâmetros da fé católica, fazendo com que nove deles seguissem a vida religiosa, como padres e freiras. A respeito do corpus, diz Rumeu (2008): trata-se de um material riquíssimo para o reconhecimento da história da vida privada de uma família brasileira nascida no Rio de Janeiro 30 31 Fonte: http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/oswaldo-cruz Missivas transcritas e editadas por Rumeu (2008). 72 que circulou da capital carioca para o interior e por outros espaços socio-geográficos dentro e fora do Brasil. Uma família religiosa que, apesar dos deslocamentos advindos da pressão social da vida adulta, se manteve unida pelas cartas ativas e passivas trocadas entre seus membros ao longo das suas vidas. (p.64) Embora não fossem indivíduos “ilustres”, como Oswaldo Cruz, por exemplo, suas cartas “constituem, indubitavelmente, uma preciosa amostra da produção escrita de brasileiros cultos, em fins do século XIX e na primeira metade do século XX” (RUMEU, 2008, p. 249). Ilustres fluminenses Intitulamos “ilustres fluminenses” o grupo formado pelas cartas pessoais e familiares retiradas do livro Bem traçadas linhas: a história do Brasil em cartas pessoais, de Renato Lemos, pois, nele, o historiador apresenta várias missivas trocadas por pessoas importantes das mais diversas áreas e lugares do Brasil, a fim de estudar a história do nosso país; contudo, para nós, as mesmas missivas possuem fins linguísticos. Entre alguns remetentes ilustres estão Machado de Assis, Euclides da Cunha e Lima Barreto. Para este estudo, levantamos apenas 40 cartas escritas entre 1888 e 1977 por remetentes fluminenses, isto é, nascidos no estado do Rio de Janeiro. Jayme e Maria, “casal dos anos 30” Foram analisadas 46 cartas amorosas das 96 trocadas pelo casal de noivos Jayme e Maria nos anos de 1936 e 1937. O noivo morava no subúrbio carioca de Ramos e trabalhava no centro da antiga capital federal. A noiva residia em Petrópolis-RJ e era mãe solteira da menina Hilda. Este é um material ímpar, pois se trata de textos achados no lixo e escritos por pessoas não ilustres. Embora Silva (2012), que foi quem editou essas cartas, tenha percorrido vários lugares, como registros públicos e arquivos históricos, em busca de informações sobre o casal, não obteve sucesso. Dessa maneira, a descrição do perfil 73 sociolinguístico dos remetentes foi levantada através da leitura das missivas, conforme comentamos na seção 3.4. Segundo a pesquisadora: (...) percebe-se que há uma diferença quanto ao grau de instrução dos missivistas. Embora se possa dizer que Jayme não dominava plenamente a norma padrão em suas cartas pela presença de alguns desvios recorrentes, notou-se que, em termos comparativos, ele apresentava maior contato com os modelos de escrita. Maria, apesar de apresentar mais desvios grafemáticos e uma estruturação sintática das sentenças bem simples, pode ser considerada como alfabetizada (sabia ler e escrever) e possuidora de uma cultura mediana nos termos de Barbosa (2005). (SILVA, 2012, p. 49-50) Provavelmente, Jayme possuía um domínio maior dos modelos de escrita por trabalhar no comércio, enquanto Maria fazia apenas tarefas do lar, o que não geraria maior contato com a língua escrita. Família Brandão Amostra formada por 50 cartas pessoais e familiares escritas, entre os anos de 1941 e 1973, pelo ex-presidente Washington Luís e por seu primo Francisco Carvalho Brandão Neto, ambos nascidos no Rio de Janeiro. A maioria das cartas de Washington Luís é destinada ao primo Brandão Neto, e grande parte das missivas desse são direcionadas a Heitor Lyra, que foi embaixador do Brasil em Ottawa, em Lisboa e no Vaticano. A razão dessas missivas deve-se à ajuda de que Brandão Neto precisava para a elaboração de um livro relacionado a estudos genealógicos, já que Heitor Lyra era um grande especialista em História e Genealogia. Estudantes cariocas As 68 cartas pessoais e familiares (1979-1985) que compõem esta amostra foram retiradas do trabalho de Paredes Silva (1988). Os informantes são cariocas, possuem de 17 a 38 anos de idade e todos completaram pelo menos o Ensino Médio. Os remetentes mais jovens, entre 17 e 24 anos, são universitários de diferentes áreas, como Arquitetura, Letras, Psicologia, Engenharia etc. No grupo de mais idade, a maioria é graduada. 74 A autora traçou o fator “classe socioeconômica” dos missivistas, ainda que não tivesse qualquer informação a esse respeito. Vejamos, a seguir, seus critérios. Todos os dados do grupo jovem foram obtidos através de alunos da PUC/RJ, quer produzidos por eles mesmos, quer provenientes de seus parentes ou amigos. Como se trata de uma universidade particular, que sabidamente atende a uma clientela de classe média, supôs-se assim estar garantida certa homogeneidade em termos sociais. Além disso, os componentes do primeiro grupo [de 17 a 24 anos] são apenas estudantes, nenhum deles tem um trabalho regular. Na obtenção dos dados dos adultos, foi adotado critério idêntico: a maioria das cartas foi conseguida da mesma fonte – pessoas vinculadas a alunos/ex-alunos da PUC, ou amizades pessoais. (PAREDES SILVA, 1988, p. 29) Acrescentamos ainda o fato de muitos indivíduos terem estudado no exterior, o que fazia com que mantivessem a comunicação com amigos e parentes através das cartas. Isso só confirma que o padrão social em que eles se encontravam era alto, afinal, não é qualquer família que tem condições financeiras para custear o estudo de um filho no exterior. As cartas possuem um “caráter coloquial, em estilo e temática” (PAREDES SILVA, 1988, p. 31), em virtude do grau de relacionamento que os informantes mantêm com seus destinatários, pois os mesmos são parentes ou amigos íntimos. Família Lacerda As cartas da Família Lacerda pertencem ao Projeto Labor Histórico e ainda estão em fase de edição, já que foram cedidas, recentemente, por membros da família. Esta é originalmente mineira, mas, após certo tempo, mudou-se para o Rio de Janeiro. A maior parte das cartas foi escrita por uma das filhas do casal durante o período em que a mesma estudou no Rio e, posteriormente, nos Estados Unidos. Como grande parte da amostra foi produzida por remetentes oriundos de Minas Gerais, analisamos somente 12 cartas escritas por um rapaz carioca estudante de Medicina com quem a referida filha teve um envolvimento amoroso no período em que estudou no Rio de Janeiro. Essas missivas foram escritas entre os anos de 1977 e 1979, durante os estudos da moça nos Estados Unidos. 75 Tais missivas foram consideradas amorosas, pois, embora contenham um tom mais leve, descontraído, sem o tópico do “morrer de amor”, frequentemente observado em outros textos de cunho amoroso, como músicas e poemas, na maioria delas destacam-se os sentimentos dele por ela, as saudades e o interesse em saber se a moça se interessou por outro rapaz. Vejamos, a seguir, uma Tabela sintetizando as principais informações a respeito do nosso corpus. Família/Grupo Período de Quantidade de Subgênero das escritura das cartas cartas 30 pessoais e cartas Penna 1896-1926 familiares Land Avellar 1907-1917 43 familiares Cruz 1889-1915 54 pessoais, familiares e amorosas Pedreira Ferraz 1884-1948 161 familiares 1888-1977 40 pessoais e Magalhães Ilustres familiares fluminenses Jayme e Maria 1936 e 1937 46 amorosas Brandão 1941-1973 50 pessoais e familiares Estudantes 1979-1985 68 familiares cariocas Lacerda pessoais e 1977-1979 12 amorosas Tabela 4: Principais informações sobre o corpus adotado Como podemos perceber, trabalhamos com um corpus muito extenso nesta dissertação; isso foi preciso em função de não termos encontrado, em muitas cartas, dados de acusativo. 76 Por fim, apresentado o corpus com o qual trabalhamos nesta pesquisa, na seção seguinte, retomamos a Sociolinguística histórica, expondo os problemas que enfrentamos com a nossa amostra, assim como algumas “soluções” encontradas. 4.2. Retomando a Sociolinguística histórica: Problemas e “soluções” do corpus Na seção 3.1 do capítulo anterior, apontamos os problemas enfrentados pelo pesquisador em Sociolinguística histórica. Dentre eles, comentaremos quatro que se destacam em relação ao nosso corpus, a saber: representatividade, autenticidade, autoria e validade social e histórica. Dessa maneira, nesta seção, recuperamos esses problemas e apontamos como eles foram “solucionados”, de forma a viabilizar um estudo sociolinguístico histórico. Como a Sociolinguística histórica depende de dados que sobreviveram no tempo, muitas vezes, eles são escassos, fragmentários, desiguais e/ou insuficientes, fazendo com que o material sofra com a falta de representatividade. No presente trabalho, dividimos o século estudado em 4 períodos de 25 anos cada: 1º período – 1880-1905; 2º período – 1906-1930; 3º período – 1931-1955 e 4º período – 1956-1980. Sendo assim, fica evidente a dificuldade de se conseguir um número significativo de cartas pessoais cariocas para todos os períodos que pretendemos analisar. O 1º período e o 4º são os que contêm uma menor quantidade de cartas. No que diz respeito ao primeiro, quanto mais distante no tempo, mais difícil é para encontrar material. Em relação ao último período, a dificuldade de se achar cartas pessoais deve-se ao fato do mesmo ser mais recente, uma vez que o aprimoramento da tecnologia nos meios de comunicação acarretou o surgimento de outros gêneros textuais, desfavorecendo o gênero carta. Podemos citar como exemplo o telefone e, mais recentemente, o e-mail que, de certa forma, veio da carta, já que se trata de um correio eletrônico. De qualquer forma, para garantirmos a representatividade da amostra, tentamos levantar materiais de famílias e grupos diferentes em cada período de tempo. Assim, os resultados não seriam de uma família particular, mas de várias famílias-grupos que viveram em determinada época. Se compararmos os períodos com as datas das cartas de cada família, verificamos nossa preocupação em ampliar as redes sociais de cada período. Por exemplo, para o 1º período temos cartas das seguintes 77 famílias: Penna, Cruz, Pedreira e Ilustres fluminenses. Para o 2º período, temos as seguintes: Penna, Land Avellar, Cruz, Pedreira, Ilustres fluminenses e Jayme e Maria. Isso acontece em todos os períodos, inclusive do último do qual dispomos de poucos materiais: Brandão, Estudantes cariocas e Lacerda. Tal preocupação dá certa continuidade histórica ao material. Mesmo que a quantidade de cartas e/ou de palavras por período não seja exatamente a mesma, sabemos que a utilização de um Programa Estatístico de regras variáveis (GOLDVARB) para a quantificação dos dados dá confiabilidade por conta da relativização dos resultados. A organização do corpus levou em conta ainda outros critérios de controle. Nós procuramos uma amostra que fosse o mais próximo possível da realidade da época e da região que pretendemos investigar (por isso também selecionamos vários grupos diferentes, a fim de evitar que encontrássemos um resultado final que, na verdade, fosse uma especificidade de certo grupo), ainda que percebamos que uma família se aproxime mais do coloquialismo e a outra mais de certo purismo linguístico. No que tange ao problema da autenticidade, que se refere ao grau de pureza nos textos em relação aos usos linguísticos conscientes que eram realizados pelos informantes, retomamos uma pergunta feita na seção 3.1: “até que ponto o material histórico pode refletir a língua da época que se analisa?”. Devemos ter esse questionamento em mente, porque, muitas vezes, os indivíduos procuravam se adequar a uma norma padrão que não condizia com a sua língua nativa. A partir da leitura das cartas, fica evidente que, dentre todas as famílias investigadas, as que mais demonstraram se adequar a um padrão linguístico conservador, afastando-se da língua natural, próxima à fala, foram a Cruz e a Brandão. Olhando mais precisamente para as estratégias de 2ª pessoa do singular, notamos que quase não ocorre variação entre as formas dos paradigmas de tu e de você: a Família Cruz utilizou predominantemente o tu na posição de sujeito e o te como complemento acusativo; já a Família Brandão, teve uso categórico da forma tratamental você na posição de sujeito e empregou, na função acusativa, somente estratégias originárias da 3ª pessoa (você, lhe, o/a), com uma preferência pela variante o/a, a indicada pela GT como pronome acusativo de 2ª pessoa, quando se trata o sujeito por você. São duas famílias de pessoas ilustres que certamente tinham bastante acesso aos modelos de escrita em suas respectivas épocas. Em contrapartida, as cartas do grupo Jayme e Maria são as que se mostram mais favoráveis ao estudo da variação das estratégias pronominais de referência à 2ª pessoa, 78 uma vez que notamos, em muitos trechos, uma forte aproximação com a língua falada, que acreditamos que seja a da época. Os exemplos, a seguir, ilustram as informações comentadas. (18) “Perguntas-me, minha bôa Miloca, quando faço exames? infelizmente talvez não seja tão cêdo, e, por isto, meu anjo, mais o mais breve possivel; mesmo porque longe de ti acho-me sem coragem e desfalleço todas a vezes que penso em affrontar as vicissitudes das provas d’umm exame.” [OC-12-04- 1891] (19) “A genealogia é, sem dúvida alguma, grande auxiliar das biografias, as quais por sua vez muito auxiliam a encontrar a verdade na História. Mas a genealogia só é valiosa quando se apoia em documentos; as tradições só devem ser aceitas, quando limadas por justa crítica, principalmente quando antigas, de família, que pela antiguidade dos fatos, confundem e atrapalham as narrações, e, por natural sentimento de respeito, procuram elevar os seus parentes.” [BR-3-091952] (20) “[...] eu recebi a tua carta a do dia 21 no dia 23 atarde quando fui botar a minha no coreio eu esperava carta tua por que voce dice se tivese a portunidade que me escrevia de noite eu fiquei muito contente de a receber uma carta no dia 22 e no dia 23 mais com tudo isto não e como nois tarmo juntinho” [MJ-23-091936] Os exemplos 18 e 19 são de cartas de Oswaldo Cruz e Washington Luís (família Brandão), respectivamente. Neles notamos um grande domínio do registro escrito; ao passo que no exemplo 20, produzido pela Maria, observamos o contrário; embora a remetente fosse alfabetizada, o que já era um avanço, tendo em vista que estamos falando de uma mulher da década de 1930, não possuía domínio dos modelos de escrita. No trecho da carta de Oswaldo Cruz (18), notamos uma estrutura e vocabulário bastante elaborado de um remetente escolarizado, como se sabe (desfaleço, vicissitudes etc). No trecho extraído da família Brandão, observamos a discussão de temática erudita (genealogia). No último trecho, entretanto, percebemos diversos desvios grafemáticos (a portunidade por oportunidade, nois tarmos por nós estarmos), ausência de 79 pontuação, falta de organização textual e usos linguísticos e temáticos típicos da oralidade. O grupo da nossa amostra que talvez pudesse gerar mais entraves quanto à autoria seria o do casal de noivos Jayme e Maria, uma vez que, conforme já comentamos, suas cartas foram achadas no lixo, então sofremos com a falta de informações sobre eles, e dados biográficos escassos tornam seus autores praticamente anônimos (cf. CONDE SILVESTRE, 2007). Como vimos, tudo que sabemos a seu respeito foi conseguido através da leitura de suas cartas, por meio do trabalho de Silva (2012), que as editou. Contudo, nos parece que os remetentes Jayme e Maria escreveram mesmo as cartas, uma vez que há a presença de assinaturas, assim como desvios grafemáticos e gramaticais recorrentes. Praticamente todas as demais famílias já foram trabalhadas por outros estudiosos32, indicando-nos pesquisas biográficas das mesmas. Os materiais de algumas famílias, inclusive, estão presentes em arquivos públicos, como informamos no início deste capítulo. A única família que ainda não foi estudada foi a Lacerda, até porque seu acervo está em fase de edição; porém, conhecemos alguns integrantes seus, que nos forneceram algumas informações. Vale ressaltar que, mesmo com toda a pesquisa biográfica acerca dos informantes, podem ocorrer dúvidas com relação à escritura da carta. Todavia, mesmo que a missiva tenha sido escrita por um copista, tanto este quanto o remetente viviam na mesma sincronia. Logo, de uma forma ou de outra, podemos observar os fenômenos linguísticos da época em análise. Outro problema enfrentado pelo pesquisador em Sociolinguística histórica é a validade social e histórica. Segundo Hernàndez-Campoy & Schilling (2012), pouco se sabe acerca da posição social dos autores e menos ainda sobre a estrutura social da comunidade na qual estavam inseridos. A busca por essas informações exige um trabalho rigoroso por parte do pesquisador (que pode contar com a ajuda de áreas afins, como a história social), ajuda na interpretação dos padrões de variação dos documentos, além de ser fundamental na realização de uma análise sócio-histórica. A respeito das famílias que integram a amostra desta dissertação, conforme já mencionamos, já temos algumas informações biográficas, seja através de outros 32 Família Penna: Pereira (2012); Famílias Land Avellar, Cruz e Brandão: Souza (2012); Família Pedreira Ferraz Magalhães: Rumeu (2008); Ilustres fluminenses: Lemos (2004); Estudantes cariocas: Paredes Silva (1988). 80 estudiosos que já utilizaram o corpus seja através da leitura das missivas que nos mostram, de certo modo, se o indivíduo possuía um maior ou menor grau de domínio dos modelos de escrita. Isso também nos dá indícios sobre a categoria social à qual os remetentes pertenciam, ainda que não tenhamos feito um controle efetivo acerca dessa característica, por saber que isso demandaria um estudo bem mais aprofundado. O material da Família Cruz fornece, por exemplo, evidências de que seus informantes inseriam-se em uma categoria social elevada, já o acervo da Família Pedreira Ferraz, embora seja composto por indivíduos cultos, conforme destacou Rumeu (2008), reúne informantes de uma categoria social menos elevada, se comparados aos membros da Família Cruz. Por fim, o conjunto de cartas do casal Jayme e Maria oferece indícios de que os mesmos faziam parte de uma categoria social baixa, mais próxima às classes populares (SOUZA & OLIVEIRA, no prelo). Ter uma noção sobre a categoria social na qual os remetentes estavam inseridos já auxilia na compreensão de certos resultados, como o uso mais ou menos uniforme das formas de tratamento de 2ª pessoa do singular. Conforme comentamos anteriormente, as famílias que mais mantiveram a uniformidade de tratamento foram a Cruz e a Brandão, em função de estarem entre as que pertenceram a uma categoria social mais elevada. Por fim, acreditamos que os quatro problemas comentados nesta seção – representatividade, autenticidade, autoria e validade social e histórica foram resolvidos, ou ao menos, minimizados na investigação que aqui empreendemos. 4.3. Grupos de fatores Apresentamos agora os grupos de fatores controlados para a análise da variação entre os pronomes acusativos de 2ª pessoa do singular. Nossa escolha foi baseada em outros estudos sobre o mesmo tema (cf. ALMEIDA, 2009), em pesquisas afins (cf. SOUZA, 2012) e em hipóteses levantadas para o presente trabalho. 4.3.1. Variável dependente Para este trabalho, definimos como variável dependente as formas alternantes para representação da função acusativa (objeto direto) de 2ª pessoa do singular. Nosso 81 objetivo é registrar todas as formas pronominais de 2ª pessoa do singular realizadas na posição de complemento acusativo. Partimos da hipótese de que essa função apresentase majoritariamente sob a forma do clítico te e que fatores estruturais e sociais podem favorecer ou desfavorecer o emprego das formas variantes. Conforme já foi dito, no PB, cinco estratégias acusativas são mais comuns. A seguir, podemos visualizar os exemplos a partir de dados retirados do nosso corpus: Clítico te (21) “Como não posso te abraçar amanhã envio te com esta milhares de beijos abraços e votos pela tua felicidade e dos teus.” [Carta AP-24-12-1907] Clítico lhe (22) “Com affecto lhe abraço e sou sua irmã nos Santíssimos Corações de Jesus e Maria Sor Maria da Divina Pastora. Religiosa do Bom Pastor” [Carta PF-05-07-1922] Clíticos de 3ª pessoa (o, a, lo, la no, na) (23) “Termino querida Irmã abraçando-a ternamente e enviando muitos carinhos e sou nos Santíssimos Corações deJesus e Maria sua irmã affetuosa Sor Maria da Divina Pastora Religiosa do Bom Pastor. Deus seja bendito.” [Carta PF-16-021919] Pronome lexical você (24) “A humilhação é nossa vida estou convencida, e ainda que custa deseJô abraçar - Você meu irmão querido deve ter compreendido, que ainda com muitas faltas desejo trabalhar pela minha santificação.” [Carta PF-01-02-1948] Objeto nulo (25) “Oh que saudades tenho tuas, meu filho querido! ha 4 mezes que não tenho o consolo de te ver e Ø abraçar.” [Carta PF-27-11-1912] 82 4.3.2. Fatores linguísticos Apresentamos, a seguir, os fatores linguísticos controlados para a análise da variação dos pronomes acusativos de 2ª pessoa do singular. (1) Forma na posição de sujeito Com este grupo de fatores, objetivamos verificar se a forma utilizada em uma mesma carta pelo missivista na posição de sujeito influencia na escolha do complemento acusativo. Tal controle da forma empregada na posição de sujeito baseiase na proposta de Lopes e Cavalcante (2011) sobre os três subsistemas de tratamento empregados no PB: (i) tu; (ii) você; (iii) você~tu. Na quantificação dos dados, observamos se, em uma mesma carta, o remetente usa exclusivamente a forma tu na posição de sujeito (26), usa apenas a forma você (27), ou, ainda, se alterna as duas formas tu e você (28). As hipóteses para este grupo de fatores, já aludidas na introdução, serão aqui repetidas: (i) Quando o remetente usa exclusivamente o tu na posição de sujeito, usa preferencialmente o te como complemento acusativo, conservando a uniformidade do tratamento; (ii) Ao empregar somente o você na posição de sujeito, o missivista teria preferência por formas relacionadas à 3ª pessoa; (iii) Quando o remetente alterna tu e você na função de sujeito, a forma pronominal te é a mais utilizada na função acusativa para marcar a 2ª pessoa, seja em referência ao paradigma de tu seja para o paradigma de você. Sujeito tu exclusivo (26) “ Tu me mandaste, meu anjo tenho ido sempre buscar D. Isabellinha que, por signal está muito queixosa porque tu não tens escripto a ella.” [Carta OC13-04-1891] 83 Sujeito você exclusivo (27) “se voce podeçe vir no dia 4 eu acho que não ia por que a minha irman que que eu fique a té o dia 17 sevoce podece vir no dia 4 e no 17 era bom mais eu sei que voce não pode vir.” [Carta MJ-26-09-1936] Sujeito tu~você (28) “Quero que escrevas para mim dizendo como foi teu carnaval e dizendo o que voce realmente pensa de nós.” [Carta AC 24-2-1977] (2) Posição do item pronominal em relação ao verbo predicador Tencionamos verificar qual é a preferência dos missivistas para a posição do pronome – principalmente do clítico te – em relação ao verbo e se tal posição influencia o uso de alguma forma. Baseando-nos na hipótese de Cyrino (1992), de que a generalização da próclise no PB transformou o clítico te em afixo marcador de concordância33, pretendemos buscar indícios para confirmar essa hipótese, embora não tenhamos o objetivo principal de investigar se o clítico te está realmente se tornando um afixo no PB. Lopes, Souza e Oliveira (no prelo) abordaram essa questão pelo viés da gramaticalização. Os autores defendem que a automação da estrutura (te proclítico como marca de 2ª pessoa) estaria deslocando a forma te, em um continuum de gramaticalização, da categoria dos clíticos para a dos afixos, alegando que tal fato já ocorreu em outras línguas (LEHMANN, 1985). Além disso, tal automação poderia levar à opacidade semântica do referido clítico, o que geraria as construções com redobro. As evidências nas quais se baseiam são as seguintes: i) a fixação do te em posição proclítica no PB; ii) a ocorrência de estruturas de redobro na atualidade, como em “Eu 33 Isso significa que o clítico te estaria sendo reanalisado como flexão de concordância, o que propiciaria as construções com redobro. Logo, em uma construção como “te deixo você”, o te seria responsável por atribuir a marca de segunda pessoa do singular e o você por marcar o caso acusativo. 84 te falei pra você!”; iii) a alta produtividade da construção com o clítico em detrimento de outras formas variantes (você, lhe etc). Então, se comprovarmos que o clítico te tem, de fato, uma frequência superior às das demais estratégias de complemento acusativo e que tal pronome se apresenta predominantemente proclítico ao verbo, já teremos evidências para corroborar as hipóteses dos pesquisadores mencionados e para servir de base em trabalhos futuros. A seguir, exemplificamos o controle da posição dos pronomes em lexias simples e nos complexos verbais.34 a) Lexias simples35 Pré-verbal (29) “Queria muito te ver, falar contigo, olhar pra tua cara.” [Carta IF-14-051976] Pós-verbal (30) “Desde sexta-feira que não estou com teu Pai; sabbado elle me fallou pelo telephone e me disse que estavas com febre, oh! quasi que endoideci, esperei-te todo o domingo e já tinha resolvido, se não recebesse hoje noticias tuas, a abandonar tudo e partir amanhã para esta desgraçada cidade que se chama Caxambú.” [Carta OC-27-04-1891] b) Complexos verbais Próclise a V1 (P V1 V2) (31) “Almejo que esta te vá encontrar em franco estado de repouso e saude, assim como todos os teus. ” [JM-22-09-1936] 34 35 Adaptado de Vieira (2009, pg. 128-137) Não foram encontrados casos de mesóclises. 85 Próclise a V2 (V1 P V2) (32) “Sinto muito ter te perdido por um simples pensamento besta meu.” [AC19-09-1977] Ênclise a V1 (V1 P V2) (33) “Meu irmão precioso, minha joia, eu estava bem feliz... ao vê-lo compreender em mim essas graças especialissimas de força e de delicia mesmo espiritual com que Nosso Senhor me mimoseia.” [PF-20-02-1943] Ênclise a V2 (V1 V2 P) (34) “(...) o teu amor minha santa , é quem me da vida e forças para poder viver, e para poder amar-te cada vez mais.” [JM-01-10-1936] (3) Tempo e modo verbais Este grupo de fatores objetiva investigar se existem formas verbais específicas influenciando a variação em questão. Vale ressaltar que nos baseamos no trabalho de Almeida (2009), que analisou o mesmo fenômeno, porém utilizou como corpus a fala de cidadãos de Salvador. Embora não haja uma hipótese para tal grupo de fatores e este não tenha sido relevante nos dados da autora, optamos por testá-lo, haja vista a grande diferença entre o material com o qual trabalhamos. Assim como a pesquisadora, consideramos os tempos e modos verbais conforme descritos nas gramáticas tradicionais e, para o tratamento das formas com locuções verbais, levamos em conta o tempo do verbo auxiliar. Como nem todos os tempos e modos verbais descritos na gramática tradicional foram encontrados em nossa amostra, observemos os exemplos apenas com as formas verbais encontradas. a) Presente do indicativo 86 (35) “Adeus, filho querido do meu coração recebe mil carinhos, bençãos, orações e todo o extremo possivel de tua mãe que te ama com a maior ternura em Jesus,por Jesus e para Jesus. Zélia [A. M.]” [PF-27-11-1912] b) Pretérito perfeito do indicativo (36) “Achei voce muito fria, tanto que chamei voce para sair e voce veio com uma resposta pré-formada e negativa que me deixou chateado.” [AC-19-091977] c) Pretérito imperfeito do indicativo (37) “Compreendo, aliás, que tudo isso irrite profundamente você, mas não vejo por que não te irritava o sensualismo de Olavo Bilac e outras coisas mais do parnasianismo.” [IF-02-02-1923] d) Futuro do presente do indicativo (38) “Mais uma vez repito, nada te obrigará a ficar comigo quando chegar.” [AC-25-08-1978] e) Futuro perifrástico (39) “voce não dis nada aus meus irmãos que eu vou te espera no sabado por que eu não avizei a minha mãe.” [MJ-15-03-1937] f) Futuro do pretérito do indicativo (40) “Meu irmão querido Padre Jeronymo. Que te diria no dia 19o dia de teus anos? tantas cousas... e te abraçaria sem nunca acabar...” [PF-28-11-1933] g) Presente do subjuntivo 87 (41) “Boas Festas de Paschôa! Oh! que o nosso Divino Jesus a abraçe bem estreito, mesmo nas distracções do estudo e da educação!” [PF-02-04-1925] h) Infinito (42) “É pena que Bebé ou eu não esteja ahi para te ajudar!” [PF-13-11-1921] i) Gerúndio (43) “Não quero mais continuar lhe aborrecendo com tantas palavras, algumas até, aparentemente sem sentido, mas quero que saiba que cada uma delas saiu do ligar mais profundo de meus sentimentos.” [EC-27-04-1984] 4.3.3. Fatores extralinguísticos (4) Período Nossa pesquisa pretende investigar o complemento verbal acusativo ao longo de um século, de 1880 a 1980. Para tanto, dividimos esses cem anos em quatro períodos de 25 anos, a fim de observarmos a atuação do nosso fenômeno em cada um deles. Período 1: 1880 – 1905; Período 2: 1906 – 1930; Período 3: 1931 – 1955; Período 4: 1956 – 1980. (5) Família Optamos por analisar a diferença entre as famílias, a fim de observarmos se estas influenciam no uso do pronome acusativo, ou, ainda, se alguma família apresenta um comportamento muito distinto das outras, o que poderia indicar um fenômeno particular, interior a determinada família. 88 (6) Subgênero da carta Podemos dizer que as cartas que compõem o nosso corpus enquadram-se no gênero carta pessoal, pois apresentam uma comunicação, acima de tudo, pessoal, em que se efetiva um contato privado entre familiares e amigos íntimos (NOVAES, 2006). Ressaltamos, todavia, que “no âmbito das cartas pessoais, estariam reunidos diferentes tipos de cartas pessoais, à semelhança dos tipos de relações familiares” (SOUZA, 2012, p. 113, grifo da autora). Barbosa, (1979), por exemplo, inclui na categoria das cartas pessoais, correspondências familiares e de amor. A esse respeito, observamos na dissertação de Souza (2012) (que também analisou cartas pessoais) que a autora subdividiu a sua amostra em cartas pessoais, familiares e amorosas. Nas palavras da pesquisadora: No rol do gênero carta pessoal estariam envolvidos três tipos de cartas, que se correlacionariam com os tipos de relação interpessoal estabelecidos entre remetente e destinatário. As cartas pessoais (ou menos familiares) seriam as cartas de cunho pessoal, nas quais os missivistas apresentam menor grau de intimidade. As cartas familiares seriam consideradas medianas no grau de intimidade entre os indivíduos, diferentemente das cartas amorosas, nas quais os interlocutores apresentam alto grau de intimidade (SOUZA, 2012, p.114) Dado o conhecimento que temos acerca do nosso material, que reúne cartas escritas por amigos, familiares (pai, mãe, filho, esposa etc) e noivos, percebemos que a divisão em subgêneros realizada por Souza (2012) se adéqua ao nosso trabalho, sendo, portanto, conveniente fazê-la. Dessa forma, subdividimos nossas cartas nos seguintes subtipos: Carta pessoal (ou menos familiar) Carta familiar Carta de amor Baseando-nos no trecho destacado da pesquisa de Souza (2012), a nossa hipótese é de que as cartas de amor, por apresentarem um alto grau de intimidade, pressupondo, dessa maneira, [- formalidade], favoreceriam as formas do paradigma de 89 tu, pois este pronome possui um caráter mais íntimo e desfavoreceriam o clítico lhe, já que o mesmo é mais produtivo em contextos de [+ formalidade] (cf. GOMES, 2003; ALMEIDA, 2009). (7) Parte da carta No que se refere ao gênero epistolar, Lopes (2011) salienta: Apesar de apresentar algumas variações em sua estrutura composicional ao longo do tempo, as cartas se caracterizam por alguns traços prototípicos que podem interferir, sobremaneira, na análise de fenômenos linguísticos quando se parte desse gênero como fonte para o estudo da mudança linguística (LOPES, 2011, p.368) Em se tratando da estrutura textual, a autora ainda destaca que o gênero em questão apresenta-se constituído pelas seguintes partes: a seção de contato inicial, na qual costuma aparecer a saudação e a captação de benevolência; o núcleo da carta, que é o corpo do texto, nele encontramos o motivo que levou o remetente a escrever a carta, pedidos, desculpas, notícias etc e a seção de despedida. Da mesma forma, Marcuschi (2000) ressalta a existência de elementos básicos necessários na identificação do gênero carta: (i) o local e a data, (ii) a saudação, (iii) o texto e (iv) a assinatura. Reproduzimos, a seguir, uma carta de 1929 enviada por Fernando a seu irmão Jeronymo (Família Pedreira Ferraz Magalhães), identificando seus principais elementos constitutivos: Local e data Av. Carlos de b[un]jas, 19 - São Paulo. 3 de Janeiro de 1929 Saudação Meu saudoso Jeronymo, Contato inicial Mil obrigados pela tua querida carta e Festas. Do meu lado desejo-te o mais feliz anno, passado todo no serviço de Nosso Senhor. Vou rezar muito pelo fructo o teu Retiro ao Clero. Núcleo da Quanto a minha ida a São Sebastião, espero ainda resposta do 90 ReverendoPadre Provincial, mas se não fôr agora, creio que poderei carta ir outra vez. Agora porém te encontraria lá, não é ? Escrevi a Isa, explicando tudo. Passei bôas ferias, e depois de um Trido pregaste aqui perto vou a Santos por alguns dias. Recebi “Carta de Maria” de nosso Bebê, ainda não terminei a leitura, por isso em breve mandarte-hei a minha impressão com outras noticias sobre a biografia. Tenho estado estes dias preparando Retiro, porque durante o Anno não me foi possivel pensar senão nas aulas. Divina Pastora está bem e satisfeita. de Até breve por carta ou conversa... Seção despedida Um abraço affetuoso do irmão, Assinatura Fernando. P.S. P S Já mandei a procuração ao Senhor Dale Quadro 4: Os principais elementos que constituem uma carta Ressaltamos que podem ocorrer variações desses elementos e, inclusive, a inexistência de algumas partes, pois este modelo de carta que apresentamos configura somente o perfil geral que encontramos em nosso corpus. Pelo que foi exposto, nosso propósito, com este grupo de fatores, é verificar em que parte da carta o dado se encontra: na seção inicial, no núcleo, na seção de despedida ou no P.S. A esse respeito, orientamo-nos sob a hipótese de que no núcleo e no P.S o missivista escreveria seu texto de forma mais “livre”, propiciando possivelmente variação maior das formas acusativas, ao passo que nas seções inicial e final, o remetente poderia utilizar fórmulas fixas ou cristalizadas de cumprimentos e despedidas. Então, caso seja recorrente o uso de certa estrutura numa mesma seção da carta, poderíamos estar diante de uma Tradição Discursiva (doravante TD). Mas o que vem a ser uma TD? Dada a nomenclatura do termo, “tradição” nos remete à repetição de algo através do tempo e “discursiva” refere-se ao discurso. No entanto, nem toda repetição de um elemento linguístico forma um TD. Vejamos, então, a conceituação do termo fornecida por Kabatek (2006, p. 512): 91 Entendemos por Tradição Discursiva (TD) a repetição de um texto ou de uma forma textual ou de uma maneira particular de escrever ou falar que adquire valor de signo próprio (portanto é significável). Pode-se formar em relação a qualquer finalidade de expressão ou qualquer elemento de conteúdo, cuja repetição estabelece uma relação de união entre atualização e tradição; qualquer relação que se pode estabelecer semioticamente entre dois elementos de tradição (atos de enunciação ou elementos referenciais) que evocam uma determinada forma textual ou determinados elementos lingüísticos empregados. Dessa maneira, assim como Marcotulio (2008, p.76), compreendemos as TDs como “elementos que podem ser estruturas simples, estruturas complexas, fragmentos cristalizados e até textos inteiros que possuem uma organicidade e uma estrutura interna recorrente.” Salientamos, porém, que as TDs não são partes constitutivas do gênero carta – tais partes, inclusive, já foram comentadas aqui: seção inicial, núcleo da carta e seção de despedida –, mas sim se apresentam “como fórmulas fixas e cristalizadas em relação aos modelos de escritura da época” (MARCOTULIO, 2008, p. 77). Nesse sentido, Para identificar as variações de uso das estratégias de tratamento, ponto central para análise das mudanças no sistema pronominal, não basta realizar um levantamento quantitativo em termos de regras variáveis a fim de descrever que forma é frequente em que período numa amostra específica. Tal perspectiva metodológica, se não for associada a outros instrumentais de análise, indicaria um resultado não necessariamente válido, mas poderia evidenciar apenas que determinada estratégia é produtiva pelo fato de fazer parte de uma TD ou mais TDs predominante(s) em determinados textos e não porque seu emprego seja de fato o mais abrangente. (LOPES, 2011, p. 368) O comentário de Lopes (2011) legitima a nossa preocupação em desvendar possíveis TDs, afinal, até que ponto determinado resultado exibiria uma “realidade” linguística e até que ponto evidenciaria uma TD? Em se tratando de um estudo sociolinguístico histórico, é preciso haver certo controle em relação a isso. (8) Gênero do remetente Estudos diacrônicos realizados com base em cartas pessoais (cf. RUMEU, 2008; SOUZA, 2012; PEREIRA, 2012, entre outros) comprovaram que as mulheres utilizaram 92 mais o você do que os homens, sendo, portanto, mais inovadoras. Dessa maneira, objetivamos verificar se há um comportamento mais inovador das mulheres da nossa amostra; tal comportamento seria evidenciado a partir do emprego de um tratamento não simétrico entre as formas do paradigma de tu e de você na posição de sujeito e de complemento verbal acusativo. Por exemplo: uso de tu-sujeito com lhe-acusativo ou você-sujeito com te-acusativo. Após observarmos a fundamentação teórica e a metodologia na qual nos baseamos no presente trabalho, no próximo capítulo, apresentamos e analisamos os resultados obtidos. 5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 93 Realizadas as etapas de levantamento e codificação dos dados, apresentamos, neste capítulo, a análise dos resultados obtidos, a fim de darmos um panorama geral da variação entre as formas acusativas no decorrer de um século (1880-1980). Submetemos os dados codificados ao programa estatístico computacional GOLDVARB X, para o cálculo das frequências brutas e dos pesos relativos dos fatores em relação à variável dependente. Com base nesse programa estatístico, é possível identificar a força de cada restrição – linguística ou social – em relação ao fenômeno em análise e os ambientes mais favoráveis à aplicação da regra variável. Em uma primeira parte da análise, apresentamos os resultados relativos a todas as formas variantes de acusativo de 2ª pessoa ao longo do século, tendo em vista os grupos de fatores controlados. Em um segundo momento, realizamos rodadas binárias opondo a forma mais frequente no corpus (o clítico acusativo te) a outras estratégias menos recorrentes, como é o caso de você, do clítico o/a e do lhe. O intuito é observar os fatores considerados mais poderosos pelo GOLDVARB para análise do fenômeno. Ao todo, foram computados 436 dados de acusativo de 2ª pessoa do singular. As formas encontradas para a referida função foram: te, o/a, lhe, você, objeto nulo, senhor, a ti e a você. Cumpre ressaltar que as três últimas apresentaram somente uma ocorrência cada, o que nos fez desprezá-las nas rodadas subsequentes. Além disso, os pronomes a ti e a você não eram esperados, pois possuem preposição, tratando-se, então, de objetos diretos preposicionados. Vejamos os exemplos desses raros dados encontrados no corpus: (44) Senhor – “Espero pois o senhor e Adélia em princípios de julho” [IF-1406-1890] Nesta carta, o missivista Euclides da Cunha empregou um tratamento respeitoso – através da variante senhor – nas posições de sujeito e complemento direto em referência ao seu pai. (45) A ti – “Estimarei que esta encontre a ti e todos os nossos de perfeita saúde.” [AA-13-02-1911] Aqui, o remetente utilizou a alternância entre tu e você na posição de sujeito e a variante a ti como objeto direto, porque se trata de estruturas coordenadas. 94 (46) A você – “Fallei com Nossa Madre de ajudar a Você pagar a vida de Mamãe em Espanol, e ella deu licença até que termine de pagar, depois que acabe Você me avisa por favor” [PF-13-02-1933] Nesta carta, também se mesclaram as formas tu e você na posição de sujeito. Nesse caso, o uso do objeto direto preposicionado deve-se a preposição “a” que parece ter ficado “fora” de lugar. O mais comum seria: “ajudar você a pagar...” Desconsiderando as referidas formas devido a sua pouca produtividade em nosso corpus, observemos, no Gráfico 2, a distribuição das demais estratégias. 4 % 2,3 % 6,7 % 9,2 % TE O/A VOCÊ LHE ZERO 77,8 % Gráfico 2: Percentual de ocorrência das variantes acusativas no corpus Como podemos observar, o clítico te é predominante, figurando em 337 de um total de 433 dados (77,8%). O clítico de 3ª pessoa o/a foi a segunda estratégia mais utilizada, com 9,2% (40/433), seguido do pronome lexical você, com 6,7% (29/433) e do clítico lhe, com 4% (17/433). Os clíticos (te, o/a, lhe) somados alcançaram uma frequência de 91%, confirmando a nossa expectativa de que a função acusativa de 2ª pessoa do singular é realizada preferencialmente por clíticos, diferentemente da 3ª pessoa, que, segundo 95 estudos (cf. DUARTE, 1986; LOPES & CAVALCANTE, 2011), experimenta o seu apagamento. Um fato que chamou a atenção, já que não confirmou a nossa hipótese, foi a maior produtividade dos clíticos o/a frente ao clítico lhe, pois este, assim como a 2ª pessoa, possui necessariamente o traço [+animado], enquanto aqueles podem ou não apresentá-lo. Talvez o que pode ter pesado nessa escolha pelos clíticos o/a tenha sido o fato de os mesmos, prototipicamente, representarem a função acusativa. A variante menos produtiva foi o zero, isto é, o objeto nulo, com apenas 2,3% (10/433) das ocorrências totais. Tal resultado é interessante, pois corrobora a nossa hipótese. A esse respeito, nos baseamos em pesquisas acerca da 3ª pessoa (cf. DUARTE, 1986, 1989; CYRINO, 1994) que verificaram que o traço [-animado] do referente favorece o objeto nulo e a 2ª pessoa sempre carrega o traço [+animado]. Além disso, no caso da 2ª pessoa, a não realização do acusativo pode prejudicar o entendimento do enunciado, tornando-o ambíguo, uma vez que o objeto direto se refere à pessoa para quem se escreve; se o objeto for excluído, o destinatário pode não perceber que determinada ação se refere a ele. Soma-se a isso o fato de se tratar de um texto escrito, que não possui os mesmos artifícios da fala, como gestos e olhares, que auxiliam na compreensão. O complemento verbal dativo, por sua vez, costuma apresentar uma maior porcentagem de objeto nulo. No estudo de Gomes (2003), a autora observou que o objeto nulo foi a segunda estratégia mais utilizada na referência à 2ª pessoa, perdendo apenas para o clítico. Em alguns contextos, ainda que o remetente omita o complemento dativo, não haveria dúvidas quanto à referência ao leitor, e não a uma terceira pessoa, como no exemplo: “Escrevo esta carta Ø porque estou me sentindo triste.” Aqui, a expressão do objeto direto “carta” deixa claro que o objeto indireto omitido faz referência à 2ª pessoa. Como vimos, destacou-se, em nossa amostra, a alta produtividade do clítico acusativo te, cuja frequência ultrapassou os 70%. Mas, afinal, o que determinaria a predominância dessa forma em nosso corpus de cartas? Tal uso foi sempre o mais geral ao longo do século ou ocorria em algumas épocas ou em algum tipo de carta mais do que em outras? Existe algum contexto linguístico ou extralinguístico que favoreça tal emprego? Na próxima seção, analisaremos os resultados dos grupos de fatores testados com o intuito de responder a essas e outras questões. Comecemos, pois, pela observância da forma tratamental empregada na posição de sujeito na tentativa de 96 verificar se existe, como ainda defendem alguns compêndios gramaticais, uma correlação simétrica entre o tratamento utilizado na posição de sujeito e as formas de complemento verbal. 5.1. Analisando os fatores linguísticos Apresentamos, nesta seção e na seguinte, a rodada geral dos dados, com todas as estratégias correlacionadas aos diferentes fatores linguísticos e extralinguísticos. Forma na posição de sujeito Começamos a análise dos grupos de fatores pela variável forma na posição de sujeito. Como discutido anteriormente, Lopes e Cavalcante (2011) propõem a existência de três diferentes subsistemas de tratamento pronominal em tal função no PB, a depender da localidade: i) uso exclusivo de tu; ii) uso exclusivo de você e iii) alternância entre tu e você. Além dessa tripartição, é preciso considerar outras estratégias que também podem ocorrer, mas que não são pertinentes para os limites desse estudo. Está nesse caso o uso do tratamento o/a senhor(a). Em nossa amostra, encontramos também cartas nas quais não havia nenhuma forma de tratamento (nem tu, nem você). A Tabela 5, a seguir, apresenta as variantes acusativas correlacionadas ao tratamento empregado na posição de sujeito: Te Você o/a Lhe Zero TOTAL O Senhor 168 94,4% 60 50,8% 103 81,7% - 4 2,2% 19 16,1% 6 4,8% - 1 0,6% 10 8,5% 6 4,8% - 3 1,7% 3 2,5% 4 3,2% - Sem referência TOTAL 6 85,7% 337 - 2 1,1% 26 22% 7 5,6% 4 100% 1 14,3% 40 - - 17 10 178 41,1% 118 27,3% 126 29,1% 4 0,9% 7 1,6% 433 Tu exclusivo Você exclusivo Tu~Você 29 97 77,8% 6,7% 9,2% 3,9% 2,3% 100% Tabela 5: Correlação entre o tratamento na posição de sujeito e as estratégias utilizadas como complemento acusativo. Primeiramente, verificamos que predominaram no corpus as cartas em que havia o tu exclusivo na posição de sujeito, com 41,1% (178/433), seguido de cartas com alternância tu~você (quase 30%) e, por último, cartas com você exclusivo (27,3%). No que tange às estratégias acusativas, notamos que o clítico te foi o mais empregado com todos os tratamentos utilizados na posição de sujeito – com exceção da forma o senhor, com a qual não houve dados de te. Apesar dessa predominância generalizada, notamos que os índices foram um tanto diferentes. As porcentagens foram maiores nas missivas em que o tu estava presente, seja em uso exclusivo (94,4%) seja variando com o você (81,7%), além de ter sido também muito frequente nas cartas em que o tratamento na função de sujeito não foi expresso (85,7%). Esse uso majoritário da variante te frente às outras estratégias (77,8%) e a sua predominância nos três subsistemas tratamentais na posição de sujeito (tu exclusivo, você exclusivo e tu~você) seria um indício de que, na função acusativa, a forma te teria se generalizado na referência à 2ª pessoa. Tal indício fica ainda mais forte quando pensamos que até quando não se expressa o tratamento na posição de sujeito (as aqui chamadas cartas “sem referência”), o te é mais produtivo. Observemos os resultados da correlação sujeito-acusativo: Tu exclusivo A Tabela 5 evidencia que quando o remetente faz uso exclusivo de tu na posição de sujeito, a frequência do clítico te atingiu seus maiores valores com quase 95% de frequência, ao passo que as outras estratégias foram bastante esporádicas. Interessante observar que os raros dados de formas de 3ª pessoa com o tu-sujeito foram localizados em cartas das décadas de 1920 e 1930, como veremos de (47) a (48). Tal fase coincide justamente com a entrada de você na posição de sujeito, como mostram alguns autores (cf. DUARTE, 1995; MACHADO, 2006, 2011; RUMEU, 2004, 2008; SOUZA, 2012). Das quatro ocorrências do você-acusativo correlacionadas com o tu-sujeito, três são em cartas do casal de noivos Jayme e Maria, em que a variação entre tu e você era bastante produtiva. 98 (47) “Eu hoje chegei bem em casa e não sai mais estive esperado voçe ate as 7 hora inint. depois eu fui medeitar mais não dormi estava pensando muito em você [...] manda-me dizer se brincaste muito na praia e se foiste au cinema , eu acho que passaste uma tarde melhor do que eu . Eu no sabado espero voce . não se esqueça desta tua noivinha que tamto te ama.” [MJ-07-03-1937] Maria empregava mais o você do que o tu na posição de sujeito em suas cartas; isso também pode ter desencadeado esse uso do pronome acusativo você numa carta com uso exclusivo de tu-sujeito. (48) “Minha querida só a ti é que pertence todo o meu amor, só de ti minha flor que eu espero todo o meu ideal a esperança que brota de meu peito cresce de uma forma espantosa, envolvendo-nos e unindo-nos cada vez mais, a luz de teu olhar e que ilumina a estrada por aonde sigo para encontrar voce que é a minha felicidade, se esta luz se apagar apagará tambem o meu nome da lista dos viventes sobre o mundo terrestre.” [JM-22-09-1936] Em (48), a motivação para o uso de você pode ter sido o fato de a forma você estar seguida por uma oração adjetiva, cujo pronome relativo retoma o termo anterior (no caso o pronome acusativo você). O outro exemplo de você-acusativo com o uso exclusivo de tu na posição de sujeito foi em uma carta familiar da família Pedreira Ferraz Magalhães, de Maria Joana para seu irmão Jerônimo: (49) “Por certo já saberás da noticia que teve aqui o Reverendo Padre Gomes sobre a morte de seu extremoso Pae. Oh! como elle soffre amargamente. Hoje fui com a minha boa Madre Superiora dar a elle os pezames, e pude mesmo provar quanto está triste. Pareceu-me ver Você naquella noite terrivel após o recebimento do factal telegramma do dia 8 de Setembro.” [PF-22-06-1923] Neste caso, o você utilizado com letra maiúscula demonstra que Maria Joana dedica muito respeito ao seu irmão, até porque o mesmo era padre. Provavelmente, o você-acusativo tenha sido utilizado ainda como um “pronome de tratamento”, em 99 situação menos íntima – demonstrando resquícios de seu emprego original –, e não como “pronome pessoal” (MENON, 1995). Nessa carta, das duas ocorrências de complemento verbal acusativo em referência à 2ª pessoa, uma foi com o pronome você, no núcleo da carta, conforme mostramos, e a outra se realizou com o clítico te, na despedida. Nesta parte da carta, percebemos um contexto de maior envolvimento, intimidade, afeto; talvez, por isso, a remetente tenha lançado mão do clítico te. (50) “Adeus. Já mandei pedir o livro a Tia Mimi. Abraça-te com terno affecto tua Jane Religiosa de Santa Doroteia.” [PF-22-06-1923] Vejamos, a seguir, exemplos com os raros dados (2 casos) do clítico o/a em cartas com uso exclusivo de tu na função de sujeito. (51) “longe de ti minha bela, tudo e diferente para mim mundo parece-me que vae acabar a saudade atormenta-me a todo momento pareço ouvir-te falar, ou então ouvir-te jamar pelo meu nome, pareço vel-a, mas tudo isso não passa de uma ilusão, porque estas tão longe, e só tenho comigo dentro do peito o teu pobre coração.” (JM-24-09-1936) O exemplo 51 foi retirado de uma carta do missivista Jayme, que ora empregava em suas cartas apenas tu ora apresentava a variação entre tu e você na posição de sujeito. Cumpre ressaltar que as cartas trocadas pelos noivos Jayme e Maria eram cartas de amor; isso quer dizer que nelas havia um forte grau de intimidade. O discurso amoroso evoca a utilização de um tratamento mais íntimo, realizado através do pronome tu. Isso explica o porquê do casal usar as formas do paradigma de tu. O Jayme, inclusive, era tão romântico, que, muitas vezes, nos deparamos com trechos excessivamente poéticos e até piegas. Acreditamos, portanto, que o missivista pode ter transcrito, em suas cartas, fragmentos de outros textos amorosos. O uso de a-acusativo correlacionado ao tu-sujeito ocorreu uma única vez nas 96 cartas do casal. O exemplo, a seguir, foi retirado da amostra da família Pedreira Ferraz Magalhães. O missivista Fernando escreve ao seu irmão Jerônimo comentando a respeito da biografia de sua mãe e sobre seus estudos. Primeiramente, pensamos que o uso do o-acusativo com o tu-sujeito tivesse ocorrido em função do pronome estar na 100 seção de despedida, além do fato de ter sido empregado na década de 1920; se tal uso fosse recorrente nas cartas desse remetente, se trataria de uma fórmula cristalizada própria de seções fixas e recorrentes em cartas. No entanto, isso não se confirmou. (52) “Creio entretanto que pódes contar com esse dinheiro. No que diz respeito à sepultura da mamãe, falaremos depois... não se poderia transportar os ossos para um carneiro da familia? [...] Lembranças a todos, por carta ou de viva voz. Do irmão muito e muito amigo que ternamente o abraço. Fernando – S.S.J.” [PF24-03-1922] O único dado de lhe na função acusativa numa carta em que, na posição de sujeito, havia uso exclusivo de tu foi encontrado na missiva de Maria Bárbara, da família Pedreira Ferraz Magalhães e destinada a uma de suas irmãs, Maria Elisa. (53) “Gostei muitissimo de sua carta, gosto muito que sejas franca commigo, mas a imprudencia foi mesmo de Fernando [...] Com affecto lhe abraço e sou sua irmã nos Santíssimos Corações de Jesus e Maria Sor Maria da Divina Pastora. Religiosa do Bom Pastor” [PF-05-07-1922] É importante ressaltar que essa “mistura de tratamento” de tu-sujeito com formas acusativas de 3ª pessoa (o/a, lhe), além de ter ocorrido somente nas décadas de 1920 e 1930, como já frisamos, se deu apenas em dois conjuntos de famílias/grupos: cartas do casal de noivos Jayme e Maria e da família Pedreira Ferraz Magalhães. Os dois grupos apresentam perfis sociais, por assim dizer, medianos e representativos de um português brasileiro comum. Jayme e Maria eram moradores do subúrbio carioca, pouco letrados e os membros da família Pedreira Ferraz Magalhães, embora tenham tido acesso à educação, não eram extremamente “ilustres”, como demonstrou Rumeu (2008). O fato de termos encontrado dados da correlação tu(Suj)-o/a/lhe(Acus) nessas amostras, ainda que bastante esporádicos, pode evidenciar i) a emergência do paradigma de você a partir de 1930 e ii) a artificialidade da uniformidade de tratamento no PB desde a primeira metade do século XX. Você exclusivo 101 Nas cartas com uso exclusivo de você na posição de sujeito, notamos que, embora o clítico te se mantenha como a estratégia mais frequente, com quase 51%, esse índice é mais baixo do que nos outros dois tipos (tu-exclusivo – 95% e você~tu – 81%). Outro aspecto relevante é o emprego mais diversificado das formas do paradigma de você que juntas atingiram 46,7% dos dados (você – 16%; o/a – 22,2% e lhe – 8,5%). Esse resultado ratifica, em parte, a nossa hipótese que supunha que, ao empregar somente o você na posição de sujeito, o missivista teria preferência por formas relacionadas ao antigo paradigma de 3ª pessoa. Aparentemente é nas cartas de vocêsujeito que a variação das estratégias acusativas se mostra mais presente por conta de um sistema pronominal novo ainda em configuração. Tu~Você Nas cartas com alternância entre tu e você na posição de sujeito, o clítico te foi novamente a estratégia majoritária (81,7%), demonstrando que tal pronome pode associar-se tanto ao paradigma de tu quanto ao de você, conforme a hipótese aqui levantada. A segunda forma mais empregada com esse tratamento foi o o/a, porém, com apenas, 5,6%. O você e o lhe obtiveram 4,8% e o objeto nulo, 3,2%. Embora a porcentagem deste último tenha sido muito baixa, vale ressaltar que, das 10 ocorrências de tal variante encontradas em todo o corpus, 4 foram em cartas com a mescla de tratamento; das outras 6 ocorrências, 3 foram localizadas em cartas com tu-sujeito e 3 com você-sujeito. Desse modo, a maioria dos dados de objeto nulo foi com a mistura de tratamento, corroborando a nossa hipótese de que o objeto nulo figuraria preferencialmente em cartas nas quais o missivista alterna entre os pronomes tu e você na posição de sujeito (cf. LOPES & CAVALCANTE, 2011). Analisando todos os dados de zero em nosso corpus, percebemos que a maioria ocorreu em contextos de coordenação, isto é, em estruturas coordenadas, de modo que só o complemento acusativo do primeiro verbo foi produzido, o segundo foi omitido. Ilustramos esse fato com exemplos, a seguir. (54) “Já fallaste com o dentista? Vê se me escreves hoje Hercilia esta uma teteiasinha, mui falladeira mas muito impertinente creio que é por causa dos 102 dentes. Adeus, Oswaldo recebe mil beijos e abraços d’esta que mais que nunca te estima e Ø adora Miloca (...)” [OC-17-10-1899] Neste exemplo, notamos que Emilia, ao escrever esta carta para o já marido Oswaldo Cruz, emprega somente o tu na posição de sujeito. (55) “Oh!que o angelico Noviço te alcance todas as graças para imitares suas virtudes e seres um santo Jesuita. [...] Hoje, anniversario da apparição da Medalha milagrosa, agradeço de um modo especial a graça que quando pequenino de 2 mezes você alcançou n’este dia. [...] Oh que saudades tenho tuas, meu filho querido! ha 4 mezes que não tenho o consolo de te ver e Ø abraçar (...)” [PF-2711-1912] Nessa carta de Zélia para um dos filhos, a remetente alterna o tu e o você na função de sujeito. Cumpre destacar que o objeto nulo em estruturas coordenadas apareceu somente em cartas com o tratamento em questão ou em missivas com uso exclusivo de tu. Isso é interessante porque, em todos os casos, a forma utilizada com o primeiro verbo foi o clítico te. Uma vez que a utilização da estratégia zero ocorreu, sobretudo, em contexto de coordenação, não parece haver outra explicação para o aparecimento de zero em nosso corpus que não seja o fato do acusativo do primeiro verbo já haver sido produzido. Em síntese, verificamos que o clítico te foi a estratégia acusativa mais utilizada na função acusativa de 2ª pessoa do singular, independentemente do subsistema de tratamento empregado na posição de sujeito. Isso nos leva a dizer que houve simetria e quebra na uniformidade de tratamento em nosso corpus: simetria quando o te foi utilizado com o tu-sujeito e quebra da uniformidade quando esse clítico foi empregado em cartas com uso exclusivo de você. Dessa maneira, o que influenciou a simetria e a assimetria tratamental? Que famílias mantiveram a simetria? Em quais períodos? Qual o gênero a propiciou? Mais a frente, na seção 5.2, investigamos essas questões. Por ora, tal resultado nos leva a concluir que (i) o grupo de fatores forma na posição de sujeito condicionou, em parte, o uso da estratégia acusativa, (ii) o pronome original te foi a estratégia mais produtiva como pronome acusativo de 2ª pessoa, e, em função disso, (iii) a posição acusativa é mais resistente à entrada do você (cf. LOPES & 103 CAVALCANTE, 2011; LOPES, 2008), conforme a nossa hipótese; o que evidenciaria uma generalização da forma te em função acusativa de 2ª pessoa do singular. Posição do item pronominal em relação ao verbo predicador Vejamos, agora, a posição dos clíticos em relação ao verbo predicador, tanto nas lexias verbais simples quanto nos complexos verbais. Cumpre mencionar que não foram computados os dados de objeto nulo, você e senhor, por motivos simples: o objeto nulo é a não realização do pronome, logo, não se pode definir a posição de uma forma que não existe; e o você e o senhor sempre estarão em posição pós-verbal, até porque, se forem para a posição proclítica, deixam de ser complementos e passam a ser sujeitos. A Tabela, a seguir, apresenta a correlação entre os clíticos te, o/a e lhe e sua posição em relação ao verbo predicador. Pré-verbal Lexias simples Complexos verbais Pós-verbal Próclise a V1 (P V1 V2) Próclise a V2 (V1 P V2) Ênclise a V2 (V1 V2 P) Ênclise a V1 (V1 P V2) TOTAL Te 186 55,1% 72 21,3% 41 12,1% 17 5% 18 5,3% 3 0,9% 337 85,5% o/a 21 52,5% 13 32,5% 3 7,5% 2 5% 1 2,5% 40 10,2% Lhe 13 76,4% 1 5,8% 3 17,6% 17 4,3% TOTAL 220 55,8% 86 21,8% 44 11,2% 20 5,1% 20 5,1% 4 1% 394 100% Tabela 6: Correlação entre as estratégias acusativas e sua posição em relação ao verbo predicador Primeiramente, observamos que a posição proclítica predominou no corpus, tanto em lexias simples (55,8%) quanto nos complexos verbais: somando a próclise a V1 com a próclise a V2, temos 16,3%. Inclusive, todos os clíticos foram mais produtivos nessa posição. Conforme exposto na seção 4.3.2, pretendemos, com esse fator, buscar indícios que confirmem a hipótese de alguns autores (CYRINO, 1992; LOPES, SOUZA & 104 OLIVEIRA, no prelo) de que o clítico te está se tornando um afixo no PB. A fim de facilitarmos a visualização, expomos, no Gráfico 3, a posição do clítico te nas lexias verbais simples e nos complexos verbais. 28% Pré-verbal Pós-verbal 72% Gráfico 3: Posição do clítico te em lexias simples e nos complexos verbais O Gráfico 3 nos ajuda a observar que a preferência dos missivistas é pela colocação do clítico te em posição pré-verbal, com 72% de ocorrências. A predominância do referido pronome nessa posição aliada a sua alta produtividade aqui observada são grandes evidências de que o clítico te está se convertendo em afixo no PB, embora não tenhamos encontrado dados de redobro em nossa amostra, o que seria um indício ainda mais forte na comprovação da hipótese em questão. Mas, se a preferência é pela posição proclítica do te, em quais contextos ele aparece enclítico? Uma boa parte dos dados de ênclise em lexias verbais simples ocorreu em início de sentença, assim como prevê a GT. Vejamos alguns exemplos, a seguir. (56) “Encarrego-te da missão de abraçar a todos os bons companheiros daí.” [IF15-12-1893] (57) “Abraça-te mto saudoso o teu Oswaldo.” [OC-1899] 105 (58) “Amo-te minha santa. Serei sempre teu. Jayme O . Saraiva.” [JM-08-031937] Já em todos os casos de ênclise a V2 com o clítico te (assim como com o/a), os verbos principais estavam no infinitivo, conforme os exemplos, a seguir. (59) “Tenho tido grandes desejos de ir ver-te e correra fazenda da Gameleira para ajuizar dos meninos porem doenças e affazeres ainda não me permitirao.” [AP-11-10-1907] (60) “[...] nas minhas horas de insônia fico meditando o infinito que tantas ilusões guardo pareço ver-te numa imagem a chamar-me e eu na minha triste ilusão quero alcançar-te mas tu desapareces, e deixa-me os olhos arrasados d’água [...]” [JM-24-01-1937] A ênclise a V1 ocorreu apenas nas cartas do casal Jayme e Maria, como no exemplo 61. (61) “[...] longe de ti minha bela, tudo e diferente para mim mundo parece-me que vai acabar a saudade atormenta-me a todo momento pareço ouvir-te falar , ou então ouvir-te chamar pelo meu nome.” [JM-24-09-1936] Inicialmente, pensávamos que todos os tipos de ênclise com clítico te tivessem ocorrido apenas nas missivas de remetentes ilustres, haja vista o maior domínio de escrita que neles se pressupõe; mas isso não se confirmou, já que encontramos ênclises nas cartas do casal Jayme e Maria, indivíduos com pouco domínio dos modelos de escrita (cf. SILVA, 2012). Observando atentamente os dados, percebemos que as cartas nas quais ocorreu a posição pós-verbal nas lexias verbais simples e nos complexos verbais foram escritas entre os anos de 1891 e 1937; ou seja, se tratam de missivas trocadas nos períodos mais antigos. A partir da década de 1940, isto é, nas cartas mais recentes, em nossa amostra, não houve mais casos de ênclise com clítico te. Em se tratando dos demais clíticos, dos 17 dados de lhe, apenas 1 apareceu em posição pós-verbal e este ocorreu com verbo no início da sentença, numa carta da 106 década de 1920. A utilização de próclise com o clítico lhe foi quase categórica: 94%, somando as lexias verbais simples e as locuções verbais. (62) “Espero lhe breve, acceite um abraço de sua Irmã affetuosaSor Maria da Divina Pastora Religiosa do Bom Pastor Deus seje bendito.” [PF-30-03-1921] No que tange aos clíticos o/a, 24 ocorrências foram pré-verbais (60%) e 16 pósverbais (40%) de um total de 40 dados.36 Dessas 16 ocorrências pós-verbais, metade foram com as modalidades lo,la, assim como nos exemplos 63 e 64. (63) “Espero pois o senhor e Adélia em princípios de julho e não posso dizer com que alegria espero o momento de vê-lo abraçar aquela a quem já chamou de nova filha e que verdadeiramente é em tudo digna disto.” [IF-14-06-1890] (64) “Estou louco para ouvi-la. Beeeijos Hélio” [IF-15-10-1968] Observarmos que os clíticos te e lhe enclíticos ocorreram somente em cartas mais antigas, anteriores à década de 1940, ao passo que os clíticos o/a em posição pósverbal ocorreram praticamente durante todo o século, figurando tanto em missivas antigas quanto nas mais recentes, como nos exemplos 63 e 64, produzidos na década de 1890 e no final da década de 1960, respectivamente. Dessa forma, constatamos com o grupo de fatores posição do item pronominal em relação ao verbo predicador que os remetentes do corpus proposto já apresentavam um emprego majoritário da próclise, posição que é peculiar ao PB atualmente e que a utilização dos três clíticos acusativos de 2ª pessoa (te, o/a e lhe) foi majoritária em posição pré-verbal. Ainda encontramos fortes evidências para acreditar que o clítico te está realmente se convertendo em afixo no PB (cf. CYRINO, 1992; LOPES, SOUZA & OLIVEIRA, no prelo), dada a sua larga utilização em posição proclítica (72,2%), conforme o Gráfico 3. 36 Vale ressaltar que foram consideradas tanto as lexias verbais simples quanto os complexos verbais na contabilização das ocorrências dos clíticos lhe e o/a. 107 Tempo e modo verbais O próximo grupo de fatores em análise é tempo e modo verbais. Conforme já foi dito, essa variável foi levantada a partir da observação do trabalho de Almeida (2009). Assim como a autora, não tecemos hipóteses para esse grupo de fatores; o intuito mesmo foi o de verificar se há alguma influência do verbo, já que nosso fenômeno está totalmente ligado a ele, por se tratar de um complemento verbal. Presente do indicativo Pretérito perfeito do indicativo Pretérito imperfeito do indicativo Futuro do presente do indicativo Futuro do pretérito do indicativo Futuro perifrástico Presente do subjuntivo Infinitivo Gerúndio TOTAL Te 154 79,8% 7 63,6% Você 9 4,6% 3 27,3% Lhe 3 1,6% 1 9,1% o/a 22 11,4% - Zero 5 2,6% - TOTAL 193 44,6% 11 2,5% 5 71,4% 2 28,6% - - - 7 1,6% 9 68,2% 4 30,8% - - - 13 3% 1 100% - - - - 1 0,2% 3 75% 62 84,9% 79 75,2% 17 65,4% 337 77,8% 1 25% 1 1,4% 7 6,7% 2 7,7% 29 6,7% - - - 1 1,4% 10 9,5% 2 7,7% 17 3,9% 3 11% 6 5,7% 4 15,4% 40 9,2% 1 1,4% 3 2,9% 1 3,8% 10 2,3% 4 0,9% 73 16,9% 105 24,2% 26 6% 433 100% Tabela 7: Correlação entre os tempos e modos verbais e as estratégias acusativas Inicialmente, percebemos que os tempos verbais mais frequentes no corpus foram o presente, tanto do modo indicativo quanto do subjuntivo, com 44,6% e 16,9%, respectivamente, e o infinitivo com 24,2%. O futuro do pretérito do indicativo obteve somente uma ocorrência, já ilustrada na subseção 4.3.2 e aqui repetida: 108 (65) “Meu irmão querido Padre Jeronymo. Que te diria no dia 19o dia de teus anos? tantas cousas... e te abraçaria sem nunca acabar...” [PF-28-11-1933] Vale salientar que os nossos remetentes não fizeram mesóclise com o futuro do pretérito e com o futuro do presente. No caso do primeiro, seu único dado foi com o clítico te proclítico, como vimos no exemplo 65. No segundo, houve apenas ocorrências de te e de você, como exibe a Tabela 7; entretanto, de todos os dados de te, apenas um foi enclítico, apesar de a GT não prever o uso de ênclise com verbo no futuro. Na verdade, isso ocorreu porque esse clítico estava numa locução verbal, cujo verbo auxiliar estava conjugado no futuro do presente, mas o verbo principal estava no infinitivo. Soma-se a isso o fato de, anteriormente, o redator ter lançado mão de uma ênclise, também com verbo no infinitivo. Vejamos o exemplo, a seguir. (66) “Não vou logo procurar-te na residencia dos Lazaristas porque não sei quando poderei encontrar-te”. [PF-14-12-1919] Observamos que ocorreu próclise com verbo conjugado no futuro do presente até mesmo em início de sentença, como no exemplo 67: (67) “Te acompanharei com muitas orações, meu bom Padre Deos recompensará bem teus trabalhos!! Quantas conversões alcançarás!!” [PF-29-03-1920] Podemos dizer que a não utilização de mesóclise com verbos nos futuros do presente e do pretérito também comprova a hipótese da fixação do te como prefixo. Voltando à Tabela 7, os únicos tempos e modos verbais que apresentaram todas as estratégias foram os presentes (do indicativo e do subjuntivo) e as formas nominais – o infinitivo e o gerúndio. Neste, inclusive, podemos dizer que houve um pouco mais de equilíbrio entre as formas, embora o clítico te tenha predominado, figurando em 17 de um total de 26 dados (65,4%). As demais formas apresentaram os seguintes índices: você – 7,7% (2/26); lhe – 7,7% (2/26); o/a – 15,4% (4/26) e zero – 3,8% (1/26). Talvez a “preferência” por esses tempos tenha ocorrido porque geralmente, nas cartas, o redator, quando se refere ao destinatário, está revelando o que sente naquele momento, já que ambos ficavam, muitas vezes, sem se ver por um longo período. Esses 109 são sentimentos de amor, de saudade, por exemplo. Então, é mais provável que se use o presente e as formas nominais do que o pretérito ou o futuro. A seguir, vejamos exemplos de gerúndio, infinitivo e presente do indicativo, respectivamente; todos retirados de um mesmo fragmento de uma carta do missivista Jayme para sua noiva Maria. (68) “Amando-te para mim é a minha maior alegria neste mundo, possuir-te é minha maior ambição nesta vida, entretanto quero-te somente para o meu amor.Lembranças a D. Marieta Recebe deste teu querido noivinho apaixonado muitos beijos e abraços e uma fotografia . Jayme O . saraiva” [JM-22-03-1937] O futuro é mais usado quando o remetente se refere a um próximo encontro com o leitor, como no exemplo 69: (69) “Tambem eu no caro dia 19, te oscularei bem ternamente na fração do pão sagrado e no elevar-se do calise de tua missa mais fervorosa e mais santa, si assim podemos dizer...” [PF-16-12-1933] Em síntese, observando a Tabela 7, notamos que o clítico te foi majoritário em todos os tempos e modos verbais; mesmo quando houve somente uma ocorrência de acusativo (no futuro do pretérito do indicativo), a mesma realizou-se com o clítico te. Logo, nessa rodada, o grupo de fatores tempo e modo verbais parece não influenciar na variação do acusativo de 2ª pessoa do singular, embora também tenha dado indícios da fixação do te como prefixo, uma vez que o mesmo não ocorreu mesoclítico nos tempos futuros do presente e do pretérito. 5.2. Analisando os fatores extralinguísticos Nesta subseção, apresentamos os resultados concernentes à análise dos grupos de fatores extralinguísticos. 110 Período Atendo-nos à variável período, vejamos o Gráfico 4. 100 95,7 89,8 90 Nº de dados % 80 72,5 70 Te 56 60 50 Você 40 o/a 25 30 14,8 20 10 0 2,2 0 2,2 2,2 6 4,4 5,8 3 Lhe 11,8 7,4 Zero 0 0,7 0,7 0 1880-1905 1906-1930 1931-1955 Períodos 1956-1980 Gráfico 4: Distribuição das formas acusativas ao longo de um século O Gráfico 4 nos mostra a distribuição das formas acusativas ao longo de um século. Primeiramente, notamos a predominância do clítico te, ultrapassando os 50% em todos os períodos. No último período, no entanto, sua frequência foi menor em favor do aumento das demais formas. É interessante observamos o aumento gradativo do pronome lexical você: tal estratégia acusativa começa a aparecer com índices bastante baixos no 2º período (1906-1930), com 2,2% de ocorrências; a partir da década de 1930, a frequência passa a 5,8%, tornando você a segunda estratégia mais empregada. Na segunda metade do século XX, último período, tal estratégia apresenta um aumento expressivo em relação aos períodos anteriores, com uma frequência de 25%. Esse resultado do pronome lexical você é interessante, pois confirma a nossa hipótese de que tal variante começaria a atuar como pronome acusativo de 2ª pessoa a partir das décadas de 1920 e 1930, já que nessa época tal forma teria se implementado no quadro de pronomes (cf. DUARTE, 1995; MACHADO, 2006; 2011; RUMEU, 2004, 2008). 111 Os clíticos o/a apresentaram um comportamento variável ao longo do período. Os índices sempre foram bastante baixos e oscilantes, mas não ultrapassaram 15% de frequência: 2,2%, 14,8%, 3% e 11,8%. Esses clíticos e o objeto nulo foram mais frequentes no 2º período em virtude da concentração de cartas da família Pedreira Ferraz Magalhães nessa época. Dos 40 dados dos pronomes o/a encontrados em nossa amostra, 23 foram produzidos pela família em questão, e, das 10 ocorrências de zero, 7 também foram realizados por ela. Em relação ao clítico lhe, notamos que o mesmo não se mostrou recorrente em nossa amostra ao longo do tempo. Os índices não atingem 8% na fase em que é mais produtivo. Como vimos anteriormente, tal clítico ocorre com maior predominância nas cartas em que se usa você na posição de sujeito como única estratégia ou ao lado de tu. No Gráfico 5, a seguir, foi feito o cruzamento da variável forma na posição de sujeito com a variável período. 95,5 100 90 82,2 Nº de dados % 80 70 60 50,3 50 30 10 TU 38,3 40 20 49,6 15,6 VOCÊ 29,1 20,7 TU~VOCÊ 12 2,2 0 4,3 0 1880-1905 1906-1930 1931-1955 Períodos 1956-1980 Gráfico 5 : A forma na posição de sujeito ao longo dos períodos analisados Ao olharmos com atenção o Gráfico 5, notamos uma diminuição gradativa do tratamento tu como estratégia exclusiva na posição de sujeito: enquanto no primeiro período esse pronome é predominante, com 82,2% de ocorrências, no segundo cai para 50,3%, no terceiro ele deixa de ser o mais produtivo, com 38,3%, perdendo espaço para as cartas com variação tu~você. No quarto período, não houve cartas em que tu fosse a 112 única estratégia na posição de sujeito. Neste, o você-sujeito assume a liderança, com quase a totalidade dos dados: 95,5% e tu só ocorre em variação com você na mesma carta. Na verdade, à medida que o tratamento exclusivo com tu-sujeito vai diminuindo sua frequência, o uso de você-sujeito e a mescla de tratamento vão ganhando espaço; esta, porém, sofre uma queda no último período, totalizando 4,3%. Nossos resultados mostraram que, embora o você tenha entrado no quadro de pronomes, o tratamento com o pronome tu não desapareceu, visto que tal pronome continuou ocorrendo, porém, em alternância com o você na posição de sujeito. O Gráfico 5 é de suma importância, pois revela que, embora o clítico acusativo te tenha sido majoritário ao longo de todo o século, existem diferenças em seu contexto de produção: o te-acusativo que predomina nos três primeiros períodos, conforme observado no Gráfico 4 (95,7%, 72,5% e 89,8%, respectivamente), está, principalmente, associado ao tu na posição de sujeito, pois este é o tratamento que predomina nessas fases, seja em uso exclusivo seja variando com o você; isto quer dizer que a maior parte dos dados de te foi produzido num contexto de uniformidade de tratamento. Em contrapartida, o te-acusativo que predomina no último período (56%) correlaciona-se, sobretudo, ao você-sujeito – já que este figura em 95,5% dos dados – demonstrando tratar-se de um contexto no qual a uniformidade de tratamento, preconizada pela GT, foi “quebrada”. Em suma, estamos falando de contextos diferentes de produção do clítico te. Resultado semelhante encontramos em Machado (2006). Embora seu estudo focasse na função de sujeito, a autora apresentou as frequências de uso das formas de sujeito, de complementos verbais (com e sem preposição) e de possessivos em peças teatrais. Na peça mais antiga, de 1908, o te foi majoritário (70%), porém, é um te que se relaciona com o tu, já que este apresenta uma porcentagem de 88%, ou seja, há um comportamento preferencialmente uniforme. Entretanto, na peça de 1962, a alta produtividade do clítico te (60%) evidenciou um tratamento não simétrico, já que o você obteve uma frequência altíssima, de quase totalidade: 99%. Isso ocorreu também na peça “Intensa Magia”, de 1995: 60% de uso de te e 60 % de você. Como vimos, o uso não uniforme de você-sujeito com te-acusativo foi se tornando cada vez frequente e, no período de 1956 a 1980, no nosso corpus, já era praticamente categórico. Esse resultado já pode responder uma das perguntas feitas na seção 5.1: em qual período haveria mais simetria tratamental? Os três primeiros períodos foram mais marcados pela uniformidade de tratamento, ao passo que o último 113 foi marcado pela “assimetria”, ainda que o sistema tenha dado “provas” de que sempre foi misto. Assim, atualmente, quando falamos “Você disse para eu te esperar”, muitos nem percebem que houve mistura de tratamento. Isso evidencia que tal uso é muito produtivo no PB e que não gera estigmas. Na realidade, as variantes acusativas não pareciam gerar estigmas nos períodos em análise, como também não parecem gerá-los na sincronia atual. Dessa forma, percebemos que a uniformidade de tratamento preconizada pela GT já não era totalmente cumprida no decorrer do século 1880-1980. Logo, trata-se de algo completamente artificial no PB, desde o momento em que você começa a aparecer nos mesmos contextos funcionais que tu (LOPES, 2009). Aliás, segundo estudos linguísticos diacrônicos, a mescla de formas de paradigmas supostamente distintos ocorre desde, pelo menos, o século XVIII (cf. MARCOTULIO, 2010), não sendo, portanto, um fenômeno recente na língua. Em suma, o grupo de fatores período nos mostrou que, embora algumas épocas favoreçam o surgimento de outras variantes (por exemplo, o 2º período, em que o pronome acusativo você começou a aparecer), isso ainda não foi suficiente para tirar a hegemonia do clítico te. A influência deste grupo de fatores está, na verdade, condicionada à variável linguística sujeito, uma vez que, quando há mudança na forma usada na posição de sujeito em determinada época, muda também a frequência das formas acusativas, ainda que a tendência seja para o aumento do uso “assimétrico” você-sujeito com te-acusativo. Além disso, a partir do 2º período, conforme o você vai entrando na posição de sujeito, as formas de acusativo vão ficando mais diversificadas; embora tal inserção não tenha sido suficiente para “desbancar” o clítico te em posição acusativa, como já dissemos. Família Vejamos agora os resultados referentes ao grupo de fatores família/grupo: Land Avellar (1907-1917) Penna Te 10 83,3% 7 Você 1 8,3% - Lhe - o/a - - 1 Zero 1 8,3% - Total 12 2,8% 8 114 (1896-1926) Cruz (1889-1915) Ilustres fluminenses (1888-1977) Jayme e Maria (1936-1937) Pedreira Ferraz Magalhães (1884-1948) Brandão (1941 e 1973) Lacerda (1977 e 1979) Estudantes cariocas (1979-1985) TOTAL 12,5% 1 2,2% 6 31,6% 1 2,2% - 1,8% 46 10,6% 19 4,4% 11 6,4% 1 0,9% 23 13,5% 1 0,9% 7 4,1% 112 25,9% 171 39,5% 1 14,3% - 5 71,4% - - 4 23,5% 3 17,6% - 7 1,6% 41 9,5% 17 3,9% 17 3,9% 40 9,2% 10 2,3% 87,5% 44 95,7% 8 42,1% - - 4 21,1% 1 5,3% 103 92% 128 74,9% 7 6,2% 2 1,2% - 30 73,2% 7 41,2% 1 14,3% 11 26,8% 3 17,6% 337 77,8% 29 6,7% - 433 100% Tabela 8: Correlação entre as estratégias acusativas e as famílias Os índices numéricos da Tabela 8 evidenciam que todas as famílias analisadas, com exceção da Brandão, utilizaram preferencialmente o clítico acusativo te. A única família que fez uso de todas as estratégias acusativas foi a Pedreira Ferraz Magalhães. A família Land Avellar utilizou em suas missivas 83,3% de te, 8,3% de você e de zero, o que equivale a apenas 1 dado, cada. Já a família Penna, empregou somente os pronomes te (87,5%) e o/a (12,5%). A família Cruz foi quase categórica no uso do te, com 95,7%. Os resultados observados nas famílias acompanharam, de certa forma, o período em que as cartas foram escritas. Podemos observar, por exemplo, que conforme as famílias avançam para a segunda metade do século XX (Brandão/1941-73, Lacerda/1977-79, Estudantes cariocas/1979-1985), os índices de te diminuem ligeiramente e aumentam as frequências das formas do paradigma de você: você, lhe e o/a. Outro aspecto que elucida tal resultado é o tratamento empregado na posição de sujeito, conforme os Gráficos 6, 7 e 8, a seguir. 115 Uso exclusivo de tu-sujeito 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TE 100 100 100 93,1 97,7 92,2 VOCÊ O/A 1,4 2,3 1,4 LHE 5,9 2,8 1,4 1 Land Penna Ilustres Cruz (1889- Pedreira Jayme e Avellar (1896-1926) fluminenses 1915) Ferraz Maria (1907-1917) (1888-1977) Magalhães (1936-1937) (1884-1948) ZERO Gráfico 6: Percentual de ocorrência das variantes acusativas nas cartas com uso exclusivo de tu das diversas famílias O Gráfico 6 nos mostra a correlação entre o uso exclusivo de tu na posição de sujeito e as famílias cariocas. Salientamos que as famílias Lacerda e Brandão e o grupo dos Estudantes cariocas não estão presentes no Gráfico porque não empregaram exclusivamente o tu-sujeito, e, não por acaso, são as amostras cujas cartas são mais recentes, da década de 1940 em diante. Com o Gráfico 6, notamos que as famílias Land Avellar, Penna e o grupo dos Ilustres fluminenses mantiveram a uniformidade de tratamento, com uso categórico do clítico te em cartas com uso exclusivo de tu-sujeito. As demais famílias diversificaram um pouco as variantes, mesmo que o clítico te tenha predominado em todas elas. A família Cruz apresentou 97,7% de te e 2,3% de zero. O casal Jayme e Maria utilizou três pronomes acusativos: 92,2% de te, 5,9% de você e 1% de o/a. Já a família Pedreira Ferraz Magalhães foi a que mais diversificou, lançando mão de todas as estratégias: 93,1% de te, 1,4% de você, de o/a e de lhe e 2,8% de zero. Vejamos, então, o emprego dos pronomes acusativos em cartas com uso exclusivo de você na posição de sujeito. 116 Uso exclusivo de você-sujeito 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16,7 25 71,4 100 37,5 37,1 41,2 71,1 100 100 45,7 14,3 14,3 17,6 66,7 17,6 25 12,5 11,4 5,7 11,4 28,9 TE VOCÊ 23,5 O/A LHE ZERO Gráfico 7: Percentual de ocorrência das variantes acusativas nas cartas com uso exclusivo de você das diversas famílias Notamos, primeiramente, que todas as famílias do corpus empregaram o tratamento com o uso exclusivo de você na posição de sujeito e que houve uma maior variação das formas acusativas com esse tratamento, como já havíamos verificado na análise do grupo de fatores forma na posição de sujeito. Ao observarmos as frequências de uso das variantes acusativas, fica evidente um comportamento diferenciado dos remetentes das famílias em função do seu perfil social. As famílias Cruz e Brandão, notadamente pertencentes a uma categoria social elevada, foram as únicas que mantiveram integralmente a uniformidade de tratamento, já que não apresentaram dados do clítico te em cartas com uso exclusivo de você na posição de sujeito. A primeira utilizou apenas os clíticos o/a e a segunda variou entre as formas de 3ª pessoa: você (16,7%), o/a (66,7%) e lhe (11,4%). Por seu turno, as famílias Land Avellar, Penna e os Ilustres fluminenses, que haviam mantido a simetria tratamental, empregando somente o clítico te em cartas de tu-sujeito, dessa vez, quebraram a “uniformidade”, usando também o referido clítico em cartas de você-sujeito. Na família Land Avellar e na amostra dos Ilustres fluminenses, porém, tal emprego diminuiu de um uso categórico para 71,4% e 25%, respectivamente, em favor de um aumento nas formas do paradigma de você. 117 A família Penna manteve seu uso categórico de te, e o casal Jayme e Maria assumiu tal uso em cartas de você-sujeito; esses grupos, então, foram os que mais “misturaram” o tratamento, embora configurassem perfis sociais bem distintos. A família Penna tem como missivista o filho de um ex-presidente, enquanto os noivos eram pessoas simples: ele, um trabalhador do comércio, ela, uma dona de casa. Falta-nos, agora, observar o comportamento adotado pelas famílias em contexto de alternância entre tu e você na posição de sujeito. Uso de tu~você-sujeito 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50 75 100 100 100 90,6 100 1,6 50 4,7 9,4 9,4 7,5 1,9 TE VOCÊ O/A LHE ZERO Gráfico 8: Percentual de ocorrência das variantes acusativas nas cartas com mescla de tratamento das diversas famílias A ausência da família Brandão e do grupo dos Estudantes cariocas nos Gráficos 6 e 8 nos mostra que se tratam das únicas amostras cujos remetentes não empregaram o tu na posição de sujeito, nem em uso exclusivo nem em variação com o você. Conforme já vimos com os resultados do grupo de fatores forma na posição de sujeito, a preferência dos missivistas é também pelo clítico te em cartas com mescla de tratamento. Com o Gráfico 8, percebemos que todas as famílias seguem essa “tendência”, com exceção dos Ilustres fluminenses, que apresentaram um uso categórico de você-acusativo e da família Penna, que utilizou o te e o você com a mesma frequência, 50% cada. Já a família Pedreira Ferraz Magalhães e o casal Jayme e Maria, 118 embora apresentem altas frequências de uso do te (75% e 90,6%, respectivamente), diversificaram mais a formas. Em síntese, o clítico te foi predominante como estratégia acusativa em todas as famílias no nosso corpus, com exceção da Brandão. A análise da forma na posição de sujeito nas diferentes famílias foi importante porque verificamos que (i) as famílias Brandão e os Estudantes cariocas não empregaram o tu; (ii) com a utilização exclusiva de tu na função de sujeito, não houve grandes diferenças entre as famílias, visto que todas mantiveram uma frequência altíssima de te, ultrapassando 92%; (iii) nas cartas com uso exclusivo de você, houve mais variação entre as formas acusativas, embora 4 famílias tenham utilizado mais o clítico te; (iv) as famílias Cruz e Brandão foram as únicas que não empregaram o clítico te em cartas de você-sujeito, mantendo, portanto, a simetria tratamental e (v) em cartas mistas, não houve tanta variação entre as formas como houve em cartas com uso exclusivo de você. Subgênero da carta Analisamos, agora, o grupo de fatores subgênero da carta. As cartas foram codificadas como i) pessoais (ou menos familiares), ii) familiares e iii) amorosas, a depender da relação entre remetente e destinatário, conforme comentamos na seção 4.3.3. Observemos a Tabela 9. Te Você o/a Lhe Zero Total Carta 10 8 12 6 - 36 pessoal 27,8% 22,2% 33,3% 16,7% Carta 165 3 27 11 9 215 familiar 76,7% 1,4% 12,6% 5,1% 4,2% 49,7% Carta de 162 18 1 - 1 182 amor 89% 9,9% 0,5% 0,5% 42% TOTAL 337 29 40 17 10 433 77,8% 6,7% 9,2% 3,9% 2,3% 100% 8,3% Tabela 9 : Correlação entre o subgênero da carta e as estratégias acusativas 119 A Tabela 9 exibe a correlação entre o subgênero da carta e as estratégias acusativas. Dentre os três subgêneros, as cartas familiares estão em maior quantidade (49,7%) no nosso corpus. Em relação às estratégias acusativas, o clítico te foi mais produtivo nas cartas familiares e amorosas. Cartas pessoais O subgênero carta pessoal (ou menos familiar) foi o que menos apresentou o pronome acusativo te, com uma porcentagem bem inferior em relação à sua utilização nos outros subgêneros (27,8% contra 76,7% nas cartas familiares e 89% nas amorosas). Nas cartas pessoais, os clíticos o/a foram mais produtivos, com 33,3%, seguido das variantes te (27,8%), você (22,2%) e, por último, lhe (16,7%). Observando atentamente essas porcentagens, podemos dizer que no subgênero em questão houve uma disputa mais acirrada entre as estratégias acusativas. A seguir, vejamos exemplos com as formas variantes. (70) “Adeus, meu caro Nabuco, desculpe esta letra que nunca foi boa e a idade está fazendo pior, e não esqueça o velho amigo que não o esquece e é dos mais antigos e agora o mais triste.” [IF-14-05-1907] (71) “Compreendo, aliás, que tudo isso irrite profundamente você, mas não vejo por que não te irritava o sensualismo de Olavo Bilac e outras coisas mais do parnasianismo.” [IF-02-02-1923] (72) “Não quero mais continuar lhe aborrecendo com tantas palavras, algumas até, aparentemente sem sentido, mas quero que saiba que cada uma delas saiu do ligar mais profundo de meus sentimentos.” [EC-27-04-1984] Cartas familiares Nas cartas familiares, o uso do clítico te predominou com 76,7%. A segunda estratégia mais frequente foi o clítico de 3a pessoa (o/a) (12,6%). Esses dados foram localizados majoritariamente nas cartas da família Pedreira Ferraz Magalhães, e, em 120 grande parte, com o verbo “abraçar”, sobretudo nas despedidas, conforme os exemplos 73, 74 e 75. (73) “Com affectos abraça a irmã amiga e pedesua benção. Sor Maria da Divina PastoraReligiosa do Bom Pastor Deus seja bendito.” [PF-28-12-1926] (74) “De todo o coração o abraço como sua irmã affectuosissíma. Isa Religiosa de SantaDoroteia.” [PF-18-10-1919] (75) “Abraço-O ternamente desejando todos os bens. Sua irmã affetuosa Sua Leonor Religiosa de Santa Doroteia (...)” [PF-22-08-1920] As demais ocorrências dos clíticos o/a apareceram em cartas (i) de Maria Guilhermina ao filho Afonso Penna Junior (exemplo 76), (ii) de Euclides da Cunha para seu pai (exemplo 77) e (iii) de um irmão para uma irmã, do grupo dos Estudantes cariocas, da década de 1980 (exemplo 78). (76) “Deos o abençoe e dê-lhe calma para cumprir os seus deveres. Não se esqueça dos deveres religiosos,estamos na quaresma.” [AP-18-03-1920] (77) “Espero pois o senhor e Adélia em princípios de julho e não posso dizer com que alegria espero o momento de vê-lo abraçar aquela a quem já chamou de nova filha e que verdadeiramenteé em tudo digna disto.” [IF-14-06-1890] (78) “Um beijo bem gostoso, (no rosto), é claro, E se cuida! é o que deseja seu irmão que muito a admira,A” [EC-carta 44-déc. 80) Em relação às outras estratégias, o você, o zero e o lhe apresentaram porcentagens baixas, não passando de 5,1% (para o último). Cartas amorosas No que refere às cartas amorosas, o clítico te reina quase absoluto, com cerca de 90%. Esse resultado confirma a nossa hipótese de que as cartas amorosas favoreceriam 121 o uso da forma te – relacionada ao pronome tu – já que tanto esse tipo de carta quanto o referido pronome possuem um caráter [+íntimo]. O pronome lexical você foi a segunda forma mais empregada, com 9,9%. Das suas 18 ocorrências, 11 foram em cartas da família Lacerda e 7 em cartas do casal de noivos Jayme e Maria. Como dissemos na seção 4.1, as missivas que compõem a amostra da família Lacerda foram escritas por um rapaz, doravante A.C. a uma filha do casal Lacerda, doravante M. Talvez o escrevente tenha utilizado o você porque (i) empregou preferencialmente o você na posição de sujeito, (ii) suas cartas são mais recentes, mais especificamente do final da década de 1970 e (iii) são cartas de amor bem diferentes do convencional; em muitas passagens, encontramos um tom jocoso e irônico, como vemos nos exemplos 79 e 80: (79) “Mando aqui um retrato meu para voce queimar, jogar fora, desenhar bigode, ..., e até guardar. Mando outros pois, um de quando estava em Itatiaia no festival do vinho e do queijo e outro que é o que mais gosto: me lembra como conheci voce. Espero que guarde-os e se não quizer mande-os na proxima carta.” [AC-02-08-1978] (80) “Amada Voce não pode imaginar a alegria com que recebi sua carta. Pensei que tivesse esquecido e falei comigo mesmo: "se aquela piran... aquela sacan... aquela menina não escrever ate o fim do mes vou ligar para a mãe dela e pedir o endereço de onde voce está e escrever. PS: Desculpe os nomes feios mas considere-os pois foram bolados com muito carinho para a maior menina do mundo, que é você. [...] Aqui vai tudo bem e a minha fossa deixada por voce diminuiu 3% porem ainda sinto muito sua falta. [...] M. , voce conseguiu me prender. Deixei de ser um "prostituto" para passar a pensar só em voce. Sei que ainda falta muito tempo para saber mas quero ficar com voce. Apesar de saber que dificilmente terei voce só para mim.” [AC-08-1978] O casal Jayme e Maria também utilizou o pronome acusativo você em suas cartas de amor; estas, porém, diferentemente das de A.C. enviadas à M., são excessivamente românticas e até piegas. No entanto, notamos que dos 7 dados de você, 122 6 ocorreram em trechos mais “neutros” das cartas da Maria, em que não havia intensa expressão dos sentimentos, e sim quase sempre um aviso, realizado através do verbo “esperar”. Todas essas ocorrências são expressas, a seguir: (81) “eu espero voce no Domingo sem falta na Estação abraços da minha irman sobrinhos e Ismenia e da Hilda um beijo para voce e da tua noivinha muitos beijo e abraços au meu noivinho Jayme” [MJ-01-10-1936] (82) “Jayme eu que espero voçe o tenpo que você quizer não se esquesa desta pobrezinha que tanto te ama Mariquinhas muitos beijos” [MJ-19-01-1937] (83) “Eu hoje chegei bem em casa e não sai mais estive esperado voçe ate as 7 hora[...] Eu no sabado espero voce . não se esqueça desta tua noivinha que tamto te ama” [MJ-07-03-1937] (84) “Jayme manda-me dizer se atua mãe falou alguma cousa com voceau meu respeito eu espero voce no dia 27 sepodervin no dia 20 era bom” [MJ-10-091936] (85) “Eu espero voce no dia 20 do corente na estação com a Ismenia as 7 aras.” [MJ-14-09-1936] O único dado de você das cartas do casal que saiu desse contexto mais “neutro” foi escrito pelo Jayme e ocorreu anteposto a um pronome relativo, que o retomou, assim como exemplificado em 48 e aqui repetido. (86) “Minha querida só a ti é que pertence todo o meu amor, só de ti minha flor que eu espero todo o meu ideal a esperança que brota de meu peito cresce de uma forma espantosa, envolvendo-nos e unindo-nos cada vez mais, a luz de teu olhar e que ilumina a estrada por aonde sigo para encontrar voce que é a minha felicidade, se esta luz se apagar apagará tambem o meu nome da lista dos viventes sobre o mundo terrestre.” [JM-22-09-1936] 123 As variantes o/a e zero apresentaram somente uma ocorrência cada. Ambas foram produzidas pelo missivista Jayme e serão exemplificadas, a seguir: (87)“longe de ti minha bela, tudo e diferente para mim mundo parece-me que vae acabar a saudade atormenta-me a todo momento pareço ouvir-te falar, ou então ouvir-te jamar pelo meu nome, pareço vel-a, mas tudo isso não passa de uma ilusão, porque estas tão longe, e só tenho comigo dentro do peito o teu pobre coração.” (JM-24-09-1936) Esse exemplo já havia sido aqui comentado na seção 5.1, quando tratamos de formas acusativas de 3ª pessoa que ocorreram em cartas com uso exclusivo de tu na posição de sujeito. (88) “[...] tu sabes como me sinto, cada vez mais cego, e cada vez querendo Ø amar mais. [...] se você me desprezasse, seria o fim de um pobre mendigo de amor, que morreria crucificado pela grande paixão que trazia no peito”[JM-1603-1937] Após comentarmos sobre as variantes empregadas nas cartas amorosas, percebemos que apenas uma não foi utilizada nessas cartas: o clítico lhe. O fato desse clítico ter ocorrido somente em cartas pessoais e familiares seria um indício de que ele não figuraria em cartas [+íntimas]. Mas será que isso se confirma? O clítico lhe seria, então, mais frequente em contextos [+formais], assim como afirmam Gomes (2003) e Almeida (2009)? Antes de investigarmos essa questão, precisamos traçar algumas considerações a respeito do grau de formalidade e de intimidade em cartas. No que tange aos três subgêneros de carta aqui controlados, o contraponto mais claro fica estabelecido entre as cartas amorosas e as outras duas. Nas primeiras, a questão da intimidade é muito forte, ao passo que, nas outras, a intimidade pode ser relativa. É certo que, geralmente, uma carta familiar é mais íntima que uma carta pessoal, mas o inverso também ocorre, a depender do assunto, do tom etc. As cartas da família Land Avellar, por exemplo, são familiares, mas o tom é de grande distanciamento por conta da temática: pedido de dinheiro e reclamações de gastos. Já em algumas cartas trocadas por amigos do grupo Estudantes cariocas há bastante 124 intimidade, conversas sobre namoro, festas, embora sejam consideradas pessoais. Percebemos, então, que não podemos ser categóricos na classificação das cartas pessoais e familiares como mais ou menos íntimas ou formais, e sim devemos analisar os diversos casos. Nesse sentido, observamos atentamente todas as ocorrências do clítico lhe, a fim de verificarmos o seu contexto de produção. Nas cartas pessoais, o lhe acusativo apareceu quando o remetente tratava de assuntos profissionais ou acadêmicos, como nos exemplos 89 e 90, a seguir, um da década de 1920, outro de 1983. (89) “Meu caro Jackson, Sua carta é admirável. E eu, como incorrigível crente no espírito, lamentei, mais uma vez, que essa sua terrível vida de luta, com as lesmas do nosso jornalismo dissolvente, não lhe permita escrever a obra longa, continuada, meditada, que você tem a obrigação de nos dar. Entretanto, poderá você dizer, e com razão, que essa sua fase de luta viva talvez venha a servir melhor à sua obra futura, do que, por exemplo, um relativo retiro semelhante ao meu. [...] Se Deus lhe poupar na luta, a obra virá e mais perfeita. É o meu consolo.” [IF-24-04-1927] Nesse exemplo, inclusive, observamos que não há um alto grau de intimidade entre remetente e destinatário. Interessante ressaltarmos que, nesse trecho, tem-se um dado de objeto indireto de 2ª pessoa com o pronome lhe: “(...) não lhe permita escrever a obra longa (...)” (90) “Estou fazendo somente dois cursos nesse semestre: Semântica (c/o Edu) e Modelos de Análise Linguística (c/ a Lucy), ambas são obrigatórias; assim fecho as introdutórias. [...] E você? Está trabalhando muito em Psicolinguística? Quem está lhe orientando?” [EC-28-05-1983] Também notamos dados de lhe em uma carta de 1980, de uma missivista do grupo Estudantes cariocas. Nessa carta, verificamos uma relação tensa entre remetente e destinatário. A remetente parece querer ajudar sua amiga, mas talvez a relação entre elas esteja estremecida. Vejamos o exemplo: 125 (91) “L., fiquei muito preocupada ao ler sua carta pois ela traduz um estado de insegurança e de fraqueza muito grandes. Tenho uma vontade enorme de poder lhe ajudar a superar tudo isso, embora (apesar de sua contestação)não me considere capaz disso [...] Não quero mais continuar lhe aborrecendo com tantas palavras, algumas até, aparentemente sem sentido, mas quero que saiba que cada uma delas saiu do ligar mais profundo de meus sentimentos.” [EC-27-04-1984] Em suma, percebemos que essas cartas pessoais que tratavam de assuntos profissionais e acadêmicos, assim como uma missiva em que se percebe uma relação de tensão entre remetente e destinatário exigiam uma maior seriedade e uma escrita com forte distância comunicativa. Além disso, no exemplo 89, conforme salientado, remetente e destinatário não são tão íntimos. Dessa maneira, os dados de lhe nesses casos parece ser motivado pelo seu caráter [+ formal]. Contudo, as ocorrências de lhe em cartas familiares não parecem seguir essa característica, pois todas se deram nas missivas da família Pedreira Ferraz Magalhães, e, em todas elas, é nítido um caráter de intimidade, como nos exemplos 92, 93 e 94. (92) “Receba o mais apertado abraço do irmão que tanto e tanto lhe quer.” [PF06-11-1919] (93) “De minha parte querido irmão estou cheia de alegria por lhe ver tão contente e feliz [...]” [PF-22-10-1925] (94) “Com affecto lhe abraço e sou sua irmã nos Santíssimos Corações de Jesus e Maria Sor Maria da Divina Pastora. Religiosa do Bom Pastor” [PF-05-071922] Dessa maneira, a nossa hipótese, baseada nos resultados de Gomes (2003) e Almeida (2009), de que o clítico lhe seria mais produtivo em contextos [+formais], só se confirmou nas cartas pessoais, uma vez que, nas cartas familiares, tal clítico figurou nas missivas dos irmãos da família Pedreira Ferraz Magalhães e evidenciou contextos mais íntimos, portanto, [- formais]. É preciso lembrar ainda que tal família é constituída por religiosos (freiras e padres). Mesmo que o uso de lhe ocorra em cartas com forte afetividade entre irmãos, trata-se de um grupo socialmente bastante conservador. 126 Por fim, concluímos que a variável extralinguística subgênero da carta teve influência nos resultados, servindo, sobretudo, para comprovar a nossa hipótese: as cartas de amor realmente favoreceram o emprego do clítico te e desfavoreceram o uso do pronome lhe. Ainda que este não tenha sido produzido em cartas amorosas, que seriam as mais íntimas, figurou em cartas familiares com um perfil social bastante específico: um grupo de religiosos. Parte da carta Outro grupo de fatores extralinguístico controlado foi a parte da carta. Dessa forma, controlamos em que parte da missiva o dado se encontra, acreditando que, no núcleo e no P.S., o redator escreveria seu texto de forma mais “livre”. A seção de contato inicial em que figuram a saudação inicial e a captação de benevolência e a despedida seriam as partes em que poderia haver a presença de formas fixas ou cristalizadas de cumprimentos e despedidas. Seguem, na Tabela 10, os valores encontrados. Seção Inicial Núcleo Despedida P.S. TOTAL Te 59 88,1% 171 76% 103 75,2% 4 100% 337 77,8% Você 1 1,5% 25 11,1% 3 2,2% 29 6,7% Lhe 11 4,9% 6 4,4% - o/a 7 10,4% 14 6,2% 19 13,9% - Zero 4 1,8% 6 4.4% - 17 3,9% 40 9,2% 10 2,3% TOTAL 67 15,5% 225 52% 137 31,6% 4 0,9% 433 100% Tabela 10: Correlação entre as formas acusativas e a parte da carta em que o dado se encontra A correlação entre as formas acusativas e a parte da carta na qual o dado se encontra nos mostra, primeiramente, que mais da metade das estratégias acusativas foi localizada no núcleo: 225/433 (52%). Em seguida, notamos que o clítico te predomina em todas as seções apresentando, porém, uma frequência mais alta na seção inicial (88,1%). Nesta parte, inclusive, não houve ocorrências do pronome lhe e do zero. 127 Sabemos que na seção inicial o remetente introduz uma saudação (Querido amigo/pai/primo, etc) e, em seguida, costuma escrever estruturas fixas, procurando captar a benevolência do destinatário para o pedido que fará na carta. Nesse contato inicial com o seu destinatário, ele precisa utilizar uma forma de tratamento a fim de “convocar” o destinatário para o seu texto; a não realização de um pronome poderia tornar esse primeiro contato estranho e confuso. Isso explicaria a não ocorrência do objeto nulo. Os dados, a seguir, ilustram alguns exemplos do clítico te em estruturas repetidas na seção inicial de cartas do casal de noivos Jayme e Maria: (95) “Almejo que esta te vá encontrar em franco estado de repouso e saude, assim como todos os teus.” [JM-22-09-1936] (96) “Desejo que esta te vá encontrar em fraco repouso , e boa de saude, que este meu desejo seja extensivo a todos o teus.” [JM-23-09-1936] (97) “Espero que esta te va encontar em perfeita saude junto aus teus eu e os meus vamos bem graças a Deus.” [MJ-26-09-1936] (98) “Que esta te vá encontrar em perfeita saude assim como todos os teus eu e os meus vamos bem graças a Deus.” [MJ-29-09-1936] Esses exemplos nos mostram a recorrência de uma mesma estrutura na seção inicial das cartas do casal: te + locução verbal “vá encontrar”. Os remetentes sempre iniciam suas missivas com uma estrutura de cumprimento pré-formada que, na verdade, empreende uma Tradição Discursiva presente no gênero textual carta pessoal. Então, a alta frequência da variante te na captação de benevolência deve-se às cartas do casal de noivos, que lança mão de uma fórmula fixa na seção inicial de suas correspondências. É digno de nota que o único dado de você na seção inicial também se deu em uma carta do Jayme: (99) “Estimo que esta vá encontrar voce e a Hilda melhores do resfriado, e que estejam todos de boa saude, eu estou bom graças a Deus, embora ande com friagem nos bolsos mas não há de ser nada.” [JM-29-09-1936] 128 Analisando o dado, percebemos que a locução verbal “vá encontrar” apresenta um objeto direto que é um sintagma coordenado, o que nos faz pensar que o redator Jayme usou o você justamente porque, após a referência à Maria, 2ª pessoa, faria referência também a sua filha Hilda. Caso o missivista empregasse o clítico te, o enunciado seria agramatical: (100) *“Estimo que esta te vá encontrar e a Hilda...” Voltando nosso olhar para a Tabela 10, podemos notar que a variação entre as estratégias foi maior no núcleo e, em seguida, na despedida. De certa forma, esse resultado para a seção de despedida não era esperado, pois acreditávamos que apenas no núcleo e no P.S. haveria uma maior distribuição dos dados, já que nesses locais o informante escreveria seu texto mais “livremente”, o que propiciaria mais variação. O P.S., contudo, apresentou somente 4 dados, todos com o clítico te. Em relação às formas acusativas, o você e o lhe foram mais produtivos no núcleo, com, respectivamente, 11,1% e 4,9%. Na seção de despedida, depois do clítico te, que apresentou 75%, os clíticos o/a e o zero foram as formas acusativas mais recorrentes, com 13,9% e 4,4%. No que tange aos clíticos o/a, 19 das suas 40 ocorrências se deram na despedida e a maioria realizou-se com o verbo “abraçar”, como no exemplo, a seguir: (101) “Termino querido Mano abraçando-o com ternura nos Santíssimos Corações de Jesus e Maria Sor Maria da Divina Pastora Reliogosa do Bom Pastor Deus seja bendito.” [PF-19-04-1926] Quanto aos dados de zero na despedida, grande parte ocorreu em contexto de coordenação, assim como comentamos na seção 5.1. A seguir, retomamos um exemplo: (102) “Já fallaste com o dentista? Vê se me escreves hoje Hercilia esta uma teteiasinha, mui falladeira mas muito impertinente creio que é por causa dos dentes. Adeus, Oswaldo recebe mil beijos e abraços d’esta que mais que nunca te estima e Ø adora Miloca (...)” [OC-17-10-1899] 129 Em suma, podemos concluir que nossa hipótese foi em parte comprovada, pois o núcleo apresentou maior variação nas formas acusativas. Alguns resultados interessantes foram: i) o emprego do clítico te na seção inicial em que predominam estruturas fixas para captar a benevolência do destinatário e ii) a não ocorrência do lhe e, principalmente, do zero na seção inicial. Gênero Outro grupo de fatores extralinguístico controlado no presente trabalho foi o gênero do informante, cujo resultado verificamos no Gráfico 9, a seguir. 100 96,8 94 88,4 90 77,4 80 70 60 55,3 45,2 50 40 32 24,6 30 20 10 0,8 0,8 1,5 13,8 6,1 5,7 3,8 2 11,3 5,6 3 3 3,2 5,3 7,5 6,4 0 Homem Mulher Homem Tu exclusivo Te Mulher Você exclusivo Você Zero Homem Mulher Tu~Você o/a Lhe Gráfico 9: Correlação entre o tratamento empregado na posição de sujeito e as estratégias acusativas nas cartas de homens e mulheres No Gráfico 9, correlacionamos o tratamento empregado na posição de sujeito com as formas acusativas nas cartas dos homens e das mulheres. Notamos primeiramente que houve uma preferência pela variante te em ambos os gêneros, tendo em vista as altas frequências que tal clítico obteve; o mesmo não foi majoritário apenas nas cartas com uso exclusivo de você-sujeito escritas pelas mulheres. 130 Com o uso exclusivo de tu, os homens foram mais conservadores que as mulheres, pois apresentaram uma frequência maior de clítico te (96,8%), já as mulheres, embora tenham empregado majoritariamente o clítico te (88,4%), variaram um pouco mais as formas, com 5,7% de você, 2% de lhe e 3,8% de zero. Todavia, com o uso exclusivo de você, os homens foram um pouco mais inovadores, pois apresentaram predominantemente o clítico te, com 55,3%, contra 45,2% para as mulheres, que preferiram as formas do paradigma de você, com destaque para os clíticos o/a (32%). Nas cartas com uso exclusivo de você produzidas por ambos os gêneros, ocorreu uma disputa maior entre as estratégias acusativas. Com a mescla de tratamento, tanto os homens quanto as mulheres apresentaram mais uso do clítico te (94% para eles e 77,4% para elas), mas as mulheres diversificaram mais as formas. Em síntese, esses resultados apontam que as mulheres apresentaram mais variação entre as estratégias nos três subsistemas tratamentais na posição de sujeito. Além disso, não só as mulheres, como também os homens, “quebraram” a uniformidade de tratamento, utilizando formas do paradigma de você em cartas de tu-sujeito e empregando a forma do paradigma de tu (te) em cartas com uso exclusivo de você na posição de sujeito. Em relação ao primeiro caso, as mulheres se mostraram ligeiramente mais inovadoras; no que se refere ao segundo caso, os homens foram mais inovadores. Essa primeira rodada geral foi fundamental para o presente trabalho, pois corroboramos a nossa principal hipótese: o clítico te foi realmente a estratégia mais utilizada na função acusativa 2ª pessoa do singular, demonstrando ser esse um contexto de resistência à entrada da forma inovadora você. Tal pronome foi majoritário em todos os subsistemas na posição de sujeito, em todos os tempos e modos verbais, nas diferentes partes das cartas, em ambos os gêneros, em quase todas as famílias e ao longo de todo o século. Resta-nos tentar agora relativizar esses valores percentuais para verificar a força de cada variável para a explicação do fenômeno. Dessa forma, apresentaremos, a seguir, rodadas binárias com os pesos relativos e os grupos de fatores selecionados pelo Programa Estatístico. Nas rodadas binárias, optamos por opor o clítico predominante te às formas mais produtivas. Nesse sentido, apresentaremos os resultados de te vs. o/a, te vs. você e te vs. lhe. 131 5.3. A alternância te e o/a Na rodada geral, analisada na seção anterior, apresentamos uma análise descritiva panorâmica de todas as formas variantes localizadas na amostra ao longo de 100 anos. Nesta seção, estão os resultados relativos à rodada binária com as duas variantes mais utilizadas em nosso corpus: o te, forma predominante, e os clíticos de 3ª pessoa o/a. Após rodarmos os dados, o programa GOLDVARB X selecionou os seguintes grupos de fatores, em ordem de relevância: i) Subgênero da carta ii) Forma na posição de sujeito iii) Posição do item pronominal em relação ao verbo predicador iv) Tempo e modo verbais v) Período Notamos que foram selecionados três grupos de fatores linguísticos e dois extralinguísticos, sendo um destes o mais relevante: subgênero da carta. A seguir, apresentamos os resultados referentes a cada variável independente mencionada. O valor de aplicação é o clítico acusativo te. Subgênero da carta Subgênero da carta Pessoal Amorosa Familiar Aplicação/Valor % P.R. 10/22 162/163 165/192 45,5% 99,4% 85,9% 0.04 0.83 0.26 Tabela 11: Atuação da variável subgênero da carta no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. o/a) Observando a Tabela 11 fica claro que, apesar de as cartas de amor e familiares apresentarem altas frequências para o clítico te (99,4% e 85,9%, respectivamente), a probabilidade desse pronome acusativo ocorrer em cartas amorosas é maior, tendo em vista o seu peso relativo de 0.83. As cartas pessoais se mostram desfavorecedoras deste 132 clítico, com 0.04 de peso relativo, favorecendo, portanto, o emprego de o/a. Aqui também cabe o comentário feito na subseção 5.2, segundo o qual as cartas amorosas favorecem o uso do clítico te, em função do seu caráter de maior intimidade. Forma na posição de sujeito Forma na Aplicação/Total posição de sujeito 168/170 Tu exclusivo 60/86 Você exclusivo 103/110 Tu~Você % P.R. 98,8% 69,8% 93,6% 0.87 0.04 0.34 Tabela 12: Atuação da variável forma na posição de sujeito no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. o/a) A Tabela 12 é bastante elucidativa, pois nos revela que, na alternância entre te e o/a, embora o primeiro apresente altas frequências em todos os subsistemas de sujeito – 98,8% com tu, 69,8% com você e 93,6% com mescla de tratamento –, o clítico de 2ª pessoa é favorecido em cartas com uso exclusivo de tu (P.R. 0.87). Já o emprego exclusivo de você na função de sujeito é um contexto desfavorável ao emprego de te. Percebemos, então, que há relativa tendência entre os nossos missivistas de manter a simetria no tratamento em referência à 2ª pessoa: tu-sujeito com te-acusativo e vocêsujeito com o/a-acusativo. Posição do item pronominal em relação ao predicador Lexias verbais simples Complexos verbais Posição do item pronominal Pré-verbal Pós-verbal Próclise a V1 (P V1 V2) Ênclise a V2 (V1 V2 P) Ênclise a V1 (V1 P V2) Aplicação/Valor % P.R. 185/206 72/85 41/44 18/20 3/4 89,8% 84,7% 93,2% 90% 75% 0.68 0.34 0.23 0.19 0.005 Tabela 13: Atuação da variável posição do item pronominal em relação ao predicador no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. o/a) 133 Como vimos na subseção 5.1, a variante te foi utilizada preferencialmente proclítica ao verbo tanto nas lexias verbais simples quanto nos complexos verbais. Na Tabela 13, verificamos que a posição pré-verbal em lexias verbais simples é favorecedora do emprego do te frente ao o/a, devido ao seu peso relativo de 0.68, ao passo que as demais ordens apresentam valores abaixo de 0.5. Também observamos que o contexto de ênclise é desfavorecedor ao uso do clítico te, sendo, portanto, contexto favorável ao emprego dos clíticos de 3ª pessoa o/a. Esse é mais um resultado que ratifica a tese de Cyrino (1992) e Lopes, Souza & Oliveira (no prelo) sobre a fixação do clítico te como um prefixo. Observando atentamente os dados, verificamos que o te proclítico em lexias verbais simples apareceu ao longo de todo o século. Os exemplos, a seguir, ilustram essa constatação: (103) Década de 1880: “Desejo que esta te ache já melhor, com o uso do mercurio.” [PF-15-04-1886] (104) Década de 1900: “Eu te abençoo, e te acompanho em teus trabalhos pela salvação das almas n’este Valle de lagrimas N'este mundo feio e maó.” [PF-2306-1909] (105) Década de 1910: “Adeus irmãosinho querido te abraça tua irmã que muito reza por ti. Sor Maria Auxiliadora Religiosa do Bom Pastor” [PF-04-03-1919] (106) Década de 1930: “No sabado eu te espero no nosso ponto na rua Uruguaiana esquina com Buenos Aires , não vá cantar victoria por eu fazer isso é só para eu te entregar a tal fazenda que comprei hontem , sabes que eu não gosto de ir na oficina ,(...)” [JM-06-04-1937] (107) Década de 1940: “Sobre tua visita – naturalmente será um goso para mim, e fiquei contentissima te espero com os braços abertos.” [PF-20-10-1946] (108) Década de 1970: “Esperei ansiosamente este endereço pois queria te ver, porem... Queria saber a razão do seu desaparecimento.” [AC-14-04-1977] 134 Vale ressaltar que a maioria dos dados ocorreu em contextos com atrator de próclise ou em contextos que a tornavam facultativa, como nos exemplos 109 e 110, respectivamente. (109) Pronome relativo: “Estou resolvido, embora violentando-me, a não inquirir mais acerca das mágoas que te oprimem e à tua família: quero que as notícias venham daí boas e animadoras.” [IF-26-08-1892] (110) Pronome pessoal: “Eu te espero no Domingo que e dia 4 na estacão e acho que voce devi vir no trem das 8 horas para tua mães não desconfiar voce dis que vai a um passeio com um colega e sair as 7 horas de casa que da muito tempo sim vindo de onibus.” [MJ-28-09-1936] Notamos apenas 7 ocorrências de clítico te proclítico em contexto que exigia a ênclise; 4 foram em início de sentença, como em 111. (111) “Estou morrendo de vontade te ver, te abraçar e agradecer tudo; Essa maneira de você ser, de entender tudo nosso e de me ajudar. Te quero muito e preciso de você” [EC-23-04-1982] As outras 3 ocorreram com verbos no gerúndio, assim como no exemplo, a seguir. (112) “aminha irman esta te esperädo no dia 18 não repares a minha carta nei os meus eros , eu não sei escrever cartas de amor como voce eu quando lei chego a chorar , voce sabe que eu sou uma burinha.” [MJ-07-10-1936] No que tange à ênclise, esse contexto, como já dissemos, favoreceu o uso dos clíticos o/a, sobretudo, o contexto de ênclise a V1, que apresentou um peso relativo de 0.005 para o clítico te. As ênclises dos clíticos o/a em lexias verbais simples ocorreram em várias épocas, de 1890 a 1980. As famílias/amostras que as utilizaram foram os 135 Ilustres fluminenses, os Estudantes cariocas, Cruz e, principalmente, Pedreira Ferraz Magalhães. A seguir, um exemplo produzido por cada uma delas. (113) Ilustres fluminenses: “O senhor não pode imaginar como me alegro de antemão em superar enormes distâncias para visitá-lo em Wernstein.” [IF-1612-1930] (114) Estudantes cariocas: “Bem, Alzira, qnd é que você vem, p/ entrevistando-a ao vivo saber de tudo detalhadamente...” [EC-03-10-1983] (115) Família Cruz: “Sentidamente abraça-o, acaricia os filhinhos e pede seja interprete dos mais respeitosos cumprimentos junto a S. Exma Esposa o velho admirador (...)” [OC-22-06-1913] (116) Família Pedreira Ferraz Magalhães: “Termino querida Irmã abraçando-a ternamente e enviando muitos carinhos e sou nos Santíssimos Corações de Jesus e Maria sua irmã affetuosa Sor Maria da Divina Pastora Religiosa do Bom Pastor. Deus seja bendito.” [PF-16-02-1919] Salientamos que alguns casos ocorreram com verbos no gerúndio, como visto nos exemplos 114 e 116, e apenas 1 foi escrito em início de sentença (exemplo 117). Os demais se tratam de casos facultativos, em que tanto a próclise quanto a ênclise são aceitas pela GT, como em 118. (117) “Abraço-O ternamente desejando todos os bens. (...)” [PF-22-08-1920] (118) “Quanto a mim, o único motivo que me faz passar algum tempo sem lhe escrever é o receio de Extrahil-o de seus estudos” [PF-28-07-1915] A seguir, o único exemplo do clítico de 3ª pessoa no contexto de ênclise a V1 encontrado no corpus. Esse dado foi produzido por Maria Joana, da família Pedreira Ferraz Magalhães. 136 (119) “Meu irmão precioso, minha joia, eu estava bem feliz... ao vê-lo compreender em mim essas graças especialissimas de força e de delicia mesmo espiritual com que Nosso Senhor me mimoseia.” [PF-20-02-1943] Tempo e modos verbais Tempo e modo verbais Presente do Subjuntivo Presente do Indicativo Infinitivo Gerúndio Aplicação/Valor % P.R. 62/70 88,6% 0.32 154/176 87,5% 0.44 79/85 17/21 92,9% 81% 0.74 0.50 Tabela 14: Atuação da variável tempo e modo verbais no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. o/a) Através da análise da atuação da variável tempo e modo verbais, notamos que o infinitivo favorece o uso da forma te frente ao clítico de 3ª pessoa, com um peso relativo de 0.74, enquanto os presentes do indicativo e do subjuntivo o desfavorecem, com valores de 0.32 e 0.44. O gerúndio, por sua vez, não favorece nem desfavorece o referido uso, apresentando um peso relativo neutro: 0.50. O resultado encontrado pode ter relação com o fato de o infinitivo ser uma forma nominal, isto é, que pode desempenhar função de nome e que é neutra em relação às categorias de tempo, modo, aspecto, número e pessoa. É certo que o infinitivo também possui suas formas pessoais, nas quais se manifestam as pessoas do discurso; contudo, em nosso corpus, todas as ocorrências de verbos no infinitivo foram com formas impessoais. Uma vez que o missivista utilizou o infinitivo, uma forma isenta de categorias gramaticais, ele poderia, ao se referir a 2ª pessoa, empregar a forma que melhor marca, ao mesmo tempo, a função (objeto direto) e a pessoa (2ª): o clítico te, uma vez que os clíticos o/a são originariamente de 3ª pessoa; a entrada do pronome lexical você no sistema é que fez com que houvesse a possibilidade desse pronome ser usado na referência à 2ª pessoa. 137 Período Período 1880-1905 1906-1930 1931-1955 1956-1980 Aplicação/Valor 44/45 132/159 123/127 38/46 % 97,8% 83% 96,9% 82,6% P.R. 0.63 0.25 0.72 0.61 Tabela 15: Atuação da variável período no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. o/a) A Tabela 15 nos mostra um resultado curioso, pois apenas o segundo período se mostrou não favorecedor ao uso do clítico te, com um peso relativo de 0.25, embora esse pronome tenha tido uma frequência alta: 83%. Isto quer dizer que tal época favoreceu, na verdade, o uso dos clíticos o/a. Ao voltarmos no Gráfico 4, percebemos que, no segundo período, os clíticos o/a foram a segunda estratégia mais utilizada, com uma porcentagem de 14,8%. Dessa forma, no confronto entre somente as variantes te e o/a, a segunda acabou sendo favorecida no período em questão. Tal período coincide, como discutido anteriormente, com o aumento da frequência de você-sujeito como variante de tu. Esse aumento pode ter favorecido o uso de formas do antigo paradigma de 3ª pessoa. Em suma, na análise das formas clíticas te vs. o/a, concluímos que a variante te foi favorecida nas cartas amorosas e naquelas em que se utilizou somente o pronome tu na posição de sujeito. A posição pré-verbal e o verbo no infinitivo também favoreceram o uso de te. Com relação aos períodos, apenas o primeiro (1880-1905), o terceiro (19311955) e o último (1956-1980) o propiciaram. Em contrapartida, os clíticos o/a estiveram mais presentes em cartas pessoais e foram favorecidos mais fortemente (i) pelas cartas com uso exclusivo de você na posição de sujeito, (ii) pela ênclise a V1 (V1 P V2), (iii) pelo presente do subjuntivo e (iv) pelo 2º período (1906-1930). 5.4. A alternância te e você 138 Após a rodada binária aludida na subseção anterior, decidimos realizar uma segunda rodada binária confrontando as variantes te e você, já que esta é a forma inovadora e também por ter sido a terceira estratégia mais frequente em nossa amostra. Em ordem de relevância, expressamos, a seguir, os grupos de fatores selecionados pelo programa, todos de cunho extralinguístico: i) Período ii) Subgênero da carta iii) Parte da carta Começamos a análise pela variável mais relevante, o período. Período Período 1906-1930 1931-1955 1956-1980 Aplicação/Valor 132/136 123/131 38/55 % 97,1% 93,9% 69,1% P.R. 0.58 0.52 0.25 Tabela 16: Atuação da variável período no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. você) Nesta rodada, excluímos o primeiro período (1980-1905) devido ao knockout que causava por não apresentar dados do pronome você-acusativo. É interessante observarmos que a probabilidade do te ocorrer, assim como sua frequência, vai diminuindo à medida que o tempo vai passando, pois o você vai ganhando espaço ao longo dos períodos, conforme vimos no Gráfico 4. Os dois primeiros períodos do século XX mostraram-se favorecedores do clítico te: 0.58 no período de 1906-1930 e 0.52 no período de 1931-1955. A fase que corresponde à segunda metade do século XX (1956-1980) mostrou-se, ao contrário, como favorecedora de você, como já tínhamos discutido na seção 5.2. Subgênero da carta Subgênero da carta Pessoal Amorosa Aplicação/Valor % P.R. 10/18 162/180 55,6% 90% 0.07 0.39 139 Familiar 165/168 98,2% 0.67 Tabela 17: Atuação da variável subgênero da carta no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. você) É curioso observar que, na alternância entre te e você, a carta familiar se mostrou favorável (0.67) e a amorosa desfavorável ao uso do te (0.39), diferentemente dos outros resultados já comentados para essa variável. De qualquer maneira, este resultado confirmou outros aqui encontrados: a frequência do te em cartas pessoais é a menor (55,6%), assim como a probabilidade desse clítico ocorrer em tais missivas (0.07). O favorecimento de você acusativo nas cartas pessoais pode confirmar o uso dessa forma como um pronome neutro e menos marcado. As chamadas cartas pessoais de nosso corpus se caracterizam por serem missivas trocadas entre amigos ou conhecidos com quem se mantém certo distanciamento. Nesse contexto, formas de grande intimidade e proximidade, como são as do paradigma de tu, seriam bloqueadas. Parte da carta O terceiro e último grupo de fatores selecionado pelo programa no confronto entre te e você é a parte da carta. A seguir, os resultados. Parta da carta Seção inicial Núcleo Despedida Aplicação/Valor 59/60 171/196 103/106 % 98,3% 87,2% 97,2% P.R. 0.83 0.33 0.52 Tabela 18: Atuação da variável parte da carta no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. você) Os índices numéricos nos indicam que a única parte da carta que favorece o aparecimento de te é a seção inicial (0.83 de peso relativo), ainda que nas demais seções a frequência dessa variante tenha sido alta: 87,2% no núcleo e 97,2% na despedida. No núcleo, através do peso relativo de 0.33 para o clítico te, notamos que o você é favorecido, o que já era esperado, haja vista que o você é a forma inovadora. Nossa hipótese era de que no núcleo e no P.S. o redator escreveria seu texto de forma mais “livre”, portanto, este seria o lugar ideal para ocorrerem as variações/inovações. Já a 140 despedida, se mostra como um contexto neutro à aplicação das variantes, uma vez que seu peso relativo está bem próximo a 0.50. Como vimos na subseção 5.2, essa grande probabilidade de ocorrer a variante te na seção inicial deve-se a uma Tradição Discursiva presente nas cartas do casal Jayme e Maria, que utilizavam uma fórmula fixa de saudação inicial: “espero que esta te vá encontrar...” Em síntese, na alternância entre as variantes te e você, os grupos de fatores extralinguísticos período, subgênero da carta e parte da carta foram selecionados pelo programa GOLDVARB X. O clítico te foi favorecido pelos segundo (1906-1930) e terceiro (1931-1955) períodos, enquanto o último período (1956-1980) favoreceu o você. No confronto entre as variantes, a probabilidade do te ocorrer em missivas familiares foi maior e, nas cartas pessoais, o você foi favorecido. Por fim, o núcleo foi a parte da carta que favoreceu o emprego de você, enquanto a seção inicial apresentou um alto peso relativo (0.83) do clítico te; isso ocorreu em virtude do casal Jayme e Maria, em suas correspondências, utilizarem uma estrutura fixa de saudação. 5.5. A alternância te e lhe Na terceira e última rodada binária, confrontamos os clíticos te e lhe. Os grupos de fatores selecionados, em ordem de relevância, foram: i) Subgênero da carta ii) Forma na posição de sujeito iii) Família iv) Tempo e modo verbais Subgênero da carta Nas três rodadas binárias, o grupo de fatores subgênero da carta se mostrou relevante. Vejamos, então, seus resultados na alternância entre te e lhe. Subgênero da Aplicação/Valor % P.R. 141 carta Pessoal Familiar 10/16 165/176 62,5% 93,8% 0.001 0.64 Tabela 19: Atuação da variável subgênero da carta no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. lhe) Cumpre mencionar que retiramos as cartas amorosas dessa rodada, visto que não havia dado de clítico lhe nessas missivas, o que ocasionou knockout. Percebemos que o clítico te foi favorecido pelas correspondências familiares e que as cartas pessoais aparecem como um contexto altamente desfavorecedor ao emprego do te, com 0.001 de peso relativo, demonstrando que há uma maior probabilidade do clítico lhe ocorrer nessas cartas. Isso é interessante, pois confirma os resultados encontrados nas demais rodadas: o clítico te nunca é favorecido pelas cartas pessoais; estas favorecem as formas acusativas do paradigma de você (você, o/a e lhe). Forma na posição de sujeito Forma na posição de sujeito Tu exclusivo Você exclusivo Tu~Você Aplicação/Valor % P.R. 168/169 60/70 103/109 99,4% 85,7% 94,5% 0.76 0.14 0.32 Tabela 20: Atuação da variável forma na posição de sujeito no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. lhe) Assim como na alternância entre te e o/a, no confronto entre te e lhe, as cartas com uso exclusivo de tu na posição de sujeito favoreceram o uso do clítico te. Contudo, cumpre mencionar que esse uso “simétrico” de tu-sujeito com te-acusativo foi mais frequente nas missivas dos três primeiros períodos, conforme já vimos. Nas cartas com uso de você-sujeito e nas cartas com mescla de tratamento, a probabilidade do lhe ocorrer foi maior. Família 142 Família/Grupo Ilustres fluminenses Pedreira Ferraz Magalhães Estudantes cariocas Aplicação/Valor 8/9 % 88,9% P.R. 0.999 128/139 92,1% 0.30 7/11 63,6% 0.990 Tabela 21: Atuação da variável família no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. lhe) Esta rodada binária apresenta uma novidade, pois o grupo de fatores família ainda não havia sido selecionado no confronto do te com outras variantes. Salientamos que só estão presentes na Tabela as famílias/grupos que produziram tanto o te quanto o lhe. Somente os grupos dos Ilustres fluminenses e dos Estudantes cariocas favoreceram o emprego do clítico te, com pesos relativos altíssimos (0.999 e 0.990, respectivamente). Interessante observar que as cartas desses dois grupos foram produzidas a partir da segunda metade do século XX com o emprego menor ou inexistente de tu na posição de sujeito. Nessas cartas, ou predominava o você ou a variação entre tu e você. O resultado apresentado confirmaria assim que, mesmo com o espraiamento do você-sujeito, o te acusativo se mantém como complemento prioritário para marcar a 2ª pessoa. Com relação ao lhe, verificamos, em contrapartida, seu favorecimento na família Pedreira Ferraz Magalhães. Na verdade, a utilização de lhe pelos missivistas da referida família se deu em contextos [+íntimos], conforme já comentamos. Ainda que esses dados de lhe tenham ocorrido em cartas de maior intimidade, vale lembrar que estamos falando de indivíduos socialmente conservadores, já que todos eram muito religiosos. Tempo e modos verbais Tempo e modos verbais Presente do indicativo Pretérito perfeito do indicativo Presente do Subjuntivo Infinitivo Aplicação/Valor % P.R. 154/157 98,1% 0.64 7/8 87,5% 0.06 62/63 98,4% 0.80 79/89 88,8% 0.14 143 Gerúndio 17/19 89,5% 0.45 Tabela 22: Atuação da variável tempo e modo verbais no uso da forma te como acusativo no Rio de Janeiro (te vs. lhe) A Tabela 22 nos revela que, embora a variante te tenha apresentado frequências altas, acima de 87% nos tempos e modos verbais indicados, apenas os presentes do indicativo e do subjuntivo a favoreceram, com 0.64 e 0.80 de peso relativo, respectivamente. Tal resultado diverge do encontrado no confronto entre te e o/a, no qual o infinitivo favoreceu o pronome te; já no confronto agora exposto, essa forma nominal desfavoreceu o clítico te, sendo o lhe mais propício de ocorrer com infinitivo. Todos os dados de lhe com verbos no infinitivo ocorreram em posição préverbal e a maioria foi produzida com o verbo “ver”, como nos exemplos, a seguir. (120) “D’esta vez espero de lhe ver por çá; fiz; e nossa boa Madre São Francisco o possivel para ir até ahi: mas Nosso Senhor não quiz e tivemos que decer em Santos.” [PF-30-03-1921] (121) “De minha parte querido irmão estou cheia de alegria por lhe ver tão contente e feliz (...)” [PF-22-10-1925] Resumindo, na análise das variantes te vs. lhe, a primeira se mostrou favorecida pelas cartas familiares e pelo uso exclusivo de tu na posição de sujeito, ao passo que a segunda foi favorecida pelas cartas pessoais e pelas missivas nas quais se utilizou o tratamento exclusivamente por você na função de sujeito. Em relação às famílias, a probabilidade do clítico lhe ocorrer nas correspondências da família Pedreira Ferraz Magalhães foi maior. Quanto aos tempos e modos verbais, os presentes do indicativo e do subjuntivo favoreceram o clítico te. 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 144 A análise de cartas pessoais cariocas nos permitiu observar a variação entre as formas acusativas de 2ª pessoa do singular ao longo do século 1880-1980. Tendo em vista a referida variação, nos propusemos a responder às seguintes questões: (a) sabendo que o você passou a assumir no PB os mesmos contextos funcionais que tu a partir do século XX, a função acusativa de 2ª pessoa do singular é um contexto de favorecimento a essa forma inovadora ou de resistência à sua utilização? Em outras palavras, a forma você é muito utilizada como complemento acusativo?; (b) que fatores linguísticos e extralinguísticos condicionavam a escolha por uma forma pronominal acusativa em detrimento de outra? As respostas, obtidas ao longo desta dissertação, são retomadas agora nestas considerações finais, através de uma síntese dos resultados encontrados. No que tange ao emprego das variantes acusativas, o clítico te foi majoritário, com 77,8% de frequência. Os clíticos o/a foram a segunda forma mais utilizada (9,2%), seguidos pelo pronome lexical você (6,7%), pelo clítico lhe (4%) e pelo objeto nulo (2,3%). O clítico te foi a estratégia acusativa mais utilizada na função acusativa de 2ª pessoa do singular, independentemente do subsistema de tratamento empregado na posição de sujeito, em todos os tempos e modos verbais, em missivas familiares e amorosas, nas diversas partes da carta (seção inicial, núcleo, despedida e P.S.), em ambos os gêneros, em quase todas as famílias e ao longo de todo o século. Esses resultados nos indicam que a forma te teria se generalizado na referência à 2ª pessoa. A partir da nossa análise, temos fortes evidências para corroborar a hipótese de Cyrino (1992) e de Lopes, Souza & Oliveira (no prelo) a respeito da conversão do clítico te em afixo no PB. Tais indícios são: (i) uso predominante do te frente às outras estratégias, (ii) emprego majoritário do te em posição pré-verbal e (iii) a não utilização de mesóclise com verbos nos futuros do presente e do pretérito. Quanto à forma empregada na posição de sujeito, a predominância do te nos três subsistemas (tu, você, tu~você) nos levou a concluir que houve simetria e quebra na uniformidade de tratamento prevista pela GT. A simetria ocorreu principalmente nas cartas das famílias Cruz (tu-te; você-o/a) e Brandão (você-o/a, você, lhe) e nos três primeiros períodos (1880-1905; 1906-1930; 1931-1955). Já a “assimetria” (vocêsujeito–te-acusativo) se deu, sobretudo, nas missivas das famílias Penna, Land Avellar, Lacerda, Jayme e Maria e no último período (1956-1980). Em relação ao gênero, homens e mulheres quebraram a “uniformidade” de tratamento. 145 Ocorreu mais variação entre as formas acusativas nas cartas com uso exclusivo de você na posição de sujeito, nas missivas pessoais (ou menos familiares), com verbo no gerúndio, no último período (1956-1980), nas correspondências da família Pedreira Ferraz Magalhães (com os três subsistemas na posição de sujeito), no núcleo e na despedida das cartas. No que se refere aos três esquemas analíticos, a saber te/o/a, te/você e te/lhe, o grupo de fatores subgênero da carta se mostrou altamente relevante, uma vez que foi selecionado nas três rodadas em questão. Em todas elas, o clítico te foi favorecido pelas cartas amorosas (te/o/a) ou pelas familiares (te/você e te/lhe), mas nunca pelas cartas pessoais. Estas favoreceram as formas de 3ª pessoa (o/a, você e lhe). Os nossos dados confirmaram, inclusive, que o clítico lhe assume um caráter [+formal] nesse tipo de missiva. Os outros grupos de fatores selecionados foram: Alternância te/o/a: forma na posição de sujeito, posição do item pronominal em relação ao verbo predicador, tempo e modo verbais e período; Alternância te/você: parte da carta e período; Alternância te/lhe: forma na posição de sujeito, família e tempo e modo verbais. Levando em consideração os resultados das pesquisas resenhadas na seção 2.4 e também os aqui encontrados, que demonstraram que as formas disponíveis para representar o acusativo de 2ª pessoa vão além das prescritas pela GT, propomos um quadro dos pronomes pessoais que se aproxime mais da realidade concreta do PB: Pessoa Função sintática verbal Sujeito Objeto direto Objeto indireto 1ª singular eu me me 2ª singular tu, você te, o (a), lhe, você te, lhe, a/para você 3ª singular ele (a) o (a), ele (a) lhe, a ele (a) 1ª plural nós, a gente nos, a gente nos, a/para nós, à gente, para a gente 2ª plural vós, vocês vos, os (as),vocês, vos, lhes, a/para vocês 146 lhes 3ª plural eles (as) os/as, eles (as) lhes, a eles (as), para eles(as) Quadro 5: Situação atual dos pronomes pessoais Por fim, vemos acima que um quadro que melhor dê conta do sistema pronominal vigente no PB deve apresentar as novas formas em uso, sejam as que estão em variação sejam as que compreendem mudanças já consolidadas, sem, contudo, perder de vista as formas antigas. Compartilhamos da opinião de Lopes (2009, p.116) quando a mesma diz que “deixar de apresentar aos alunos o atual sistema em toda sua complexidade é um equívoco, mas não mencionar a existência dos pronomes em desuso seria um equívoco ainda maior”. Assim como a autora, defendemos a “aceitação das consequências geradas pela inserção das novas formas pronominalizadas no quadro geral dos pronomes” (LOPES, 2009, p. 116). 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 147 AITCHISON, Jean. (2012) Diachrony vs Synchrony: the complementary Evolution of Two (Ir)reconcilable Dimensions. In: HERNÀNDEX-CAMPOY; CONDE SILVESTRE. The Handbook of Historical Sociolinguistics. Oxford, Wiley-Blackwell,p. 09-21. ALMEIDA, G. de S. (2009) Quem te viu quem lhe vê: A expressão do objeto acusativo de referência à segunda pessoa na fala de Salvador. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia, Salvador. ALMEIDA, Gilce de Souza. (2011) Prescrição gramatical e uso: o caso do pronome lhe no português brasileiro. In: Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t.3. Rio de Janeiro: CiFEFiL. AMORIM, Daiane Gomes & KANTHACK, Gessilene Silveira. (2010) O objeto indireto nulo no português brasileiro: uma descrição preliminar. In: Anais do IV Seminário de Pesquisa em Estudos Linguísticos, Vitória da Conquista, Bahia. BAGNO, Marcos. (2009) Não é errado falar assim! Em defesa do português brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial. BARBOSA, Afranio Gonçalves. (1999). Para uma História do Português Colonial: Aspectos Lingüísticos em Cartas de Comércio. Tese de Doutorado em Língua Portuguesa – Curso de Pós-graduação em Letras Vernáculas, Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras. __________ . (2005) Tratamento dos Corpora de sincronias passadas da língua portuguesa no Brasil: recortes grafológicos e lingüísticos. In: LOPES, Celia Regina dos Santos (Org.). Norma brasileira em construção: fatos lingüísticos em cartas pessoais do século XIX. Rio de Janeiro: Pós-graduação em Letras Vernáculas/FAPERJ. BARBOSA, Osmar. (1979) Como escrever qualquer carta. Rio de Janeiro: Tecnoprint. BECHARA, Evanildo. (2009) Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. BENVENISTE, Emile. (1988). Problemas de Linguística Geral I. São Paulo: Campinas, Pontes/Editora da Unicamp. BERGS, A. (2012) The Uniformitarian Principle and the Risk of Anachronisms in Language and Social History. In: HERNÀNDEX-CAMPOY; CONDE SILVESTRE. The Handbook of Historical Sociolinguistics. Oxford, Wiley-Blackwell,p.80-98. 148 BRITO,O.R.M. (2001) “Faça o mundo te ouvir”. A uniformidade de tratamento na história do português brasileiro. 180 f. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa) Universidade Estadual de Londrina, Londrina. CAMARA JR., J. M. (1985) História e Estrutura da Língua Portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: Padrão. CAMARGO JUNIOR, Arnaldo Rebello. (2007) A realização do objeto direto em referência ao interlocutor. 98 f. Dissertação de mestrado em letras. Universidade de São Paulo, São Paulo. CANTOS, P. (2012) The Use of Linguistic Corpora for the Study of Linguistic Variation and Change: Types and Computacional Applications. . In: HERNÀNDEXCAMPOY; CONDE SILVESTRE. The Handbook of Historical Sociolinguistics. Oxford, Wiley-Blackwell,p. 99-122. CASTILHO, Ataliba de. (2010) Nova Gramática do português brasileiro. 1. ed. São Paulo: Contexto. CEZARIO, M. M. & VOTRE, S. (2008) Sociolingüística. IN: MARTELOTTA, Mário Eduardo (org.). Manual de lingüística. São Paulo: Editora Contexto. CINTRA, Luis F. Lindley. (1986) Sobre "formas de tratamento" na língua portuguesa. 2. ed. Lisboa: Livros Horizonte (Colecao Horizonte). COMPANY, Concepción. (2008) Gramaticalización, gênero discursivo y otras variables en la difusión del cambio sintáctico. In: KABATEK, Johannes (Ed.) Sintaxis histórica del español y cambio linguístico: Nuevas perspectivas desde las Tradiciones Discursivas.Madrid/Frankfurt:Iberoamericana/Vervuet(=Lingüística Iberoamericana 31), 17-52. CONDE SILVESTRE, Juan Camilo. (2007) Sociolingüística história. Madrid, Gredos. COUTINHO, I. de L. Gramática Histórica. 6. ed. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 1972. CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. (2008) Nova gramática do português contemporâneo. 5. ed. Rio de Janeiro: Lexikon. CYRINO, Sonia Maria Lazzarini. (1992) Observações sobre a aquisição de clíticos no português do Brasil, ms. __________ . (1994) O Objeto nulo no português do Brasil: um estudo sintáticodiacrônico. Tese de Doutorado em Ciências. Campinas, Unicamp. 149 __________ . ; BRITO, Onilda R. M. (2000) A perda (de TU/TE) e a aquisição (de VOCÊ/TE). In: XXIX GEL – GRUPO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, Assis. ms. __________ . (2002) “Complementos nulos em anúncios de jornal do século XIX.” In: ALKMIN,T.M. Para a história do português brasileiro:v.III – Novos estudos. São Paulo: Humanitas; Campinas: UNICAMP. __________ . (2006) Anáfora do complemento nulo na história do português brasileiro. In:LOBO, T; Ribeiro, I.; CARNEIRO,Z.; ALMEIDA, N.(orgs) Para a história do português brasileiro – Volume VI: Novos dados, novas análises. Salvador: EDUFBA DALTO, C.D. de L. (2002) Estudo Sociolinguístico dos pronomes-objeto de primeira e de segundas pessoas nas três capitais do Sul do Brasil. Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos) Universidade Federal do Paraná, Curitiba. DINIZ, Carolina Ribeiro. (2007) Eu te amo você - O redobro de pronomes clíticos sob uma abordagem minimalista. Dissertação (Mestrado em Linguística) Faculdade de Letras de UFMG, Belo Horizonte. DUARTE, Maria Eugênia Lamoglia. (1986) Variação e sintaxe: clítico acusativo, pronome lexical e objeto nulo no português do Brasil. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. __________ . (1989). Clítico acusativo, pronome lexical e categoria vazia no português do Brasil. In: TARALLO, Fernando. (org). Fotografias sociolingüísticas. Campinas (SP): Pontes / UNICAMP. __________ . (1993) Do pronome nulo ao pronome pleno: a trajetória do sujeito no português do Brasil. In: ROBERTS, Ian; KATO, Mary. (Orgs.) Português brasileiro: uma viagem diacrônica. Campinas: Editora da UNICAMP. __________ . (1995) A perda do princípio ‘Evite pronome‘ no português brasileiro. Tese (Doutorado em Linguística) - Curso de Pós-graduação em Linguística. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos de Linguagem, Campinas. DUTRA, Liria Romero. (2003) O clítico acusativo na redação escolar. Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. ELSPASS,S. (2012) The Use of Private Letters and Diaries in Sociolinguistic Investigation. In: HERNÀNDEX-CAMPOY; CONDE SILVESTRE. The Handbook of Historical Sociolinguistics. Oxford, Wiley-Blackwell,p.156-169. 150 FARIA, Ernesto. (1958) Gramática Superior da Língua Latina. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica. FIGUEIREDO, Cristiana. (2009) O objeto direto anafórico: a categoria vazia e o pronome lexical. In: LUCCHESI, Dante; BAXTER, Alan; RIBEIRO, Ilza. (Orgs.) O português afro-brasileiro. Salvador: EDUFBA. FREIRE, Gilson Costa. (2005) A realização do acusativo e do dativo anafóricos de terceira pessoa na escrita brasileira e lusitana. Tese de Doutorado em Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Faculdade de Letras, UFRJ. __________ . (2011) Acusativo e dativo anafóricos de 3ª pessoa na escrita brasileira e lusitana. Revista da ABRALIN, v.10, n.1, p. 11-32, jan./jun. 2011. GOMES, Christina Abreu. (2003) Variação e mudança na expressão do dativo no português brasileiro. In: PAIVA, Maria da Conceição & DUARTE, Maria E. L. (Orgs.) Mudança linguística em tempo real. Rio de Janeiro: Contra Capa. __________ . (2007) Uso variável do dativo em textos jornalísticos. Lingüística, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 7-19, junho. HERNÀNDEX-CAMPOY; CONDE SILVESTRE. (2012) The Handbook of Historical Sociolinguistics. Oxford, Wiley-Blackwell. __________ . ; SCHILLING, N.. (2012) The application of the Quantitative Paradigm to Historical Sociolinguistics: Problems with the Generalizability Principle. In: HERNÀNDEX-CAMPOY; CONDE SILVESTRE. The Handbook of Historical Sociolinguistics. Oxford, Wiley-Blackwell,p.63-79. HOPPER, Paul. J.(1991) One some principles of grammaticization. In: TRAUGOTT, E.C. e HEINE, B. (eds.). Approaches to grammaticalization. Volume I, Philadelphia, John Benjamins Company. HOUAISS (2008) Dicionário eletrônico da língua portuguesa 3.0. HORA, Dermeval da; BALTOR, C. da S. (2007) Estudo variacionista do objeto direto anafórico na falar pessoense. In:CASTILHO, A.T. de; MORAIS, M.A.T.;LOPES, R.E.V;CYRINO,S.M.L. (orgs.) Descrição, história e aquisição do português brasileiro. São Paulo: Fapesp, Campinas: Pontes Editores. ILARI, Rodolfo; BASSO, Renato. (2011) O português da gente: a língua que estudamos a língua que falamos. 2. ed. São Paulo: Contexto. 151 KABATEK, Johannes. (2006). “Tradições discursivas e mudança lingüística”. In: LOBO, Tania et al (orgs.). Para a história do português brasileiro. Volume VI, Salvador: EDUFBA. LABOV, W. (1972) Sociolinguistc Patterns. University of Pennsylvania Press, Philadelphia. __________ . (1994) Principles of Linguistic Change: Internal Factors. Cambridge: Blackwell Publishers, Vol. 1. __________. (2008) Padrões sociolinguísticos. Trad. Marcos Bagno, Maria Marta Pereira Scherre, Caroline Rodrigues Cardoso. -São Paulo, Parábola Editorial. LEHMANN, C. (1985) Grammaticalization: Synchronic Variation and Diachronic Change. In: Lingua e Stile a. XX, 3, 1985, p. 303-318. LEMOS, Renato. (2004) Bem traçadas linhas: a história do Brasil em cartas pessoais. Rio de Janeiro: Bom Texto. LOPES, Célia Regina dos Santos. (1993). Nós e a gente no português falado culto do Brasil. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Letras, UFRJ. __________ . (1999) A inserção de a gente no quadro pronominal do português: percurso histórico. Tese (Doutorado) – Faculdade de Letras, UFRJ. __________ . (2003) A inserção de ‘a gente’ no quadro pronominal do português. Frankfurt/Madri: Vervuert/ Iberoamericana, v.18. __________ . (2008) Retratos da variação entre "você" e "tu" no português do Brasil: sincronia e diacronia. In: Claudia Roncarati; Jussara Abraçado. (Org.). Português Brasileiro II - contato lingüístico, heterogeneidade e história. 1 ed. Niterói: EDUFF, v. 2, p. 55-71. __________ . & DUARTE, Maria Eugênia Lamoglia. (2003). “De “Vossa Mercê” a “Você”: análise da pronominalização de nominais em peças brasileiras e portuguesas setecentistas e oitocentistas”. In: BRANDÃO, S. F. & MOTA, M. A. (orgs.). Análise contrastiva de variedades do português: primeiros estudos. Rio de Janeiro: In-Fólio. __________ . ; MACHADO, A. C. M. (2005) “Tradição e inovação: indícios do sincretismo entre a segunda e a terceira pessoas nas cartas dos avós”. In: LOPES, C. R. dos. S. (Org.) A Norma Brasileira em Construção. Fatos linguísticos em cartas pessoais do século 19. Rio de Janeiro: UFRJ/ Pósgraduação em Letras Vernáculas/FAPERJ. 152 __________ . (2009) Pronomes pessoais. . In: VIEIRA, Silvia Rodrigues; BRANDÃO, Silvia Figueiredo. (Orgs.) Ensino de gramática: descrição e uso. 1.ed. São Paulo: Contexto. __________ . (2009) “Retratos da mudança no sistema pronominal: o tratamento carioca nas primeiras décadas do século XX”. In: Arnaldo Cortina; Silvia Maria Gomes da Conceição Nasser. (Org.). Sujeito e Linguagem: Séries Trilhas Linguísticas. Araraquara: Cultura Acadêmica, v.17, p. 47-74. __________ . (2011) Tradição e mudança no sistema de tratamento do português brasileiro: definindo perfis comportamentais no início do século XX. Alfa: Revista de Linguística (UNESP. São José do Rio Preto. Online)., v.55,p.361-392. __________ . & CAVALCANTE, Sílvia Regina de Oliveira. (2011) “A cronologia do voceamento no português brasileiro: expansão de você-sujeito e retenção do clítico-te”. Revista Linguística, Vol. 25, junho 2011: 30-65. http://www.linguisticalfal.org/25_linguistica_030_065.pdf __________ . ; RUMEU & CARNEIRO (2013) A configuração diatópico-diacrônica do sistema de tratamento do português brasileiro. Revista do Gelne, Vol. 15, Números 1/2. __________ . ; SOUZA & OLIVEIRA (no prelo) A frequência e o delineamento da gramática: a afixação do clítico te no português brasileiro. LUCAS, Elaine Mesquita. (2008) Transitividade variável em verbos monotransitivos e o uso inovador do clítico lhe no português do Brasil. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade de Brasília, Brasília. MACHADO ROCHA, Ricardo. (2011) A reanálise de clíticos redobros como prefixos de concordância em falares mineiros. Anais do SILEL. Volume 2, Número 2. Uberlândia: EDUFU. __________ . (2011) A reanálise dos clíticos me e te em estruturas de redobro pronominal no dialeto mineiro. Caligrama, Belo Horizonte, v.16, n.2, p. 105-129. MACHADO, M. dos S. (1995) Sujeitos pronominais “nós” e “a gente”: variação em dialetos populares do norte fluminense. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Letras, UFRJ. MACHADO, Ana Carolina Morito. (2006) A implementação de "você" no quadro pronominal: as estratégias de referência ao interlocutor em peças teatrais no século XX. Dissertação de Mestrado em Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/ UFRJ, 110 p. Mimeo. 153 __________ . (2008) A implementação de você no quadro pronominal do português brasileiro. Revista do Gel, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 23-47. __________ . (2011) As formas de tratamento nos teatros brasileiro e português dos séculos XIX e XX. Tese de Doutorado em Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/ UFRJ. MARCOTULIO. L. (2008) A preservação das faces e a construção da imagem no discurso político do marquês de Lavradio: as formas de tratamento como estratégias de atenuação da polidez lingüística. Dissertação de Mestrado em Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ. __________ . (2010) Língua e História: o 2 marquês do Lavradio e as estratégias linguísticas da escrita no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Ítaca Comunicações, v. 1. 215p. MARCUSCHI, Luis Antonio. (2000). Gêneros textuais: o que são e como se classificam? Recife: UFPE. MARQUILHAS, M. R. B. (1996) A faculdade das letras: leitura e escrita em Portugal no século XVII. Tese de doutorado. Universidade de Lisboa. MARTELOTTA, M. E. (2011) Gramaticalização e lexicalização. In: _____Mudança Linguística: uma abordagem baseada no uso. São Paulo, Cortez, p.55-89. __________ . (2011) Linguística centrada no uso. In: _____Mudança Linguística: uma abordagem baseada no uso. São Paulo, Cortez, p.55-89. MENON, Odete Pereira da Silva. (1995) Revista Letras, Curitiba: Editora da UFPR, nº 44, p.91-106. MONTEIRO, José Lemos. (1994) Pronomes pessoais: subsídios para uma gramática do português brasileiro. Fortaleza: UFC. NASCENTES, Antenor. (1960) Lheísmo no português do Brasil. In: Letras, Curitiba, 11:108-113. NEVALAINEN,T.; RAUMOLIN-BRUNBERG,H. (2012) Historical Sociolinguistics: Origins, Motivations, and Paradigms. In: HERNÀNDEX-CAMPOY; CONDE SILVESTRE. The Handbook of Historical Sociolinguistics. Oxford, WileyBlackwell,p.22-40. 154 NOVAES, Ana Maria Pires. (2006) Carta: uma leitura bakhtiniana do gênero. In: X Congresso Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada, 2006, Rio de Janeiro. Lugares dos Discursos. Rio de Janeiro: ABRALIC. NUNES, J. J. (1987) Compêndio de Gramática Histórica Portuguesa – fonética e morfologia. 8. ed. Lisboa: Livraria Clássic. OLIVEIRA, Marilza de. (2003) A perda da preposição A e a recategorização de LHE. Comunicação apresentada no GEL, Unitau. OLIVEIRA, Thiago Laurentino de; SOUZA, Camila Duarte de; LOPES, Célia Regina dos Santos. (2011). O tratamento pronominal de 2ª pessoa e as formas alternantes oblíquas: analisando a variação linguística em cartas pessoais dos séculos XIX-XX. Trabalho apresentado no VI Simpósio Internacional de Estudos dos Gêneros Textuais. UFRN, Natal. OMENA, N. P. (1978) Pronome pessoal de terceira pessoa: suas formas variantes em função acusativa. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. __________ . (1986) A referência variável da primeira pessoa do discurso no plural. In: NARO, A. J. et al. Relatório final de pesquisa: projeto subsídios do projeto censo à educação. Rio de Janeiro: UFRJ, n. 2, pp. 286-319. __________ . (2003) A referência à primeira pessoa do plural: variação ou mudança? In: PAIVA, M. da C.; DUARTE, M. E. L. (org.) Mudança linguística em tempo real. Rio de Janeiro: Faperj/Contracapa. PAREDES SILVA, V. L. (1988) Cartas cariocas: a variação do sujeito na escrita informal. Tese de Doutorado. Faculdade de Letras/ UFRJ. PEREIRA, Rachel de Oliveira. (2012) O tratamento em cartas amorosas e familiares da Família Penna: um estudo diacrônico. Dissertação de Mestrado em Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ. PERINI, Mário. Sofrendo a gramática. 3. ed. São Paulo: Ática, 2000. RAMOS, Conceição de Maria Araújo. (1999) O clítico de 3ª pessoa: um estudo comparativo português brasileiro/espanhol peninsular. Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió. ROCHA LIMA, C. H. da. (2011) Gramática normativa da língua portuguesa. 49. ed. Rio de Janeiro: José Olympio. 155 ROMAINE, S. (1982) Socio-Historical Linguistics: its Status and Methodology. Cambridge University Press. New York. __________ . (1988): Historical Sociolinguistics. Problems and Methodology?, em Ammon, U. / Dittmar, N./ Matheier, K. J. (eds.): Sociolinguistics. Vol.II: 1452-1469 (Berlin / New York: Walter de Gruyter). RUMEU, Márcia Cristina de Brito. (2004) Para uma Historia do Português no Brasil: Formas Pronominais e Nominais de Tratamento em Cartas Setecentistas e Oitocentistas. Dissertação de Mestrado em Língua Portuguesa – Curso de Pósgraduação em Letras Vernáculas, Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras. __________ . (2008) A implementação do ‘você’ no português brasileiro oitocentista e novecentista:um estudo de painel. Tese de Doutorado em Língua Portuguesa – Curso de Pós-graduação em Letras Vernáculas, Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras. SAID ALI, M. (1966) Gramática Histórica da Língua Portuguesa. 6. ed. São Paulo: Melhoramentos. SALES, Iraildes Almeida. (2007) Aspectos lingüísticos e sociais no uso dos pronomes em cartas pessoais baianas. 366 f. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. SANTOS, Paula Thays Lima & SOUSA, Valéria Viana. (2010) O comportamento do objeto direto na comunidade rural de Mato Grosso – Rio das Contas/BA. In: Anais do IV Seminário de Pesquisa em Estudos Linguísticos, Vitória da Conquista, Bahia. SCHERRE, Maria Marta Pereira. (1998) Pressupostos teóricos e suporte quantitativo. In: OLIVEIRA e SILVA, G.M. e SCHERRE, M.M.P. (org.) Padrões Sociolinguísticos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. SCHERRE, Maria Marta Pereira; LUCCA, Nívia Naves Garcia; DIAS, Edilene Patrícia Andrade; MARTINS, Carolina Queiroz; GERMANO, Ferreira. (2009). Usos dos pronomes você e tu no português brasileiro, Comunicação apresentada no II SIMELP, Universidade de Évora. SILVA, Érica Nascimento. (2012) Cartas amorosas de 1930: o tratamento e o perfil sociolinguístico de um casal não ilustre. Dissertação de Mestrado em Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ. SOUZA, Janaina Pedreira Fernandes. (2012) Mapeando a entrada do você no quadro pronominal: análise de cartas familiares dos séculos XIX-XX. Dissertação de Mestrado em Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ. 156 SOUZA, Camila Duarte de.; OLIVEIRA, Thiago Laurentino de. (no prelo) A representação da 2ª pessoa nas posições de complemento: o papel da categoria social. TARALLO, F. L. (2007) A pesquisa sociolinguística. 8.ed. São Paulo: Ática. TEYSSIER, Paul. (2001). História da Língua Portuguesa. São Paulo: Martins Fontes. VIEIRA, Silvia Rodrigues. (2009) Colocação Pronominal. In: VIEIRA, Silvia Rodrigues; BRANDÃO, Silvia Figueiredo. (Orgs.) Ensino de gramática: descrição e uso. 1.ed.São Paulo: Contexto. WILLIAMS, E. B. (1994) Do latim ao português: fonologia e morfologia históricas da língua portuguesa. Trad. Antônio Houaiss. 6. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. Sites consultados: http://www.letras.ufrj.br/laborhistorico/ http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/oswaldo-cruz
Download