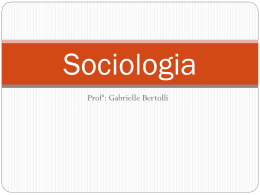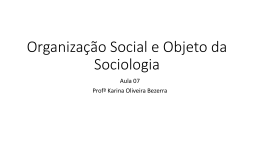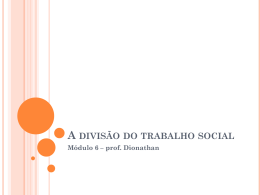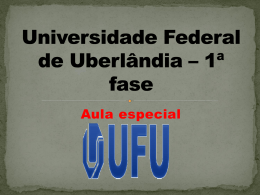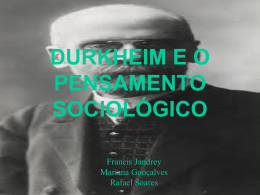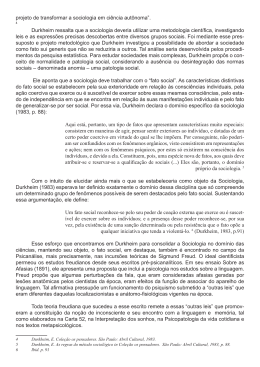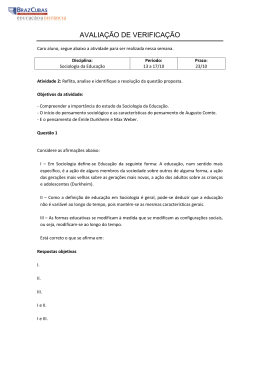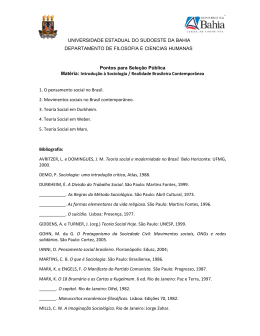e
~~
rf
(,
Sobre o autor
~
Bernard Lahire é professor da École Norrnale Supérieure Lettres et Sciences Humaines e
Diretor do Grupo de Pesquisa sobre Socialização (CNRS / Universidade de Lyon 2). Tem
publicado pela Artmed: Retratos sociológicos: disposições e variações individuais, 2004..
A CULTURA
DOS INDiVíDUOS
BERNARD LAHIRE
_
..
~
I
.DEA
PDEA
...........
........
.~
111I
~
~
o AUTO.
NAO fAÇA CÓP'A
RESPEITE
mmmttfrtêM!
L183c
Lahire, Bernard
A cultura dos indivíduos / Bemard Lahire ;
tradução Fátima Murad. - Pano Alegre: Anmed, 2006.
656 p. ; 25 em.
ISBN 85-363-0593·2
1. Educação - Sociologia. I. Título.
CDU 37.015.4
Catalogação na publicação: Júlia Angst Coelho - CRB 10/1712
w~.q,er
IUPERJ
t
I
I
Data
0
BIBLIOTECA
25.0 ~ . 2oo~.J.
Tradução:
Fátima Murad
Consultoria, supervisão e revisão
t~cnica
desta edição:
Jaqueline Pasuch
Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Professora da Universidade do &tado do Mato Grosso
.,
~
2006
Post-scriptum
Indivíduo esociologia
Eninguém pode detenninar hoje em que terrenos ava~çará ou não avançará a ambição explicativa da sociologia.
C. Bouglé, Biian de la sociotogie française conlemporaine, Félix Alcan, Paris, 1935.
. Nossa consciência se ex1ravia: pois essa consciência, que julgamos ser nosso bem mais intimo,
nada mais é do que apresença de outros em nós. Não podemos nos sentir sós.
l. Pirandello, Une, personne et cent mil/e, Gallimard, L'lmaginaire, Paris, 1982, p. 34.
procedimento utilizado ao longo de
toda a pesquisa e que orientou a rea
lização desta obra repousa em uma
aposta científica, a saber, que o social se forta
leça ao ser captado tanto na escala dos indiví
duos quanto na escala de categorias ou gru
pos. I Mais concretamente ainda, poderíamos
dizer que este livro tentou responder da forma
maís rigorosa e mais sistemática possível, no
terreno das realidades culturais, à seguinte
pergunta: o que se vê do mundo social quando
se olha para ele do ponto de vista dos indiví
duos que o compõem e, mais particularmente,
da variação intra-individual de comportamen
tos? A idéía que consiste em se perguntar o
que fazem (praticam, pensam, apreciam, etc.)
os mesmos indivíduos em diferentes campos ou
subcampos de suas práticas parece simples. Po
rém, ela não é evidente para o sociólogo.
Por razões históricas, a sociologia, desde
suas origens, tem relações complexas com a no
ção de "indivíduo", e pode-se dizer que o a so
ciolo&ia durkheimiana se afirmajustamente pelo
abandono das realidades individuais. Os instru
D
I
1
mentos e os méfodos estatísticos, os procedimen
tos de tipificação, os hábitos ce raciocínio assu
mido~ e transmitidos em tomo de questões de
representatividade, de generalização, de resulta
dos de pesquisa - os quais conduziram à idéia de
que é impossível, desinteressante ou pouco dese
jável para o sociólogo captar o singular, o indivi
.dual ou o particular - reforçaram pouco a pouco
a visão segundo a qual "o social é o coletivo" e,
ao mesmo tempo, a desconfiança em relação a
qualquer "retomo ao indivíduo" (temor de lima
psicologização das relações sociais, de uma re
gressão para um certo atomismo, etc). Para con
vencer completamente da legitimidade de um
ponto de vista de conhecimento, é preciso res
ponder às inquietudes e à série de contra-argu
mentações que ele inevitavelmente suscita. Es
sas foram justamente minhas objeções mais cons
tantes em todas as etapas de reflexão. Se é preci
so vencer resistências, isto implica em boa medi
da travar uma batalha permanente contra as re
sistências coletivas incorporadas. Este post
saiprum procura explicitar essas resistências e
mostrar a importância de vencê-las.
594
BERNARD LAHIRE
ACIÊNCIA DAS VARIAÇÕES MENTAIS
ECOMPORTAMENTAIS
Diferentemente de uma parte das ciên
cias cognitivas que descrevem e analisam fe
nômenos do ponto de vista de sua universali
dade neurobiológica ou psicológica (como di
zia Halbwachs, o que agora se "estuda na or
ganização individual é a espécie"),2 a sociolo
gia - quando não sucumbe à sedução traiçoei
ra do canto das sereias naturalistas - centra
seu interesse, logo de saída, no conjunto das
variações sociais do comportamento e do pen
samento do homo sociologicus, pressupondo a
invariância das grandes características da es
pécie homo sapiens. Assim, ela ancora em con
figurações históricas relativamente singulares
o que poderia ser visto como realidades uni
versais e naturais.
Uma variação consiste rigorosamente em
uma passagem do "mesmo fenômeno" ou da
"mesma realidade" de um estado a outro. De
vemos notar, portanto, que quando se fala da
"mesma realidade" se está postulando a exis
tência de uma invariante ou de um ponto co
mum relativo. A variação supõe sempre uma
modificação de realidades que podem ser de
signadas pelo mesmo termo e, conseqüente
mente, realidades que, para além de suas di
versidades, possuem uma propriedade (ou uma
série de propriedades) comum: variação de
formas do sagrado, de modos de atividade eco
nômica, do fenômeno burocrático ou estatal,
variação de comportamentos morais, etc.
Uma tal variação supõe uma operação de
comparação que consiste em buscar semelhan
ças e diferenças entre uma série de fenômenos
ou entre as diferentes modalidades do mesmo
fenômeno. A sociologia é fundamentalmente
uma ciência da comparação, e poderíamos
dizer que, ao contrário do provérbio que afir
ma que "comparação não é razão", na sociolo
gia "comparação é, em grande parte, razão",
pois é por meio dela que se obtêm os conhe
cimentos mais significativos. É preciso insistir
que na sociologia a comparação não é'um mé
todo como outro qualquer - como poderia fa
A CULTURA DOS INDlviouas
zer crer o fato de se referir a "o método com
parativo" -, mas uma característica essencial
do raciocínio sociológico. Ela pode ser implíci
ta: por exemplo, quando Durkheim estuda o
totemismo australiano, é para compreender
melhor o papel das religiões e do sagrado em
nossas sociedades e ele só pode descrever o
universo mítico das formas elementares da vida
religiosa tomando como referência nossos pró
prios universos culturais. 3 Ela pode também,
evidentemente, ser explícita: é nesse caso que
se evoca o método comparativo, em que dois
objetos - pelo menos - são explicitamente com
parados. Comparar dois fenômenos (por exem
plo, a prisão e o internato) ou dois estados de
um mesmo fenômeno (por exemplo, o Estado
francês no século XIX e no século XX ou o Esta
do espanhol e o Estado francês no século XX),
é colocar os fatos diante do mesmo tribunal,
ou seja, submetê-los aoS" mesmos critérios de
comparação para que se revelem semelhanças
e dessemelhanças.
A interpretação sociológica se estabelece
verdadeiramente quando se começa a formular
e a testar hipóteses sobre as razões cu os princí
pios de uma variação (ou de uma diferença)
observada. Antes de atribuir ao acaso as razões
da variação ("variação livre" ou "aleatória"),
diremos então que os comportamentos variam
de tal maneira (descrição dos diferentes "esta
dos" do fenômeno) "em função de", "segundo"
ou "conforme" tal ou qual fator ou série de fa
tores (explicação): variação de comportamen
tos e de atitudes segundo o sexo, segundo o ní
vel de formação, segundo o meio social, varia
ção de comportamentos de um indivíduo ou de
um grupo segundo a situação social considera
da (privada/pública; na escola/na família, etc.)
e assim por diante. O famoso método das varia
ções concomitantes apregoado por Durkheim
em As regras do método sociológico apenas pro
põe uma maneira - estatisticamente fundamen
tada -, entre outras, de pôr em prática rigoro
samente o método comparativo ou a compreen
são dos princípios que engendram as variações
observadas de comportamento, de gostos, de
opiniões ou de atitudes.
VARIAÇÕES EREALIDADES
MACROSSOCIOLÓGICAS
Assim, para compreender as condutas e
atitudes sociais (econômicas, religiosas, cul
turais, políticas, etc.), o sociólogo dirige seu
olhar classicamente às variações intercivili
zações (por exemplo, formas da religiosidade
no Oriente e no Ocidente ou nas sociedades
tradicionais e nas sociedades industriais), às
variações interépocas (por exemplo, a evolu
ção do sentimento da criança ou da relação
com a morte na França desde a Idade Média),
às variações intersociedades (por exemplo, a
forma variável do capitalismo na Inglaterra e
na França ou na Alemanha, dadas as diferen
ças d~ culturas políticas, religiosas, etc.), às
variações intergru pos e interclasses (por
exemplo, as desigualdades sociais de acesso a
tai categoria de bens ou os usos socialmente
diferenciados de instituições, de bens ou de
obras) ou intercategorias (por exemplo, sexo,
idade, nível de formação, etc.). Ele pode tam
bém dedicar-se a explicar variações intra
grupos ou intracategorias (por exemplo, as di
ferenças homens/mulheres na classe operá
ria; as juventudes populares e burguesas, etc.),
mas raríssimas vezes voltou sua atenção às
variações interindividuais e intra-individuais
normalmente estudada~ em certos setores da
psicologia.
Variações intercivilizações.
interépocas e intersociedades
J
I
As comparaçues e variações de fatos soci
ais intercivilizações, interépocas (históricas) ou
intersociedades eram muito freqüentes nos
primeiros grandes trabalhos da sociologia. Quer
se trate de Max Weber, que maneja com erudi
ção, na sua sociologia das religiões, os dados
disponíveis em sua época sobre o hinduísmo,
o confucionismo, o judaísmo, o cristianismo, o
islamismo ou o budismo e encontra, por exem
plo, uma confirmação do papel desempenha
do pelo ascetismo protestante no desenvolvi-
595
mento do capitalismo na Europa ao estudar o
caso da China, que preenche todas as condi
ções econômicas de um desenvolvimento do
capitalismo, mas que, marcada pelo confu
cionismo, não chega a produzir o tipo de ho
mem que seria suscetível de desenvolver uma
empresa racional de tipo capitalista; quer se
trate de Émile Durkheim, que compara ocasio
nalmente, para as necessidades da compreen
são dos fatos educativos, as sociedades tradicio
nais, as sociedades européias, as sociedades
indianas e egípcias, 4 cobrindo vários séculos
de história do ensino na França, s a sociologia
sempre teve metas interpretativas que vão além
do contexto nacional e contemporâneo, asso
ciando-se assim às preocupações de numero
sos antropólogos e historiadores.
Entretanto, esse tipo de pesquisas, que
requer o dominio erudito de uma grande mas
sa de trabalhos de especialistas, foi abandona
do em larga medida por uma sociologia que é
ao mesmo tempo profissionalizada e padroni
zada. Restringindo o leque de seus métodos
ao tríptico entrevista-aplicação de questioná
rio-observação, os pesquisadores da disciplina
na segunda metade do século XX, na maioria
dos casos, adotaram objetivos muito mais mo
destos e privilegiaram os trabalhos que repou
sam sobre produções de dados originais - e
portanto necessariamente limitados - em de
trimento daqueles que são qualificados pejo
rativamente como "de segunda mão". A atitu
de de estigmatizar aquilo que constituiu uma
parte importante do trabalho dos grandes an
cestrais da disciplina é, ao mesmo tempo,
cientificamente razoável e potencialmente em
pobrecedora a longo prazo. Sem dúvida, o con
trole da produção de dados, fundamental para
o trabalho de interpretação, é incomparavel
mente mais fino e rigoroso quando o próprio
pesquisador concebe o dispositivo de pesqui
sa. Contudo, ninguém teria a pretensão de
questionar radicalmente as reflexões de Max
Weber sobre o processo da racionalização ou
negar em bloco o interesse das sínteses de Elias
sobre o processo histórico de civilização dos
costumes ou de pacificação do espaço social. 6
596
A CULTURA DOS INDIViDUOS
BERNARD LAHIRL
Variações Inlra-sociedad~s:
melo, grupo, classe e calegoria
"Existe, escreve Émile Durkheim, uma
infinidade de fenômenos sociais que se produ
zem em toda a extensão da sociedade, mas que
assumem formas diversas segundo as regiões,
as profissões, as confissões, etc. É o caso, por
exemplo, do crime, do suicídio, da natalidade,
da poupança, etc. Da diversidade desses meios
especiais resultam, para cada uma dessas or
dens de fatos, novas séries de variações, sem
considerar aquelas produzidas pela evolução
histórica."7 No fim do século XIX, o sociólogo
francês desenha de maneira bastante precisa
o programa científico de uma grande parte da
sociologia - e especialmente daquela que ex
trai sua força comprovatória de dados esta
tísticos - ao longo de todo o século XX: um
"mesmo" fenômeno se desdobra conforme uma
série de princípios de diferenciação ou de
variação.
Quando Paul Fauconnet e Marcel Mauss,
ambos portadores ativos da mensagem
durkheimiana, empenham-se em convencer os
não-sociólogos da força do social, eles também
chamam a atenção para as variações inter e
intra-sociedades: "Mesmo sentimentos que pa
recem totalmente espontâneos, como o amor
pelo trabalho, pela poupança, pelo luxo, são,
na realidade, produto da cultura social, pois
eles não existem em certos povos e variam infi
nitamente no interior de uma mesma sociedade,
segundo as camadas da população".8 ,Progres
sivamente, os sociólogos vão se concentrando
no segundo tipo de variJções (internas a uma
determinada sociedade), deixando aos an
tropólogos, na maioria das vezes, o cuidado
de estudar as variações intersociedades ou
intercivilizações, e aos historiadores o de pros
pectar as variações interépocas.
a modelo dessa sociologia das variações
intra-sociedades encontra-se, entre outras, na
obra de Émile Durkheim, a suicídio, publicada
em 1897. a autor estabelece ali 'uma série de
correlações referentes aos dados estatísticos do
suicídio e prova, por exemplo, que a taxa de
suicídio cresce com a idade e o grau de inten
sidade da atividade social, que é mais elevado
nos homens do que nas mulheres, nos protes
tantes do que nos católicos, nos católicos do
que nos judeus, mais forte em Paris do que na
província, no início da semana do que no fim
de semana, etc. 9
Contudo, a variedade de princípios de
diferenciação' será substituída pelo estreita
mento em torno de um princípio central de
variação. De fato, de maneira bastante espon
tânea, quando alguém fala hoje de sociologia
das "diferenças sociais" sem qualquer outra
especificação, está se referindo'implicitamen
te a "diferenças socioeconômicas ou sociocul
turais", a "diferenças entre classes sociais", "cn
tre grupos sociais" ou "entre meios sociais".
Essa maneira de ver articula-se agora, de for
ma ba~tante corriqueira, aos múltiplos usos que
se faz da nomenclatura de categorias sociopro
fissionais do INSEE nas grandes pesquisas na
cionais por questionário e também nas pesqui
sas quantitativas e qu~litativas mais locais.
Poderíamos dizer que, não obstante os dife
rentes deslocamentos do ângulo de ataque das
realidades sociais (dos mais estruturais aos
mais interacionistas, dos mais centrados nos
coletivos aos mais dirigidos às situações, às
interações ou aos indivíduos, etc.), o "social"
ainda é concebido em ampla medida como si
nônimo de "coletivo" ("grupo", "classe",
"meio").
Além disso, visto que a categoria sociopro
fissional é uma variável sintética, la que com
preende um grande número de propriedades
ou traços distintivos (de fato, quem diz "grupo
operário" diz também baixa porcentagem de
mulheres, de bacharéis, etc.), ela é uma das
variáveis independentes mais adequadas, seja
no campo da prática ou da atividade estudada
e, conseqüentemente, uma das mais comu
mente utilizadas. A pesquisa das variações nos
comportamentos e nas atitudes segundo a ori
gem social dos entrevistados é tanto mais sis
temática na medida em que a sociologia se
profissionalizou e banalizou o recurso à ferra
menta estatística.
Poderiamos dizer que a fórmula genérica
que condena essa centralização na variação de
comportamentos em função do meio social de
origem (qualquer que seja a maneira de de
signá-la: classe, fração de classe, meio, grupo,
etc.), e que foi amplamente explorada nos tí
tulos e subtítulos de publicações sociológicas,
é a seguinte: "os usos sociais (ou socialmente
diferenciados) de..." (da escola, do espaço, do
corpo, do tempo, do impresso, da arte, da fo
tografia, etc.).
Esse hábito de pensamento que consiste
em fazer das diferenças entre "meios sociais" a
totalidade das "diferenças sociais" diz muito
sobre a demanda social implícita que pesou e
ainda pesa sobre as ciências sociais (por um
longo tempo associou-se sociologia e socialis
mo), demanda social difusa porém urgente,
ligada aos grandes conflitos sociais entre clas
ses, às tradições sindicais ou políticas operá
rias e mais amplamente populares, às reivin
dicações de direitos sociais e de melhoria das
condições de vida, às concepções marxistas de
um mundo social dividido em classes sociais,
etc., mas também aos objetivos políticos de
clarados das democracias que pretendem re
duzir as desigualdades sociais. Por isso, é im
possível desconectar o princípio de variação
número um na sociologia (assim como na his
tória cultural, social e econô!Ilica durante mui
to tempo) de todo um contexto político-ideo
lógico e de lutas sociais. Roger Chartier fala
inclusive de uma "concepção mutilada do so
cial" na história que, por força de operar cor
tes sociais não questionados (por exemplo eli
te/povo, dominantes/dominados, hierarquias
socioprofissionais ou socioculturais), acabou
deixando de lado outros princípios plenamen
te sociais de diferenciação: o sexo, a geração,
a situação familiar (celibato, viuvez, casamen
to, etc.), a vinculação religiosa, a tradição
educativa ou corporativa, o percurso escolar, a
posição intelectual, etc. l1
Se o uso rotineiro de noções como "clas
ses", "grupos" ou "meios" foi determinado em
ampla medida pelo estágio dos debates ideoló
gicos, é evidente que o abandono progressivo
desses princípios de diferenciação não deixa
de estar ligado à mudança de contexto social
e político, marcado pelo enfraquecimento das
antigas problemáticas. Do mesmo modo, a in
trodução mais sistemática há vários anos de
diferenças sexuais, por exemplo, não deixa de
estar relacionada ao produto dos movimentos
e das lutas feministas e da tomada de cons
ciência pública das diferenças de socialização
597
e de condições de vida entre homens e mulhe
res em nossus sociedades. E poderíamos arti
cular assim variáveis independentes e proble
máticas político-ideológicas: a idade e o mer
cado da '1uventude" ou a invenção da "tercei
ra idade", a origem técnica e os debates sobre
a imigração, etc.
Finalmente, é bastante comum a explora
ção das variações intragrtlpos: as diferenças
homens/mulheres, as diferenças de geração,
as diferenças de vinculação confessional, etc.
em tal grupo social. Às vezes, porém mais rara
mente, o pesquisador explora as diferenças in
terindividuais mais sutis em contextos socioe
conômicos, culturais, regionais e mesmo familia
res bem delimitados, como fez alivier Schwartz
em O mundo privado dos operários: homens e
mulheres do Norte,12 distinguindo os diferen
tes membros das famílias estudadas, ou como
eu mesmo procurei fazer em Sucesso escolar
nos meios populares: razões do improvável 13 , a
propósito das crianças dos meios populares em
situação de 'iêxito" ou de "fracasso" escolar.
oREVÉS SOFRIDO PElAS
VARIAÇÕES INDMDUAIS
Quando se muda o tipo de variação, pro
duzem-se conhecimentos de naturezas diferen
tes e de igual dignidade. Entretanto, em face
da diversidade dos princípios de variação uti
lizados, há uma forte tentação de afirmar, de
maneira categórica e definitiva, qual é o "bom"
princípio de diferenciação, qual é a escala de
observação mais pertinente, o ponto de vista
mais justo, e é assim, aliás, que costumam pro
ceder inconscientemente os pesquisadores em
suas batalhas, visando em última análise con
quistar o monopólio da definição legitima do
bom princípio de variação e da boa escala de
contextualização de comportamentos. Mas o
que se verifica, desse ponto de vista, é que as
variações interindividuais, e mais ainda as va
riações intra-individuais, são excluídas de for
ma bastante generalizada do raciocinio socio
lógico ordinário. Hoje, jamais passaria espon
taneamente pela cabeça de um sociólogo que
as diferenças observáveis nos comportamen
tos ou nas atitudes de dois indivíduos singula
598
ACULTURA DOS INDiVíDUOS
BERNARD LAHIRE
res oriundos do "mesmo" meio social (ou da
mesma família), ou entre uma série de com
portamentos ou de atitudes de um mesmo in
divíduo em situações diferentes (em um plano
diacrônico ou sincrônico), sejam diferenças
passíveis de uma interpretação sociológica,
embora, olhando de perto, dificilmente have
ria um sociólogo que contestasse a pertinência
sociológica desses tipos de variação.
Para compreender o revés sofrido pelas
variações inter e intra-individuais em sociolo
gia, é preciso remontar à sua fundação históri
ca e, particularmente, à vontade durkheimiana
de romper com a psicologia (com um certo tipo
de psicologia de sua época) e de "explicar o
social pelo social". Desse modo, chega-se ao
cerne do problema, isto é, ao estatuto proble
mático de que se investirá o indivíduo nessa
disciplina.
Personificação dos coletivos
e exclusão do indivíduo
"Eis, portanto, uma ordem de fatos que
apresentam caracteristicas muito especiais: eles
consistem em diversas maneiras de agir, de
pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, e
que são dotadas de um podei de coerção em
virtude do qual se impõem a ele [...]",14 escre
ve Durkheim em 1895. Os fatos que interes
sam ao sociólogo são fatos "exteriores ao indi
víduo". Exit, conseqüentemente, o individuo.
Mas onde é que existiriam esses fatos, propria
mente sociais, exteriores ao indivíduo, e que,
para o próprio Durkheim, dão a impressão de
"pairar no are de planar novazio"?lS Em 1908,
o historiador Charles Seignobos coloca a se
guinte questão a Émile Durkheim: "Gostaria
muito de saber que lugar é esse onde a coleti
vidade pensa conscientemente". 16 E inúmeros
sociólogos, de forma quase que automática,
tomam partido de Durkheim contra Seignobos,
o partido do fato social contra O das consciên
cias individuais, o partido da não-consciência
das realidades sociais contra o do motivo cons
ciente das atividades. E, no entanto, faz muito
sentido a questão que o historiador coloca ao
sociólogo: em que a comunidade pensa a não
ser nos indivíduos que a compõem? Se
Durkheim tivesse respondido seriamente e le
vado às últimas conseqüências uma tal ques
tão - o que ele não fará, por julgar que isso
não estava em discussão no momento - ele tal
vez acabasse por reconsiderar seu raciocínio
sociológico sobre o "social", o "coletivo" e o
"individual".
Pois, para chegar à idéia de "exterio
ridade" das maneiras de agir, de pensar e de
sentir em relação ao "indivíduo", tudo depen
de do que se quer dizer com "exteriores ao in
dividuo". Se isso significa "exteriores a cada
individuo particular", ou seja, que preexistem
e sobrevivem a cada indivíduo e que não são
inventados por ele, não se pode deixar de con
cordar com a proposição durkheimiana, expres
sada anteriormente por Marx e posteriormen
te por inúmeros antropólogos ou sociólogos. O
fato é que não se inventa a cada geração a lín
gua, o direito, a moeda, () casamento, etc., isto
é, o conjunto de instituições econômicas, polí
ticas, culturais, religiosas e morais que herda
mos, mesmo sem nos dar conta disso muilas
vezes, e com as quais, queiramos ou não, de
vemos compor. Como escrevia Marx em O 18
Brumário de Louis Bonaparte, "a uadição das
gerações mortas pesa enormemente sobre a
cabeça dos vivos". É preciso acrescentar que,
por preexistir a cada indivíduo particular e
envolver milhares ou milhões de outros in
divíduos passados e presentes, de instituições,
de textos, de coisas, etc., os fatos sociais tam
bém são externos aos indivíduos no sentido em
que estes últimos não podem ter' consciência
deles e conhecê-los espontaneamente. Os
atores comuns só poderão dotar-se de repre
sentações deles - mais ou menos fundamenta
das empiricamente - por meio dos discursos
sobre o mundo social (discúrsos religiosos,
políticos, jornalísticos, filosóficos, literários ou
científicos).l7
Entretanto, se o significado que se pre
tende dar a isso é exteriores "a todos os indiví
duos" ou escreve-se que "as maneiras coletivas
de agir ou de pensar têm uma realidade fora
dos indivíduos, que se conformam a ela a cada
momento", 18 a formulação durkheimiana, sem
que se dê conta, toma-se totalmente metafísica.
Pois se essas maneiras preexistem a cada indi
víduo singular e sobrevívem a ele, é porque
inúmeros indivíduos já são portaullres dessas
maneiras de agir, de pensar e de sentir ao nas
cer e continuarão sendo após sua morte. "As
sim como as crenças e as práticas de sua vida
religiosa, escreve Durkheim, [que] ofiel encon
trou prontas ao nascer; se elas existiam antes
dele é porque elas existiam fora dele. O siste
ma de signos de que me utilizo para expressar
meU pensamento, o sistema de moeda que
emprego para pagar minhas dívidas, os instru
mentos de crédito que utilizo em minhas rela
ções comerciais, as práticas adotadas em mi
nha profissão, etc. funcionam independente
mente dos usos que faço deles. Se tomamos uns
após os outros todos os membros de que é com
posta uma sociedade, o que precede poderá se
repetir a propósito de cada um deles. Trata-se,
portanto, de maneiras de agir, de pensar e de
sentir que apresentam essa notável proprieda
de de existir fora das consciências indivi
duais."19 Do ponto de vista de cada indivíduo
que nasce, é evidente que as coisas existem
antes dele e fora dele. Mas se todas as institui
ções mencionadas funcionam independente
mente dos usos que eu faço delas, elas não exis
tem fora dos usos que fazem milhares de ou
tros além de mim. Se todas as vezes eu consi
derasse as coisas do ponto de vista de cada um
desses outros indivíduos, eu poderia dizer, de
fato, que nenhum deles inventa essas institui
ções ao nascer. Mas se o raciocínio é pertinen
te para cada um dos individuos tomados um a
um, não se pode esquecer também que todas
as vezes o conjunto dos outros individuos é
portador de instituições que supostamente se
impõem do exterior a cada indivíduo particu
lar. Conseqüentemente, não se pode adicionar
tais raciocínios acerca de cada indivíduo sin
gular para deduzir daí que as instituições são
exteriores a todos: ao contrário, elas são sus
tentadas por todos. O social não é logicamente
distinto dos indivíduos, e não vemos onde se
apóia esse "fora dos individuos".
Em muitas ocasiões, Durkheim exprime
a idéia segundo a qual o fato social existe "in
dependentemente das formas individuais que
assume ao se difundir",20 que ele tem "uma
existência própria, indepenckntede suas mani
festações individuais".21 Porém, nesse aspecto
ainda, a fonnulação não deixa de ser proble-
599
mática, pois se podemos afirmar que o fato
social nem sempre é diretamente acessível às
consciências individuais, que às vezes ele não
é desejável para a pessoas em particular ou que
ele não é o produto da agregação de compor
tamentos isolados de entidades autônomas, é
difícil pensar que fato social exista indepen
dentemente dos indivíduos. Ao contrário, os
fatos sociais atravessam sob formas diferentes
uma infinidade de casos individuais. Eles não
são independentes das formas individuais, mas
existem por meio dessas formas individuais que
podemos tanto dessingularizar por medidas
estatísticas 22 quanto singularizar pelo estudo
de caso, pela observação direta de comporta
mentos, etc. O fato social que interessa a
Durkheim - na perspectiva de uma diferencia
ção nítida em relação à psicologia - diz respei
to à realidade desembaraçada, varrida de sin
gularidades individuais, de circunstâncias sin
gulares que estão ligadas a cada caso indivi
duaI. O sociólogo "deve se empenhar em ver
[os fatos sociais] pelo lado em que eles se apre
sentam isolados de suas manifestações indivi
duais".23 E não é casual que Durkheim privile
gie o estudo das instituições e dos fatos que
assumiram a forma mais cristalizada possível,
como "o sistema de regras jurídicas". Porque
são realidades que já sofreram um processo de
despersonalização, de formatação social ob
jetivada, e que podem fazer com que se esque
ça que elas só existem porque há indivíduos
que as utilizam cotidianamente.
Que o social possa ser apreendido nessas.
formas objetivadas, isso é evidente, mas que
se considere que essas formas objetivadas exis
tem fora dos múltiplos usos individuais é um
erro do sociólogo preocupado em não recair
nas explicações psicológicas. O risco de uma
tal sociologia consiste em interpretar direta
mente as formas sociais objetivadas (semiologia
social) sem estudar os usos reais dessas for
mas (sociologia da recepção, da apropriação
ou de usos socialmente diferenciados) e, por
tanto, de cair na sobreinterpretação.
Na luta por fundar e delimitar uma or
dem de fatos especificamente sociais, Durkheim
vai operar de fato um deslocamento metafí
sico que consiste em inventar um novo "ser
psíquico", distinto de cada ser psíquico indi
600
BERNARD LAHIRE
ACULTURA DOS INDiVíDUOS
vidual, e que chamará diversamente de "cons
ciente coletivo", "espírito coletivo" ou "alma
coletiva". Assiste-se então a um duplo mo
vimento: 1) um primeiro movimento de ex
clusão do indivíduo, sustentado pela idéia Qus
ta, mas inadequada) segundo a qual o todo (o
social) é mais (ou não é o mesmo) que a soma
das partes (os individuos); e 2) um segundo
movimento de personificação do coletivo, que
consiste em dotar esse todo de atributos clas
sicamente ligados ao indivíduo: consciente, in
consciente, espírito, alma, etc. Por esse duplo
movimento, ao mesmo tempo em que imagina
demarcar-se fortemente da psicologia e con
quistar uma autonomia, Durkheim faz uma
pesada concessão à psicologia, mostrando que
ainda é obcecado pelo raciocínio sociológico:
1) ele concebe o indivíduo como território so
ciológico por excelência e faz do termo "cole
tivo" um equivalente estrito do termo "social";
2) ele fala de realidades coletivas como se
falaria de um indivíduo singular personifi
cando-as.
EmAs regras do método sociológico (1895),
Durkheim escreve que "agregando-se, pene
trando-se, fundindo-se, as almas individuais dão
origem a um ser; psíquico, se quiser se definir
assim, mas que constitui uma individualidade
psíquica de um novo tipo". E acrescenta em nota
de rodapé: "É nesse sentido e por essas razões
que se pode e que se deve falar de uma cons
ciência coletiva distinta das consciências indivi
duais".24 Do mesmo modo, embora admita sem
objeções que "é bem verdade que a sociedade
não compreende outras forças atuantes como a
dos individuos", Durkheim explicita em O suid
dio (1897): "Somente os indivíduos, ao se uni
rem, formam um ser psíquico de uma nova espé
cie que, conseqüentemente, tem sua própria
maneira de sentir e de agir".2s
Ao formular as coisas dessa maneira,
Durkheim está preocupado principalmente em
definir o objeto próprio à sociologia distinguin
do-o daquele do psicólogo (entre outros):
"Mas, para que a sociologia tenha uma maté
ria que lhe seja própria, é preciso que as idéias
e as ações coletivas sejam diferentes por natu
reza daquelas que têm sua origem na consciên
cia individual e também que sejam regidas por
I
leis especiais."26 Para isso, ele se apóia em um
raciocinio científico plenamente justo que
pode ser resumido em uma fórmula: o todo é
mais do que a soma das partes. ''0 espírito
coletivo nada mais é que um composto cujos
elementos são os espíritos individuais. Mas eles
não estão mecanicamente justapostos e fixados
uns aos outros. Em perpétuo intercâmbio me
diante a troca de símbolos, eles se penetram
mutuamente; agrupam-se segundo suas afini
dades naturais, coordenam-se e sistematizam
se. Desse modo, forma-se um ser psicológico in
teiramente novo e sem igual no mundo".27
Ou ainda:
'VlStO que um todo não é idêntico à soma das
partes, ele é uma outra coisa, cujas proprieda
des diferem daquelas que apresentam as par
tes de que é composto. [...) Em virtude desse
princípio, a sociedade não é uma simples soma
de indivíduos, mas o sistema formado pela sua
associação representa uma realidade especí
fica que tem suas características próprias."28
Com o todo (a configuração social ou o
fato social) não sendo a soma das partes (os
indivíduos considerados separadamente), não
se poderia imaginar que o social fosse redutível
à soma ou à resultante de múltiplas ações e
intenções individuais ou postular que o saber
sobre o todo pressupõe um saber prévio sobre
os elementos que o compõem. Sobre isso,
Durkheim tem plena razão, do mesmo modo
que Elias décadas mais tarde. 29
Porém, ao proceder dessa maneira,
Durkheim, antes de tudo, assume claramente
o risco de personificar o coletivo. Ele não pre
tende sequer defender essa psicologização do
coletivo como uma metáfora ou uma "ficção
cômoda para o espírito" e útil para a constitui
ção do objeto próprio à sociologia. Longe de
qualquer atitude nominalista, ele argumenta
em favor de uma concepção realista desses "se
res": "Essas expressões da língua corrente, a
consciência social, o espírito coletivo, o corpo da
nação, não têm um mero valor verbal, mas
exprimem fatos eminentemente concretos".30
Dizer que existem hábitos, crenças ou senti
mentos compartilhados mais ou menos por
comunidades ou grupos sob o efeito de condi
ções de vida materiais e/ou simbólicas, e/ou
educativas, e/ou morais, e/ou religiosas, etc.
comuns é sociologicamente justo. Mas dizer
que existem hábitos ou crenças que só perten
cem a esse novo "ser psíquico" que é "a socie
dade" ou que a sociedade possui uma "indivi
dualidade psíquica" própria é uma pura e sim
ples personificação metafísica. Do mesmo
modo, Durkheirn personifica a sociedade quan
do escreve: "Para que a sociedade possa tomar
consciência de si e manter, no grau de intensi
dade necessário, o sentimento que ela tem dela
mesma, é preciso que ela se reúna e se concen
tre".3l Pois, para usar os termos adequados, não
tem nenhum sentido dizer que uma sociedade
(uma instituição, um grupo, um coletivo) "toma
consciência dela mesma", assim como é um
absurdo dizer que ela "pensa", que ela tem um
"espírito", uma "alma", "intenções" ou uma
"vontade". Essa maneira durkheimiana de di
zer da sociologia deixará embaraçadas gera
ções inteiras de sociólogos que se perguntarão
se tais consciências existem "realmente" ou não,
se são ideologias ou crenças dominantes im
postas, porém apropriadas de forma distinta
por diferentes categorias, grupos ou mesmo
indivíduos,32 se são representações comparti
lhadas pela maioria, pela "média"33 ou pela
totalidade de indivíduos de um grupo ou, ain
da, se são propriedades relativamente inva
riantes que o sociólogo faz emergir mediante
um trabalho de desindividualização, de des
singularização de representações individuais.
A questão não se coloca somente a propósito
das representações: a realidade de todo fato
social (comportamentos ou representações)
pode ser indagada do mesmo modo.
Quando Marcel Mauss e Paul Fauconnet
escrevem em 1901:
Pudemos observar com muita freqüência que
uma multidão, uma assembléia, não pensava
e não agia como fariam os indivíduos isola
dos; que os agrupamentos mais diversos, uma
familia, uma corporação, uma nação, tinham
um "espírito': um caráter; hábitos como os in
divíduos têm os seus. Por isso, em qualquer
caso, sente-se perfeitamente que o grupo,
multidão ou sociedade tem verdadeiramente
uma natureza própria, que determina nos in
divíduos certas maneiras de sentir, de pensar
e de agiL34
601
eles apenas retomam argumentos tirados
de As regras do método sociológico:
"O grupo pensa, sente, age de uma maneira
muito diferente do que fariam seus membros
se estivessem isolados".35 Para ser mais exato
e evitar a personificação, seria preciso dizer:
"Os membros de um grupo pensam, sentem,
agem de uma maneira muito diferente do que
fariam se vivessem em outros grupos" (pois
não há saída possível do mundo social para
consciências individuais formadas pela convi
vência de diíerentes grupos e instituições que,
nesse sentido, nunca são isolados), ou ainda,
insistindo sobre o peso do contexto de ação
no qual se encontram os indivíduos: "Os mem·
bros de um grupo pensam, sentem, agem de
uma maneira muito diferente na presença ou
no âmbito do grupo do que fazem quando são
separados dele." O sociólogo não tem neces
sidade de aderir ingenuamente a uma concep
ção individualista para fazer a crítica da
reificação-personificação dos coletivos.
Indivíduo: universal demais
ou singular demais
Mas, sobretudo, Durkheim (e os durkhei
mianos depois dele) não se dá conta de que
situa o indivíduo fora do campo de intelecção
da sociologia ao deduzir precipitadamente de
um raciocínio correto um postulado errôneo:
o todo não é a soma de suas partes, o social é
essa realidade específica., prod uto das relações
entre as partes e, portanto, as partes não são
realidades sociais por si mesmas e não são ob
jetos legítimos de reflexão e de estudo para o
sociólogo. Isso precisaria ser demonstrado. O
erro de raciocínio consiste em pensar que a um
objeto (o indivíduo) corresponderia um tipo
de realidade (biológica e/ou psicológica, "or
gânico-psíquica"). Assim, em seu raciocínio,
Durkheim, paradoxalmente, considera o indi
víduo como um ser dessocializado e com isso
confunde "coletivo" e "social" em vez de con
testar a própria idéia de "consciência indivi
dual" desligada de qualquer forma de vida so
cial. Portanto, ele não põe em questão, e inclu
sive legitima, a idéia segundo a qual certas
"idéias" e "ações" teriam "sua origem na cons
602
BERNARD LAHIRE
ciência individual", enquanto que ourras teriam
uma origem coletiva. 36
Seguindo docilmente uma parte dos psi
cólogos de seu tempo, Durkheim costuma de
finir o individuo (mais ou menos explicitamen
te) por sua universalidade biológica e psíqui
ca, às vezes por alguns pendores, instintos ou
inclinações genéricos demais para poder expli
car os fatos sociais, mas não o concebe funda
mentalmente como uma realidade sociologica
mente apreensível enquanto tal. 37 O indivíduo
é reduzido então a uma "natureza humana"
("natureza individual", "constituição psicoló
gica do homem") e a "estados muito gerais" ou
a "predisposições vagas e, por isso, plásticas".38
Sua concepção do "psicológico" é próxima da
quilo que chamaríamos hoje de "biológico" ou
de "genético" e ela se mostra claramente quan
do, ao pretender questionar a explicação pelo
"fator psicológico", ele nos apresenta sua con
cepção do "psicológico" tomando o exemplo,
surpreendente para um leitor atual, da "raça":
Existe, aliás, um meio de isolar quase que com
pletamente o fator psicológico de maneira a
poder determinar a extensão de sua ação, que
é procurar entender de que maneira a raça
afeta a evolução social. De fato, as caracteds
ticas étnicas são da ordem orgânico-psíquica.
Portanto, a vida social deve variar quando elas
variam, se os fenômenos psicológicos têm so
bre a sociedade a eficácia causal que se atei
bui a eles. Porém, não conhecemos nenhum
fenômeno social que esteja sob a dependên
cia incontestada da raça.39 _
Apenas eventualmente vemos despontar
em certas formulações uma concepção do in
divíduo não mais como um ser com caracterís
ticas gerais consideradas na escala da humani
dade ou de um grupo étnico, mas enquanto
ser singular sobre quem o mundo social impri
me sua marca e através do qual se reflete. O
indivíduo não é mais universal, genéríco e plás
tico, mas concreto e singular. Essa outra con
cepção do indivíduo mostra-se assim median
te aquilo que Durkheim diz sobre "manifesta
ções individuais", "estados de consciência in
dividuais". Nesse caso ilustrativo, o sociólogo
deve desembaraçar-se totalmente do caráter
(excessivamente) individual (singular, circuns
tanciado, particular) para que manifeste-se o
A CULTURA DOS INDiVíDUOS
fato social. E é nisso que a supressão estatísti-
ca das particularidades embaraçosas e a abs
tração relativa que supõe todo empenho de es
tabelecer equivalências e de classificar em ca
tegorias fazem a felicidade do sociólogo
durkheimiano: '~sim, há certas correntes de
opinião que nos impulsionam, com uma inten
sidade desigual, conforme as épocas e os paí
ses, um ao casamento, por exemplo, outro ao
suicídio ou a uma natalidade mais ou menos
elevada, etc. Trata-se evidentemente de fatos
sociais. À primeira vista, eles parecem insepa
ráveis dasformas que assumem nos casos parti
culares. Mas a estatística nos fornece o meio de
isolá-los. De fato, eles são representados, não
sem exatidão, pela taxa de natalidade, de
nupcialidade, de suicídios, ou seja, pelo nú
mero que se obtém dividindo a média total
anual de casamentos, de nascimentos, de mor
tes voluntárias pelo de homens em idade de se
casar, de procriar, de se suicidar. Pois, visto que
cada uma dessas cifras compreende todos os
casos particulares indistintamente, as circuns
tâncias individuais que podem ter alguma par
ticipação na produção do fenômeno neutrali
zam-se mutuamente e, como conseqüência,
não contribuem para determiná-lo. O que ele
expressa é um certo estado de alma coletivo.
Eis o que são os fenômenos sociais, desemba
raçados de qualquer elemento estranho. Quan
to às suas manifestações privadas, elas têm al
guma coisa de social, pois reproduzem em
parte um modelo coletivo; mas cada uma de
las depende também, e em grande medida,
da constituição orgânico-psíquica do indivíduo,
das circunstâncias particulares em que ele se
encontra Elas não são, portanto, fenômenos
propriamente sociológicos. Elas têm a ver ao
mesmo tempo com os dois reinos; poderíamos
chamá-Ias de sociopsíquicas. Elas interessam
ao sociólogo sem ser a matéria imediata da
sociologia. 4O
Idéia esrranha essa que consiste em pen
sar que as estatísticas revelam, pela própria abs
tração de circunstâncias singulares a que elas
submetem atos ou representações individuais,
uma "alma coletiva". Durldteim poderia dizer
mais exatamente que todos têm em comum cer
tas propriedades fundamentais e que o conjun
to de circunstâncias, particularidades, proprie
dades secundárias, etc. desaparecem pelo pró
prio ato do registro e da codificação estatística.
Ele não pode apoiar seu raciocínio no aporte
heuristico que a sociologia produzirá mais tar
de procedendo por estudos de caso, entrevistas
ou observações diretas de comportamentos. Ele
situa do lado do não-sociológico tanto uma vaga
ordem "orgânico-psíquica" quanto as "circuns
tâncias", os contextos que hoje seriam conside
rados pelo sociólogo como parte integrante do
social. É como se o social se expressasse por meio
dos indivíduos, mas não fosse dependente de
les, como se utilizasse os individuos como me
ros suportes, à maneira de um organismo com
plexo composto de células.
Seja como for, é essa a perspectiva adota
da por Marcel Mauss, cerca de 30 anos mais
tarde, ao considerar as relações entre psicolo
gia e sociologia:
Por toda parte, em todas as ordens de coisas, o
fato psicológico geral aparece com toda niti
dez porque ele é social; é comum a todos aque
les que participam dele, e, por ser comum, ele se
despoja de variantes individuais. Vocês têm nos
fatos sociais uma espécie de experiência natu
ral de laboratório que faz desaparecer os har
mônicos para deixar apenas, por assim dizer, o
tom puro. 41
Mauss quase chega a falar a linguagem
da categorização e da contagem estatística, abs
trações úteis para revelar variações pertinen
tes em função de determinadas variáveis so
ciológicas. O social é o comum. Portanto, não
existe socia.l na variante individual, no 'parti
cular, no singular, no detalhe. Entretanto, para
parafrasear o belo título de um romance, pode
se dizer que o social reside também nos deta
lhes. O fato social é o que pode ser vivido por
milhares de indivíduos, segundo modalidades
relativamente singulares.
Ao escrever que a religião é "a maneira
de pensar própria ao ser coletivo" e que cons
titui um "vasto conjunto de estados mentais
que não se produziriam se as consciências par
ticulares não estivessem unidas, que resultam
dessa união e que se somaram àqueles que de
rivam de naturezas individuais",42 Durkheim faz
uma enorme concessão à psicologia de sua épo
ca, pois admite que uma "consciência indivi-
603
dual" possa ter um sentido e alguma realidade
fora de qualquer vida social. A uma natureza
individual, que não sabemos por quais proces
sos milagrosos foi gerada, se "somaria" uma
consciência coletiva:
Em cada um de nós, pode-se dizer, existem dois
seres que, por serem inseparáveis a não ser pela
abstração, não deixam de ser distintos. Um é
feito de todos os estados mentais que não se
relacionam a não ser com nós mesmos e com
os acontecimentos de nossa vida pessoal: é o
que se poderi:: chamar de ser individual. O ou
tro é um sistema de idéias, de sentimemos e de
hábitos que exprimem em nós, não nossa per
sonalidade, mas o grupo ou os diferentes gru
pos dos quais fazemos parte; é o caso das cren
ças religiosas, das crenças e práticas morais,
das tradições nacionais ou profissionais, das
opiniões coletivas de todo tipo.Q3
Por essa partição entre dois "seres" ou dois
"grupos de estados de consciência",44 o soció
logo revela uma maneira de pensar que hoje é
vista como uma fraqueza interpretativa. Por
tanto, Durkheim é metafísico não apenas quan
do personifica os grupos, mas também quan
do evoca a consciência individual.
De fato, "sondar" rigorosamente cada
consciência individual (ou, mais precisamen
te, as crenças, os hábitos, as disposições, as
competências, as apetências individuais) faz
com que se encontrem apenas realidades cole
tivamente fundadas e mobilizadas, que os "co
letivos" em questão sejam cada vez mais am
plos e duradouros (espaço nacional, por exem
plO),45 ou que, ao contrário, sejam mais estrei
tos (comunidade conjugal, relação de amiza
de, etc.) e às vezes, inclusive, mais efêmeros
(sociabilidade de férias, conversa casual em um
bar, etc.). O erro de raciocínio de Durkheim46
está ligado de algum modo à analogia inapro
priada que ele utiliza para pensar a relação
entre indivíduo e sociedade. Pois, longe de
poder ser comparada à relação entre uma par
te e seu todo, à imagem do átomo (unidade
elementar, ''indivisível e homogênea", como diz
a definição) e da matéria, a relação entre o
indivíduo e a sociedade é de outra natureza
bem diversa. Se, no entanto, decidíssemos
manter o vocabulário da "parte" e do "todo",
seria preciso pensar uma coisa que não sugere
604
ACYLlURA DOS INDiVíDUOS
605
BERNARD LAHIRE
DE NOMO DIlPLEX A NOMO MIlL nPLEX
Para o sociólogo que analisa a complexidade dos
patrimônios de disposições individuais e as variações
intra-individuais de comportamentos resultantes deles,
certas formulações durkheimianas são bastante su
gestivas. De fato, em um texto intitulado "O dualismo
da natureza humana e suas condições sociais",· que
tem como objetivo explicitar alguns desafios contidos
em As formas elementares da vida religiosa, Émile
Durkheim se pergunta: "De onde vem a idéia, para
retomar uma outra expressão de Pascal, de que so
mos esse 'monstro de contradições' que nunca pode
satisfazer completamente a si mesmo?", e fala do ho
mem como um ser destinado a sofrer permanentemen
te por estar dividido contra si mesmo: "É esse desa·
cordo, essa perpétua divisão contra nós mesmos que
faz, ao mesmo tempo, nossa grandeza e nossa misé·
ria: nossa miséria porque estamos condenados assim
a viver no sofrimento; nossa grandeza também, pois é
com isso que nos singularizamos entre todos os se·
res. O animal avança com prazer em um movimento
unilateral e exclusivo: o homem sozinho é obrigado a
dedicar ao sofrimento um papel em sua vida".
Todavia Durkheim só compreende a variaçãointra
individual de comportamentos e de atitudes, que de
semboca em certos casos em uma luta de si contra si,
como uma "dualidade constitutiva da natureza huma·
na": dualidade entre a alma e o corpo, a razão e a
sensibilidade, o impessoal e o pessoal, o sagrado e o
profano e, em última instância, a consciência social e
a consciência individuaI. "A velha fórmula Homo duplex
verifica-se, portanto, pelos fatos. Longe de sermos simpies, nossa vida interior tem como que um duplo cen
tro de gravidade. Há, de um lado, nossa individualida
de e, mais especificamente, nosso corpo que a sus
tenta; de outro, tudo o que, em nós, expressa algo
diferente de nós mesmos." Não apenas Durkheim ima
gina a questão das contradições individuais sob a for
ma de um "conflito" central ou de uma "contradição
interna" entre duas grandes tendências opostas (homo
dupleXj mais do que de uma pluralidade de disposi
ções (homo pluralis ou multipleXj, como também ad
mite no raciocínio que em cada indivíduo possam existir
disposições (atitudes, pulsões, inclinações, sentimen·
tos, paixões, tendências, etc.) que só teriam a ver com
ele mesmo, enquanto que outras o prenderiam a rea·
lidades sociais impessoais, distinções que não têm es·
tritamente nenhum sentido sociológico: "Existe em nós
um ser que representa tudo em relação a ele, de seu
ponto de vista próprio, e que, em tudo o que faz, tem
como único objetivo ele mesmo. Mas existe também
um outro S9r que conhece as coisas ,sub specie
aetemitatis, como se participasse de um outro pensa·
mento que não o nosso, e que, ao mesmo tempo, em
seus atos, tende a realizar finalidades que vão além
dele", ou ainda: "é bem verdade, portanto, que somos
formados de duas partes e como que de dois seres
que, embora associados, são feitos de elementos muito
diferentes e nos orientam em sentidos opostos".
Admitindo mais ou menos explicitamenle a exis
tênciade disposições que não foram socialmenleCXX1S
tituídas ("Porém, é evidente que paixões e tendências
egoístas decorrem de nossa constituição individual,
enquanto que nossa atividade racional, tanIa teórica
quanto prática, depende estreitamente de causas s0
dais") e reduzindo a questão da pluralidade de dispo
sições sociais incorporadas a uma "dualidade" interior
("nos somos duplos", "nós realizamos uma antinomia",
"a dupla existência que levamos concorrentemente:
uma puramente individual, que tem suas raÍZes em
nosso organismo, a outra social, que nada mais é que
o prolongamento da sociedade") entre dois seres ou
duas consciências, Durkheim retoma por sua conta e
adapta aos seus propósitos a oposição clássica entre
natureza (individual) e cultura (coletiva) e faz desse
conflito central a razão de toda uma série de sofrimen
tos individuais. É a divisão de si (puramente indívi
dual) contra si (produto do social) que está no cerne
da explicação que ele desenvolve. Abrindo a possibi
lidade da existência de disposições ou de inclinações
que não teriam nenhuma origem social (mesmo em
uma expressão ambigua tal como: "varias de nossos
estados mentais, e dos mais essenciais, tém uma 00
gem social", sublinhado por mim), ele toma difícil a
emergência de uma sociologia disposicionalista da
pluralidade de experiências socializadoras.
Pois não é a contradição entre o social e o ínlivi
dual que produz os sofrimentos de que fala Durkheim,
e sim múltiplas contradições possiveis entre os diver
sos produtos heterogêneos de um mundo social diterendado. Como escrevia Maurice Halbwachs em As
causas do suicídio: ' ... J tédio ou desgosto pela exis
tênda prodUZ-59 mais comumente em uma sodeda
de mais complexa, onde as situações individuais mu
dam com mais freqüência e mais rapidez, onde o rit
mo de vida é mais acelerado, onde há mais riscos para
os indivíduos de se sentirem inadaptados em relação
ao seu meio". b Mal-estares ou crises individuais pro
vêm do fato de que cada indivíduo pode ser portador
de uma pluralidade de disposições que nem sempre
encontram os contextos para sua realização (pIurali
dade interna insaciada), pode ser desprovido de lis
posições que lhe permitam fazer lace às múltiplas si·
tuações que se apresentam a ele em um mundo so
cial diferenciado (pIura/idade extema probIemáIica) ou
pode fazer investimentos em diversos âmbitos sociais
(na famOia e no trabalho, no trabalho e nos lazares,
ele.) que se revelam incompatíveis ou contraditórios
(pluralidade de investimentos probIernatíca).<
L ~. DURKHEIM, 't.e dualisme de la nature humaine el se. condiIions sodaIes", SciBntia, XY, 1914, p. 206-221,
b. M. HALBWACHS, Les Causes du suicide, op. cit., p. 12.
c. B. LAHIRE, "De la lhéotte de rhabitus à une sodalogle psychoIogique", in B. lAHlRE (sob a dir.I, Le Trw.oI sodoItJgique do
Piene SourrIeu. Denes el Critiques, op. ci!., p. 121-152.
j:.
verdadeiramente a analogia, a saber, que o todo ções que são apenas o eco 1e fora em nossa
está presente, de forma mais ou menos comple· mente".48 O que Halbwachs explica nos é apre
ta, em cada uma de suas partes e que as partes sentado de forma bastante sugestiva pela es
crita literária de Luigi Pirandello:
não têm uma existência autônoma, isto é, inde
pendentemente e previamente às diferentes
Ficar na companhia de você mesmo, sem uma
formas de vida social que elas constiruem, su
presença estranha? É uma bela solidão, de
cessivamente ou simultaneamente, entre elas.
verdade! ... Pois então, em sua memória, abre
Se o todo (os diferentes mundos, grupos,
se uma pequena janela na qual aparece sorri
subgrupos, instituições que compõem o mundo
dente, entre um vaso de cravos e um vaso de
social) é, sem contestação, mais do que a soma
jasmim, a Titi de cutrora tricotando uma
echarpe de lã vermelha, parecida com a que
das partes (os indivíduos tomados um a um),
se vê no pescoço daquele velho insuportável,
as partes não são, entretanto, de uma nature·
o senhor Giacomino, a quem você esqueceu
za distinta do todo e não podem ser tratadas
de dar - ah, meu Deus! - uma carta de reco
em hipótese nenhuma como se fossem as meno
mendação para o Presidente de Sociedade Be
res unidades indivisíveis. Pois, para Durkheim,
neficente; um bom amigo, mas tão chato, ele
explicar o todo pelas partes é "explicar o com
também, principalmente quando se põe a ta
plexo pelo simples" e "o superior pelo infe
garelar sobre as malandragens de seu se~re
tário particular, que, ontem... não, ontem não,
rior",47 ao passo que a realidade do indivíduo
quando mesmo? anteontem, quando estava
não tem nada de elementar, simples e inferior.
chovendo e a praça parecia um lago, com
Mesmo quando está temporariamente
aquele cintilar de gotas d'água e os alegres
"isolada" (fora de interação direta com pes
matizes de sol... e na corrida, meu Deus! que
soas), a consciência individual só é consciên
caos! o chafariz, a banca de jornal, o bonde
cia porque continua a rrabalhar e a retrabalhar
que chiáva estridente na cu!Va, um cachorro
mentalmente, sob a forma de sonhos acalen
que fugia... Em suma, você foi parar em uma
sala de bilhar e deu de cara bem com o secre·
tados ou de projeções imaginárias, cenas da
tário do presidente da Sociedade Beneficen
vida social (e principalmente diálogos), na qual
te... Oh, esses sorrisos que subiam pelos bigo·
ela se formou, reconduzindo-nos irremediavel
des grisalhos, toda vez que você errava o gol·
mente ao circuito de nossas relações de
pe, em suas espertas carambolas contra o
interdependência passadas. Mesmo o raciocí
amigo Charles, apelidado de 'Lua cheia'. E
nio intelectual mais abstrato, que parece ser
depois? O que aconteceu depois que saiu da
um processo individual autônomo, "reproduz
sala de bilhar? Ah, sim... Sob a luz de um lam
pião, na rua úmida e deserta, um pobre bêba
esquematicamente um verdadeiro debate no
do melancólico tentava cantarolar uma velha
ir.terior de nós mesmos, mas que só é possível
canção napolitana; aquela mesma que, já faz
e que sem dúvida só nos ocorreu porque já
muitos anos, você ouvia cantar, quase todas
debatemos e discutimos com outras pessoas.
as noites, nesse vilarej0 nas montanhas enco
Robinson Crusoé conta que, desde sua chega
lhido sob os castanheiros, onde você tinha ido
da à ilha, ele deliberou sobre o mdo que de~ria
encontrar sua querida Mimi, que depois se
empregar para voltar aos escombros do navio:
casou com o velho comendador Della Venera
e morreu um ano mais tarde ... Querida
'Então, eu convoquei um conselho - quero di
MimiL.. Lá está ela, ali, em uma OUU1! janeli
zer, em meu pensamento - para saber como é
nha que se abre em sua memória••. Ah, sim,
que eu levaria a jangada'. Nossas diversas opi
uma bela maneira de estar só, de verdade!49
niões e nossos pontos de vista apenas aparen·
temente estão encerrados em nossa mente.
O que leva Émile Durkheim a situar cla
Pode-se dizer; ainda de forma metafórica, que
nosso pensamento é muitas vezes como uma
ramente o indivíduo do lado dos objetos da
sala de deliberações onde tomam assento e
biologia ou da psicologia é a idéia segundo a
discutem entre si argumentos, idéias e abstra
qual se poderia fazer dos "estados de consciên
ções que, em grande medida, devemos aos
cia individual" uma "causa determinante" dos
outros: mas são os outros que debatem em nós,
fatos sociais. Ele critica vigorosamente a utili·
que sustentam teses, que formulam proposi·
zação de motivos individuais gerais para expli
606
BEBNARD LAHIRE
car fatos sociais (o sentimento de desejo sexual
não explica a família; o sentimento de religio
sidade não explica as igrejas, etc.).50 Desse
ponto de vista, sua inquietude é inteiramente
fundada e associa-se às reservas de Max Weber
quanto às explicações simplistas do desenvol
vimento do capitalismo por uma informe atra
ção do dinheiro ou uma vaga e geral auri sacra
fames. Mas ele não extrai todas as conseqüên
cias lógicas dessa proposição e tende, por um
lado, a situar todo o social no coletivo e ape
nas no coletivo (uma ordem de fato específi
ca), enquanto que o indivíduo parece ser con
siderado de antemão como um simples elemen
to, um simples componente não passível de ser
estudado como objeto social; e, por outro lado,
a hipostasiar os coletivos tratando-os como qua
se-pessoas. Mas, o fato de existir uma ordem de
fato específica (o social) não deveria levar a
cortar o mundo real em "partes" que depende
riam dessa ordem e em outras que não depen
deriam. Durkheim esquece de fazer o retorno
sociológico - aos indivíduos que são seres ple
namente sociais, produtos do todo (ou melhor,
de diferentes "todOS")51 que eles formaram.
Se Durkheim (e os durkheimianos) con
tribuíram enormemente para a confusão con
ceituai, ainda presente, associada à noção de
"individuo", ele às vezes se aventura um pou
co mais longe, e mais imprudentemente do
ponto de vista do controle das fronteiras disci
plinares, fora dos limites que ele próprio tinha
fixado. Assim, ele escrevia (em 1900), com mais
audácia científica, que "a psicologia também
está destinada a se renovar em parte" sob a
influência da pesquisa sociológica, "pois, se os
fen6menos sociais penetram o indivíduo do
exterior, há todo um campo da consciência in
dividuai que depende em parte de causas so
ciais que a psicologia não pode abstrair sem se
tornar ininteligível";52 ou ainda (em 1908) que
"toda sociologia é uma psicologia, mas uma
psicologia sui generis. Acrescento que essa psi
cologia é destinada, creio, a renovar proble
mas que se colocam atualmente a psiçologia
puramente individual e mesmo, como reação,
a teoria do conhecimento".s3 A sociologia, no
fundo, ''também desemboca em uma psicolo
gia", mas em uma psicologia que Durkheim
julga (em 1909) "mais concreta e complexa do
ACULTUM DOS INDiVíDUOS
_ que aquela que fazem os psicólogos puros"54
de sua época.
Em Da divisão do trabalho social (1893),
Durkheim mostra-se particularmente conquis
tador, continuando a ceder uma parte do ter
reno à psicologia:
Sem dúvida, é uma verdade evidente que não
existe nada na vida social que não esteja nas
consciências individuais; a questão é que qua
se tudo o que se encontra nesta!! últimas vem
da sociedade. A maior parte de nossos estados
de consciência não se teria produzido em seres
isolados e teriam se prodU2ido de uma maneira
bem diferente em seres agrupados de outra
maneira. (...] Produtos da vida em grupo que
só a natureza da vida em grupo pode explicar. 55
Mas é geralmente em passagens de textos
mais curtos (principalmente resenhas críticas de
obras) que o sociólogo revt!1a uma outra manei
ra de considerar o individual e o social, as par
tes e o todo. Assim, comentando em 1885 uma
obra de Ludwig Gumplowicz na Revue phiLoso
phique, o jovem sociólogo escreve de uma ma
neira que pode parecer surpreendente que
o estudo dos fenômenos sociológico-psíquicos
não é [...] um simples anexo da sociologia; é
sua própria substância. Se as guerras, as inva
sões, as lutas de classes têm uma influência
sobre o desenvolvimento das sociedades, é com
a condição de agir primeiro sobre as consciências
individuais. Pois tudo passa por elas, e é delas,
em última análise, que tudo emana. O todo só
pode mudar se as partes mudarem, e na mesma
medida. 56
Paradoxalmente, apenas os sociólogos
que romperam com os levantamentos estatís
ticos e COm as operações de codificação, de
categorização dos individuos ou de seus atos,
opiniões, crenças, etc. podem sentir, dcsde que
reflitam um pouquinho, a ausência de nomina
lismo crítico em Durkheim quando ele opera
uma separação ontológica entre os fatos de
consciência individuais e os falOS de consciên
cia coletivos. Realmente, parece claro para todo
produtor ou todo sociólogo usuário de levan
tamentos estatísticos que as recorrências ou as
invariâncias constatadas dependem de um tra
balho científico de eliminação das singulari-
607
QUAL OBJETO PARA UMA SOCIOLOGIA COGNITIVA?
Não deveríamos ver nessa maneira durkheimiana
de (não) pensar (sociologicamente) o "individuo" algo
original, sem desdobramentos e sem conseqüências.
De lato, não apenas numerosos trabalhos de sociolo
gia atuais repousam implicitamente sobre a idéia de
que o "individuo" (seja sua enorme singularidade, seja
sua problemática universalidade) está fora do campo
de interesse da sociologia, como o mesmo raciocínio
opera-se nas reflexões mais recentes que abordam
explicitamente essas questões. Tomaremos apenas
um exemplo entre outros dessa persistência lembran
do o programa de sociologia cognitiva descrito por
Eviatar Zerubavel.a Para fundar a especificidade da
sociologia cognitiva, o sociólogo norte-americano si
tua sua contribuição em uma posição "intermediária"
entre dois pólos opostos: de um lado, o individualismo
cognitivo (cognitiveindividualism) que se interessa pelo
pensamento de indivíduos singulares, por sua subjeti
vidade, por suas experiências pessoais... e, de outro
lado, o universalismo cognitivo (cognitive universalism)
que estuda os aspectos cognitivos comuns ao conjun
to dos seres humanos. Enquanto o individualismo
cognitivo se interessa pelos "individuas" (individuaIs)
e o universalismo cognitivo pelos "seres humanos"
(human beings), a sociologia cognitiva se interessa pe
los "seres sociais' (soda! beings). Portanto, a sociolo
gia tem como especificidade o estudo dos fatos
cognitivos próprios aos homens como "membros de
comunidades de pensamento" e, desse modo, traz á
tona uma infinidade de diferenças culturais cognitivas
entre um grupo social e outro, entre uma época e ou
tra ou entre uma sociedade e outra.
Uma tal definição poderá parecer "natural" aos olhos
da grande maioria dos sociólogos. E tanto mais natural
na medida em que um dos principais desafios dos soció
logos, hoje, é fazer com que sua voz seja ouvida no
coro bastante unânime das disciplinas (psicologia
cognitiva, neurofisiologia, lingüistica cognitiva,
informática, inteligência artificial, filosofia do espirito,
etc.), tomando como objeto de seu discurso o "Homem"
ou o ''homem em gerar (distinto de outras espécies,
com um cérebro humano, características físicas huma
nas, etc.). Mas o esquema que coloca a sociologia e as
"comunidades de pensamento" (isto ê, as comparações
intergrupos) entre "indivíduos" (isto é, as comparações
interindividuais) e '1-lomem" [Isto é, as comparações
interespécíes) aceita laciIamente, sem dizê-lo, que a
sociologia não pode i1leMr em nenhum dos dois ou
tros níveis de comparação dos quais ela se distingue.
Entretanto, se ê venlade que as ciências sociais têm
pouco a dizer sobre "o homem em geral" (ainda que
certas questões, tais como a divisão sexual dos papéis,
os fenômenos de dominação ou o tabu do incesto, pos
sam ser colocadas na escala do conjunto das socieda
des lunanas, certos autores não hesitam em falar de
fenômenos universais a propósito desses fatos cultu
rais), elas estão longe de ser desprovidas de pertinência
para comjXeender sociologicamente (no sentido am
plo do tenno) os comportamentos de indivíduos singu
lares [lnterprelando-os a partir de sua sociogênese e
do esludo de contextos onde se inserem suas ações e
seus pensamentos) como numerosas biografias exce
lentes ou estudos de caso históricos que provaram en
acte.b Argumentando no sentido de uma diferença en
tre "indivíduos", "seres sociais" e "seres humanos",
Zerubavel diz, sem medir todas as suas conseqüên
cias fi.neslas, que o "indivíduo" não é fundamentalmente
um objeto sociológico. A sociologia "ignora o mundo
pessoal e interior dos indivíduos", ela deve "evitar o es
tritamente pessoal", sem confundir "o impessoal com o
universar: "Enquanto certos aspectos de nosso pensa
mento são, com toda certeza, ou puramente pessoais
ou absolutamente universais, há muitos que não são
nem ~ coisa nem outra". Ao escrever isso, ele pres
supõe que o "estritamente (ou puramente) pessoal" ou
que um "mundo pessoal" poderia existir fora de qual
quer inlluência social e paralelamente a "pensamen
tos" que, por sua vez, seriam "sociais", Mas é exata·
.mente esse tipo de idéias que se deve abandonar cien
tificamente para pensar até o extremo e sistematica
mente corno sociólogo.
No enIanIo, o mesmo autor constata que, em uma
sociedade com uma rigida divisão sociai do trabalho,
caracteriZada por uma grande divisão cognitiva do tra·
balho, "cada um de nós é membro de vãrias comuni
dades de pensamento" e que "considerando que
estamos socialmente situados na intersecção unica
de comunidades de pensamento normalmente sepa
radas, nosso caráter cognitivo também tende a ser
unico". Ou ainda que com "as redes de minhas filiações
pessoais tomando-se mais complexas, minhas lem
branças. por exemplo, se individualizam e tomam-se
inevitavelmente mais pessoais". O mais pessoal (inte·
rior, íntimo, singular, etc.) lIão é, portanto, com toda
lógica, nada mais que o social incorporado, e é a dife
renciação sociaJ dos campos de atividade associados
á pluralidade das influências socíalizadoras ás quais
os individuos estão expostos que explicam o senti
mento de ser um indivíduo unico e de "não ser de modo
nenhum delenninado canpletamente pela sociedade".
_lo
a. E. ZERUBAVEL "The SocioIogy of lhe Mind", Social Mindseapes: An
C<Jgnit;"" SocioIogy, cp. cit., p. 1-22. Todos os
. trechos enados lotam _
por mim.
b. Entre outras obras de l"isIoriadores, podemos citar C. GINZBURG, I.e Nomage elles VetS, cp. cit.; G. lEVI, Le Powoir au
lIiIJage. Histoire crum exorcisle dans Ie Piémont du XVII sióclo, Gallimard, Paris, 1989; J. lE GOFF, Saint Louis, Fayard, Paris, 1996; e
J. CORNETTE, La _
w potNOir. Orner Taton el :e proces de la raison cráat. Fay.ord, Paris, 1998. Assim, Joêl ComeUe escreve
em sua introdução uma coisa que vai llIlÕIIl além de seu belo estudo 00 caso: 'O - . . de Omer TaJon remele a uma indagação mais
geral, que fiz em oWo . . , , - e que se ...feria a um outro tempo: a busca do fthIcllo, visto em suas práticas sociais, profissionais,
institucionais; a 1 . . - de """"Mlr uma história da pessoa po/tlue, através - . 6 _
uma época que a gente descolxe, que se
ooscobre" (op. di., p. 12).
608
ACULTURA OOS INDiVíDUOS
BERNARD LAHIRE
dades, de estabelecimento de equivalências, de
categorização, etc., e que é a partir de declara
ções individuais de práticas, de opiniões, etc.
que se pode apreender tais "fatos sociais".
Embora Durkheim tenha escrito que "os esta
dos da consciência coletiva são de natureza
diferente dos estados da consciência individual"
e que "a mentalidade dos grupos não é a mes
ma dos particulares", S7 é porque a reflexão so
ciológica não seria elaborada então no contato
permanente com o trabalho de pesquisa (es
pecialmente estatística). Somente um tal con
fronto poderia ter levado a tomar consciência
das necessárias agregações de dados, cálculo
de médias, tipificação conceitual, etc. que per
mitem revelar a realidade desses seres ma
crossociais que são as instituições, os grupos,
as classes, as correntes de idéias, etc. Durkheim
utilizava esse vocabulário macrossocial de uma
maneira epistemologicamente realista, que o
impedia de considerar enquanto tal o trabalho
de construção que tais conceitos supõem. Por
tanto, ele não dava muita atenção à "alquimia
social da qualificação, que transforma um caso,
com sua complexidade- e sua opacidade, em
um elemento de uma classe de equivalência,
suscetível de ser designada por um nome co
mum, e integrada enquanto tal a mecanismos
mais amplos".58 O que obriga a ser um pouco
mais nominalista na prática científica é o con
fronto com os dados, com as múltiplas dificul
dades de codificação, de categorização, com a
interpretação nuançada de tendências estatís
ticas que nunca são da ordem de 100%, com a
impressão de forçação (legítima, mas mesmo
assim forçação) que constitui todo ato de
tipificação de culturas, de grupos, de movimen
tos, de fenômenos, com base no conhecimen
to de uma série de dados relativamente com
plexos, etc.
Retornando a cada caso singular depois
de tê-lo desembaraçado de seus aspectos mais
singulares, para as necessidades legítimas da
causa estatística, Durkheim cOl).sidera que o
estado coletivo reflete-se em cada um deles,
mas que essa reflexão não é verdadeiramente
um objeto sociológico: "O que os constitui [os
fatos sociais] são as crenças, as tendências, as
práticas do grupo tomadas coletivamente;
quanto às formas de que se revestem os esta-
I
dos coletivos ao se refletir nos indivíduos, tra
ta-se de coisas de outra espécie,,-s9 Porém, se
Durkheim situa o indivíduo fora do interesse
sociológico, evocando de antemão realidades
macrossociais, é porque ele não se coloca o
problema da acessibilidade metodologica
mente construída a essas realidades. O acesso
a essas realidades supõe processos de totaliza
ção, de categorização ou de tipificação com
base em traços de comportamentos individuais.
É a partir dessas formas "refletidas" do social
que todo sociólogo estuàa o social e não (\ con
trário. Durkheim procede como se fosse possí
vel ter acesso diretamente à inteligência dos
fatos coletivos sem passar por essas "coisas de
outra espécie" que são os "estados coletivos
refletidos". Isso é sinal de que ele ainda pensa
muito como um filósofo social, isto é, como um
erudito que não traduz diretamente seus pro
blemas teóricos em ato~ concretos de pesqui
sa, em maneiras de ter acesso ao real, em tipos
de levantamentos, em pesquisas empíricas de
traços, índices ou indicadores.
Entre o homo rationalis de psicologia su
mária e anti-histórica da eccnomia60 ou do in
dividualismo metodológico na sociologia, que
ainda hoje vêem as categorias macrossocio
lógicas como entidades metafísicas,61 e a ex
clusão do indivíduo por todas as formas implí
citas ou explícitas de "holismo", constata-se que
há um enorme buraco em matéria de constru
ção sociológica do indivíduo.
LUTAR CONTRA CERTOS
HÁBITOS DE PENSAMENTO
Personíficar os coletivos, isto é, dotar os
grupos ou as instituições de propriedades atri
buídas inicialmente aos indivíduos (consciên
cia, pensamento, intenção, vontade, espírito,
etc.) é o melhor meio de desprezar os indiví
duos enquanto produtos sociais. A verdadeira
autonomia da ciência psicológica desejada por
Durkheim passa, portanto, por uma dupla in
versão de perspectiva: 1) o abandono de cate
gorias próprias aos indivíduos para falar de
"coletivos" (rejeição de qualquer personifica
ção); e 2) a constituição do indivíduo como
objeto sociológico legítimo.
Ainda que a personificação dos coletivos
tenha sido amplamente criticada por numero
sos sociólogos e que os casos mais patentes de
personificação sejam evitados atualmente de
forma bastante generalizada,62 o raciocínio
durkheimiano que tentei destrinchar acima tra
duziu-se efetivamente em maneiras de conce
ber e de dar conta das pesquisas sociológicas
em particular na sua dimensão quantitativa
os quais é muito difícil questionar hoje. Contu
do, como escrevia Bachelard, "hábitos intelec
tuais que foram úteis e saudáveis podem, com
o tempo, ser um entrave à pesquisa".63
O esforço de reconstrução de perfis cultu
rais individuais, que está no cerne desta obra,
obriga também a operar um retomo reflexivo
sobre os pressupostos de hábitos intelectuais
que consistem normalmente:
em agregar indivíduos em grupos ou
categorias com base em propriedades
comuns;
- em listar os traços mais freqüentes re
lacionados estatisticamente a essas
categorias ou a esses grupos operan
do triagens cruzadas (pela variável
dita independente, distribui-se a po
pulação envolvida em diferentes clas
ses ou categorias e observam-se os efei
tos dessa distribuição sobre variáveis
ditas dependentes) ou em calcular
médias por categoria/grupo para es
tabelecer em todos os casos as distân
cias intercategorias/grupos;
- em esboçar um retrato ideal-típico do
grupo (e de sua cultura), sob a forma
de '1ma figura individual imaginária,
que nunca existe como tal na realida
de social;
- tal procedimento envolve uma série
de concepções sociológicas prévias que
o uso rotineiro já não pennite mais dis
tinguif6" e que aqueles que abandona
ram de uma vez por todas os esforços
quantitativos não estão mais em con
dições de revelar;
- ele supõe a manutenção de figuras
ideal-típicas e/ou objetos tais como os
grupos, as classes, as categorias, etc.,
todos eles objetos macrossociais cons-
609
_truídos no âmbito de condições cole
tivas e políticas de vida específicas.
Somos levados aqui, em nossas pes
quisas sociológicas mais banais, a com
por com os marcos sociais ou políti
cos de nossa linguagem e descobrimos
que nossos procedimentos cognitivos
mais fundamentais (antes mesmo da
questão da natureza e da pertinência
das categorias utilizadas)65 nos acanto
nam entre as grades de uma jaula.66 É
nos limites desse espaço restrito que
nós, ideólogos, jornalistas, romancistas,
pesquisadores em ciências sociais, pen
samos e nos exprimimos, às vezes nos
debatendo contra as grades dessa jaula;
- ele leva a crer que a sociologia pode
perfeitamente apreender o mundo
social sem ter necessidade de tratar a
questão da base individual desse mun
do. Entretanto, do mesmo modo que,
como diz Marx, "desde o inicio, uma
maldição pesa sobre 'o espírito', a de
ser 'conspurcado' por uma matéria que
apresenta-se aqui sob a forma de ca
madas de ar agitadas, em uma pala
vra, sob a forma da linguagem" (Ideo
logia alemã), uma maldição pesa so
bre o mundo social: a de se apresen
tar fora de seus produtos objetivados
(arquiteturas, móveis, máquinas, fer
ramentas, textos, etc.), sob a forma de
indivíduos que nascem e morrem, que
dispõem de um corpo relativamente
frágil, que são distintos uns dos ou
tros (o que não quer dizer isolados),
que não podem estar em dois lugares
ao mesmo tempo, etc., e que se reve
lam rapidamente bastante singulares
em sociedades altamente diferencia
das quando se alonga o questionário
que permite compará-los;
ele se opera em detrimento da apreen
são da complexidade social (da singu
laridade) dos individuos (e principal
mente de seus patrimônios individuais
de disposições incorporadas) compon
do os grupos ou as categorias. O efei
to último de um tal procedimento con
sistirá, de maneira geral, em oferecer
.610
ACULTURA DOS INDiVíDUOS
BEANAAD LAHIAE
_a imagem de um ator individual per
feitamente coerente e homogêneo.
Porém, um indivíduo, como ser social,
é uma realidade sempre mais comple
xa do que as imagens que o sociólogo,
o historiador ou o antropólogo pro
põem dos grupos, das instituições, das
relações sociais, dos coletivos que eles
formam entre si. Embora não se trate
absolutamente de contestar a legitimi
dade científica da imagem estilizada
ou do quadro simplificador, a imagem
não deve impedir de retomar, em um
dado momento, ao funcionamento do
mundo social com a idéia de que um
indivíduo nunca é "portador" de uma
única propriedade geral, mas que, ao
contrário, ele é o produto de uma infi
nidade de "propriedades gerais", o que
constitui sua complexidade (e sua sino
gularidade), e que é com essa comple
xidade que ele age e interage com ou·
tros indivíduos também complexos (ou
singulares).67
E poderíamos comentar longamente o
conjunto de pressupostos - entre os quais a não
distinção da escala de observação e do nível
de análise do indivíduo ao grupo, do estudo
do caso singular à abordagem estaústica e à
apresentação ideal-típica das disposições e pre
ferências mais freqüentemente ligadas ao
grupo, ou ainda o caráter necessariamente
unitário do estilo de vida ou do conjunto de
práticas, tanto individual como coletivo - ins
crito~ em uma formulação do tipo:
"Uma das funções da noção de habitus é dar
conta da unidade do estilo que une as práti
cas e os bens de um agente singular ou de
uma classe de agentes [...]. O habitus é esse
princípio gerador e unificador que retraduz
as características intrínsecas e relacionais de
uma posição em um estilo de vida unitário,
isto é, um conjunto unitário de escolha de
pessoas, de bens, de práticas."68
Sem reflexão sobre a noção de escala de
observação ou de análise,69 a idéia de sistemati
cidade do habitus pode deslocar-se do estatu
to de intuição científica criadora que busca
melhor das hipóteses, em probabilida
des estatísticas (nem 0% nem 100%),
em proposições categóricas ("todos os
operários, todos os banqueiros, todos
os pequenos comerciantes, etc. são
assim, têm essa propensão..... ou ain
da "Um operário, um banqueiro, um
pequeno comerciante, etc. é assim").
explicar coerências estatíSticas nas práticas e
comportamentos de grupos ou de categorias
para o de evidência não questionada que de
signaria uma característica objetiva dos fun
cionamentos ou dos mecanismos sociocogni
tivos tanto individuais quanto coletivos. Assim,
Luc Boltanski afinnaria em 1975, em um pará
grafo do artigo intitulado "Da sistematicidade
das palavras à coerência do hexis corporal", a
evidência do caráter sistemático do habitus in
dividual dos autores de históriás em quadri
nhos, habitus que se encontraria operante tan
to nos rostos quanto nas palavras, tanto nas
roupas quanto nas obras: "Quanto à aproxima
ção dos discursos e dos rostos (aos quais deve
ríamos acrescentar, se houvesse espaço, as
obras), ele quer chamar a atenção para o cará
ter sistemático do habitus cuja 'obra', no senti
do tradicional do termo, nada mais é do que
um produto entre outro~, e que se realiza tão
bem, às vezes melhor, na infinidade àe 'obras'
objetivas produzidas pela prática cotidiana:
discurso de humor, julgamentos, 'palavras' ou,
ainda, marcas simbólicas inscritas na roupa, na
mímica, nos gestos, no COrpO".70
Os procedimentos estatísticos de estabe
lecimento de equivalência para as necessida
des de codificação, como as operações de cál
culo das médias por categoria ou de tipificação,
desindividualizam os fatos sociais e fornecem
uma versão "desdobrada" (abstraída das sin
gularidades individuais) do social. Contudo, se
consideramos que o mundo social não se apre
senta aos indivíduos (seja interiormente ou
exteriormente) de forma desdobrada e abstra
ta, mas compactada e concreta (em forma de
combinações concretas nuançadas de proprie
dades), e se não queremos repetir o erro for
mulado por Pierre Bourdieu, que consiste em
deslocar-se do modelo da realidade à realida
de do modelo, então podemos tentar, na re
presentação dos fenômenos sociais, conside
rar da forma mais rigorosa possível esse fato.
-
Queiramos ou não, ela conduz soció
logos experientes e profanos aconver
ter progressivamente figuras ideal-tí
picas de culturas de grupos ou de clas
ses, que não fazem mais do que esbo
çar um quadro coerente fundado, 'na
Mais sutilmente, às vezes, interpretam-se
as tendências estatísticas ligadas a grupos ou a
categorias como se fossem tendências dispo
sicionais próprias às pessoas. Quando se diz,
por exemplo, que 52% dos jovens da camada
dos altos funcionários e 66% dos jovens do
meio operário foram a uma festa de feira nos
últimos 12 anos e se comenta esses dados di
zendo que "os jovens do meio operário distin
guem-se antes de tudo por sua tendência a ir
mais aos bailes públicos e às festas de feira",71
muitos leitores pensarão espontaneamente, por
economia interpretativa, em um jovem do meio
operário que estaria voltado para (ocupado,
interessado, envolvido por) a festa de feira e
que se distinguiria de um outro jovem da ca
mada dos altos funcionários muito mais "dota
do". É preciso, entretanto, resistir a esses des
vios interpretativos, pois a verdade dos fatos é
que 52 a cada 100 jovens da camada dos altos
funcionários e 66 a cada 100 do meio operário
são estritamente equivalentes do ponto de vista
da freqüência à festa de feira, e que, inversa
mente, 48 a cada 100 jovens da camada dos
altos funcionários e 33 a cada 100 do meio
operário são estritamente equivalentes sob o
ângulo da não-freqüência à festa de feira. Os
grupos sociais dividem-se em subgrupos de
praticantes, mas não os indivíduos que os com
põem, e não se pode desviar do grupo para o
indivíduo por analogia sem cometer graves er
ros de interpretação.
-
I
Ainda que negligencie a dimensão in
dividual do mundo social, ela é obce
cada pela noção de indivíduo ou de
pessoa, no sentido em que sempre con
fere aos grupos existências quase per
sonificadas (dotando-os de vontade,
de consciência, de intenção, de incons
ciente, de representações ou de cren-
611
ças, termos dedicados originalmente
ao indivíduo, ainda que essas abstra
ções sejam reconstruções-abstrações
científico-políticas) ou no sentido em
que sempre refere-se ao grupo por
meio de exemplificação, isto é, Hus
trando-o com a ajuda de casos indi
viduais, sempre mais ou menos cari
caturais, e necessariamente despoja
dos das singularidades individuais (ou
pelo menos que se consideram inúteis
para a função que devem cumprir nes
ses "casos") em relação àquilo que se
pretende afirmar sobre o grupo.12 Nin
guém duvida que hoje o exemplo
caricatura I, ilustrativo, tomou o lugar
da personificação do coletivo, da figu
ra individual ideal-típica ou do retra
to individual dessingularizado, reves
tindo-se da mesma função que o espí
rito coletivo ou que as "consciências
coletivas" quando o sociólogo não
PÇlde mais se permitir - em razão da
critica científica - personificar os co
letivos.?' O que se faz, portanto, é
subsumir o grupo no caso individual,
em vez de "individualizar" o grupo;
condensar o coletivo na pessoa em vez
de personificar o coletivo. 74 É o grupo
inteiro que se mostra na singularida
de do caso que oferece, por sinédoque,
como a quinta-essência de um estilo
de vida coletivo, de uma cultura, de
uma mentalidade, de uma vÍsão do
munào ou de um habitus de grupo. O
caso é então um modelo exemplar no
sentido em que ele é constituído ao
mesmo tempo como um indivíduo co
mum entre outros que se supõe que
façam parte da mesma série (como na
"reprodução em série") e como um
exemplo particularmente eloqüente
(ideal, perfeito, edificante). O risco
aqui é deslocar-se do caso ideal-típico
ao caso concreto e levar a pensar que
os casos concretos que se apresentam
ao sociólogo entrevistador ou obser
vador se parecem com os exemplares.
Ou então, visto que nem todos os lei
tores da sociologia estão dispostos a
612
BERNARD LAHIRE
acreditar no que se diz, há o grande
risco de se desenvolver uma crítica das
"caricaturas" do mundo social opera
das pelos sociólogos.
Avançando um pouco mais na apreensão
do todo pela parte (o indivíduo testemunhan
do pelo conjunto do grupo), o sociólogo pode,
inclusive, adicionar a pretensão literária de
apreender o todo de um destino ou de uma
personalidade individual a partir de um deta
lhe singular. Por exemplo, em Balzac, o deta
lhe revela o todo, o elemento simboliza o sis
tema, em suma, o sistema está presente em
cada um dos elementos que o constituem,
condensa-se em cada detalhe. Uma casa
subsumirá a fórmula geradora dos comporta
mentos e atitudes do indivíduo que a habita.
O mesmo para os calçados, uma bengala, um
detalhe da roupa: "O detalhe, escreve Maurice
Menard a propósito do estilo balzaquiano, per
mite remontar ao conjunto de um personagem
e mesmo ao conjunto de uma história. A lupa
do pai Grandet tem valor de signo sobre os
costumes do avaro, mas também sobre os cos
tumes do Saumurois e da Restauração na pro
víncia. Os calçados resumem toda a história
dos Chouans, pois os calçados confortáveis de
signam os verdadeiros Chouans e expressam o
apoio dado pela Inglaterra à sua causa. As ben
galas e chibatas de Lucien de Rubempré mar
cam nitidamente as etapas de Ilusões perdidas.
Assim, o romancista pode 'tornar verdade pela
simples amostra' e fazer com que o leitor ado-
te o mesmo procedimento, porque o detalhe
'conduz logicamente ao conjunto', porque as
nuanças mais sutis e as pequenas 'verdades'
são o meio de descobrir 'o conjunto [...) que os
torna solidários"'.75
O próprio Balzac, inspirando-se em
Cuvier, que consegue "remontar" de uma par
te do esqueleto de um animal ao animal intei
ro e classificável, explica que se pode recons
tituir um "individuo classificado" a partir de
um simples detalhe a seu respeito. Mais do que
isso, a apreensão de um personagem pode per
mitir compreender a lógica do conjunto de um
contexto social ou institucional. Assim, ele es
creve em Pai Gariot, a propósíto da "pensão
Vauquer": "[...] toda sua pessoa [a senhora
-4
Vauquer) explica a pensão, assim como a pen
são implica sua pessoa". A senhora Vauquer é
a instituição transformada em mulher, a pen
são inteira encarnada em uma pessoa singular.
RESISTIR AO AR DOS TEMPOS
As evoluções sociológicas dos últimos 15
anos foram marcadas pelo nítido predomínio
do tema do "individualismo" e de sua "ascen
são".76 Assim, Henri Mendras via na França de
hoje uma "desvalorização das grandes institui
ções simbólicas" e uma "ascensão do indivi
dualismo" (e particularmente uma "individuali
zação da cultura"), "o enriquecimento médio
e a difusão da cultura escolar conduzindo os
franceses a querer construir, cada um, sua pró
pria cultura pessoal". Do mesmo modo, Olivier
Galland acredita descobrir uma galopante
"individualização dos costumes e das escolhas
culturais" nas "jovens gerações" ("um sistema
de atitudes que ganhou amplamente os jo
vens"), processo que ele define pelo fato de
querer decidir por si mesmo e unicameue por
si mesmo o que é bom ou mau para si", ou
ainda pelo fato de que a cultura não é mais
''vivida pelos jovens [...] como um capital in
tangível e sagrado que deve ser transmitido de
geração em geração, mas como resultante de
escolhas livremente consentidas que se ajustam
melhor ao humor, às sensações, às emoções dos
indivíduos ou dos grupos". Tolerâncias em re
lação ao homossexualismo, ao divórcio, à eu
tanásia, ao suicidio estariam assim subenten
didas pela "idéia da livre disposição de si mes
mo". Contudo, o autor não parece abalar-se
com a constatação estatística renovada da de
terminação das "escolhas" culturais, tanto dos
jovens como dos menos jovens, pelo meio so
cial e/ou a origem social, o nível de diploma e
o sexo.
Observa-se que o individualismo (ou a
individualização) a que se faz referência pare
ce estar situado às vezes nas práticas e na or
dem objetiva das coisas, e outras vezes nas re
presentações que os atores fazem para si. Mas,
de maneira mais geral, não se percebe verda
deiramente em que nivel- objetivo ou subjeti
vo, prático ou discursivo - aplica-se a análise,
ACULTURA DOS INDlViDUOS
e não é difícil compreender que eventualmen
te uma tal distinção não parece pertinente aos
olhos dos "analistas" do individualismo (as re
presentações objetivas da realidade são con
fundidas então com a própria realidade). As
sim, quando Olivier Galland escreve, a propó
sito da socialização familiar intergeracional,
que "a idéia da livre escolha contribui de facto
para enfraquecer esse modo de transmissão",
ele não se preocupa muito em saber em que
medida uma "idéia" (uma "ideologia", um "dis
curso", uma "representação de si") pode en
fraquecer um "modo de transmissão" (de rela
ções de interdependência interindividuais e de
práticas).
Exeunt os grupos ou as classes e suas cul
turas, as relações de dominação culturais, as
legitimidades culturais relativas, as desigual
dades sociais de acesso à cultura, as institui
ções familiares, escolares e culturais e seu tra
balho de socialização (sobre o qual nos dizem,
em certos casos, que ele "enfraqueceu"), as
transmissões intergerações, as categorias de
percepção e de hierarquização da cultura e os
processos de sua interiorização: o indivíduo,
suas escolhas e a necessidade histórica que ele
tem de "construir por si mesmo" ou de "ser si
mesmo", de ser "livre"]] ou "autônomo" estão
agora no centro do novo discurso sociológico.
A palavra de ordem geral passa a ser então a
necessidade de romper radicalmente com uma
sociologia passada (sendo esta representada
implicita ou explicitamente por Pierre Bour
dieu) que, segundo Amoine Hennion, teria tra
tado o "apreciador" ou o "praticante" de uma
atividade cultural ou artistica como um "'cu/
tural dope' [idiota cultural], que se engana so
bre a natureza do que faz", ou como "o sujeito
passivo de um apego, que sequer conhece suas
verdadeiras determinações, reveladas, apesar
de suas resistências, por impassíveis estatísti
cas". O "apreciador", sustenta Hennion, não é
um "idiota cultural", é um autor, um criador,
um ''virtuoso da experimentação estética, téc
-nica, social, mental, corporal". E, para arrema
tar, julga-se (naturalmente sem oferecer a me
nor prova empírica) que essa sociologia crítica
da cultura, que supostamente vê nos gostos
"apenas o jogo passivo da diferenciação social"
e "a máscara colocada pela cultura sobre a
613
dominação", é agora um senso comum tão di
fundido que é preciso ajudar os entrevistados
a se desfazerem dessa concepção do mundo
social para encontrar o ator tal como ele é, em
uma espécie de autenticidade verdadeira: "Essa
última visão é generalizada atualmente, a ponto
de os próprios apreciadores apresentarem seus
gostos como signos sociais, determinados por
sua origem, que eles sabem relativos, históri
cos, pretextos para rituais diversos - e é para
doxalmente o sociólogo que deve "desso
ciologizar" o apreciador para que ele fale de
seu prazer, do que o prende, das técnicas sur
preendentes que desenvolve para chegar, às
vezes, à felicidade" (A. Hennion.). E nosso so
ciólogo, herói libertador do ator oprimido pela
sociologia clássica, não parece perceber que se
contradiz ao afirmar, por um lado, que é preci
so romper a qualquer custo com a postura crí
tica daquele que não leva suficientemente a
sério as palavras do entrevistado (':Já é hora
de a sociologia levar mais a sério o apreciador,
ou de ter mais respeito por ele") e, por outrO
lado, que é preciso ajudar o entrevistado a se
desembaraçar desse mau senso comum erudi
to que ele supostamente interiorizou. Romper
ou não romper com o senso comum? A respos
ta parece depender dos gostos ou das aversões
do sociólogo que "respeita" o que lhe parece
respeitável e quer ajudar os entrevistados a
romper, corno ele, com essa detestável sociolo
gia crítica.
Se as grandes hipóteses sobre as trans
formações do mundo social em escala de uma
história de longa duração não devem eviden
temente ser banidas do discurso sociológico
(por exemplo, pode-se pensar nos processos
de racionalização, de diferenciação ou de pa
cificação ilustrados por Max Weber, Émile
Durkheim e Norbert Elias), não se pode acei
tar também que certos autores façam das "gran
des idéias" que evocam (ascensão da fragmen
tação, da individualização ou da injunção para
"ser si mesmo") pressupostos da análise que
deveriam explicar os comportamentos, quan
do, na verdade, trata-se de fenômenos que, à
medida que se conseguisse descrever suas mo
dalidades e delimitar seus contornos, também
deveriam ser explicados (quais- são as origens
sociais - econômicas, escolares, familiares, ju
614
BERNARD LAHIRE
ACULTURA DOS INDiVíDUOS
rídicas, religiosas, ideológicas - dessas formas
de individuação ou de individualização?),78
Além disso, embora elas só devessem ser evo
cadas com precaução e apenas para expor e
relacionar os múltiplos resultados de pesqui
sas muito variadas, elas costumam ser apre
sentadas como evidências, como um fundo
natural sobre o qual se destacaria o conjunto
de práticas e de atitudes sociais. Como prova
do uso oscilante desses quadros interpretati
vos, os autores, para legitimar essas "grandes
idéias", apóiam-se mais habitualmente em fi
lósofos ou ensaístas livres de qualquer imposi
ção empírica (Marcel Gauchet, Alain Renaut,
Gilles Lipovetsky, Daniel BeB, Ulrich Beck,
Charles Taylor, etc.) do que sobre os trabalhos
de pesquisadores em ciências sociais (historia
dores, antropólogos ou sociólogos).
Poderíamos dizer sobre o ar dos tempos
sociológicos aquilo que Jacques Le Goff escre
veu a propósito das pesquisas em história:
Os historiadores têm o hábito muitas vezes
irritante de ver nos inúmeros períodos da his
tória a emergência ou a afirmação do indiví
duo. Essa asserção repetitiva acaba por lançar
o descrédito sobre a busca da eclosão do indi
viduo na história. Trata-se, portanto, de um
problema real, que exigiria numerosas, preci
sas e delicadas pesquisas.79
Fora das fronteiras acadêmicas da socio
logia, outros autores têm ainda maior liberda
de de ação e uma língua interpretativa ainda
mais solta que a dos sociólogos e propõem te
ses que não podem deixar insensível o sociólo
go que tenha o mínimo de racionalidade. Po
rém, no universo científico como em qualquer
outra parte, um dos maiores riscos de perda
de lucidez e de liberdade consiste em se deixar
determinar amplamente por seus adversários
em suas escolhas teóricas, seus métodos ou seus
objetos. Segundo uma lógica bem conhecida,
trazida à luz já por Espinosa e~ sua Ética, que
consiste em detestar tudo o que poderia estar
vagamente associado à pessoa que se detesta,
o pesquisador pode jogar fora o bebê junto com
a água do banho e, em decorrência, a questão
legítima das variações intra-individuais e in
terindividuais dos comportamentos sociais com
I
as propostas vagas sobre a ascensão do indivi
dualismo e a rejeição ideológica das concep
ções em termos de classes sociais, a recusa po
lítica de toda idéia de interesse coletivo e a
convicção de que os individuos agora são mais
autônomos, mais livres e que hoje, em nossas
formações sociais, tudo o que há são contratos
interindividuais submetidos a negociações per
manentes.
Assim, poderíamos ser tentados a rejei
tar em bloco todas as questões que estão na
base desse trabalho quando vemos hoje como
certos autores negam a existência de classes
sociais e de desigualdades sociais, apregoando
um individualismo (pós-moderno ou não) e
uma concepção conciliadora do mundo social.
O melhor meio de reforçar suas convicções pri
meiras sobre a legitimidade de tratar a ques
tão do individuo nas ciêQcias sociais consiste
em ler aqueles - filósofos ou autodenominados
"sociólogos de ação" - que opõem o indivíduo,
as faixas etárias ou a massa às classes sociais,
a igualdade às desigualdades e a disseminação
ou a incoerência à e~t.ruturação.
Por exemplo, Gilles Lipovetsky acredita
ver na "situação presente" um "processo de
personalização", "movimento pós-moderno"
que se caracteriza por uma "diminuição da ri
gidez individual e institucional".80 Não apenas
se estaria presenciando "o retraimento progres
sivo das grandes entidades e identidades so
ciais, em proveito não da heterogeneidade dos
seres, mas de uma diversificação atomística
incomparável", como também os próprios in
divíduos estariam em pleno "abandono". Sob
a pluma do filósofo pós-moderno desfilam as
sim as imagens surpreendentes de uma "deses
tabilização acelerada das personalidades", àe
uma "fragmentação disparatada do eu", de uma
"liquefação da identidade rígida do eu", de uma
"desintegração da personalidade", de um "es
facelamento do eu" - que foi "pulverizado em
tendências parciais" e que se torna "um espaço
'flutuante', sem local fixo nem referência, uma
disponibilidade pura" - ou de urna "aniquila
ção dos sistemas organizados e sintéticos". Os
indivíduos que compõem essa nova sociedade,
que se "desagregaram em uma colcha de reta
lhos heteróclita, em uma combinação polimor
fa", são "cada vez mais aleatórios"; eles se apre
sentam sob a forma de "miríades de seres hí
bridos sem um forte vínculo de grupo" cuja
consciência é "total indeterminação e flutua
ção". Em uma tal sociedade submetida a um
"processo de desagregação que fez eclodir a
sociabilidade em um conglomerado de molé
culas personalizadas", não existem mais ver
dadeiramente nem grupos, nem classes (quer
sejam sexuais, de gerações ou sociais) minima
mente estabilizadas. Foi-se o tempo do "fosso
intransponível entre os grupos", terminaram "as
identidades e os papéis sociais, antes estrita
mente definidos, integrados em posições regra
das": agora "o fenômeno social crucial não é
mais o vínculo e o antagonismo de classes, mas
a disseminação do social. Hoje, os desejos iu
dividualistas nos dizem mais que os interesses
de classes".
Paul Yonnet, por sua vez, vê na "massifi
cação" ("a irrupção avassaladora de práticas
de massa na França do pós-guerra") um "fe
nômeno de alcance histórico" que "torna ca
ducas as análises tradicionais da sociologia em
termos de estratificação por classes ou por ca
tegorias socioprofissionais". Também nesse
caso, a rejeição à concepção de uma sociedade
dividida em classes está no centro do pensa
mento do autor, para quem "a sociologia das
classes não domina o fenômeno da massifi
cação: ela não é capaz de explicá-lo, de com
preendê-lo, de integrá-lo em seus esquemas,
em suma, de admiti-lo".81
Nos dois casos, o leitor tem a impressão
de estar lendo atos performáticos de autores,
que confundem seus desejos intelectuais e po
líticos com realidades sociais, em vez de ver
dadeiras análises apoiadas em pesquisas
empíricas. O real é convocado sob a forma de
exemplos falsamente concretos, a serviço de
teses verdadeiramente abstratas e, às vezes,
claramente delirantes. Nessas condições, com
preende-se que seja forte a vontade de jogar
fora o bebê junto com a água do banho.
. Portanto, não é casual que, mantendo-se
afastado das problemáticas e das indagações
sociológicas (com um forte implícito sociopo
lítico) sobre os grupos ou as classes, o próprio
Erving Goffman se sentisse obrigado a explici-
6í S-
tar a pertinência limitada e relativa de suas
reflexões sobre a ordem da interação e os âm
bitos da experiência individual. Nesse campo,
é difícil não ceder às pressões morais e políti
cas implícitas que pesam tanto mais sobre os
pesquisadores (como é o meu caso) à medida
que as interiorizaram:
Eu não me ocupo da estrutura da vida social,
mas da estrutura da experiência individual da
vída social. Pessoalmente, dou prioridade à
sociedade e considero os engajamentos de um
indivíduo como secundários: este trabalho não
trata, portanto, do que é secundário. Ele é su
ficientemente vulnerável no campo em que se
apóia para que não reclamem por ele não abor
dar o que não pretende explorar. [...] Longe
de abordar as diferenças entre classes favore
cidas e classes desfavorecidas, esta análise
parece descartar definitivamente esse tipo de
questão. Eu admito. Mas acrescentaria que
aquele que pretende lutar contra a alienação
e despertar as pessoas para os seus verdadei
ros interesses terá dificuldade para fazê-lo,
porque- o sono é profundo. Minha intenção
aqui não é cantar uma cantiga de ninar para
elas, mas apenas entrar na ponta dos pés para
observar como roncam. 82
APOIOS ECONTRA-APOIOS CIENtíFICOS
É óbvio que as ciências sociais não ofere
ceram apenas e unanimemente pesquisas que
incorporam o conjunto de elementos do racio
cínio descrito ao longo das páginas preceden
tes. Mas não é casual que se descubra justa
mente do lado de uma ciência social menos
teorizante e mais técnica uma grande inventi
vidade metodológica e (implicitamente) teóri
ca - a saber, a sociolingüística variacionista
desenvolvida nos Estados Unidos por William
LaboV. 83
Labov orientou seus trabalhos sociolin
güísticos em oposição à concepção de uma lín
gua e de um social unificados e homogêneos
que encontraríamos na obra de Saussure. Para
ele, a questão da variação é central no estudo
da língua tal como é utilizada por locutores
reais, em contextos reais: variação de compor
tamentos lingüísticos segundo os grupos ou
616
BERNARD lAHIRE
categorias de vínculos (grupos socioculturais,
sexo, faixa etária, etc.), mas também segundo
as situações sociais encontradas pelos mesmos
locutores ou até mesmo, às vezes, em uma
única e mesma produção lingüística de um
determinado locutor, dentro de uma situação
extralingüística relativamente estabilizada. No
prefácio à coletânea de textos de William Labov,
Pierre Encrevé lembrava que, diferentemente
de Noam Chomsky, que homogeneíza os 'Jul
gamentos de gramaticalidade" e recusa "inda
gar-se sobre sua extrema variação em um mes
mo locutor", o sociolingüista leva em conta "os
impactos sobre qualquer subsistema da inser
ção de seus locutores no sistema da comunida
de inteira, em sua divísão: a heterogeneidade
inscrita na estrutura de toda gramática (inclu
sive pretensamente 'idioletal')".B4
Com exceção de seu estudo sobre a ilha
de Martha's Vineyard (na Nova Inglaterra),
onde "os locutores são dados como 'uniesti
10s"',BS William Labov demonstrou, ao longo
de suas pesquisas, o fato de que não existem
"locutores de estilo único". Os estilos variam
em um mesmo locutor de uma situação a ou
tra e especialmente em função de seu grau de
formalidade e de tensão. Quanto mais tensa e
formal é a situação, mais o locutor tenta se
conformar ao estilo (registro léxico e sintático,
pronúncia) mais legítimo. Naturalmente, os
locutores se diferenciam conforme possuam um
leque mais ou menos amplo de estilos lingüís
ticos à sua disposição, mas todos conhecem
variações significativas de suas produções lin
güísticas:
"Por tildo o que sabemos, não existem locuto
res de estilo único. Alguns entrevistados reve
lam um campo de alternância lingüística mais
amplo que outros, mas em todos eles encontra
mos certas variáveis lingüísticas que mudam à
medida que o contexto social e o tema se modi
ficam."B6
Ou ainda, como obserVa Pierre Encrevé:
'~ variação inerente é a heterogeneidade ins
talada no cerne de todo dialeto próprio, de todo
sistema lingüístico. Era isso o que mostrava a
pesquisa em Nova York quando cada classe, em
cada estilo, se caracterizava para esta ou aque
A CULTURA DOS INDIViDUOS
la variante por uma freqüência que não em ca
tegórica (nem 0% nem 100%). Labov observa
va também que as classes não se definiam por
uma diferença no sistema de unidades emprega
das, mas pela freqüência de aparição dessas uni
dades nos diferentes estiloS".B7
O estudo variacionista de Nicolas Cou
pland B8 mostra inclusive, de maneira muito
sutil, como a diversidade dos microcontextos
dentro de uma mesma situação está na origem
de variações nos comportamentos lingüísticos
de um mesmo locutor. O sociolingüista grava
as conversas prnfissionais de uma mulher jo
vem (Sue) durante toda uma jornada de traba
lho. Sue é funcionária de uma agência de turis
mo de Cardiff. Retendo cinco variáveis fonéti
cas não-standard do inglês de Cardiff [suprimi
o que está entre parênteses], Coupland mostra
que as variantes utilizadas são mais ou menos
standard ou não-standàrd em função do canal
de mensagem (telefone versus face a face), do
status dos interlocutores (amigos/clientes/pro
fissionais do turismo) e do tema da discussão
(relacionado com o trabalho/não-relacionado
com o trabalho). O comportamento lingüístico
de Sue não é determinado por uma situação
global, mas, mesmo no interior de uma situa
ção relativamente delimitada, a seleção de va
riáveis está em constante flutuação.
Mesmo quando os locutores parecem par
ticularmente marcados por um vernáculo (dia
leto praticado entre iguais), o uniestilo pode
ser a exceção que confirma a regra (pluriesti
los). O caso do VNA (vernáculo negro-ameri
cano), estudado exaustivamente por~ William
Labov,B9 representa um caso limite: os jovens
negros do gueto de Nova York (pertencentes
às frações de classe mais dominadas economica
e culturalmente), cujas condutas lingüísticas ele
estuda, caracterizam-se mais que outros - dada
a heterogeneidade de suas condições de exis
tência e de coexistência - por um uniestilo (o
vernáculo) e sua adaptação às situações fora
da comunidade pode reduzir-se a uma destrui
ção parcial (linguagem pobre, entrecortada,
etc.) ou total (silêncio) de suas habilidades lin
güísticas ordinárias. Dominando bem apenas
um estilo, eles às vezes não têm outra saída a
não ser o silêncio nas situações mais tensas.
Estamos diante do uniestilo do mais "caren
te", do estilo único daquele que - por força da
exclusão e da segregação - teve pouca oportu
nidade de freqüentar outros meios sociocultu
rais fora aquele onde constituiu seu vernácu
lo. Vemos como há uma grande proximidade
em relação à análise dos perfis culturais indi
viduais mais consonantes.
Contudo, mesmo no caso ilustrativo em
que Labov conseguiu de algum modo neutrali
zar naturalmente (versus experimentalmente)
fatores que procurava fazer variar em suas pes
quisas anteriores (grupo social, idade, origem
étnica, etc.), "o domínio materno de estrutu
ras heterogêneas" não é uma questão de "co
nhecimento de vários dialetos", mas "faz parte
da competência lingüística do indivíduo unilín
güe".90 Labov inclusive acrescenta: "Nós sus
tentamos que a ausência de permutas estilís
ticas e de sistemas de comunicação estrati
ficados é que seria disfuncional."91 Seja no ní
vel do grupo ou da categoria (mesmo quando
eles alcançaram o máximo de homogeneidade)
ou no nível do indivíduo, a variação é observá
vel e explica-se essencialmente pela pluralidade
de contextos lingüísticos nos quais os locuto
res foram socializados ao longo de seu passa
do e que são levados a freqüentar ao longo de
suas múltiplas interações. Portanto, a variação
intra-individual tem origens sociais: a heteroge
neidade das condições passadas de socializa
ção lingüística e a pluralidade de contextos de
atualização lingüística presentes. O locutor (es
tatisticamente mais freqüente) pluriestilos é o
produto em estado incorporado 1) da diferen
ciação social de estilos (que remete de manei
ra mais geral à diferenciação social das condi
ções) e 2) do convívio individual com uma
pluralidade de estilos ao longo das diversas
etapas de socialização (uma sociedade forte
mente diferenciada, mas que fechasse em si
mesmos os diferentes grupos ou subgrupos não
tornaria possíveis as influências lingüísticas
pluriestilos). Portanto, não é casual que o soció
logo norte-americano Paul DiMaggio se refe
risse aos trabalhos sobre o bilingüismo para
evocar as passagens de um registro cultural a
outro em função das interações: "Do mesmo
modo que os estudantes bilíngües que mudam
617
de código (code-switch) quando passam da rua
à sala de aula (Gumperz, 1982, p. 38-99), os
adultos da classe média aprendem a 'mudar
de cultura' (culture-switch) quando passam de
um meio a outro. Tais indivíduos dominam uma
variedade de gostos, como sugerem as entre
vistas, mas - e nisto está a chave do problema
- eles os desenvolvem seletivamente em dife
rentes interações e em diferentes contextos.
(Um pai pertencente às frações superiores da
classe operária, com uma esposa empregada
de escritório, deve ter conhecimentos em ma
téria de esportes e de rock, discutir política e
alimentação natural com os amigos de sua mu
lher e inculcar em sua filha ou em seu filho
uma admiração por Brahms e Picasso)".92
É o interesse sociológico desse tipo de
variações que tento mostrar no âmbito de uma
sociologia da pluralidade disposicional (a so
cialização passada é mais ou menos heterogê
nea e dá lugar a disposições heterogêneas e às
vezes, inclusive, contraditórias) e contextual
(os contextos de atualização das disposições
são variados). Assim, o ator individual não põe
em prática invariavelmente, transcontextual
mente, o mesmo sistema de disposições (ou
habitus), mas podemos observar mecanismos
mais sutis de vigJ.1ia./ação ou de inibição/ativa
ção de disposições que supõem, evidentemen
te, que cada indivíduo seja portador de uma
pluralidade de disposições e atravesse uma
pluralidade de contextos sociais. O que deter
mina a ativação de tal disposição em tal con
texto é então proàuto da interação entre rela
ções de força interna e externa: relações de
força entre disposições mais ou menos forte
mente constituídas ao longo da socialização
passada (interna) e relações de força entre ele
mentos (características objetivas da situação,
que podem estar associadas a pessoas diferen
tes) do contexto que pesam mais ou menos
sobre o ator (externo).
O determinismo sociológico não é redutí
vel ao determinismo pelo "meio social", que
sempre mantém uma parte dos comportamen
tos inexplicada (ou indeterminada) porque o
"social" não é exatamente o sinônimo perfeito
de "classe social" ou de "grupo social", e por
que as "diferenças sociais" não são apenas di
618
BERNARD LAHIRE
ferenças entre "grupos" ou "classes". O verda
deiro determinismo sociológico, muito mais
sutil, põe em jogo o social incorporado (indiví
duos que foram socializados diferentemente
como meninas ou meninos, filhos de operários
ou de burgueses, pertencentes a um meio fa
miliar protestante, católico ou muçulmano,
filhos únicos ou com muitos irmãos, etc.) e os
contextos relacionais, práticos e institucionais
no interior dos quais o social incorporado é
levado a atualizar-se. Em suma, em vez da vi
são simplista de um determinismo massivo pela
classe social de origem, que é impotente para
explicar tudo e dá motivos aos amantes da li
berdade sem apego nem raiz para resistir à
idéia de determinismo, é preciso pensar em
uma trama de disposições e de condições variá
veis de suas aplicações que determine a cada
momento cada indivíduo relativamente singu
lar (singular por razões sociais). Se as pesqui
sas realizadas junto a grandes populações per
mitem oferecer uma imagem simplificada des
ses determinismos verificando, mediante tria
gens cruzadas, que os comportamentos jamais
se distribuem aleatoriamente segundo as con
dições sociais associadas a uma faixa etária, a
um sexo, a uma posição ou origem social, a
um nível de diploma, etc., é preciso estar em
condições de pensar a complexidade de deter
minismos que agem a cada instante como for
ças invisíveis, quase sempre imperceptíveis por
aqueles sobre os quais elas se exercem. Eviden
temente, esses múltiplos determinismos con
jugados não transformam indivíduos socializa
dos em "idiotas culturais" ou em "seres passi
vos", como repetem incansavelmente os deten
tores de uma certa "liberdade de ator". Como
se, por ser determinado socialmente, o indiví
duo fosse simplesmente uma superfície passi
va de registro de estruturas sociais, um servil
portador de estruturas.
Nota-se que essa sociologia é indissocia
velmente disposiciona/ista e contextualista e
que, ao mesmo tempo, distingue-se das socio
logias que desprezam os contextos' (e suas va
riações) explicando tudo pela cultura, pela
mentalidade, pelo código de comportamento
ou pelo sistema de disposições de que seriam
portadores os indivíduos, e das sociologias que,
A CULTURA OOS INDiVíDUOS
inversamente, colocam toda a explicação do
lado dos contextos, de suas estruturas, de suas
affordances (James J. Gibson) ,93 de suas regras
ou de suas convenções. 94
Mas essa reflexão sociológica (ao mesmo
tempo epistemológica, teórica e metodológica)
encontra ecos e apoios 95 também do lado de
uma parte das pesquisas psicológicas. Embora
os diferentes ramos da psicologia tenham como
ponto comum pelo menos o fato de considerar
o indivíduo como um objeto pertÚlente e legi
timo, não se deveria tomar Durkheim muito
ao pé da letra quando ele situa o indivíduo e
suas características universais do lado da psi
cologia. A própria psicologia está dividida (ou
pelo menos àiverge) sob o ângulo do tratamen
to científico do indivíduo. A uma psicologia que
se interessa acima de tudo pelas estruturas
cognitivas, perceptivas, comportamentais, etc.
universais do homem - ir qual, dessa forma,
faz das variabilidades interindividuais e intra
individuais (exceto aquelas que, dentro de uma
mesma espécie humana, dizem respeito ao de
senvolvimento ontogenético e ao envelheci
mento ou às diferer.tes formas de patologia)
uma realidade a desprezar e a neutralizar a
fim de trazer à luz "princípios essenciais" ou
"leis gerais" do comportamento e da cognição
- opõe-se nitidamente tanto uma psicologia
crítica que trata de casos particulares e con
cretos de maneira casuistica quanto uma psi
cologia diferencial que faz dessas variações seu
principal objeto de estudo. 96
É realmente difícil para o sociólogo não
ver algum parentesco intelectual com a maneira
como certos psicólogos falam hoje do indiví
duo, da pluralidade de seus recursos cognitivos
ou de seus traços disposicionais (entre os quais
atuam fenômenos de vicariância), da coesão
muito relativa de sua conduta e das restrições
situacionais mais ou menos fortes que enfren
ta: "Portanto, o modelo do funcionamento do
indivíduo pode ser concebido como um siste
ma dotado de uma pluralidade de recursos, em
parte vicariantes, cuja utilização não é inteira
mente especificada a priori, mas, em boa me
dida, canalizada pelas restrições a que esse sis
tema está submetido. [...] Pode-se identificar,
para cada uma dessas atividades cognitivas,
vários processos vicariantes, mostrar que 05
recursos a este ou àquele dependem, ao mes
mo tempo, da existência de preferências indi
viduais e de restrições da situação e, finalmen
te, que esses dois fatores às vezes interagem
de modo variável segundo os indivíduos [...]".97
Mesmo do lado das pesquisas mais ten
dentes à universalização (e, em alguns casos,
claramente à naturalização), a reflexão não
deixa de ter interesse para o sociólogo. De fato,
uma parte dos trabalhos realizados por nume
rosos psicólogos que agora participam da cor
rente dominante das ciências cognitivas é le
vada a contrapor-se a hipóteses anteriores que
atribuíam aos homens "uma série geral de ca
pacidades de raciocínio que eles empregam em
qualquer tipo de tarefa, qualquer que seja seu
conteúdo específico".98 Em vez disso, hoje se
considera que a "cognição humana é específi
ca a domínios (domain-specific)". Poderíamos
resumir uma parte das mudanças de modelos
interpretativos dizendo que uma psicologia da
transferência de capacídades ou de esquemas
gerais, qualquer que seja o contexto de aplica
ção ou de ação, foi substituída por uma psico
logia da transferência cognitiva relativa de cer
tos esquemas ou de certos procedimentos nos
limites de "domínios" determinados. Assim, "o
mesmo indivíduo que se revela notável diante
de um tabuleiro de xadrez exibe um desempe
nho banal em tarefas exteriores ao seu domí
nio de competências. Por exemplo, a memória
do expert em xadrez é bastante ordinária quan
do ele lida com uma série de cifras, mesmo que
a memória das posições das peças em um ta
buleiro de xadrez esteja bem acima da de
UUI novato. A expertise é tão pontual que ela
não se estende nem mesmo à memória das
peças colocadas ao acaso em um tabuleiro de
xadrez".99 O mesmo expert em jogo de xadrez
não é, portanto, de maneira mais geral, um
"expert em reconhecimento de modelo visual".
Contudo, é preciso assinalar que o exem
plo tirado aqui dos trabalhos em questão é
bastante atípico. Como observam os próprios
autores citados, somente uma parcela margi
nal das pesquisas refere-se à expertise e leva
em consideração "domínios" como o jogo de
xadrez, que são "artificiais e inventados" e que
619
supõem "muitas horas de prática intensa". Pois
a grande maioria dos pesquisadores, a partir
dos trabalhos de Noam ChomskylOO e de Jerry
Fodor,lOl pensa essencialmente nos domínios
de pensamento inatos que às vezes são conce
bidos sob a forma de "módulos" encapsulados
no cérebro. As restrições específicas aos domí
nios a que se referem são igualmente inatas e
dependentes do processo de evolução das es
pécies. Assim, Chomsky pensa que o espírito
consiste "em sistemas separados (isto é, a fa
culdade de linguagem, o sistema visual, o
módulo de reconhecimento facial, etc.) com
suas propriedades específicas".I02
É compreensível então que esses pesqui
sadores voltem-se de maneira crítica contra as
ciências sociais, que fariam do "mental" um
produto do "social". De fato, circulam diversas
versões nas ciências cognitivas que põem em
dúvida, de maneira mais ou menos radical, o
caráter socialmente ou culturalmente cons
truído das estruturas cognitivas: desde a idéia
segundo a qual as capacidades cognitivas, em
seu conjunto, seriam fundamentalmente ina
tas e simplesmente se revelariam ou se atuali
zariam ao longo de nossas experiências, até a
tese segundo a qual essas capacidades inatas
influiriam na ordem cultural facilitando a trans
missão das representações culturais mais adap
tadas às capacidades naturais de partida e,
portanto, tornando mais difícil a transmissão
das representações mais inadaptadas (com isso,
nos perguntamos como essas representações
puderam ser criadas por "seres humanos" se
elas eram tão contrárias à r.atureza), passan
do pela teoria segundo a qual, apesar de seu
caráter inato, as capacidades cognitivas se en
riquecem 103 e, às vezes, se modulam mediant~
as múltiplas experiências sociais.
Entre muitos outros, Pascal Boyer questio
na explicitamente o que ele considera como
fruto de um certo senso comum erudito: ''A
antropologia cultural geralmente supõe um
senso comum, uma visão pré-teórica da aqui
sição cultural, que eu chamaria de teoria da
transmissão cultural exaU5tiva. O pressuposto
principal é que as representações recebidas
pelos membros adultos competentes de um
grupo são inteiramente determinadas por aqui
620
ACULlURA DOS INDIVÍDUOS
BERNARD ~H'RE
Jo que lhe foi dado por meio da interação so
cial. Essa concepção da aquisição cultural, que
constitui o que Bloch chamava de 'teoria an
tropológica da cognição', costuma ser tomada
como algo evidente nas 'teorias antropológi
cas"'.104 Entretanto, completa o autor, "pode
ocorrer que certos aspectos importantes das
representações culturais não sejam adquiridos
estritamente por meio da socialização".lOS Se
a cultura pode vir a "enriquecer" predisposi
ções inatas, se a experiência pode intervir a
títuio de "detonador" (trigger) de um sistema
de representações inato, elas não estão funda
mentalmente na origem das formas de pensa
mento. Mais do que isso, a "causalidade é in
vertida", pois é a "estrutura do espírito" que
impõe suas restrições àquilo que, no mundo
social, tem uma chance ou não de ser transmi
tido e interiorizado. 106 As diferenças culturais
não são, em nenhuma hipótese, uma prova da
natureza cultural do pensamento, "pois as es
truturas que variam na superfície normalmen
te são construídas sobre o mesmo tipo de fun
d<lção".107
O desafio que consiste em revelar a natu
reza social dos "domínios" evocados é particu
larmente importante para a sociologia (e para
as ciências sociais em geral), para que não se
torne uma espécie de anexo de uma ciência
cognitiva inatista que não pára de avançar, in
clusive nos domínios cultural, simbólico, edu
cativo, etc., que pareciam inicialmente fora da
sua intelecção. Esses domínios são delimitados
por palavras específicas que os designam, por
espaços e tempos mais ou menos específicos e
às vezes até mesmo por instituições com seus
arquivos (seus saberes acumulados disponíveis)
e as regras do jogu específicas que oscircuns
crevem. Eles têm (como o jogo de xadrez cita
do) uma história natural (e geralmente um
começo e um fim mais ou menos localizáveis)
e supõem uma prática regular, e às vezes in
tensa, para ser dominados. O fato de que to
dos esses aspectos sejam considerados por al
guns como superficiais, e que por isso não afe
tariam fundamentalmente as "estruturas pro
fundas universais do espírito humano", é ape
nas o indicador de seu desinteresse por esse
tipo de "estruturas" e de "profundidades".
I
Em sociedades diferenciadas, o mais co
mum é que os mesmos indivíduos freqüen
tem sucessiva ou alternativamente vários des
ses tipos particulares de domínios socialmen
te constituídos. O espaço de pesquisa que se
abre aqui para a sociologia é o que se refere
àquilo que constitui uma das especificidades
de nossos universos com forte diferenciação
autonomização dos domínios ou das esferas
de atividades, a saber, indivíduos que atraves
sam contextos (micro ou macro) ou campos
de forças diferentes: uma sociologia em escala
individual que a:Ialise a realidade social le
vando em conta sua forma individualizada,
incorporada, interiorizada; uma sociologia
que se pergunte como a diversidade exterior
ganhou corpo, como experiências socializa
doras diferentes, e às vezes contraditórias,
podem (co)habitar no mesmo corpo, como
essas experiências in!:talam-se de maneira
mais ou menos duradoura em cada corpo e
como elas intervêm nos diferentes momentos
da vida social ou da biografia de um indiví
duo. Eis uma série de perguntas, entre muitas
outras, que não podem ser deixadas de lado
por uma sociologia que procura não despre
zar as bases individuais do mundo social, ao
mesmo tempo resistindo a todas as formas de
naturalismo.
Formulando tais perguntas, dotando-se de
meios metodológicos de responder a elas, o
sociólogo retoma perguntas clássicas da filo
sofia (de Aristóteles a Montaigne) 108 que eram
expressadas por meio de um vocabulário fami
liar hoje: hábito ou disposição adquirida e es
tável (em latim habitus, em grego hexis), se
gunda natureza, costumes e familiaridade,
exercício e exercitação, ser habitado pOI; encar
nar ou incorporar.
Já há alguns anos, M. Gribaudi e A. Blum
assinalavam, a propósito da história, a "inade
quação crescente entre as perguntas que a dis
ciplina colocava aos seus objetos e os instru
mentos de que ela dispunha para resolvê-las.
Pois, embora tenhamos conceituado o sistema
social como o produto de interdependências
que respondem a várias lógicas diferentes, par
ciais e contextuais, muitas vezes tentamos
abordá-lo com uma sintaxe estatístiça que pos
sibilita unicamente formular um discurso
macrossocial".109 Para o sociólogo, trata-se
igualmente de ajustar ou de adaptar seus tra
tamentos dos dados aos problemas sociológi
cos que pretende resolver, e não o inverso,
como observava maliciosamente Elias lembran
do que, às vezes, em matéria de tratamento de
dados, the mil wags the dog ("o rabo chacoalha
o cachorro
ft
).
NOTAS
1. A primeira parte deste post-scriptum foi publicada
inicialmente com o título "Les variations pertinen
tes en sociologie", in J. LAlITREY, B. MAZOYER e P.
VAN GEERT (sob a dir.),Invariants et variabilitédans
les sciences cognitiv~, Éditions de la MSH, Paris,
2002, p. 243-255. Outras panes foram publicadas
sob a forma de um artigo, "Catégorisations et
logiques individuelles: les obstacles à une sociologie
des variations intra-individuelles", Cahiers internado
naux lk sociologie, volume ex, 2001, p. 59-81. O
conjunto foi complementado, reescrito e reorgani
zado profundamente.
. 2. M. /-W1lWACHS, "Conscience individuelle et espirit
coIlectif", American Journal of Sociology, 44, 1939,
p.812-822.
3. É. DURKHEIM, Les Formes élémentaires de la vie
reIigieuse (1912), op. ci1.
4. É. DURKHEIM, Éducation etsociologie, PUF, Quadrige,
Paris, 1989, p. 74.
5. É. DURKHEIM, CÉvolution pédagogique en France,
PUF, Quadrige, Paris, 1990.
6. Cf. particularmente N. ELIAS, La Dynamique de
l'Ocridmr, Calmann-Lévy, Paris, 1975, e La Civili
sation rhs moeurs, Calmann-Lévy, Paris, 1973. For
mulando uma objeção compartilhada por unIa gran
de parte dos sociólogos a propósito das "grandes
SÚlteses históricas", Pierre Bourdieu escrevia o se
guinte em 1987: "No estágio atual da ciência social,
vejo que a história de longa duração é um dos luga
res privilegiados da filosofia social. En~ os soció
logos, isso dá lugar com muita freqüência a consi
derações gerais sobre a burocratização, sobre os
processos de racionalização, a modernização, etc.,
que ttazem muito de proveito social aos seus auto
res e pouco proveito científico." (Choses dites, op.
clt., p. 56.)
7. É. DURKHElM, Le Suicide (1897), PUF, Quadrige,
Paris, 1983, p. 227. Sublinhado por mim.
8. P. FAUCONNET e M. MAUSS, "Sociologie", in M.
MAlJSS, La Grande Encydopidie (1901), OEuvres, 1.
3, Minuit. Paris, 1969, p. 139-177.
621
9. Ainda que não se apóie em um trabalho de nature
za estatística, a obra do sociólogo alemão Max Weber
sobre A ética protestante e o espúito do capitalismo
começa com a constatação da existência de uma
correlação estatística entre grupos socioprofission:tis
e vínculos confessionais. O autor desenvolve nessa
obra a tese célebre segundo a qual a ética protes
tante (o ethos protestante) teria panicipado ampla
mente do desenvolvimento de comportamentos eco
nômicos de tipo capitalista. Partindo do fato de que,
"se consultamos as estatísticas profissionais de um
país onde coexistem várias confISsões religiosas,
constatamos com uma freqüência bastante signifi
cativa um íato que provocou várias vezes discussões
acaloradas na imprensa, na literatura e nos congres
sos católicos na Alemanha: que os diretores de em
presa e os detentores dos capitais, assim como re
presentantes das camadas superiores qualificadas
da mão-de-obra e, mais ainda, os quadros técnicos
e comerciais altamente educados das empresas mo
dernas são, na sua grande maioria, protestantes" (M.
WEBER, CÉthique protestante et /'esprit du capitalis
me, Plon, Paris, 1964, p. 31), Max Weber tenta re
construir as diferentes características da religião pro
testante que poderiam explicar uma tal situação.
10. A. DESROSIERES, A. GQYe L. TIlEVENOT, "!:iden
tité sodale dans le travail statistique. La nouvelle
nomenclature des professions et catégories sociopro
fessionnelles", Économieet statistique, INSEE, n'152,
fevereiro de 1983, p. 55-81.
11. R. CHARTIER, "Le monde cornrne représentation",
Annales ESC, n' 6, 44' Ano, novembro-dezembro
1989, p. 1511.
12. O. SCHWARTZ, Le Monde privé des ouvriers. Hommes
et femmes du Nord, PUF, Paris, 1990.
13. B. WiIRE, Tableaux defamilles, op. ci1.
14. É. DURKHEIM, Les Regles de la méthode scx:iologique,
op. ci1., p. 5.
15. Ibid., p. XVI.
16. É. DURKHEIM, Textes 1. Élements d'une théorie
sociale, Minuit, Paris, 1975, p. 209.
17. B. LAHIRE, ''Avant-propos'', L'Invention de I~ille
trisme", op. ci1., p. 5·8.
18. É. DURKHEIM, Les Regles de la méthode sociologique,
op. cit., p. XXII. Sublinhado por mim.
19. Ibid., p. 4. Sublinhado por mim.
20. Ibid., p. 11. Sublinhado por mim.
21. Ibid., p. 14. Sublinhado por mim.
22. "O tipo médio estatístico e sua regularidade tempo
ral são utilizados amplamente por Durkheim para
escorar a existência de um tipo coletivo exterior aos
indivíduos, pelo menos nos seus dois primeiros li
vros: A divisão do trabalho social (1893) e As regras
do método sociológico (1894Y, A. DESROSIERES, La
fblitique rhs granrhs nombres. lflStDin de la raison
statistique, La Découverte, Paris, 1993, p. 122.
622
_BERNARD LAHIRE
23. É. DURKHEIM, Les Regles de la méthode sociologiq1lf,
op. cit., p. 45.
24. Ibid., p. 103. Sublinhado por mim.
25. É. DURKHEIM, Le Suicide (1897), op. cit., p. 350.
Sublinhado por mim.
26. É. DURKHEIM, Textes 1, op. cit., p. 24. Sublinhado
por mim.
27. Ibid., p. 365. Sublinhado por mim.
28. É. DURKHEIM, Les Regles de la méthode sociologique,
op. cit., p. 102·103. Sublinhado por mim.
29. Norbert Elias escreve com uma inspiração muito
durkheimiana: "Pois é verdade que não compreen·
demos a estrutura de uma casa se consideramos cada
uma das pedras que serviram para construí·la isola·
damente e por si; não a compreendemos tampouco
se a considerarmos pelo pensamento como uma uni·
dade cumulativa, como se fosse um monte de pe·
dras; talvez não seja totalmente inútil para a com·
preensão do conjunto proceder a um levantamento
estatístico de todas as particularidades das pedras
para depois estabelecer a média, mas isto também
não leva muito longe". (N. EUAS, La Societé des
individus, op. cit., p. 41.) Mas Elias tem em mente
essencialmente fenômenos de estruturações das re·
lações sociais ou de configurações de relações de
interdependência e se revela mais crítico que
Durkheim quanto à possibilidade estatística de evi·
denciar esse tipo de realidade de interdependência.
Tais realidades sociais não podem ser apreendidas
como se apreendem os determinantes sociais do sui·
cídio ou da criminalidade a partir da variação das
taxas de suicídio ou de criminalidade segundo algu·
mas variáveis. Não é fácil "computá.las".
30. É. DURKHEIM, Textes 1, op. cit., p. 272. P. Valéry
escrevia a propósito da noção de "nação": "NAÇÕES.
São personalizações, o que leva ao absurdo", in Les
Príncipes d'anarchie pure et appliquée, op. cit., p. 97.
31. É. DURKHEIM, Les Formes élémentaires de la vie
religieuse (1912), op. cit., p. 603.
32. Como poderiam levar a pensar certas fórmulas
durkheimianas: "Não existe uniformidade social que
não permita toda uma escala de gradações indivi.
duais, não existe de fato um coletivo que se impo·
nha de maneira uniforme a todos os individuos", É.
DURKHEIM, Textes 1, op. cit., p. 29.
33. "O conjunto de crenças e de sentimentos comuns à
média dos membros de uma mesma sociedade for
ma um sistema determinado que tem vida própria;
podemos chamá·lo· de consciência coletiva ou co
mum." (É. DURKHEIM, De la divUion du travail so
cial, op. cit., p. 46.) \émos claramente como o racio
cínio sociológico de Durkheim apóia·se em formas
estatísticas não questionadas enquanto tais: a
categorização e o cálculo de média por categoria
criam estatisticamente realidades macroestruturais
(classes, grupos, estruturas não-igualitárias, movi
mentos, tendências, correntes, etc.).
A CULTURA DOS INDiVíDUOS
34. P. FAUCONNET e M. MAUSS, "Sociologie", in M.
MAUSS, La Grande Encyclopédie, op. cit.
35. É. DURKHEIM,Les Regles de la méthode sociologique,
op. cit., p. 103.
36. E, mais uma vez, Paul Fauconnet e Mareei Mauss
seguem seus passos ao escrever: "Entretanto, a ques
tão é saber se, entre os fatos que ocorrem dentro
desses grupos, há os que manifestem a natureza do
grupo enquanto grupo, e não apenas a natureza dos
indivíduos qut! os compõem, os atributos gerais da
humanidadt. Nessa condição, e apenas nessa condi
ção, haverá uma sociologia propriamente dita; pois
haverá então uma vida da sociedade, distinta da que
levam os indMduos ou, mais do que isso, distinta da
que levariam se vivessem isolados". P. FAUCONNET e
M. MAUSS, "Sociologie", in M. MAUSS, La Grande
Encyclopédie, op. cit. Sublinhado por mim.
37. Nota-se de passagem que - ao pretender defender
a todo custo o ponto de vista de Durkheim, como
se essa personificação de coletivos não fosse, em
última análise, nada mais que uma metáfora por
trás da qual se deveria ';procurar compreender o que
ele realmente queria dizer com isso" - a antropólo
ga Mary DougIas (Comment pensent le.; institutions,
op. cit.) tende a minimizar o erro de raciocínio e a
ignorar o obstáculo que ele constitui para a com
preensão sociológica dos indivíduos enquanto se
res sociais relativamente singulares.
38. É. DURKHEIM, Le.; Rêgles de la mérhode sociologique,
op. cit., p. 105.
39. Ibid., p. 107.
40. Ibid., p. 9-10.
41. M. MAUSS, "Rapports réels et pratiques de la psycho
logie et de la sociologie", Sociologie et anthropologie,
op. cit., p. 301-302. Sublinhado por mim.
42. É. DURKHEIM, Le Suicide, op. cit., p. 353.
43. É. DURKHEIM.Éducation et sociologie, op. cit., p. 51.
44. É. DURKHEIM, La Science sociale et l'action, PUF,
Paris, 1987, p. 330.
45. Norbert Elias falava de habitus nacional.
46. Se falo de "erro" aqui, mesmo reconhecendo tudo
o que a ciênàa sociológica racional ainda deve a
esse autor que continua atual sob muitos aspectos
e mesmo sabendo que Durkheim não pode ter em
mente certas coisas tendo em vista o estágio em
que se enCOnlTolIll os trabalhos sociológicos na sua
época, é porque me parece que na ciência o pre·
sente pode ser juiz do passado e que não é razoá
vel pensar que o que era pertinente em um perío
do anterior tomou·se obsoleto pela simples mu
dança de estágio dos interesses científicos. Pois
nada impediria então de aplicar no presente em
diferentes trabalhos sociológicos concorrentes o
mesmo raciocínio, e nesse caso já não se poderia
ver muito bem o que pode ser um "erro" de racio
cinio ou mesmo uma "verdade científica" (ainda
que temporária).
47. É. DURKHElM, "Représentations individuelIes et
reprêsentations colIectives", Revue de métaphysique
et de morale, tomo VI, maio de 1898.
48. M. HALBWACHS, "La psychologie coIlective du
raisonnement", Zeitschrift ftir Sozialforschung, op.
cit., p. 357. Encontra-se na concepção polifônica ou
plurivocal de Mikhail Bakhtin a mesma teoria im
plícita do indivíduo. Cf. particularmente M.
BAKHTIN, La Poétique de Dostoiévski, Seuil, Paris,
1970.
49. L. PlRANDELLO, Un' personne et cent mille, op. cit.,
p.18-19.
50. "Esses sentimentos resulram da organização coleti
va, longe de ser sua base", É. DURKHEIM, Les Rêgles
de la r;;éthode sociologique, 011. cit., p. 106.
51. "Portanto, se excluimos a intervenção de seres so
brenaturais, só encontraríamos, fora e acima do in·
divíduo, uma única fonte de obri!(ação, que é a so
ciedade ou, mais do que isso, o conjunto de socieda
des de que ele é membro". P. FAUCONNET e M.
MAUSS, "Sociologie", in M. MAUSS, La Grande
Encyclopédie, op. cit. Sublinhado por mim.
52. É. DURKHEIM, Textes 1, op. cit., nota 5, p. 35.
53. lbid., p. 61.
54. Ibid., p. 185.
55. É. DURKHElM, De la division du travail social, op.
cit., p. 342.
56. É. DURKHElM, Te.xtes 1, op_ cit., p. 352. Sublinha'do
por mim.
57. É. DURKHEIM, Les Rêgles de la méthode sociologique,
op. cit., p. XVII.
58. A. DESROsiEREs, La Politique des grands nombres,
op. dt., p. 301.
59. É. DURKHEIM, Les Regles de la méthode sociologique,
op. cit., p. 8.
60. "Há nos economistas, escreve Pierre-André Chiappo·
ri, uma preocupação minimalista (ou reducionista)
que os leva a transpor as situações concretas a esque
mas elementares, ou mesmo simplistas; exatamente
onde o historiador; ao colllr.Írio, se preocupará em
dar conta da riqueza do rear. "La notion d'individu
en rnicroéconomie et en micro-histoire", in J.·Y.
GRENIER, C. GRlGNON e P.-M. MENGER (sob adir.),
Le Modêle ee le Ricit, MSH. Paris, 2001, p. 293.
61. Jon Elster fala ainda hoje dos "obscurantismos
holistas", J. EI.STER, Psychologie politique, Minuit,
Paris, 1990, p. 13.
62. "O discurso objetivista, escreve Pierre Bourdieu, ten
de a constituir o modelo coostruído para explicar
práticas realmente capazes de determiná-los:
reificando abstrações (em frases como 'a cultura
determina a idade do desmame'), ele trata suas cons·
truções, 'cultura', 'estruturas', 'classes sociais' ou
'modos de produção' como realidades dotadas de
uma eficácia social, capaz de interferir direramente
nas práticaS; ou então, alribuindo aos conceitos o
poder de agir na história QJIIIO agem nas frases do
623
discurso histórico as palavras que os designam, ele
personifica os coletivos e os transforma em sujeitos
responsáveis por ações históricas (com frases como
'a burguesia quer que..: ou 'a classe operária não
aceitará que...'). (Nota de rodapé: j\o postular a
existência de uma 'consciência coletiva' de grupo
ou de classe e atribuindo aos grupos disposições
que só podem se constituir nas consciências indivi·
duais, ainda que elas sejam produto de condições
coletivas, como a tomada de consciência dos interes
ses de classe, a personificação dos coletivos dispen
sa a análise dessas condições e, em particular, aque
las que determinam o grau de homogeneidade ob·
jetiva e subjetiva do grupo considerado e o grau de
consciência de seus membros')" (Le Sens pratique,
Minuit, Paris, 1980, p. 64).
63. G. BACHELARD, La Formation de l'esprít scientifique.
Contribuition à une psychanalyse de la connaissance,
Vrin, Paris, 1999, p. 14.
64. Maurizio Gnbaudi e Alain Blum fizeram a mesma
constatação de um uso não·reflexivo do quadro cru·
zado na história em "Des catégories aux liens
individueIs: I'analyse statistique de I'espace social",
Annales ESC, op. cit., p. 1366.
65. Constata·se isso claramente em matéria de refle
xão sobre as operações estatísticas: "Portanto, se é
verdáde que 'classificações diferentes levam a con
clusões diferentes', é igualmente verdade que clas
sificações diferentes levam às mesmas operações ló
gicas e produzem... os mesmos modelos conceituais
e as mesmas cadeias causais" M. GRlBAUDI e A.
BLUM, "Les dédarations professionnelIes. Pratiques,
inscriptions, sources", Annales ESC, julho-agosto
1993, n' 4, p. 991.
66. E constata-se, portanto, que as determinações so
ciais das maneiras sociológicas de pensar o mundo
social não se limitam às associações muito freqüen
tes do tipo: holismo/socialismo, individualismo/li
beralismo, etc.
67. Encontramos elementos de reflexão sobre a plura
lidade de propriedades disposicionais no romance
de Musil, O homem sem qualidades: "Musil explica,
no capítulo inicial de O homem sem qualidades, o
qual fala da Cacânia, que o habitante de um país
tem sempre pelo menos nove características: uma
característica profissional, uma característica de
classe, uma característica sexual, uma caracteristi
ca nacional, uma característica política, uma carac
terística geogr.ífica, uma característica consciente,
uma ínconsciente e talvez ainda uma característica
privada" J. BOlNERESSE, rltomme probable. Robert
Musil, le hasard, la moyenne et l'escargot de !'histoire,
Éditions de 1'Éclat, Combas, 1993, p. 90.
68. P. BOURDlEU,l1aísons pratiques, op. cit., p. 23.
69. B. LAH1RE, "La variation des contextes en sciences
sociales. Remarqes épistémologiques", Annales.
Hisloire, scimas sociaks, op. cito
624
A CULTUAA DOS INDiVíDUOS
BEANAAD LAHIAE
70. L. BOLTANSKl, "La constitution du champ de la
bande dessinée", Acres de la recherche en sciences
sociales, op. cit., p. 49.
71. J.-M. GUY (sob adir.), Les Jeunes et les sorries
cultureUes, op. cit., p. 83.
72. Quando o "caso individual" serve para exemplifiéar
o conjunto de um grupo ou de uma categoria, nota·
se que é "o sistema que, em última análise, orienta
e define o conteúdo do objeto empírico (M.
GRIBAUDI, ·"Échelle, pertinence, configuration", in
J. REVEL [sob a dir.] , Jeuxd'échelles. La micro-analyse
à l'expérience, Gallimard/Seuil, Hautes Études, Pa
ris, 1996, p. 119).
73. Constata-se, aliás, que a maneira como Durkheim
fala do "tipo médio" é bem parecida às vezes com o
caso ilustrativo, que fala pelo conjunto do grupo,
da classe ou da época: "Se convencionamos cha·
mar de tipo médio o ser esquemático que se consti
tuiria reunindo em um mesmo todo, em uma espé
cie de individualidade abstrata, as características
mais freqüentes na espécie com as formas mais fre·
qüentes [...]", É. DURKHEIM, Les Regles de la
méthode sociologique, op. cit., p. 56.
74. B. LAHlRE, "Risquerl'interprétation...", Enquête,An
thropologie, Histoire, Sociologie, op. cit., p. 61-87.
75. M. MENARD, "Honoré de Balzac", Encyclopaedia
Universalis, op. cit.
76. Citarei neste parágrafo vários textos de comunica
ções a um colóquio que deu lugar a um balanço das
pesquisas em sociologia da cultura e ao anúncio de
perspectivas de pesquisas para o futuro, levando
em conta a evolução do mundo social e da discipli
na. Trata·se do colóquio "O(s) público(s). Políticas
públicas e equipamentos culturais", Auditório do
Louvre, 28-29-30 de novembro de 2002, organiza.
do conjuntamente pelo DEP do Ministério da Cul·
tura e pela OFCE em parceria com o museu do
Louvre. Os textos ou resúmos de comunicações são
os seguintes: H. MENDRAS, "La culture dans la
France que je vois", O. GALLAND, "Individualisation
des moeurs et choix culturels: le rappon des jeune<
générations aux valeurs et à la culture"; A.
HENNION, "Ce que ne disent pas les chiffres... Vers
une pragmatique du gout".
77. Teríamos "entrado nos anos da liberdade e da obri·
gação de ser livre que acompanha o declínio do pro
grama institucional", F. DUBET, Le Déclin de
l'insriturion, Seuil, Paris, 2002, p. 15.
78. Como destacam Marlis Buchmann e Manuel Eisner,
a imagem de um indivíduo autônomo~ reflexivo,
autêntico, original, expressivo ou criativo tem'como
modelo último o discurso da psicoterapia e não pode
ser desconectada da ascensão histórica, ao longo de
todo século XX, dos principais especialistas do "si",
q\le são os psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas
e psiquiatras. Cf. M. BUCHMANN e M. EISNER, 'The
79.
80.
ft
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
transition from the utilitarian to the expre:&Íve self:
1900-1992", 1betics, 25, 1997, p. 157-175.
J. LE GOFF, Saint Louis, op. dt., p. 499-500.
G. UPOVEfSKl, ITre du vide. Essais sur l'individua
lisme contemporain, Paris, Gallimard, Folio, 1993.
Teses similares foram desenvolvidas nos Estados
Unidos. Cf. particularmente D. HARVEY, The Condi
rion ofPostmodemity, Basil BlackweJI, Oxford, 1989,
M. FEIilllERSTONE, Undoing Culture, Globalization,
Postmodemism and ldentity, Sage Publications, Lon
dres, 1995, e o capítulo 9 ("Popular television and
postmodernism") da obra de D. STRINATI, An
lntroduction to Studying fupular Culture, Routledge,
Londres e New York, 2000, p. 229-250.
P. YONNET, Jeux, modes et masses. 1945-1985,
Gallimard, Paris, 1985, p. 8.
E. GOFFMAN, Les Cadres de l'expérienct, Minuit, Pa
ris, 1991, p. 22.
Em uma obra precedente, consagrei o item intitulado
"Código switching e código mixing dentro de um mes
mo contexto" à demonstração da importância de
uma parte da sociolingüísti~ para uma sociologia
em escala individual (B. LAHIRE, EHomme pluriel,
op. cit., p. 74-76).
P. ENCREVÉ, "Labov, linguistique, sociolinguistique",
in W LABOV, Sociolinguistique, op. cit., p. 29. Subli
nhado por mim.
Ibid., p. 17.
W LABOV, Sociolinguistique, op. cit., p. 288.
P. ENCREVÉ, "Labov,linguistique, sociolinguistique",
op. cit., p. 31. Sublinhado por mim.
N. COUPLAND, "Style·shifting in a Cardiff work
setting", Language in Society, 9, 1980, p. 1-12. Agra
deço a Jean-Pierre Chevrot por ter me apresentado
esse estudo, como também por seus comentários
sensatos sobre ele.
W LABOV, Le Parler ordinaire, op. cito
U. WEINREICH, W LABOV e M. HERZOG, "Empirical
Foundations for a Theory ofLanguage Change", in W
P. LEHMANN e Y. MALKlEL (ed.), Direetions for
Historical ünguistics, University ofTexas Press, Austin,
1968, p. 101.
W LABOV, Sociolinguistique, op. cit., p. 283.
P. DlMAGGIO, "Classification in an", American
Sociological Review, op. cit., p. 445. Traduzido por
mim. Avariação intra-individual de comportamen
tos é levada em conta também em um artigo de
dois criminalistas e de um sociólogo nane·ameri
canos acerca dos componamentos criminosos: J.
HORNEY, D. W OSGOOD e I. H. MARSHALL, "Cri
minal Careers in the Shon·Term: Intra-Individual
Variability and Its Relation to Local üfe Circums
tances". American Sociological Review, vol. 60, 5,
1995, p. 655-673.
J. J. GmSON, The Erological Approach to Visual Per
ception, Houghton MiffIin, Boston, 1979.
94. Por exemplo, citei Geoffrey E. R. Uoyd em O homem
pluml por sua critica pertinente da noção de "menta·
lidade" que visa as concepções excessivamente uni
tárias e homogeneizadoras de uma mentalidade
onipresente ou transferível qualquer que seja o con
texto (G. E. R. LLOYD, fuur emfiniravec lesmentalités,
La Découverte, Paris, 1993). Mas, a meu VeJ; Uoyd
tipicamente cai na armadilha inversa ao recusar qual
quer outra realidade que não seja a dos "contextos
dos discursos", das "circunstâncias de sua fonnula
ção", dos "tipos de interação social" ou dos "regis
tros de experiências", desprezando assim o estudo
do social incorporado que explica o fato de que dois
inàivíduos com disposições diferentes não :;e com
portem da mesma maneira no mesmo contexto.
95. Que são o fruto de desenvolvimentos científicos pa·
ralelos e que, até o presente, não se comunicavam.
96. Cf. J. LAUTREY, "Introduction", in J. LAUTREY (sob
adir.), Universel et différentiel en psychologie, PUF,
Paris, 1995, p. 1-14, e M. RICHEu.E, "Éloge des
variations", in J. LAUTREY (sob adir.), Universel et
d~'Jérentiel en psychologie, op. cit., p. 35-50.
97. 1. LAUTREY, "Introduction", op. cit., p. 9-10. Vertam
bém na mesma obra a contribuição de C. PACTEAU,
"Catégorisation: des processus holistiques et analy
tiques" (p. 131-157).
98. L. A HIRSCHFELD e S. A. GELMAN, "Toward a
topography of mind: an introduction to domain
specificity", in L. A. HIRSCHFELD e S. A GELMAN
(ed.), Mapping the Mind: Domain Specificity in
Cognition and Cu/ture, Cambridge University Press,
New York. 1994, p. 3. Traduzido por mim.
99. Ibid., p. 5. Traduzido por mim.
100. N. CHOMSKY, Language and problems ofknowledge,
MIT Press. Cambridge, MA, 1988.
625
101. J. FODOR, Modularity of mind, MIT Press, Cam·
bridge, MA, 1983.
102. N. CHOMSKY, Language and problems of know/edge,
op. cit., p. 161.
103. S. CAREY e E. SPELKE, "Domain-specific knowledge
and conceptual change", in L. A HIRSCHFELD e S.
A. GELMA.N (ed.), Mapping the Mind: Domain
Specificity in Cognition and Culture, op. cit., p. 169.
104. P. BOYER, "Cognitive constraints on cultural repre
sentations: natural ontologies and regious ideas",
in L. A. HIRSCHFELD e S. A GELMAN (ed.), Ma
pping the Mind: Domain Specificity in Cognition and
Culture, op. cit., p. 396. Traduzido por mim.
105. Ibid., p. 391. Traduzido por mim.
106. L. COSMIDES e J. TOOBY, "Origins of domain spe·
cificity: The evolution of functional organization",
in L. A. HIRSCHFELD e S. A GELMAN (ed.), Mapping
the Mind: Domain Specificity in Cognition and Culture,
op. cit., p. 85-116, e P. BOYER, "Cognitive constraints
on cultural representations: natural ontologies and
regious ideas", op. cit., p. 391-411.
107. R. GELMAN e K. BRENNEMAN, "First principies can
support both universal and culture-specific learning
about number and music", in L. A. HIRSCHFELD e
S. A. GELMAN (ed.), Mapping the Mind: Domain
Specificity in Cognition and Culture, op. cit., p. 386.
108. Para tomar dois autores que Francis GCjet relê (e
. reúne) em um texto não publicado, "La notion
éthique d'habitude dans les Essais: articuler l'art et
la nature", Université Stendhal-Grenoble m, 2003.
Cf. também P. HADOT, Exercices spirituels et phi
losophie antique, Albin Michel, Paris, 1993.
109. M. GRIBAUDI e A. BLUM, "Des catégories aux liens
individueis: l'analyse statistique de l'espace social",
Annales ESC, op. cit., p. 1366-67.
Download