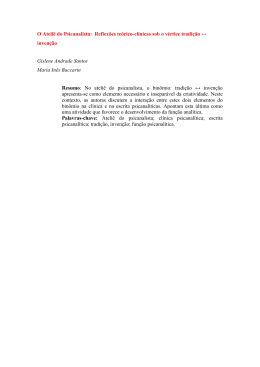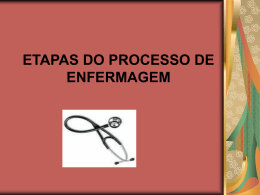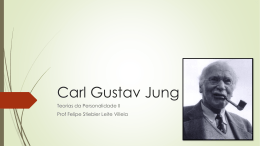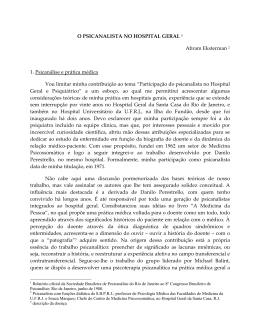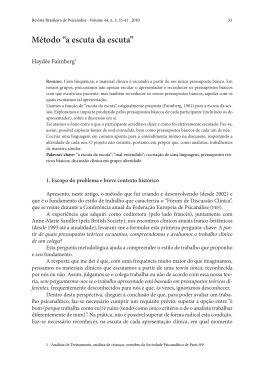A CLÍNICA PSICANALÍTICA E AS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA: um encontro possível?1 Ieda Prates da Silva* Ainda hoje é comum se ouvir que a clínica psicanalítica é uma clínica do individual, elitizada e de consultório, contrapondo-se a uma clínica que seria social, de grupo, praticada nas instituições. Esta falsa dicotomia distorce e encobre uma série de questões, as quais não será possível aprofundar aqui, mas apenas lançar para o debate. Começo pela facilidade com que se prescrevem tratamentos breves, tratamentos em grupo, tratamentos puramente medicamentosos, quando se trata de pacientes da rede pública, como se já estivesse a priori determinado pelas condições econômicas e sociais o tipo de atendimento indicado. Aqui o critério clínico é secundarizado a critérios sociológicos, econômicos, que parecem muito legitimados por se tratar de pessoas de “baixa renda”, os padrões e dados quantitativos justificando atendimentos rápidos e massificados. Por que se considera facilmente que o critério de eficiência de um serviço esteja calcado no número de atendimentos prestados, em detrimento da avaliação dos efetivos efeitos que este atendimento produz no sujeito e na coletividade? Que o administrador pense isto, muitas vezes é inevitável. Mas o profissional da saúde e, principalmente, o psicólogo e o psicanalista têm que se haver com esta questão de uma forma mais complexa. Independente de que número de pessoas bate à nossa porta em busca de atendimento, só podemos responder a esta demanda singularmente: ou seja, um a um. Na verdade, não se trata de responder à demanda, mas de escutá-la e trabalhá-la. E isto só é possível se partirmos de uma posição de não-saber: não saber o que é melhor para aquela pessoa ou família, se ela realmente demanda atendimento, qual o tratamento indicado, ou que outras intervenções institucionais serão necessárias. Não sabemos de nada disto, a priori. O tratamento não é um esquema pronto ao qual o paciente se adapta e se ajusta, inclusive em número de sessões ou de meses. As estratégias terapêuticas que possa haver na instituição – psicoterapia individual, atendimento em grupos, oficinas, farmacologia, intervenções sociais e espaços de convivência – só podem ser pensadas a partir da avaliação de caso a caso, sob pena de se tornar uma prescrição generalizada e ineficaz, quando não iatrogênica. Como a pressão da demanda – numérica, nem sempre significa uma demanda real de tratamento psicoterapêutico – é normalmente grande nos serviços públicos, se torna difícil não nos deixarmos conduzir por ela, angustiando-nos e apressando-nos com intervenções imediatistas que respondem diretamente ao sintoma sem trabalhá-lo. Desta forma, pode se atender muita gente, mas não há geralmente um processo de cura, e as mesmas pessoas retornam reiteradamente ao serviço, sem que haja eficácia clínica. Os recursos terapêuticos podem ser os mais variados, mas a ética deverá ser uma só: a que contemple o sujeito em sua singularidade, a partir de sua história, de seu lugar de inscrição no mundo e de sua particular forma de gozo, a qual lhe acarreta determinados sintomas. Sobre estes, nenhum juízo de valor nos cabe, nenhuma opinião, nenhuma “boa intenção”. Alerta importante principalmente quando se trata do atendimento de crianças, pois as instituições dedicadas ao trabalho com a infância e adolescência mais facilmente vêem-se tomadas de uma preocupação moralista ou higienista. No lugar da moral, deve vigorar a ética do Inconsciente: aquela que busca devolver ao sujeito sua palavra verdadeira. Este é o caráter mais revolucionário da Psicanálise: a descoberta do 1 Síntese do trabalho apresentado na VIII Jornada da Clínica de Psicologia da UNIJUÍ: A prática clínica nas instituições”, em 19 de novembro de 2004. Inconsciente. Descoberta freudiana que se atualiza em cada relação paciente-terapeuta na clínica psicanalítica, independentemente desta se dar no consultório ou na instituição pública. Portanto, o que define a escuta e a intervenção psicanalítica não é o setting, a presença ou não do divã, a freqüência das sessões, o pagamento de honorários, etc. Mas sim o trabalho em transferência, isto é, o trabalho psicoterapêutico que leva em conta as leis do Inconsciente e que opera a partir daí. O trabalho com a transferência não significa desconsiderar a realidade econômica e social dos pacientes, muito pelo contrário. Desde Lacan sabemos que “o Inconsciente é o social”, ou seja, o sujeito se constitui a partir da rede significante familiar e social inscrita no seu corpo e no seu psiquismo. Portanto, como Freud bem nos lembrou, a realidade em questão na clínica é sempre a realidade psíquica. Trata-se da forma particular de inscrição de que a realidade – o factual – se reveste para cada sujeito. Nenhuma realidade externa, nenhuma contingência histórica poupa o sujeito da implicação no seu sintoma. Basta querermos curar alguém a todo custo, tratar alguém à revelia de seu desejo, para que venhamos a nos dar conta disto. Agora, a questão do atendimento em saúde mental num serviço público destinado a crianças e adolescentes traz uma série de outras questões, na medida em que não se trata apenas do desejo da criança, mas da demanda dos pais, da escola e de que lugar no social esta criança ocupa. Por isto, não podemos nos deter exclusivamente no atendimento a esta criança, sem que haja concomitantemente um trabalho de caráter mais amplo, produzindo intervenções contínuas e sistemáticas na comunidade onde ela está inserida. Mas o submetimento da criança ao poder do adulto ou às situações de vida não deve nos impedir de ver ali as marcas de um sujeito em construção e que, a partir da escuta e da intervenção psicoterapêutica, se possibilite abrir um espaço de expressão para este sujeito, de forma que ele possa se constituir e se reconhecer. É através do brincar que a criança pode elaborar a distância entre a insuficiência real e o ideal apontado pelo discurso familiar e social. É no brincar que ela encena esta potência, saindo da insuficiência para a possibilidade. Este desejo de crescer, este “passo adiante” muitas vezes está obstaculizado para as crianças que nos chegam para tratamento, tão demarcadas se encontram por significantes que parecem encerrar seu destino, ou esvaídas numa ausência absoluta de demarcações que lhes pudessem dar alguma sustentação, perdendo-se num corpo que ainda não está circunscrito por uma imagem, num olhar vazio, numa fala repetitiva e alienada, ou ainda, num movimento frenético e sem endereçamento. Bem sabemos que o trabalho analítico com crianças alcança as figuras parentais. Já de início porque – salvo em raríssimos casos, que configuram exceção à regra – a demanda de tratamento é proveniente de outros que não o próprio paciente, sejam estes pais, escola ou cuidadores. Na verdade, na maioria das vezes não há uma demanda de cura (no sentido psicanalítico do termo) e sim um pedido de ajustamento da criança ao meio, seja este familiar, escolar ou de abrigamento. Então o primeiro trabalho (através do que chamamos de Entrevistas de Acolhimento)2 é justamente o de tentar produzir uma inversão neste pedido, dando lugar à demanda de tratamento. Neste tempo preliminar, não sabemos quem é a criança que sofre: se é o filho que nos trazem ou a criança que constitui o infantil dos pais. Ou seja, não sabemos ainda quem é o sujeito em questão ali. A partir desta escuta 2 Refiro-me ao Serviço de Atendimento à Criança e ao Adolescente Françoise Dolto, da Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo, de cuja equipe faço parte. inicial e da discussão do caso em equipe interdisciplinar, é possível pensar numa direção de tratamento – se houver indicação terapêutica para aquela criança. O trabalho complica-se porque a resistência dos pais encontra muitos apoios e incrementos reais: não há quem possa levar a criança porque estão todos trabalhando, são operários e não podem sair do trabalho, ou estão desempregados e não têm dinheiro para as passagens de ônibus; e muitas outras situações decorrentes das fraturas sociais e econômicas desta sociedade desigual em que vivemos. E aqui entra o trabalho de equipe, com as visitas domiciliares, o encaminhamento para aquisição de passagens em alguns casos, o assessoramento às escolas, o contato com outras instituições sociais. Enfim, o trabalho clínico com crianças, numa instituição pública mais do que no consultório, extrapola o setting analítico. Há um transbordamento nesta clínica, que muitas vezes precisa ser contido, pois os excessos vão desde o grande número de terapeutas que uma criança pequena pode ter, até a ronda interminável e estéril pelos serviços de saúde, a quantidade de escolas pelas quais ela já passou, uma sacola repleta de exames ou uma multiplicidade de pessoas e órgãos públicos envolvidos com esta família. Se por um lado não há como se trabalhar com a criança num setting intramuros, por outro, é preciso estancar esta sangria, limpar o campo e, para além destes ruídos, escutar o som do Inconsciente. Convocar o sujeito a que fale, para além da cena que o antecede e que o encobre. É aí que os espaços institucionais de escuta dos pais e dos professores, e o espaço analítico do brincar e do falar oferecido à criança, se potencializam, proporcionando um esvaziamento da posição de um saber cristalizado geralmente em preceitos morais e pseudocientíficos, para dar lugar a um movimento na cadeia significante. Movimento este que permite entrever e legitimar as marcas singulares do sujeito em estruturação. O que se busca nesta escuta é colocar a palavra em circulação, resgatando sua função simbólica. Então, escutar o que os pais têm a dizer, provoca um primeiro efeito de surpresa, porque eles não supõem que tenham muito a falar; ao contrário, acham que vêm para escutar o nosso saber de “especialista”. Nossa escuta analítica convoca primeiramente o olhar: pessoas que não estão habituadas a olhar seus interlocutores erguem suas cabeças baixas e se autorizam a olhar o “doutor” ou a “doutora”; assim também como percebemos que começam a olhar seus filhos e a fazer comentários sobre coisas cotidianas antes não registradas. Um segundo momento de surpresa é quando constatam que desde que começaram a vir falar sobre seu filho, algo incompreensível aconteceu: as coisas começam a mudar, a criança já não está tão agitada, tão agressiva, tão insuportável. Ou, ao contrário, novos sintomas começam a aparecer. Quer dizer: algo se movimenta na dinâmica familiar, e os pais se intrigam; afinal, nada aconteceu, apenas conversas! Este efeito surpresa também aparece em relação ao tratamento de seus filhos, pois alguns pais inicialmente reclamam de que elas, as crianças, “vêm aqui só para brincar”, e mais tarde manifestam sua admiração frente ao fato de que elas estão diferentes, mesmo que não tenham tomado nenhum remedinho, nem recebido nenhum “tratamento sério”, apenas brincavam. A clínica de crianças é uma clínica ruidosa, principalmente nos casos das psicoses ou dos transtornos graves da infância. É recheada de barulhos e gritos, de movimentos corporais, de perguntas insistentes e repetitivas, de lambuzo e sujeiras. Alarga-se nos espaços para fora do consultório: no corredor, na sala de espera, no banheiro ou na cozinha da clínica, no pátio ou até na rua. Também é ruidosa pelo alarido que produz no seu entorno: cenas em casa ou na escola, nas quais é comum que, frente ao descontrole da criança, pais e professores se descontrolem, reagindo de forma desproporcional e alimentando um círculo vicioso em que é preciso, muitas vezes, intervirmos. Por isto o terapeuta de crianças não trabalha sozinho: ele necessita da solidariedade de todos na clínica, desde os que trabalham na recepção, na cozinha, até os colegas da equipe técnica. Ou seja, é preciso um certo entendimento da particularidade daquele trabalho, para que possam ser suportados na instituição os sintomas da criança e da família, sem provocar, ali também, um alarido. Mas ele igualmente não trabalha sozinho no sentido de que é preciso intervir com a família, com a escola, enfim, com as instituições que dizem respeito a essa criança em tratamento. Destaco ainda a importância da abordagem interdisciplinar, onde os diferentes recortes e intervenções sobre o corpo e o sintoma da criança, as diferentes leituras sobre a configuração familiar e social, devem sustentar uma abertura permanente à interrogação sobre os efeitos do tratamento e a direção da cura. A especificidade da psicanálise na equipe interdisciplinar é justamente manter aberto e operante este lugar da interrogação. Neste sentido, a clínica psicanalítica de crianças é artesanal, se faz e se refaz a cada dia, a cada caso, a cada nova situação com que nos deparamos. Não há regras estabelecidas. Há uma práxis terapêutica que é a do trabalho em transferência, nos vários atravessamentos que se entrecruzam (criança, família, escola, outros profissionais e instituições), sustentada por uma formação analítica de um lado, e de outro, por um trabalho interdisciplinar. Este trabalho de equipe também nos interroga de um lugar terceiro, e vem se somar aos efeitos da própria formação analítica. Igualmente permite a expressão e elaboração de angústias e a superação de impasses, através de espaços de fala e de discussão clínica, onde ouvimos o outro e ouvimos a nós mesmos, agora de um novo lugar. Refiro-me a que, muitas vezes, algo diferente se instaura ao ouvirmo-nos, a nós próprios, quando falamos de um caso entre colegas; há uma intermediação ali, na relação de trabalho com nossos pares, que provoca novos efeitos transferenciais naquele caso clínico. Para concluir, reforço apenas que, apesar das “listas de espera”, ou qualquer outra realidade que confira pressão ao trabalho clínico, as indicações terapêuticas perdem sua dimensão ética e sua qualidade analítica quando passam a ser determinadas a priori, sem a escuta e a discussão de caso a caso. É aqui que o psicanalista tem algo a dizer. *Psicanalista do Serviço de Atendimento à criança e ao Adolescente. “Françoise Dolto” – Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo, RS Psicanalista, membro da APPOA.
Baixar