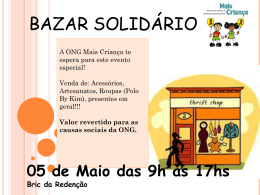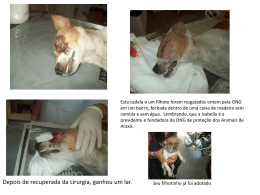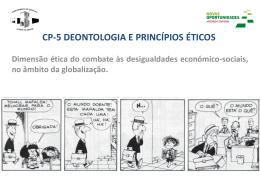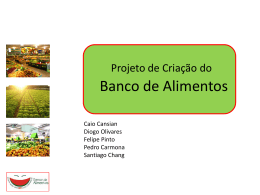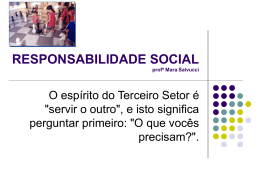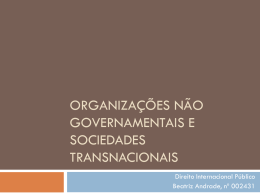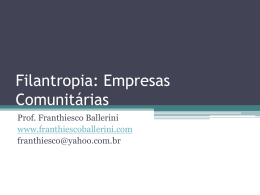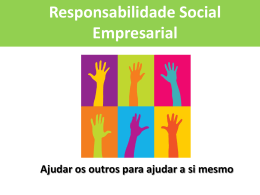UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ DENISE MARIA SAPELLI INDICADORES DE CAPITAL SOCIAL NUMA ORGANIZAÇÃO DE TERCEIRO SETOR Biguaçu 2006 DENISE MARIA SAPELLI INDICADORES DE CAPITAL SOCIAL NUMA ORGANIZAÇÃO DE TERCEIRO SETOR Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Administração no Mestrado Acadêmico em Administração da Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Educação Biguaçu. Orientadora: Profa. Dra. Lucila Maria de Souza Campos Biguaçu 2006 DENISE MARIA SAPELLI CAPITAL SOCIAL: UM ESTUDO APLICADO EM ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR DA CIDADE DE BLUMENAU – SC Esta dissertação foi julgada e aprovada para obtenção do título de Mestre em Administração no Mestrado Acadêmico em Administração, da Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Educação de Biguaçu. Biguaçu, __ de agosto de 2006. ______________________________________________________ Profa. Dra. Lucila Maria de Souza Campos UNIVALI – CE Biguaçu Orientadora ______________________________________________________ Prof. Dr. Miguel Angel Verdinelli UNIVALI – CE Biguaçu Membro ______________________________________________________ Profa. Dra. Christiane Kleinübing Godoi UNIVALI – CE Biguaçu Membro ______________________________________________________ Prof. Dr. Hans Michael van Bellen UFSC Membro RESUMO Capital Social pode ser entendido como elos de solidariedade e de confiança que compõem as relações e os compromissos de cidadãos, tanto profissonais quanto voluntários, a uma causa social. Através dele, uma relação sinérgica entre o Estado e a sociedade civil, pode ser construída. As organizações que compõem o Terceiro Setor auxiliam a criação e manutenção dos vínculos de confiança e reciprocidade que são a base para o funcionamento da sociedade democrática e a economia de mercado. O aumento do tamanho do Terceiro Setor e, com ele, automaticamente, o nível de relacionamento de confiança, tem fomentado a produção de estudos e pesquisas que pretendem compreender este fenômeno sociocultural. Desta forma, a execução de pesquisas sobre capital social se tornou necessária. Portanto, este estudo tem por objetivo geral analisar como se manifestam os indicadores de Capital Social de uma organização do Terceiro Setor, localizada na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, sob a ótica de seus públicos: interno (dirigentes e funcionários) e externo (voluntários, doadores e beneficiados). Para tanto, foi desenvolvido uma pesquisa quantitativa com sua metodologia focada em estudo de caso. O instrumento de coleta foi embasado no questionário desenvolvido por Grootaert et al (2004) para o Banco Mundial, com base em várias pesquisas sobre capital social, desenvolvidas pelo mundo, e a ferramenta utilizada para análise dos dados foi a análise multivariada de clusters. Foi realizada uma pesquisa exploratória, com o universo de 64 questionários, distribuídos entre o público interno e externo. A análise multivariada de clusters foi executada por meio de dendrogramas e tabelas de distribuição dos agrupamentos. Os resultados obtidos atestaram a presença dos indicadores de capital social dentro da organização pesquisada, tanto no público interno quanto no público externo. Esses resultados poderão auxiliar a organização a gerar estratégias para utilizar os recursos disponíveis de capital social no desenvolvimento de ações visando parcerias no setor, como também captação de doações e de voluntariado. Palavras-chave: Capital social, terceiro setor, indicadores. LISTA DE QUADROS Quadro 1: Sínteses de algumas definições, ênfases, benefícios e variáveis do capital social .........................................................................................................................26 Quadro 2: Definições de capital social, objeto, método e variáveis de acordo com Organizações e Programas Internacionais................................................................35 Quadro 3: Seis indicadores do capital social.............................................................56 Quadro 4: Indicadores e seções do questionário ......................................................57 Quadro 5: Sexo dos pesquisados .............................................................................67 Quadro 6: Faixa etária dos pesquisados...................................................................67 Quadro 7: Estado civil ...............................................................................................68 Quadro 8: Escolaridade.............................................................................................68 Quadro 9: Escala de concordância/discordância de 6 pontos...................................72 Quadro 10: Escala de concordância/discordância de 5 pontos.................................74 Quadro 11: Escala de concordância/discordância de 6 pontos.................................84 LISTA DE TABELAS Tabela 1: Formas de capital e definições ..................................................................20 Tabela 2: Dimensões do capital social estrutural e cognitivo ....................................27 Tabela 3: Formas primárias e secundárias do capital social estrutural e cognitivo ...29 Tabela 4: Medidas de capital social no nível comunitário..........................................32 Tabela 5: Abordagens do capital social, idéias principais e contribuições relevantes ..................................................................................................................................37 Tabela 6: Tripé Estado-Sociedade-Mercado .............................................................39 Tabela 7: Estratos pesquisados ................................................................................54 Tabela 8: Siglas dos públicos....................................................................................69 Tabela 9: Representação Público Interno – Seção A – Grupo e Rede de Relacionamentos.......................................................................................................71 Tabela 10: Representação Público Interno – Seção B..............................................73 Tabela 11: Representação Público Interno – Seção C – Ação Coletiva e Cooperação ..................................................................................................................................76 Tabela 12: Representação Público Interno – Seção D – Comunicação e Informação ..................................................................................................................................78 Tabela 13: Representação Público Interno – Seção E – Coesão social e Inclusão ..79 Tabela 14: Representação Público Interno – Seção F – Acréscimo de Força e Ação Política.......................................................................................................................81 Tabela 15: Representação Público Externo – Seção A – Grupo Rede de Relacionamentos.......................................................................................................84 Tabela 16: Representação Público Externo – Seção B.............................................86 Tabela 17: Representação Público Externo – Seção C – Ação Coletiva e Cooperação...............................................................................................................89 Tabela 18: Representação Público Externo – Seção D – Comunicação e Informação ..................................................................................................................................91 Tabela 19: Representação Público Externo – Seção E – Coesão social e Inclusão .93 Tabela 20: Representação Público Externo – Seção F – Acréscimo de Força e Ação Política.......................................................................................................................95 Tabela 21: Cruzamento Públicos – Seção A – Grupo e Rede de Relacionamentos.96 Tabela 22: Cruzamento Públicos – Seção B – Confiança e Solidariedade ...............98 Tabela 23: Cruzamento Públicos – Seção C – Ação Coletiva e Cooperação ...........99 Tabela 24: Cruzamento Públicos – Seção D – Comunicação e Informação ...........101 Tabela 25: Cruzamento Públicos – Seção E – Coesão social e Inclusão ...............102 Tabela 26: Cruzamento Públicos – Seção F – Acréscimo de Força e Ação Política ................................................................................................................................104 LISTA DE FIGURAS Figura 1: Dendrograma Público Interno – Seção A – Grupo e Rede de Relacionamentos.......................................................................................................70 Figura 2: Dendrograma Público Interno – Seção B – Confiança e Solidariedade .....72 Figura 3: Dendrograma Público Interno – Seção C – Ação Coletiva e Cooperação .74 Figura 4: Dendrograma Público Interno – Seção D – Informação e comunicação ....76 Figura 5: Dendrograma Público Interno – Seção E – Coesão social e inclusão........78 Figura 6: Dendrograma Público Interno – Seção F – Acréscimo de Força e Ação Política.......................................................................................................................79 Figura 7: Dendrograma Público Externo – Seção A..................................................82 Figura 8: Dendrograma Público Externo – Seção B – Confiança e Solidariedade ....85 Figura 9: Dendrograma Público Externo – Seção C – Ação coletiva e cooperação..87 Figura 10: Dendrograma Público Externo – Seção D – Informação e Comunicação 90 Figura 11: Dendrograma Público Externo – Seção E – Coesão social e inclusão ....92 Figura 12: Dendrograma Público Externo – Seção F – Acréscimo de Força e Ação Política.......................................................................................................................94 LISTA DE GRÁFICOS Gráfico 1: Gráfico Público Interno – Seção D – Informação e Comunicação ............77 Gráfico 2: Comunicação e Informação – Grupo D – Público Externo........................91 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................11 1.1 Contextualização...............................................................................................11 1.2 Objetivo geral ....................................................................................................15 1.3 Objetivos específicos........................................................................................15 1.4 Justificativa........................................................................................................15 1.5 Estrutura da dissertação ..................................................................................18 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .............................................................................19 2.1 Capital social .....................................................................................................19 2.1.1 Formas de capital........................................................Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Gênese do conceito Capital Social........................................................................... 21 2.1.3 Conceitos gerais de Capital Social .............................Error! Bookmark not defined. 2.1.4 Formas de Capital Social.......................................................................................... 27 2.1.5 Medição dos aspectos estruturais e cognitivos do Capital Social... Error! Bookmark not defined. 2.2 Terceiro Setor ....................................................................................................38 2.2.1 Um resgate das origens do termo Terceiro Setor..................................................... 40 2.2.2 Dificuldades para conceituar o Terceiro Setor e as organizações que o compõem 43 2.2.3 Desafios comuns às organizações que compõem o Terceiro Setor........................ 45 2.2.4 A produção acadêmica sobre o Terceiro Setor ........................................................ 49 3 METODOLOGIA ....................................................................................................51 3.1 Coleta de dados.................................................................................................53 3.2 Estrutura do instrumento de coleta de dados ................................................54 3.2.1 Aplicação do questionário......................................................................................... 58 3.3 Análise e interpretação dos dados ..................................................................59 3.3.1 Tratamento e análise dos dados............................................................................... 60 4 RESULTADOS DA PESQUISA .............................................................................63 4.1 Estudo de caso – ONG......................................................................................63 4.2 Caracterização do universo pesquisado.........................................................66 4.3 Público interno ..................................................................................................69 4.3.1 Grupo e rede de relacionamentos – seção A – público interno................................ 69 4.3.2 Confiança e solidariedade – seção B – público interno............................................ 71 4.3.3 Ação coletiva e cooperação – seção C – público interno......................................... 73 4.3.4 Comunicação e informação – seção D – público interno ......................................... 76 4.3.5 Coesão social e inclusão – seção E – público interno.............................................. 78 4.3.6 Acréscimo de força e ação política – seção F – público interno............................... 79 4.4 Público Externo .................................................................................................81 4.4.1 Grupo e rede de relacionamentos – seção A – público externo............................... 81 4.4.2 Confiança e solidariedade – seção B – público externo........................................... 84 4.4.3 Ação coletiva e cooperação – seção C – público externo........................................ 87 4.4.4 Comunicação e informação – seção D – público externo ........................................ 89 4.4.5 Coesão social e inclusão – seção E – público externo............................................. 91 4.4.6 Acréscimo de força e ação política – seção F – público externo.............................. 93 4.5 Cruzamento dos públicos.................................................................................95 4.5.1 Grupo e rede de relacionamentos – seção A ........................................................... 95 4.5.2 Confiança e solidariedade – seção B ....................................................................... 98 4.5.3 Ação coletiva e cooperação – seção C .................................................................... 99 4.5.4 Comunicação e informação – seção D................................................................... 101 4.5.5 Coesão social e inclusão – seção E ....................................................................... 102 4.5.6 Acréscimo de força e ação política – seção F ........................................................ 103 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES ...........................................105 5.1 Considerações finais ......................................................................................105 5.2 Limitações........................................................................................................108 5.3 Recomendações para pesquisas futuras......................................................109 REFERÊNCIAS.......................................................................................................110 APÊNDICE A – Questionário ................................................................................116 APÊNDICE B – Carta .............................................................................................120 11 1 INTRODUÇÃO 1.1 Contextualização do tema Embora o conceito de capital social não seja novo, ele ganhou “notoriedade a partir do livro de Robert Putnam publicado em 1993, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy – Comunidade e democracia: a experiência da Itália Moderna.” (D’ ARAÚJO, 2003, p. 11). E o conceito de capital social, mesmo sendo antigo, agora aparece renovado por alguns pesquisadores, ao mesmo tempo em que é criticado por outros. (FERRAREZI, 2003). A relação de capital social e sociedade surge no texto de Evans (apud ABRAMOVAY, 1998), que descreve as características pré-existentes de capital social como recursos valiosos para construir uma relação sinérgica entre o Estado e a sociedade civil, mas que não podem ser consideradas como o fator único de decisão. Para Evans as comunidades que desfrutam os benefícios da sinergia não desfrutam e nem sempre apresentam índices prévios excepcionais de capital social. O capital social de uma organização é algo de inegável valor. São os elos de solidariedade e confiança que permeiam de forma espontânea as relações e os compromissos de cidadãos, tantos profissionais quanto voluntários, a uma causa social. Segundo Ferrarezi (2003), desde a década de 90, autores como Putnam têm destacado a existência de determinadas características sociais num dado território, como a confiança generalizada nos demais, a atuação em associações, a noção do capital social que popularizou o argumento de que a dimensão social é um componente central na explicação do desenvolvimento econômico. Pesquisa efetuada por Putnam (1995) detectou que o capital social está declinando na América do Norte, pois as pessoas estão desenvolvendo suas atividades isoladamente. O declínio do voluntarismo e das atividades associativas, descritas pelo autor, foram ponto de partida para um debate em torno do tema, para políticas e debates acadêmicos. (HUTCHINSON; VIDAL, 2004). 12 O termo Terceiro Setor surgiu para conceituar as organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, criadas e mantidas com ênfase na participação voluntária, que têm como foco a atuação na área social visando à solução dos problemas sociais. (IOSCHPE, 2000). Entende-se que a expansão do Terceiro Setor, como tem se apresentado nas últimas décadas no Brasil, possibilitou uma grande diversificação das organizações que o compõem, tanto por causa do campo de ação quanto pelas formas de atuação dessas organizações. Para Cardoso (1997), na década de 80, foram as ONGs que articularam recursos e experiências na sociedade, ganhando visibilidade e novos espaços de participação cidadã. A autora ressalta que hoje essas organizações são compostas por instituições filantrópicas, organizações voltadas para a defesa dos direitos de grupos específicos, trabalho voluntário e o fenômeno crescente da filantropia empresarial. Em função disto, o que se pode observar é um crescente consenso sobre as limitações do papel do Estado como agente de desenvolvimento e dos pontos positivos do envolvimento das instituições do Terceiro Setor para suprir essa deficiência. (SALAMON, 1994, 1998). Entretanto, as organizações do Terceiro Setor enfrentam uma série de problemas, dentre os quais, o extenso tratamento jurídico, a falta de definição conceitual, as listagens oficiais incompletas e a imperfeição de tratamento nas estatísticas. (SALAMON, 1998). Esses dados imprecisos nas estatísticas são percebidos quando se procura os números do Terceiro Setor no Brasil. Estudo realizado pela Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos, em parceria com o Instituto de Estudos da Religião do Rio de Janeiro, e publicado pela Revista Veja, em edição especial de 26 de dezembro de 2001, constatou que no Brasil existiam até aquele ano cerca de 220.000 entidades voltadas para questões de cidadania. Só no Conselho Nacional de Assistência Social, que é o órgão responsável pela fiscalização do setor, existiam mais de 14.000 instituições sem fins lucrativos cadastradas até 2001. Neste cadastro, encontravam-se grandes instituições, tais quais a Pastoral da Criança, composta por 15.000 voluntários que atendem 1,5 milhão de pessoas, distribuídas em 27 estados brasileiros e que, no ano de 2001, teve um orçamento de 17,2 milhões de reais. Este número denota que cresce o espírito de cidadania e solidariedade, o que torna este setor tão importante 13 para o desenvolvimento social do país, porque quanto maior é o número de voluntários, maior será a assistência fornecida e menor a demanda social não atendida pelas políticas sociais do governo. (FRANCO; PEREIRA; SARTORI, 2003). Segundo o site da Rits – Rede de Informações para o Terceiro Setor – existem cerca de 250 mil Organizações da Sociedade Civil (OSCs) no Brasil que empregam cerca de 1,5 milhão de pessoas. (RITS, 2005). O que elas fazem? Uma variedade de atividades de interesse público: assistência social, educação, saúde, esportes e lazer, meio ambiente, geração de emprego e renda, artes e cultura, ciência e tecnologia, comunicação, segurança pública etc. Os tipos mais antigos são os de assistência social, ligados à igreja católica, como os orfanatos criados nos tempos coloniais. As ONGs fazem parte dos tipos mais recentes, que se proliferaram nos anos 1980, na defesa dos direitos humanos e em projetos de desenvolvimento social. Há, também, as ONGs que defendem os interesses das mulheres, de minorias e do meio ambiente. De acordo com a Rits, as maiores são as voltadas à educação e a área da saúde. Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, o Brasil registra mais de 250 mil organizações nãogovernamentais – mesmo número encontrado no Rits –, que movimentam anualmente cerca de R$ 12 bilhões e empregam cerca de 1,2 milhão de pessoas. A participação do Terceiro Setor na economia brasileira representa 1,5% no PIB nacional. (ROSA; COSTA, 2003). Essa falta de clareza conceitual e de composição das organizações gera vários desafios para as organizações do Terceiro Setor suplantarem. Tenório (1999) destaca quatro grandes desafios, como: expansão das ações sociais para além das áreas em que a organização trabalha; a necessidade de sair da clandestinidade e divulgar seu trabalho, suas atividades, mostrando o que são, qual o motivo da luta e o que se propõem, para aumentar o número de adeptos; parar de lutar contra o Estado e promover parcerias com o setor público e privado, e; obter financiamentos, uma vez que órgãos internacionais direcionam os esforços econômicos para regiões como a África e Leste europeu, que vivem em condições precárias. Desta forma, o terceiro setor contribui para a sociedade de várias maneiras, explora soluções para os problemas cívicos e providencia atendimento para aqueles que necessitam, identificam problemas sociais e tentam mobilizar um suporte público 14 amplo para solucionar estes problemas. São essas organizações que criam e sustentam os vínculos de confiança e reciprocidade que são pivôs para o funcionamento da sociedade democrática e a economia de mercado. (HALPERN, 1996). A crescente expansão do terceiro setor tem estimulado a produção de estudos e pesquisas que visam compreender este fenômeno sócio-cultural, que surge como possibilidade de ser um reflexo de um conjunto de tendências interrelacionadas e complexas, tal qual a adoção do discurso de cidadania empresarial e responsabilidade social por parte das empresas privadas. Para Eikenberry e Kluver (2004), as organizações do terceiro setor também são importantes, pois reforçam a sociedade civil através de seus papéis de guardiãs de valores, provedoras de serviços e construtoras de capital social. Desta forma, parece oportuno refletir sobre a seguinte questão: existe congruência entre a percepção dos públicos/grupos envolvidos em uma organização do terceiro setor sobre a manifestação dos indicadores de capital social? Para tanto, optou-se por restringir a abrangência desta pesquisa em uma organização do Terceiro Setor sediada em Blumenau, estado de Santa Catarina. A partir da pergunta de pesquisa, foram gerados o objetivo geral e os objetivos específicos que nortearam o desenvolvimento deste estudo teórico-empírico. 15 1.2 Objetivo geral O objetivo geral deste estudo é analisar como se manifestam os indicadores de Capital Social de uma organização do Terceiro Setor, localizada na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, sob a ótica de seus públicos: interno (dirigentes e funcionários) e externo (voluntários, doadores e beneficiados). 1.3 Objetivos específicos • Definir um conjunto de indicadores de Capital Social a ser pesquisado na organização de terceiro setor. • Mensurar a percepção de cada público sobre os indicadores de Capital Social. • Comparar a percepção do público interno e do público externo da organização pesquisada sobre os indicadores de capital social definidos. Espera-se que os resultados obtidos contribuam não somente para a organização estudada, mas também para aqueles interessados no estudo acadêmico do Capital Social, em especial, em organizações do Terceiro Setor. 1.4 Justificativa Neste trabalho são analisados os indicadores de capital social de uma organização do Terceiro Setor na percepção do seu público interno e externo. A importância desta discussão está embasada na idéia de Putnam (1996) de que o estudo do tema capital social é importante para o desenvolvimento de uma sociedade onde as associações civis contribuem para a eficácia e a estabilidade dos governos democráticos, em decorrência das externalidades positivas, produzidas sobre o indivíduo e sobre a sociedade. 16 Assim, contribuições no sentido de identificar os indicadores de capital social são importantes para as organizações que compõem o Terceiro Setor, uma vez que seus efeitos são interessantes para o relacionamento com outras esferas (pública e privada). De acordo com Falconer (1999, p. 4), “o estudo do terceiro setor, ou das organizações sem fins lucrativos, é, atualmente, um dos temas que mais desperta interesse nas escolas e faculdades de Administração no Brasil”, pois reflete a atenção pública que este setor vem recebendo nos últimos anos. Para o autor, o Estado, as empresas privadas, a mídia e a própria sociedade, estão, neste momento, olhando com mais seriedade as organizações que fazem parte do terceiro setor, e a universidade é demandada para produzir o conhecimento que possibilite compreender este fenômeno, apoiando seu desenvolvimento. (FALCONER, 1999). Outro fator que auxilia na justificativa encontra base na pesquisa desenvolvida por Iizuka e Sano (2004), publicada nos Anais do Enanpad de 2004, em que estes pesquisadores estudaram as produções acadêmicas referentes ao Terceiro Setor, de 1990 até 2003, publicadas nos Anais do EnANPAD. Este estudo detectou que de 3.360 artigos publicados durante os 14 anos de análise, apenas 37 eram sobre o Terceiro Setor, o que representou, em porcentagem, 1,1% da produção científica total. Além disto, quando analisado o referencial teórico utilizado para o desenvolvimento de cada artigo, não aparece nenhum artigo tendo o capital social como fundamentação teórica, apenas um artigo surge contendo uma fundamentação embasada em redes. (IIZUKA; SANO, 2004). Dos temas pesquisados nos Anais do EnANPAD, a conceitualização do Terceiro Setor foi o tema mais estudado, com 07 ocorrências. Gestão Pública foi tema presente em 05 artigos, exclusão digital, governança e marco legal apareceram como foco em 03 artigos cada. Captação de recursos foi pesquisado duas vezes, o mesmo número que representou cidadania e, também, o tema voluntariado. (IIZUKA; SANO, 2004). Quando pesquisado em periódicos internacionais, de acordo com Bueno et al (2004), há algumas abordagens sobre capital social: (a) ligado a teorias do desenvolvimento econômico, estudadas por Putnam (1994), Knack e Keefer (1997), Stiglitz (1998), Chloupkova et al (2003) e Onyx e Bullen (2000); (b) responsabilidade social e ética, pesquisadas por Coleman (1990); Newton (1997); Chang (1997); Kawachi et al (1997), Bullen e Onyx (1998); Joseph (1998); Cortina (2000); Baron 17 (2001); (c) Governança Corporativa, pesquisada por Baas (1997); Sen (1997); Zingales (2000); Rajan e Zingales (2000); (d) Capital Intelectual, estudado por Nahapiet e Ghoshal (1996); Koening (1998), Prusak (1998); Lesser e Prusak (1999); Lesser (2000), Cohen e Prusak (2001); Kenmore (2001); Lesser e Cothrel (2001); McElroy (2001). Os indicadores de capital social pesquisados na literatura apresentam características peculiares ao conceito de terceiro setor: solidariedade, confiança, rede de relacionamentos. A abordagem do mais conhecido autor sobre o tema, Robert Putnam, refere-se à natureza e extensão do envolvimento de um indivíduo em redes informais e associações formais. Para Putnam (1996), nas associações é que se torna possível aos indivíduos aprenderem hábitos de cooperação, solidariedade e espírito público, construindo confiança social, consciência e participação política. Ou seja, confiança, normas e redes poderiam melhorar a eficiência da sociedade ao facilitar ações coordenadas. (FERRAREZI, 2003). Internamente, o que se pode observar é que “as associações incutem em seus membros hábitos de cooperação, solidariedade, senso de responsabilidade comum em relação a empreendimentos coletivos” (FERNANDES, 2002, p. 385). Mas, cabe aqui uma ressalva no sentido de que nem toda e qualquer associação que seja dotada internamente de capital social necessariamente venha a contribuir para o acréscimo de civismo do todo social, ou seja, para o desenvolvimento do capital social em uma sociedade. (FERNANDES, 2002). Desta forma, mesmo que haja um aumento no número de iniciativas, detectadas em diversos setores da sociedade, refletindo-se, também, na ampliação do número de pesquisas realizadas, isso, ainda, não significa que se tenha chegado a algum consenso nesta temática, principalmente, por não haver uma clareza na própria utilização dos conceitos de Terceiro Setor e Capital Social. Ao mesmo tempo em que alguns autores tentam definir esses conceitos, outros lançam questionamentos, muitas vezes, com grande vigor, sobre as origens, os interesses e as intenções das pessoas em querer disseminar uma nova temática, apresentando-a como uma maneira de enfrentar os problemas sociais e econômicos. Desta forma, há poucos consensos e muitas discordâncias sobre as temáticas do Terceiro Setor e Capital Social, sendo este um dos motivos para se efetuar mais e melhores pesquisas, associanda-os aos estudos prévios sobre o assunto. 18 Neste contexto, busca-se com este trabalho colaborar na evolução das produções de cunho acadêmico relacionadas ao Terceiro Setor e ao Capital Social, frente ao interesse tanto profissional quanto acadêmico em torno deste tema, uma vez que os desafios enfrentados pelo Terceiro Setor encontram no capital social uma forma de resolução, haja vista que este tipo de capital permite a integração dos componentes ao processo no qual as organizações estão inseridas, e levando-se em consideração, também, que a execução de suas atividades depende de doações e da ampliação das suas fontes de recursos tanto materiais quanto de capital social. 1.5 Estrutura da dissertação Para atender os objetivos da pesquisa, este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo introduz e contextualiza o tema, apresenta os objetivos e a justificativa para realização da pesquisa. O segundo capítulo apresenta as bases teóricas sobre os temas Capital Social e Terceiro Setor. A construção deste capítulo foi baseada em leituras de periódicos nacionais e internacionais, anais de eventos, livros e informativos via internet. Além da definição destes conceitos, são discutidos os diversos indicadores apresentados na literatura para mensuração do capital social. A discussão teórica realizada neste capítulo justifica a definição dos indicadores utilizados na construção do instrumento de pesquisa. No capítulo três é apresentada a escolha metodológica que norteou a pesquisa caracterizada como estudo de caso. Neste capítulo, também, está detalhado o instrumento de coleta dos dados. Os resultados das análises deste estudo são apresentados e discutidos no quarto capítulo, iniciando pela descrição da ONG pesquisada, a visão do público interno, seguido da análise do público externo e, posteriormente, cruzando os dados obtidos dos dois públicos da organização. O capítulo cinco conclui o estudo, destacando os principais resultados obtidos e as considerações finais sobre o problema discutido. Além disso, o capítulo contém discussões sobre as limitações da pesquisa e sugestões de futuros trabalhos. 19 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA Neste capítulo, o objetivo principal foi pesquisar o referencial teórico sobre os temas Capital Social e Terceiro Setor, a fim de proporcionar um maior esclarecimento sobre esses assuntos. Esta seção do trabalho está estruturada da seguinte maneira: inicialmente é apresentada a revisão sobre o tema Capital Social e finaliza-se com o análise do tema Terceiro Setor, em que são descritas as origens, as organizações que fazem parte deste setor e os desafios por elas enfrentados. 2.1 Formas de Capital: uma discussão preliminar Economistas do século XIX, incluindo Karl Marx, falavam apenas de dois tipos de capital: físico e financeiro. Mas, sendo a palavra capital definida como suprimento de valores que facilitam ações, possivelmente, outras formas de capital podem ser inseridas neste contexto. Desta maneira, para estudar capital social torna-se necessário que este seja situado em um contexto que inclua outros tipos de capital. (HUTCHINSON; VIDAL, 2004). Esses outros tipos de capital podem ser classificados como: humano (HUTCHINSON; VIDAL, 2004; ARIZPE, 1998), financeiro (HUTCHINSON; VIDAL, 2004), físico (HUTCHINSON; VIDAL, 2004; ARIZPE, 1998), social (HUTCHINSON; VIDAL, 2004; ARIZPE, 1998), cultural (HUTCHINSON; VIDAL, 2004) e intelectual (BUENO et al, 2004). E, de acordo com Hutchinson e Vidal (2004), foi Bourdieu que em 1986 adicionou as três novas formas de capital já citadas: humano, cultural e social. Os economistas do Banco Mundial determinam que o capital natural também é parte integrante desse contexto. Através de estudos, passaram a distinguir quatro formas básicas de capital na avaliação de projetos de desenvolvimento: natural, físico, humano e social. O capital natural é constituído pelos recursos naturais aproveitáveis em cada espaço geográfico-ecológico; o capital físico é construído pela sociedade, tal como a infra-estrutura, as máquinas e equipamentos, o sistema financeiro; o capital humano é resultado do nível de educação, saúde e acesso à informação da população, e o capital social – conceito inovador nas análises e 20 propostas de desenvolvimento, expressa a capacidade de uma sociedade estabelecer laços de confiança interpessoal e redes de cooperação com a intenção de produzir bens coletivos. Ao tentar desvendar as causas da dinâmica de expansão do sistema de produção capitalista, nas últimas décadas, privilegia-se a contribuição do capital social e humano para o desenvolvimento tecnológico, o aumento da produtividade e o próprio crescimento da economia. (ARIZPE, 1998; D’ARAÚJO, 2003). Bueno et al (2004) conceituam o capital intelectual como uma expressão que se agrega nos bens intangíveis que a organização possui. Esses bens advêm de processos de conhecimento e de atividades intangíveis que venham a adicionar valor ao financeiro e ao capital tangível da organização. A Tabela 1 apresenta as formas de capital com suas definições resumidas. Tabela 1: Formas de capital e definições Formas de Capital Definições Financeiro Físico Humano Cultural Social Natural Intelectual Dinheiro disponível para investimento. Patrimônio real, equipamentos, e/ou infra-estrutura. Treinamento que incrementa a produtividade no trabalho. Alto conhecimento cultural que pode ser transformado em vantagem sócioeconômica própria. Relacionamentos de confiança embutidos em redes sociais. Recursos naturais aproveitáveis em cada espaço geográfico-ecológico. Bens intangíveis que a organização possui, que vêm de processos de conhecimento e de atividades intangíveis e adicionam valor financeiro ao capital tangível da organização. Fonte: Adaptado de Hutchinson e Vidal (2004); Bueno et al (2004) Todas as formas de capital podem ser entendidas de maneira independente, mas, de acordo com Hutchinson e Vidal (2004), são melhor entendidas quando analisadas através de suas reciprocidades e interdependências. Os autores salientam, também, que para o melhor entendimento do conceito capital social é necessário compreender os conceitos de capital humano e cultural. Rattner (2003) relata, ainda, que enquanto o capital humano é fruto das ações dos indivíduos em busca de aprendizado e aperfeiçoamento, o capital social é fundamentado nas relações entre os atores sociais que estabelecem entre si expectativas e obrigações mútuas, para, desta maneira, estimular a confiabilidade nas relações sociais e agilizar o fluxo de informações, tanto internas quanto externas. Contrariamente à formação de capital humano que estimula o individualismo, a construção de capital social atinge favoravelmente a coesão da família, da comunidade e da sociedade. A cultura, por sua vez, constitui o campo de ação onde a sociedade gera seus valores 21 e os passa de geração a geração. São esses valores positivos que têm o potencial de atrair voluntários e militantes em ONGs e movimentos sociais. E ressalta que as predominâncias de valores que são contrários à solidariedade e cooperação ajudam a expandir as redes de corrupção e delinqüência em quaisquer que sejam os níveis da sociedade. Mesmo pensamento possui Fernandes (2001, apud PUTNAM, 1993), ressaltando que não é o fato de ser dotado internamente de capital social que fará com que se acumule civismo ou se desenvolva capital social em uma determinada sociedade. Como exemplo, cita a máfia, que é uma organização associativa que trabalha o conceito de proteção contra a violência em troca de poder violar a lei. Do ponto de vista do capital social, ela é dotada internamente dos elementos que o compõem, como as normas de reciprocidade, laços de confiança, fidelidade e redes entre as famílias. Mas, olhando do ponto de vista externo, a máfia é uma organização que aniquila as instituições públicas através de práticas não tão aceitas pela sociedade, como: corrupção, aliciamento, coação física através de violência contra servidores públicos e cidadãos ou mesmo de concorrentes de mercado, para assegurar seu poder. Portanto, a criação de capital social, de acordo com Fukuyama (2003), não é tão diferente quanto à criação de capital humano para a organização, pois isso só se consegue através do investimento em educação e, por isso, faz-se necessária a capacitação e uma infra-estrutura organizacional que permita o desenvolvimento destes capitais. A diferença, segundo o autor, é que o capital humano é passado através da transmissão de certas atitudes e conhecimentos específicos e o capital social necessita incutir normas e valores compartilhados e isto só se consegue mediante hábito, experiência compartilhada e através de um exemplo de liderança. 2.2 Capital Social: origem e definições O Capital Social consiste no potencial de relacionamento e na capacidade de interação dos indivíduos. Sabe-se que para a criação de projetos coletivos há a necessidade do engajamento de muitos na ação e, para tanto, é de suma importância a confiança, a interação e o bom relacionamento entre os indivíduos das comunidades. 22 O conceito de capital social não é novo (PORTES, 1998; D’ARAÚJO, 2003), pois, de acordo com Paldam e Svendsen (1999), as idéias que o perpassam vêm de um longo caminho dentro das ciências sociais. A importância dos valores e do contrato social já havia sido citada por Rousseau, em 1762. Max Weber, em 1904, enfatizou a importância do aspecto cultural para a acumulação do capital através do valor ao trabalho, à economia e à honestidade. (PALDAM; SVENDSEN, 1999). Para Putnam (1995), Jane Jacobs teria sido a primeira pessoa a utilizar o termo capital social com o teor que se conhece atualmente. Este pensamento é corroborado por Franco (2001, p. 85), quando esclarece que depois de Tocqueville, a autora teria sido a primeira a explorar, em 1961, a “intimidade sociológica do fenômeno que se quer captar com o conceito de Capital Social”. No seu livro Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, datado de 1961, a autora usa a expressão Capital Social para falar das redes de relações do bairro: “essas redes são o capital social urbano insubstituível”. (JACOBS, 1961, p. 151). Mas, Franco (2001, p. 506) fala sobre um certo ‘disse-que-disse’ generalizado entre os estudiosos sobre as fontes que introduziram o conceito. Para justificar esta crítica, Franco (2001) descreve as várias citações feitas do ponto de vista dos teóricos mais famosos. Fukuyama, em 1995, também fez o registro como sendo Jacobs a precursora, mas, em 1999, o autor diz que a expressão capital social foi usada inicialmente por Lyda Judson Hanifan, no ano de 1916, para descrever os centros comunitários das escolas rurais. Franco (2001) continua sua argumentação, salientando que Putnam também se contradiz quando descreve uma citação de James Coleman, designando Glen Loury, em 1977, a introdutora do conceito. Mas, numa análise mais aprofundada, Franco (2001, p. 90) deixa claro que Jane Jacobs não somente usou a expressão Capital Social. Para ele, a autora “desenvolveu este conceito, aportando contribuições novas e substantivas para desvendar o processo de sua formação em comunidade”. Desta forma, percebe-se que não há, ainda, uma definição factual sobre a gênese do conceito de capital social e a maioria dos autores recorre a definições relacionadas com suas funções, ressaltando em determinados momentos os aspectos da estrutura social ou o uso desse recurso por indivíduos. 23 Capital Social é um conceito que demanda do campo sociológico. (MELÉ, 2003). Recebe várias atribuições, como sendo focado para comunidades (PUTNAM, 1996), redes sociais (ADLER; KWON, 2002) e nações (FUKUYAMA, 2004). Na definição de Milani (2003), capital social refere-se à associação, isto é, o capital pertence a uma coletividade ou a uma comunidade; ele é compartilhado e não pertence somente a indivíduos. Para o autor, capital social não se gasta com o uso; pelo contrário, é a sua utilização que o faz crescer. Nesse sentido, a noção de capital social indica que os recursos são compartilhados no nível de um grupo e sociedade, além dos níveis do indivíduo e da família. Significa que o capital social existe e cresce a partir de relações de confiança e cooperação e não de relações baseadas no antagonismo. Para o mesmo autor, capital social é capital porque, utilizando a linguagem dos economistas, ele se acumula, podendo produzir benefícios, tendo estoques e uma série de valores. O capital social refere-se a recursos que são acumulados e que podem ser utilizados e mantidos para uso futuro. Não se trata, porém, de um bem ou serviço de troca. Pode ser um dos elementos estratégicos fundamentais para avaliar a sustentabilidade de projetos e políticas. Para Putnam (1993, p. 2), [...] capital social refere-se a aspectos da organização social, tais como redes, normas e laços de confiança que facilitam a coordenação e cooperação para benefícios mútuos. Capital social aumenta os benefícios de investimento em capital físico e humano. De acordo com Costa (2004), o capital social de uma comunidade pode ser entendido como a capacidade de interação dos indivíduos com os que estão ao seu redor, sendo que quanto mais o indivíduo interage com os outros, mais ele está apto a reconhecer comportamentos, intenções, valores, competências e conhecimentos que compõem seu meio. E o inverso também se aplica, pois quanto menos alguém interage, menos esse indivíduo tenderá a desenvolver plenamente essa habilidade que é a percepção do outro. Para compreender as definições dadas a capital social por vários autores, o quadro 1 foi adaptado de Milani (2003), de maneira a ressaltar a ênfase na qual a definição do conceito foi concentrada, quais os benefícios e os indicadores do capital social na visão desses pesquisadores. É possível observar que há uma variação nas 24 definições de capital social, pois Milani (2003) expõe que o capital social pode ser compreendido dentro de uma relação de causa e efeito. Tem impacto numa série de comportamentos humanos e atividades sociais, uma vez que está fundamentado em relações sociais. Ocampo (2003) expõe que a base para a construção do capital social é encontrada em todas as sociedades, com particularidades próprias de cada cultura, e as pessoas acabam por usá-la, buscando atingir suas metas quanto à satisfação de suas necessidades de ordem econômica, social e afetiva. Definição Conjunto de recursos reais ou potenciais resultantes do fato de pertencer de modo mais ou menos institucionalizado, a redes de conhecimento e reconhecimento mútuos. Mark Granovetter As ações econômicas dos agentes estão inseridas em redes de relações sociais, que são potencialmente criadoras de capital social, podendo contribuir na redução de comportamentos oportunistas e na promoção da confiança mútua entre os agentes econômicos. O capital social é definido pela sua função. É uma variedade de entidades tendo duas características em comum: estrutural social e facilita ações dos indivíduos que se encontram dentro desta estrutura social. Robert Putnam Refere-se a aspectos da organização social, tais como redes, normas e confiança, que facilitam a coordenação e a cooperação para benefício mútuo. James Coleman Autor Pierre Bourdieu Sistemas de apoio familiar. Sistemas escolares (católicos) na constituição do capital social nos EUA. Organizações horizontais e verticais. Indicadores • Durabilidade e o tamanho da rede de relações. • Conexões que a rede pode efetivamente mobilizar. Intensidade da vida associativa (associações horizontais). Leitura dos meios de comunicação. Número de votantes. Quantidade de membros de corais e clubes de futebol. Confiança nas instituições públicas. Relevância do voluntariado. Critica as duas visões do O capital social seria um Duração das relações (consideradas comportamento econômico: visão bem público e um bem positivas e simétricas). neoclássica (sub-socializada), pois privado, ao mesmo Intimidade. percebe os indivíduos apenas tempo. Intensidade emocional. como forma atomizada, Serviços recíprocos prestados. desconectado das relações sociais; e a estruturalista e marxista (super-socializada), onde os indivíduos são considerados dependentes total de seus grupos sociais e do sistema social a que pertencem. Resultam da simpatia de uma pessoa ou grupo social e do sentido de obrigação com relação à outra pessoa ou grupo social. Benefícios Individuais e para a classe social a que pertencem os indivíduos beneficiados. A dimensão política se sobrepõe à Individuais e coletivos. dimensão econômica: as tradições cívicas permitem-nos prever o grau de desenvolvimento e não o contrário. A “performance institucional” está condicionada pela comunidade cívica. Ênfase Parte do princípio de que o capital e suas diversas expressões (econômico, histórico, simbólico, cultural, social) podem ser projetados a diferentes aspectos da sociedade capitalista, desde que seja considerado social e historicamente limitados às circunstâncias que os produzem. Adepto da teoria da escolha racional (e de sua aplicação na sociologia), acreditava que os intercâmbios sociais seriam a soma de interações individuais. 25 Conjunto de recursos acessíveis a indivíduos ou grupos enquanto são de uma rede de conhecimento mútuo. Esta rede é uma estrutura social e tem aspectos (relações, normas e confiança) que ajudam a desenvolver a coordenação, a cooperação e a produzir benefícios comuns. David Robinson Benefícios comuns (que satisfaçam, ao mesmo tempo, o indivíduo e a coletividade, por meio de negociação). e Grupos e redes de relacionamento. Confiança e solidariedade. Ação coletiva e cooperação. Informação e Comunicação. Coesão social e inclusão. Acréscimo de força e política de ação. Relações de confiança. Oportunidades de interação lugares de encontro. Obrigações recíprocas Acesso ao conhecimento. Benefícios Indicadores De individual a social Confiança. (de acordo com a Reciprocidade. tipologia de capital Cooperação. social). Parte do princípio que capital Benfícios comuns. social não é uma entidade única, mas é melhor definido como sendo multidimensional. Ênfase Capital social refere-se a condutas e estratégias. Capital cultura diz respeito a valores, princípios, normas e visões de mundo. Tipologia do capital social: individual, grupal, comunitário, de ponte, de escada e da sociedade como um todo. O capital social é cumulativo e pode aumentar em função de: ambiente legal e político, termos do compromisso (são os valores que dominam no sistema social), regras do compromisso (formas assumidas pelas relações sociais e transparência das informações), processos de interação (deliberação). Quadro 1: Sínteses de algumas definições, ênfases, benefícios e variáveis do capital social Fonte: Adaptado de Milani (2003, p. 18-19). Grootaert et al Definido em termos de grupos, (2004) redes, normas e confiança que as pessoas têm entre elas para propósitos produtivos. Definição Corresponde ao conteúdo de certas relações sociais – aquelas que combinam atitudes de confiança com condutas de reciprocidade e cooperação – que proporciona maiores benefícios àqueles que o possuem. Autor John Durston 26 27 2.3 Formas e medição dos aspectos estruturais e cognitivos do Capital Social Há dois tipos distintos de capital social – o estrutural e o cognitivo. O capital social estrutural facilita o fluxo da informação, as ações coletivas e as decisões que necessitam ser tomadas através da determinação de funções, redes sociais ou outras estruturas sociais suplementadas por regras, procedimentos e precedentes. É relativamente uma construção externa. Já o capital social cognitivo refere-se ao partilhar das normas, valores, confiança, atitudes e crenças. Essas formas não são necessariamente complementares. Como exemplo, uma associação comunitária não atesta uma conexão forte entre as pessoas desta comunidade, às vezes, pela associação não ser voluntária ou, também, por outros fatores externos utilizados para a criação da associação. (KRISHNA; UPHOFF, 1999). Uma definição de Uphoff (1999 apud WALLIS et al, 2003) é ilustrada na Tabela abaixo, onde o autor apresenta a separação entre várias dimensões do capital social estrutural e cognitivo. Tabela 2: Dimensões do capital social estrutural e cognitivo Estrutural Cognitivo Origens e manifestações Papéis e regras Normas Redes e outras formas de Valores relacionamento interpessoal Atitudes Procedimentos e precedentes Crenças Domínios Organização social Cultura cívica Fatores Dinâmicos Conexões horizontais Confiança, solidariedade, Conexões verticais cooperação, generosidade Elementos Comuns Expectativas que conduzem ao comportamento cooperativo que, em troca, produzem benefícios mútuos Fonte: (UPHOFF, 1999, apud WALLIS et al, 2003, p. 5). Em pesquisa posterior, Krishna e Uphoff (1999) dividem as formas de capital social de duas maneiras, como formas primárias e secundárias. Para o capital social estrutural, as formas primárias são aquelas relativamente objetivas e observáveis, tais quais os papéis e regras, e os relacionamentos pessoais. Como forma secundária, encontram-se os procedimentos e precedentes, pois os processos anteriores para se chegar às formas primárias, como sendo ações que estabelecem a validade e o valor de certos papéis e regras. As normas, valores, atitudes e crenças, que compõem o capital social cognitivo criam e reforçam uma 28 interdependência positiva das funções de utilidade e que suportam ações coletivas de benefícios mútuos. De maneira simples, esses dois componentes poderiam ser caracterizados respectivamente como o que as pessoas fazem e o que as pessoas sentem em termos de relações sociais. (HARPMAN; GRANT; THOMAS, 2002). Krishna e Uphoff (1999) dividem, também, o capital social cognitivo em duas formas principais: primárias e secundárias. A forma primária está dividida em: a) orientação para com os outros – como pensam e agem com os outros e; b) orientação para ação, quanto cada um está disposto a agir. A orientação para com os outros (a) inclui as variáveis confiança/reciprocidade – como meios para se relacionar com os outros; e solidariedade – como os fins para se relacionar com as outras pessoas. A orientação para ação (b) é composta pelas variáveis cooperação – meios e, pela generosidade – que é a finalidade desta ação para com os outros. Para ilustrar as diferenças entre as formas primárias e secundárias do capital social estrutural e cognitivo, a Tabela abaixo foi proposta, com base no trabalho de Krishna e Uphoff (1999). a) Procedimentos b) Precedentes Honestidade, participação, governo democrático, preocupação pelo futuro. Fonte: Proposto pela autora, adaptado de Krishna e Uphoff (1999). Formas Secundárias • Generosidade (fins) Normas – de comportamento altruístico, contribuindo para os outros em vez só de si próprio. Valores – agir generosamente, reconhecimento que isto (se houver reciprocidade) irá beneficiar ao mesmo tempo em que irá criar satisfação para o bem-estar dos outros. Atitudes – que sendo generoso é bom, natural e benéfico, que ações generosas serão boas para todos, inclusive para si mesmo. Crenças – que os outros irão agir generosamente e não irão tirar vantagem da generosidade dos outros além de algum limite razoável. • Cooperação (meios) Normas – de cooperação, trabalho mais em grupo que separado. Valores – sendo cooperativo, trabalhando com os outros para o bem-comum. Atitudes – de cooperação, estando disposto a obrigar, acomodar-se e aceitar tarefas e indicações para o bem comum. Crenças – que os outros vão cooperar e que esta cooperação irá levar ao sucesso. b) Orientação para ação: Tabela 3: Formas primárias e secundárias do capital social estrutural e cognitivo Estrutural Cognitivo Formas Primárias a) Papéis (formais e informais) e Regras a) Orientação para os outros: (explícitas e implícitas) • Confiança/Reciprocidade (meios) Normas – de reciprocidade. • Decisões a serem tomadas (metas) Valores – pessoa confiável. • Mobilização de recursos e gestão Atitudes – de confiança. • Comunicação e coordenação Crenças – que os outros vão retribuir. • Resolução dos conflitos • Solidariedade (fins) Normas – de ajuda ao próximo. b) Relações Sociais Valores – que mantém solidariedade entre as pessoas mesmo em um grupo grande. Atitudes – de benevolência e lealdade entre os que estão no grande grupo. Crenças – que os outros irão manter as normas de solidariedade e estar disposto a fazer alguns sacrifícios para ajudar os outros. 29 30 Um dos aspectos essenciais para a consolidação de projetos coletivos que necessitam do engajamento de muitas pessoas em ações específicas é o sentimento de confiança mútua que precisa existir em maior ou menor escala entre as pessoas que estão interagindo. Construir confiança está ligado de forma direta à capacidade de relacionamento com os outros, percebendo-os e incluindo-os em seu universo de referência. Esse tipo de inclusão diz respeito à atitude tão simples e, por vezes, tão esquecida que é justamente a de reconhecer no outro, suas habilidades, competências, conhecimentos, hábitos etc. É essa reciprocidade que rege as relações informais e formais na comunidade, sendo a base das relações e instituições de capital social. (FERRAREZI, 2003). Confiança pode ser importante para a economia crescer, pois se as pessoas que estão participando da transação confiam uma nas outras, o custo das transações é mais baixo. Quando o fator confiança encontra-se presente, o número das transações pode ser reforçado e, com isso, o custo diminui e pode, também, incrementar a produção em sociedade. (PALDAM; SVENDSEN, 1999). Para Putnam (1993) a confiança garante que ninguém irá levar vantagem sobre outro. No geral, ela é mais fácil de ser estabelecida em um grupo pequeno do que no grande grupo, principalmente, por causa da relação direta que há entre os participantes de um grupo reduzido. (PALDAM; SVENDSEN, 1999). E é neste aspecto que entram as redes sociais, pois fomentam a confiança, através da ligação entre os grupos, pois se há confiança na relação com um determinado grupo, este grupo também irá transmitir isso a outro e assim sucessivamente. Capital social pode ser melhor entendido, de acordo com Hutchinson e Vidal (2004, p. 158), como uma coleção de constructos que os sociólogos e estudiosos de comunidades têm falado por um longo tempo: comprometimento dos cidadãos, confiança interpessoal e ação coletiva efetiva, pois “é a ligação entre esses conceitos que faz a idéia de capital social nova e importante”. O Saguaro Seminar on Civic Engagement in America, da Universidade Harvard Kennedy School of Government, coordenado por Robert Putnam, apresenta três importantes razões para que se meça o índice de capital social. São elas: tangibilização do capital social, incremento no investimento em capital social, construção de mais capital social. 31 1. Tangibilização: a medição ajuda a transformar o conceito de capital social em algo mais tangível para as pessoas que o consideram difícil ou abstrato; 2. Aumento do próprio investimento em capital social, alocando seus recursos, uma vez que as comunidades começam a ver seus resultados; 3. Ajuda fundações e organizações comunitárias a construir mais capital social, pois todas as atividades que envolvem pessoas podem auxiliar na criação de capital social. Para Hutchinson e Vidal (2004) qualquer medição do capital social em comunidades precisa avaliar quatro indicadores chaves. Primeiro, o comprometimento da comunidade, depois as características das redes sociais, em terceiro, o nível de confiança e, por último, a infra-estrutura organizacional da comunidade. De acordo com os autores, uma aproximação rigorosa para medir capital social envolve uma combinação de pesquisas com a comunidade e com a organização que se pretende estudar, através de entrevistas qualitativas com os atores das organizações. A Tabela 4 contém os itens básicos para o desenvolvimento de uma pesquisa com foco na determinação do capital social de uma comunidade, proposta por Hutchinson e Vidal (2004). 32 Tabela 4: Medidas de capital social no nível comunitário Medidas de Capital Social no Nível Comunitário Compromisso Horizontal Interação entre os vizinhos (quantidade e qualidade) Atividade voluntária na vizinhança Participação em organizações baseadas na vizinhança Uso das facilidades da vizinhança Compromisso Vertical Interação informal fora da vizinhança Atividade voluntária fora da vizinhança Participação em organizações fora da vizinhança Uso das facilidades fora da vizinhança Redes Sociais Tamanho da Rede (quantas pessoas?) Diversidade da Rede (Quanto diverso é em rendimento, raça, etnicidade, idade, contexto social?) Local da Rede (Os membros da rede residem dentro ou fora da vizinhança?) Proximidade da rede (Quão próximos são?) Uso da Rede (Para que eles usam suas redes?) Confiança Confiança em outros residentes Confiança nas organizações da vizinhança Confiança nas organizações do Terceiro Setor Confiança em agências da cidade Infra-estrutura organizacional Número, tipo e tamanho das organizações Número de associados Parcela de participação Diversidade dos associados Distinção da efetividade das organizações Distinção do status da organização fora da vizinhança Fonte: (HUTCHINSON; VIDAL, 2004, p. 160) Estudiosos como Grootaert e Van Bastelaer (2001) expõem que o desafio para o pesquisador é conseguir dar um conteúdo significativo à noção de capital social em cada contexto que for pesquisado, para que, dessa forma, possa definir os indicadores satisfatórios. Sendo assim, pode-se fazer uma relação das propriedades dos indicadores, conforme apresentado por Grootaert (1998 apud LIMA, 2003): 33 – ser desenvolvido de acordo com premissas conceituais e operacionais; – ser definido claramente e de fácil entendimento; – permitir a agregação (por exemplo, de comunidade para estado, de estado para nação, etc); – ser objetivo (deve ser independente de quem coleta os dados); – solicitar informações razoáveis, isto é, dados disponíveis ou dados que podem ser coletados a um custo limitado e dentro da capacidade de processamento estatístico do país; e, – ser limitado em número. Os indicadores de capital social podem se distinguir tanto geograficamente quanto setorialmente. Como exemplo, as medidas de afiliação a associações foram consideradas um fator relevante no estudo desenvolvido na Indonésia, Quênia e em países da região andina. Mas o mesmo não aconteceu em países como Rússia e Índia, onde os relacionamentos informais são considerados mais importantes. Deste modo, esta escolha nos estudos de casos deve considerar as manifestações específicas de capital social na área de estudo ou em canais específicos, como associações, redes de relacionamentos etc. (LIMA, 2003). Neste sentido, como a pesquisa tem enfoque exploratório, optou-se por estudar os indicadores propostos por Grootaert et al (2004): grupo e rede de relacionamentos; confiança e solidariedade; ação coletiva e cooperação; comunicação e informação; coesão social e inclusão; acréscimo de força e ação política. Para Grootaert et al (2004) estes indicadores devem ser estudados observando algumas informações, já adaptadas para este estudo específico em organização do Terceiro Setor: 1. Grupo e rede de relacionamentos: como é a categoria que é mais comumente associada ao capital social, as questões precisam considerar a natureza e a extensão da participação das pessoas nas organizações sociais, suas contribuições e como consideram a diversidade dos membros do grupo, entre outras. 2. Confiança e Solidariedade: questões sobre confiança nos membros do grupo e comunidade e as percepções do respondenten quanto a solidariedade dos integrantes do grupo. 3. Ação Coletiva e Cooperação: explorar se os membros tem participado com os outros na organização em projetos coletivos. 34 4. Informação e Comunicação: acesso aos meios de comunicação e recebimento de informações sobre atividades da organização. 5. Coesão Social e Inclusão: como as pessoas que fazem parte da organização se sentem em relação aos outros participantes e como é o nível de violência dentro da ONG. 6. Acréscimo de Força e Ação Política: as questões desta seção devem explorar a noção de felicidade dos membros, a capacidade deles em influenciar o local onde estão e a participação política da organização. Cabe ressaltar que o interesse pelo estudo do capital social também é detectado pelas instituições internacionais que desenvolvem programas com este foco. Destacam-se como organizações: o Banco Mundial Social Capital Initiative, a FAO (Food and Agricultura Organisation), o CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) e a OCDE (Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento). O quadro 2 expõe a conceitualização de capital social, seus objetos, métodos e indicadores de acordo com as definições de organizações internacionais, adaptado de Milani (2003). Seu foco principal dá-se nas relações do capital social com pobreza urbana, políticas públicas, gênero e sustentabilidade ambiental rural. Capacidade efetiva de mobilizar, produtivamente em prol de grupo social, recursos associativos que se encontram em redes sociais às quais têm acesso indivíduos desse grupo. CEPAL: Divisão de Desenvolvimento Social Referências • Coesão social, ação coletiva; • Identificação comum com as instituições e com o grupo (formas de governar, expressão cultura e comportamento social, participação institucional); • Cooperação, colaboração, empoderamento, participação, consciência; • Ligações entre grupos; • Acumulação de capital social (mobilização de recursos, forças, pessoas e conhecimento). • Estabilidade das relações sociais (normas de comportamento e trocas); • Coesão social; • Capacidade de participação na vida econômica e social; • Interesses coletivos; • Criação de sinergias e de lideranças. Não foram definidas. Robert São referencias importantes: John Durston e Lindon Robison. Publicação inicial Tof the he WellBeing the Nations: The Role of Homan and Social Capital, em que são referências principais: Coleman, Putnam e Fukuyama. A principal referência é feita a Douglas North. • Forma estrutural (funções, regras, Os autores citados são redes sociais, procedimentos e Putnam, Narayan e Portes. precedentes); • Forma cognitiva (normas, valores, atitudes, crenças, confiança/ reciprocidade, solidariedade, cooperação, generosidade). Variáveis Quadro 2: Definições de capital social, objeto, método e variáveis de acordo com Organizações e Programas Internacionais. Fonte: Adaptado de Milani (2003, p. 27) O método é dividido em seminários com formuladores de políticas públicas e projetos de medição do capital social. A comparabilidade dos instrumentos de medida é uma preocupação importante para a OCDE. Redes e normas, valores e convicções comuns que facilitam a cooperação dentro de e entre grupos sociais. OCDE: Centro de Pesquisa em Educação e Inovação Dois objetos: as fontes de capital social (família, sociedade civil, comunidades, etnia, setor público, gênero) e as relações possíveis entre capital social e várias questões de desenvolvimento. Medida do capital social é essencial para compreender o papel desta ‘externalidade’ no desenvolvimento econômico e social. Viés do desenvolvimento institucional e dos mecanismos de participação: emponderamento, participação nos processos de tomadas de decisão e o fomento de redes sociais, sobretudo, cooperativas de meio rural. São trabalhadas metodologias de avaliação, de montagem e de gestão de projetos. Refere-se a instituições, relações e normas que consubstanciam a qualidade e a quantidade de interações sociais em uma sociedade. Não é somente o somatório das instituições que constituem uma sociedade, mas é a cola que as mantém unidas. Refere-se ao conjunto composto de coesão social, identificação comum a normas de governança, expressão cultural e comportamento social, os quais tornam a sociedade algo mais do que o somatório dos indivíduos. Objeto e Método Definição FAO: Programa relativo a Instituições Organizações e Programas Banco Mundial: Social Capital Initiative. 35 36 Estudos sobre capital social têm sido feitos em várias partes do mundo e com enfoques variados. Regiões como Bavária e Inglaterra (SPENCE et al, 2003a, 2003b), sudeste da Ásia e Caribe (ADGER, 2003), Estados Unidos e Austrália (NICHOLSON et al, 2004), Inglaterra (BROOK, 2005), Pernambuco (SILVA; OLIVEIRA, 2004); Espanha (BUENO et al, 2004); Dinamarca e Polônia (CHLOUPKOVA et al, 2003), Austrália (ONYX; BULLEN, 2000) já foram objetos de estudo do tema. Os estudos analisados apresentaram objetivos diferenciados, dentre os quais se destaca um artigo focado em pesquisa qualitativa comparativa de Spence et al (2003a, 2003b), com foco na avaliação do capital social em pequenas e médias empresas. Chloupkova et al (2003) fizeram uma pesquisa comparativa entre Dinamarca e Polônia, comparando movimentos cooperativos de agricultores nestes países. O resultado apontou que o capital social desses movimentos foi construído durante o século XIX, através de um longo processo, mas encontra-se significativamente mais alto na Dinamarca do que na Polônia, pois, para os autores, o regime comunista da Polônia destruiu a acumulação original de capital social. (CHLOUPKOVA et al, 2003). Bueno et al (2004) expõem que podem ser distinguidas quatro abordagens teóricas principais sobre o estudo do capital social: a) aquela que é derivada das teorias do desenvolvimento econômico; b) a que tem uma aproximação através da ética e responsabilidade social; c) governança corporativa e; d) a abordagem através do capital intelectual. Essas abordagens estão caracterizadas na Tabela 5 a seguir. 37 Tabela 5: Abordagens do capital social, idéias principais e contribuições relevantes Abordagens do Capital Social Idéias Centrais Contribuições Relevantes Teorias do desenvolvimento Confiança, comportamento Putnam (1994); Knack e Keefer econômico cívico e associativismo (1997); Stiglitz (1998); fortalecem as redes sociais, Chloupkova et al (2003); Onyx contribuindo para o e Bullen (2000). desenvolvimento econômico sustentável. Responsabilidade social e ética Capital social expressa o grau Coleman (1990); Newton de integração social e (1997); Chang (1997); Kawachi responsabilidade em respeito à et al (1997), Bullen e Onyx sociedade como um todo e aos (1998); Joseph (1998); Cortina agentes e grupos. É baseado (2000); Baron (2001). em valores e atitudes, como confiança, cooperação, segurança, princípios éticos, compromisso e ética. Governança Corporativa Códigos de ética e governança Baas (1997); Sen (1997); corporativa tem um impacto Zingales (2000); Rajan e positivo na criação de capital Zingales (2000). social, estimulando a solidariedade e OVERCOMING imperfeições do mercado. Capital Intelectual Capital social é um componente Nahapiet e Ghoshal (1996); do capital intelectual. É Koening (1998); Prusak (1998); baseado em uma série de Lesser e Prusak (1999); Lesser valores e indicadores como (2000); Cohen e Prusak (2001); confiança, lealdade, Kenmore (2001); Lesser e sinceridade, compromisso, Cothrel (2001); McElroy (2001). transparência, solidariedade, responsabilidade, honestidade e ética. Fonte: Adaptado de Bueno et al (2004, p. 560). Milani (2003) aponta em sua pesquisa alguns estudos econômicos sobre capital social, dentre os quais, os estudos feitos a partir da Pesquisa Mundial sobre Valores por Inglehart; pesquisas sobre capital social e pobreza, efetuadas na Tanzânia por Naryan, que apresentaram como resultado a relação de quanto maior o nível de capital social menor o nível de pobreza. Cita, também, os estudos comparativos desenvolvidos por Putnam (1993) sobre o norte e o sul da Itália e os Estados Unidos (1995, 1998). Portes (1998) é outro pesquisador citado, que estudou em 1995 comunidades de grupos coreanos e mexicanos nos EUA, cujo resultado foi a conclusão de que os coreanos possuem uma estrutura social mais articulada, o que acaba por facilitar o desenvolvimento das comunidades as quais estão inseridos. Pesquisa para medir o capital social em cinco comunidades australianas foi desenvolvida por Onyx e Bullen (2000). Um questionário com 68 itens foi aplicado em cerca de 1200 adultos nas cinco comunidades, sendo duas rurais, duas situadas 38 em áreas metropolitanas e outra localizada numa cidade próxima a Sidney. As respostas foram subjetivas e foram analisadas através de estatística, envolvendo valores analíticos. No resultado, três dos fatores específicos – participação da comunidade, redes sociais e confiança – apresentaram resultados significantemente diferentes nas cinco comunidades. As duas comunidades localizadas nas áreas rurais apresentaram maior nível de capital social do que as outras três. Foi detectado através da pesquisa, nestes locais, maior nível de participação na comunidade e nas redes de relações com a vizinhança. Além disto, os níveis de sentimento de segurança e confiança também se apresentaram em números mais elevados. Em contrapartida, nas áreas urbanas, os níveis mais altos apareceram para Agência Social, pró-atividade no contexto social e, também, para tolerância a diversidade. Os autores relacionam os resultados com o conceito de Colemann (1988), que afirma que o capital social é maior em comunidades pequenas e, portanto, mais fechadas. Os resultados também apresentaram a falta de relação do capital social com as variáveis como idade, sexo, níveis de trabalho, salário ou qualificação. Os únicos resultados relevantes neste tópico, de acordo com os pesquisadores, foram que as mulheres se sentem menos seguras que os homens; que as pessoas que têm mais filhos participam mais na comunidade e que quanto mais tempo moram na comunidade, mais fortes são os laços de vizinhança. Mas salientam que, fora essas exceções, o capital social é evidenciado igualmente por ricos e pobres, homens e mulheres, de todas as idades e de todos os níveis educacionais. (ONYX; BULLEN, 2000). Finalizando, capital social pode se referir às conexões entre os indivíduos, que aumentam a produção do capital físico e humano. E para Fernandes (2002, p. 377), analisando por este ponto, o capital social está fortemente ligado ao que muitos conceituam como virtude cívica, mas para o autor o diferencial é que capital social atrai a atenção para o fato de que “virtude cívica é mais poderosa quando inserida numa densa rede de relações sociais recíprocas”. 2.4 Terceiro Setor: contextualização histórica As organizações que fazem parte do Terceiro Setor surgem para preencher uma lacuna deixada pelo Estado, em função da crescente demanda por programas 39 sociais. A falta de eficiência de setores como educação, programas de saúde, enfraquecimento da estrutura familiar, corroboram para as ações dessas organizações no sentido de minar conseqüências negativas para a sociedade, em função dessas deficiências que o Primeiro Setor já não consegue suprir. Para Iizuka e Sano (2004), foi frente ao crescimento das desigualdades sociais, que estão inseridas em um contexto de exclusão social, e diante da pressão conseqüente por parte dos cidadãos no sentido de pedir por soluções para as diferentes realidades, que o Terceiro Setor emergiu como uma alternativa aos problemas sociais e, de maneira progressiva, tem ocupado alguns espaços, tidos antes, como exclusivos do Estado. Esse cenário tem se configurado com base em alguns fatores como: a transferência crescente das políticas sociais para o poder local; a própria articulação da sociedade civil em torno de organizações que venham a representar seus anseios e interesses; a institucionalização de alguns movimentos sociais; e o investimento vindo dos organismos internacionais em projetos e iniciativas promovidas na sociedade civil. Diferentemente do Primeiro Setor, que é o Governo e do segundo, representado pelas empresas privadas, o Terceiro Setor é um paralelo entre esses dois, formado por iniciativas privadas e por voluntários, onde a ênfase está no social e não no comercial, no fim público e não no privado, onde as pessoas que fazem parte entendem que a participação delas ajudará a fomentar a mudança necessária. A Tabela 6 tomada de Brandão et al. (1998, p. 11) sintetiza as diferenças entre Estado, Mercado e Terceiro Setor. Tabela 6: Tripé Estado-Sociedade-Mercado o o o Ambiente 1 Setor (Estado) 2 Setor (Mercado) 3 Setor (Sociedade Organizada) Agente Governo e poderes públicos Empresas Organizações nãolucrativas, nãogovernamentais Finalidade precípua Regulação Lucro Emancipação e Justiça Social Iniciativas Públicas com fins públicos Privadas com fins privados Privadas com fins públicos Fonte: (BRANDÃO; SILVA; GUADGNIN, 1998, p. 11) 40 O Terceiro Setor se destaca com a criação de associações, fundações e instituições cada vez mais presentes na sociedade. Mas os seus princípios, valores e atributos são antigos, tais como a caridade e a filantropia. Há quem diga, também, que as ações filantrópicas e associativas partiram da democracia, marcada pela igualdade dos indivíduos, onde o mais fraco nada podia fazer por si mesmo, assim sendo, os membros dessas sociedades uniam-se aumentando o seu poder. Figueiró (2001, p. 74), quando descreve a política adotada pelo Terceiro Setor, relata que esta política começa a partir da “integração entre o setor econômico, político e entidades civis sem fins lucrativos” e através dela é “possível criar condições efetivas para superação dos problemas sociais que atingem grande parte da sociedade”. Já Falconer (1999) reforça a idéia de que as organizações que compõem o terceiro setor evidentemente não são novas, sendo nova a maneira de olhá-las como parte de um setor que busca igualdade em relação ao Estado e ao Mercado. Muitas discussões ainda devem ser geradas por causa das polêmicas que envolvem as diferentes conceituações do fenômeno associativo. Da mesma maneira que as críticas ao desenvolvimento do terceiro setor devem aumentar na mesma proporção em que este setor ganha vulto. (TEIXEIRA, 2004). 2.5 Um resgate das origens do termo Terceiro Setor De acordo com Smith (1991), o termo ‘Terceiro Setor’ originou-se nos EUA, nos anos 70, para identificar, na sociedade, o setor em que atuavam as organizações sem fins lucrativos, voltados para produção e/ou distribuição de bens e serviços públicos. Para Tenório (1999), o Terceiro Setor é uma expressão inglesa, adaptada no Brasil a partir dos anos 80 para reunir, em um mesmo conceito, entidades de diversas naturezas, com uma mesma ideologia. Da Europa continental, segundo Fernandes (1997), vem o predomínio da expressão ‘Organizações Não Governamentais’ (ONGs). Já na América Latina, inclusive no Brasil, é mais usual falar-se de ‘sociedade civil’ e suas organizações. Para Salamon (1998), nos EUA houve a proliferação de grupos com raízes no Terceiro Setor em função da queda, da participação da população na política, nas 41 eleições, na filiação partidária e associação sindical. O crescimento desses grupos foi pautado na crise de confiança no Estado e, também, nas mudanças sociais e tecnológicas. Crises estas, que são para Salamon (1994, 1998) e Falconer (1999) de nível mundial e mudanças revolucionárias, citadas pelos autores, acabaram por limitar o poder do Estado e abrir espaço para o aumento das ações voluntárias organizadas. Para estes autores, são quatro as crises encontradas na literatura: a) a crise do moderno welfare-state (SALAMON, 1994, 1998; FALCONER, 1999), por causa de um governo super carregado e burocratizado que não estava mais suprindo as diversas tarefas sociais que lhe estavam sendo designadas; b) crise de desenvolvimento (SALAMON, 1994, 1998), principalmente nos países em desenvolvimento, o que praticamente impossibilitou o financiamento de atividades em prol do crescimento por parte do Estado; c) crise ambiental global (SALAMON, 1994, 1998; FALCONER, 1999), por causa da pobreza nos países do Terceiro Mundo, muitas iniciativas foram tomadas para resolver o problema de forma imediata, destruindo o meio ambiente e os recursos naturais, o que fez com que os cidadãos se tornassem frustrados com as atitudes do governo e passassem a organizar suas próprias iniciativas, e; d) a crise do sistema socialista (SALAMON, 1994, 1998; FALCONER, 1999), que apresentou ao mundo as falhas daquele modelo de planejamento focado exclusivamente no estado para a gestão da economia. Duas mudanças revolucionárias foram citadas por Salamon (1994, 1998) como sendo revolução das comunicações, a partir dos anos 70 e 80, que veio a favorecer o acesso às regiões mais remotas do mundo, através da tecnologia que possibilitou um incremento nas taxas de alfabetização e educação; gerando o crescimento econômico da classe média urbana, fazendo com que as populações urbanas crescessem e se unissem em projetos coletivos, o que foi essencial para a emergência de organizações privadas sem fins lucrativos, criando, desta maneira, uma revolução associativa global. Essa revolução, nas últimas décadas, mobilizou homens e mulheres das mais variadas classes sociais para juntos promoverem causas como a preservação do meio ambiente, a defesa dos direitos humanos e, também, a ajuda aos necessitados onde quer que eles se encontrassem, nas localidades próximas ou em países de outras nacionalidades. 42 Para Salamon (1994, 1998), entender este processo de revolução associativa que parece estar em nível mundial, será fundamental para, num primeiro momento, compreender o processo dramático que está em curso e o que representa sob a forma de novos e imensos desafios. O autor expõe a importância deste fenômeno para o século XX, fazendo uma analogia com o que representou a emergência do Estado-nação para o fim do século XIX, caracterizando o Terceiro Setor como uma imponente rede de organizações privadas autônomas. Mas Falconer (1999, p. 8) caracteriza esta afirmação de Salamon como ambiciosa, justificando que em função da ampliação “do número e do papel das organizações da sociedade civil [...] tem atraído a atenção de estudiosos e leva-os a fazer afirmações ambiciosas, como esta frase de Lester Salamon”. Para Alves (2002a), foi da revolução associativa de Salamon, que nasceu o termo Terceiro Setor – que considera guarda-chuva – no qual estão inseridas muitas modalidades de ação e formas de organização, sendo este termo recuperado da literatura dos anos 70, para ser usado como uma ponta, que explica em termos globais, a emergência das organizações não-lucrativas. No Brasil pouco se sabe sobre o início do Terceiro Setor, é reconhecida apenas a importância da Igreja e mesmo do Estado centralizador para o surgimento dessas instituições. Recentemente, abre-se espaço para a criação e o desenvolvimento das ONGs, oriundas de movimentos sociais, mas, ainda, sem uma definição conceitual sucinta. Além disto, estas organizações ainda sofrem com alguns problemas, como a suspeita que a comunidade tem sobre as atividades não lucrativas. (TEIXEIRA, 2004). Os primeiros estudos sobre Terceiro Setor no Brasil foram efetuados sobre a crise dos movimentos sociais, do protagonismo das ONGs nos anos 80 e com a “institucionalização do associativismo civil”, trazendo para o centro do debate a idéia de uma nova maneira de associativismo nos anos 90 (FIGUEIRÓ, 2001, p. 74). No Brasil, a partir de 1992, em função da conferência Rio-92, a expressão ONG – Organização Não-Governamental passou a ser utilizada diariamente nos meios de comunicação. A expressão foi incorporada ao vocabulário, ao lado de conceitos como desenvolvimento sustentável, biodiversidade e outros, que, de uma forma ou de outra, estavam relacionados a movimentos de preservação ambiental, à defesa de direitos e à preocupação em organizar a participação da população em torno da temática do desenvolvimento. É Leilah Landim quem utiliza a primeira 43 referência acadêmica do tema, em 1988, na publicação do trabalho realizado pelo ISER: Sem Fins Lucrativos – As Organizações Não-Governamentais no Brasil. (FALCONER, 1999). Ressaltando-se entre diversos exemplos e práticas, no Brasil, a Campanha contra a Fome e a Miséria, promovida pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a partir do início dos anos 90, que mobilizou universidades, empresas e cidadãos em torno de uma das questões que mais assolam a população mais pobre, a fome. Essa iniciativa merece destaque, não só pela temática, e sim pela capacidade de mobilização da população brasileira, assim como, também, pelos resultados que obteve. (ILZUKA; SANO, 2004). 2.6 Dificuldades para conceituar o Terceiro Setor e as organizações que o compõem Na tentativa de conceituar Terceiro Setor vários autores fizeram suas definições calcadas em negativas do tipo não visa lucro, não é mercado e não é governamental. (CARDOSO, 1997). Essa indefinição conceitual é perceptível através das leituras dos vários conceitos encontrados na literatura. Desta forma, analisar o Terceiro Setor não é de todo fácil, uma vez que ONG’s são extremamente diversificadas e com conceitualizações ainda obscuras. Pensamento análogo possuem Alves e Koga (2003), pois, para os autores, a definição não é feita somente por um corpo teórico exclusivo; e sim pelo oposto, pois representa um esforço teórico de diferentes autores, de diferentes épocas e linhas. Em função das várias denominações dadas às organizações pertencentes ao Terceiro Setor, Coelho (2000) expõe a multiplicidade de denominações apenas para demonstrar a falta de precisão conceitual, o que acaba por revelar a dificuldade de colocar em parâmetros comuns toda a diversidade de organizações que compõem o terceiro setor. Salamon (1998) destaca que além da falta de definição conceitual há outro fator agravante, a variação do tratamento jurídico nas estruturas legais de cada nação. Portanto, para Salamon (1994, p. 5; 1998, p. 109) Terceiro Setor é “uma imponente rede de organizações privadas autônomas, não voltadas à distribuição de lucros para acionistas ou diretores, atendendo propósitos públicos, embora localizada à margem do aparelho formal do Estado”. O autor vai além e caracteriza 44 as atividades do Terceiro Setor como sendo as pessoas que estão formando associações, fundações e/ou instituições similares para que possam prestar serviços, defender seus direitos, promover o desenvolvimento da economia local, impedir a degradação ambiental e procurar realizar objetivos diversos da sociedade, que ainda não foram atendidos ou deixados sob responsabilidade do Estado. Para Fernandes (1997), o conceito de terceiro setor é resumido como o composto de organizações não governamentais e sem fins lucrativos, criadas e mantidas por voluntários comprometidos com as práticas da caridade, da filantropia e do mecenato. Ou seja, é um conjunto de iniciativas particulares com um sentido público. Criar um conceito para o setor é, de acordo com Rosa (2003, p. 24), “essencial para a construção de sua própria identidade”, para que haja fortalecimento e que seja “capaz de melhor lidar com os problemas da sociedade civil em que se insere”. Complementa Cardoso (1997, p. 7) quando descreve que “o próprio conceito de Terceiro Setor, seu perfil e seus contornos ainda não estão claros nem sequer para muitos atores que o estão compondo”. A expansão do terceiro setor, da maneira como aconteceu nas últimas décadas no Brasil, acarretou um leque diversificado das organizações que o compõem, no que se refere à temática e às formas de atuação. Para a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais – ABONG – as organizações são agrupadas com particularidades distintas, como as chamadas Sociedades Civis Não Lucrativas, as Associações, as Entidades Filantrópicas e Beneficentes ou de Caridade, as Fundações e as Organizações Não Governamentais. (CARRION, 2000). A categoria das Organizações de Sociedade Civil compreende, também, Igrejas Evangélicas, Hospitais, Universidades e Colégios Privados, que realizam atividades de caráter social e, não raro, visam o lucro. Deste modo, são organizações que pouco agregam para o equacionamento dos problemas sociais. Para Carrion (2000), as Associações correspondem ao grupo de pessoas reunidas em defesa de seus próprios interesses e pode-se citar, como exemplo, o clube de mães, grupo de fãs, grupos comunitários, sindicados e cooperativas. Quanto às Entidades Filantrópicas e Beneficentes sua ação se limita à doação de roupas, à distribuição de alimentos ou à manutenção de abrigos, conforme o princípio da caridade cristã. 45 As Fundações desenvolvem um tipo de atividade específico e são obrigadas a prestar contas periodicamente. Em alguns casos, grandes empresas se valem das Fundações para utilizarem como instrumento de marketing e promover a sua imagem. Uma das mais significativas contribuições para a caracterização dos limites do Terceiro Setor e, conseqüentemente, a delimitação das organizações que podem ser assim classificadas foi promulgada pelo Executivo na Lei nº 9.970/70, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o termo parceria e dá outras providências. (CARRION, 2000, p. 3). As OSCIPs são o reconhecimento oficial e legal do que se entende modernamente como ONG, pois são marcadas por uma transparência administrativa. Desta forma, pode-se dizer que OSCIPs são ONGs, mas criadas por iniciativa privada, que obtêm um certificado emitido pelo Poder Público Federal quando comprovam o cumprimento de certos requisitos, especialmente, os que são derivados de normas de transparência administrativas, conforme disposto pela Lei nº 9.790/99. (ROSA, 2003). Para Rosa (2003, p. 38), “instituto é um nome, uma designação, não uma figura jurídica”, porque não existem na lei requisitos para se constituir um instituto. Este nome pode ser utilizado livremente, como sendo nome ‘fantasia’, para alguma associação civil. 2.7 Desafios comuns às organizações que compõem o Terceiro Setor Salamon (1998) relata uma série de problemas que as organizações do Terceiro Setor enfrentam, dentre os quais, indefinição conceitual, variado tratamento jurídico, listagens oficiais incompletas, imperfeição de tratamento nas estatísticas econômicas nacionais, existência de barreiras ideológicas que torna obscura a identificação do papel e do tamanho do Terceiro Setor e welfare state. A falta de clareza na conceituação colabora para apresentar uma série de desafios ao Terceiro Setor. Salamon (1997) apresenta 04 desafios que classifica como: 46 a) Desafio da legitimidade: para superar este problema, o autor sugere que sejam disseminadas informações básicas ao conjunto de organizações que compõem o Terceiro Setor. Também salienta a importância da educação pública, para conscientizar a população sobre o que é Terceiro Setor e o que ele é capaz de fornecer para a comunidade. Apresenta, também, a necessidade que o processo de legitimidade tem de assumir forma legal. E, por último, a transparência contábil como parte desse processo. b) Desafio da eficiência: necessidade de mostrar a capacidade e a competência deste setor. Pois, sendo organizações, elas acabam por enfrentar desafios de ordem administrativa e de controle institucionais. Para mudar essa visão, Salamon (1997) apresenta duas idéias, a utilização de mão-de-obra profissional e a criação de instituições de infra-estrutura que possibilitarão garantir a eficiência dessas organizações do Terceiro Setor em longo prazo. c) O terceiro grande desafio é o da sustentabilidade, que está focada tanto em ordem financeira como de capital humano. d) O desafio da colaboração apresenta-se como o quarto desafio, que possui três campos diferentes: colaboração com o Estado, colaboração com o setor empresarial e colaboração em suas próprias fileiras. Tenório (1999) também aponta outros quatro grandes desafios, sendo: a) expansão das ações sociais para além das áreas em que a organização trabalha; b) sair da clandestinidade e divulgar seu trabalho, suas atividades, mostrando o que são, qual o motivo da luta e o que se propõem, podendo, com isso, aumentar o número de adeptos; c) parar de lutar contra o Estado e promover parcerias com o setor público e privado; d) obtenção de financiamentos, uma vez que órgãos internacionais direcionam os esforços econômicos para regiões como a África e Leste europeu, que vivem em condições precárias. Já para Drucker (1997), os desafios são resumidos em dois tópicos: transformar doadores em contribuintes, e; a criação de objetivos e identidade comuns com a finalidade de tornar cada pessoa um membro atuante e dinâmico perante a sociedade e a organização. Esses desafios podem encontrar no capital social uma fonte de resolução, uma vez que o capital social possibilita a integração dos componentes ao processo 47 que as organizações estão inseridas. E uma vez que a execução de suas atividades depende de doações e da ampliação das suas fontes de recursos tanto materiais quanto de capital social. Mas, independentemente dos problemas que integram essas organizações, vários motivos se apresentam para deflagrar o crescimento do Terceiro Setor, os quais, segundo Salamon (1998), são caracterizados como três formas de pressão: pressões de baixo, de fora e de cima. As pressões de baixo são exercidas na forma de movimentos populares; as pressões de fora ou externas são exercidas através de ações de instituições privadas e/ou públicas e, as pressões de cima, através de políticas de governo como uma estratégia de redução do gasto social governamental, tal qual fizeram Reagan, nos EUA e Tatcher na Inglaterra (SALAMON, 1998). Alves e Koga (2003) abordam ameaça externa como legislação tributária e imagem e atribui a este fator a necessidade que muitas organizações sentiram em associarem-se a outras no sentido de defenderem-se dessas ameaças. Meirelles e El-Aouar (2002, p. 6) também retratam essa perspectiva orientada para o mercado, através de mudanças no aparelho estatal, para enfatizar a redução de aplicações de recursos públicos em ‘despesas’ sociais, o que reforça e até vem a aprofundar “as desigualdades sociais, em favor do aumento da eficiência governamental no contexto global”. Várias percepções errôneas são atribuídas ao terceiro setor, limitando, desta forma, a capacidade do setor em lidar de maneira efetiva com seus verdadeiros desafios. Essas organizações só poderão evoluir na medida em compreendam melhor os mitos que foram gerados a seu respeito – virtude pura – como tendo a capacidade previamente suposta de mudar a vida das pessoas; voluntarismo – que as organizações dependem quase que exclusivamente da ação de empresas voluntárias e de filantropolia; puro voluntarismo – acreditar que a atividade voluntária só acontece de forma espontânea; e imaculada concepção – a idéia de que as organizações sem fins lucrativos são novas na maior parte do mundo, embora tendo raízes históricas profundas; e aprendam a lidar melhor com os compromissos e com a reação das outras organizações. (SALAMON, 1994, p. 9; 1998, p. 118). O Terceiro Setor passará a ter credibilidade quando acreditar em si mesmo e perceber as diferenças entre voluntarismo e profissionalismo, informalidade e 48 institucionalização. Deve, também, dar atenção ao treinamento e assistência técnica, para que os voluntários deixem de ser voluntários apenas como um fator para deixar a consciência limpa, e sim acreditando nessa função como um suporte institucional em longo prazo. E observar a relação com o Governo, para “encontrar um modus vivendi“ que possibilite suportes legal e financeiro suficientes, garantindo certo grau de independência e autonomia. (SALAMON, 1998, p. 11). Há, ainda, um incipiente processo de ‘profissionalização’ no Terceiro Setor, principalmente, com a formação de profissionais ‘especialistas’ no assunto, tais como administradores, advogados e, principalmente, de captadores de recursos, que são pessoas especializadas em levantar fundos para organizações sem fins lucrativos. O início da profissionalização do Terceiro Setor está pautado em todas as áreas, principalmente, na área de gestão. Grandes organizações nacionais já têm desenvolvido projetos para melhorar seu quadro de voluntários e colaboradores. De acordo com Salamon (1998, p. 9), “apesar de sua tão propalada flexibilidade, organizações sem fins lucrativos continuam sendo organizações”. E conforme aumentam em escala e complexidade “são vulneráveis a todas as limitações que afligem outras instituições burocráticas”. E acrescenta Fernandes (2002, p. 385), que, internamente, as associações incutem em seus membros participantes hábitos de cooperação, de solidariedade, “senso de responsabilidade comum em relação a empreendimentos coletivos, bem como espírito público” , que são indicadores atribuídos aos estudos de capital social. Cabe ressaltar que a inovação e a transformação organizacional são problemáticas diariamente vividas pela organização, na medida em que esta vive num mercado extremamente competitivo, com informações acessíveis facilmente e com recursos e mão-de-obra escassos. Mas as organizações do terceiro setor vêm para mostrar que o perfil da nossa sociedade começa a mudar, restaurando e aprendendo valores como solidariedade, busca do bem comum e responsabilidade pelos próprios atos. Portanto, não importa o tamanho, a área de atuação e o ambiente onde a organização do Terceiro Setor esteja inserida, e sim o que realmente motivou sua abertura, ou seja, os valores básicos que dão sustentação para o seu desenvolvimento. Esses valores, acrescidos ao profissionalismo, credibilidade que as organizações necessitam nos locais onde atuam. darão a 49 2.8 A produção acadêmica sobre o Terceiro Setor O campo de estudos do Terceiro Setor é uma das áreas novas e consideradas multidisciplinares das Ciências Sociais, pois tem unido pesquisadores das disciplinas de Economia, Sociologia, Ciência Política e outras áreas da academia, como Serviço Social, Saúde Pública e Administração. É uma área nova tanto no Brasil quanto em outros países. No Brasil, o Terceiro Setor não é um tema pesquisado extensivamente, existindo, ainda, poucos estudos com enfoque organizacional. Mesmo nos Estados Unidos, com a tradição do nonprofit sector já fortemente enraizada, os primeiros estudos datam da década de sessenta e, mesmo assim, com pouca produção antes do início da década de oitenta, sendo que a maior parte advém da década de noventa. Em 1977, a Columbia University lançou o primeiro instituto e programa acadêmico em nonprofit management, sendo seguido por outras universidades, chegando, em 1997, a somar 49 programas nos Estados Unidos, um no Canadá, um na Inglaterra, um na Austrália e contabilizando 433 disciplinas sendo oferecidas em mais de 100 universidades. (FALCONER, 1999). No Brasil, algumas instituições de ensino superior, nesta última década, criaram centros de estudo sobre o Terceiro Setor. Dentre estes, podem ser citados, o Centro de Estudos do Terceiro Setor (CETS-FGV/EAESP), o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Estudos sobre Terceiro Setor (NIPETS-UFRGS), o Centro de Empreendedorismo Social e Administração do Terceiro Setor (CEATSFEA/USP), o Núcleo de Estudos em Administração do Terceiro Setor (NEATSPUC/SP), os quais vêm realizando pesquisas nesta área. Em 2001, o CEATS-FEA/USP, conforme Alves (2002b) fez o primeiro levantamento da produção acadêmica brasileira sobre o Terceiro Setor. Nesta pesquisa, segundo o autor, verificou-se que de um total de 35 instituições, 12 eram centros de estudo voltados exclusivamente ao Terceiro Setor. Além disso, a distribuição por Estado destas instituições era a seguinte: São Paulo (17), Rio de Janeiro (4), Pernambuco (3), Minas Gerais (3), Rio Grande do Sul (2), Paraná (2), Bahia (2), Distrito Federal (1) e Espírito Santo (1). Em relação à publicação em Anais de eventos, Alves (2002b, p. 244) diz que “percebe-se nitidamente que a área de administração é largamente dominante com 43,8% dos registros (no sistema PROSSIGA do CNPQ), seguida pela Ciência 50 Política com 13,2% e pela Sociologia com 12,4%”. Esse autor faz uma comparação entre as produções acadêmicas brasileiras e internacionais, destacando que a área de administração, no caso brasileiro, é a principal em termos do número de produções, enquanto que no exterior as pesquisas são conduzidas por pessoas ligadas às seguintes áreas do conhecimento: Sociologia, Ciência Política, História e Economia. (ALVES, 2002b). Iizuka e Sano (2004) realizaram um estudo dos artigos públicos nos Anais do Enanpad, que teve como objetivo apresentar a relação entre o número de artigos na temática Terceiro Setor e o total de artigos apresentados; classificar as áreas temáticas, pré-definidas pela ANPAD, nas quais foram apresentados os artigos sobre o Terceiro Setor; verificar o referencial bibliográfico utilizado, as obras mais utilizadas pelos autores, a fundamentação e a metodologia utilizada nesses artigos. Nesse trabalho, os autores consideraram que uma parcela significativa dos seus autores está interessada na chamada profissionalização do Terceiro Setor. Nenhum dos artigos nacionais publicados fazem referência ao capital social do Terceiro Setor, mas para Grotaert e Van Bastelaer (2001) essa relação é importante, pois onde há a possibilidade de se trabalhar com a existência de capital social, especialmente em associações de pessoas e organizações, que é o caso do Terceiro Setor, o resultado da sinergia melhora a criação e desenvolvimento de projetos, gerando um potencial acréscimo da parcela de pessoas beneficiadas, reduzindo o custo dos projetos, aumentando a sustentabilidade e, desta forma, fortalecendo a sociedade civil através do fortalecimento dessas organizações. Considerando o referencial teórico exposto, pretende-se identificar quais são os indicadores de capital social que se apresentam em uma organização do Terceiro Setor, na cidade de Blumenau – SC, através das variáveis estruturais e cognitivas de capital social, em suas formas primárias. Os procedimentos metodológicos serão descritos no próximo capítulo. 51 3 METODOLOGIA Esta pesquisa pretendeu analisar como se manifestam os indicadores de Capital Social de uma organização do Terceiro Setor, localizada na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, sob a ótica de seus públicos: interno (dirigentes e funcionários) e externo (voluntários, doadores e beneficiados). Quanto à forma de abordagem da pesquisa pode-se identificar como quantitativa pois verifica informações quantificáveis o que significa traduzir em números opiniões e dados possíveis de classificação e análise. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas. (ALVES-MAZZOTTI; GEEWANDSZNAJDER, 1999). Foi relevante o uso estatístico para quantificar as informações prestadas pelo público interno e externo das organizações do Terceiro Setor de Blumenau. Referente aos objetivos, a pesquisa é exploratória, pois busca um maior conhecimento sobre o tema de pesquisa, que é analisar como os públicos de uma organização de Terceiro Setor percebem os indicadores de capital social. Este esforço tem como meta tornar um problema complexo mais explícito. Geralmente, a pesquisa exploratória é realizada em área na qual se tem pouco conhecimento acumulado e sistematizado. A pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é necessário definir o problema com maior precisão e identificar cursos relevantes de ação ou obter dados adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem. Como o nome sugere, a pesquisa exploratória procura explorar um problema ou uma situação para prover critérios e compreensão. A pesquisa exploratória utiliza métodos bastante amplos e versáteis. Os métodos empregados compreendem: levantamentos em fontes secundárias (bibliográficas, documentais e outras), levantamentos de experiência, estudos de casos selecionados e observação informal. (RICHARDSON, 1999). Para possibilitar a concretização deste trabalho, a pesquisa exploratória foi de corte transversal único, pois as informações serão coletadas somente uma vez, permitindo amostras únicas ou múltiplas. (MALHOTRA, 2002; AAKER et al, 2001). O estudo de caso é apresentado como uma das estratégias de pesquisa, quanto a sua tipologia, pois tem caráter de aprofundamento e detalhamento. Neste caso, referente a uma única unidade de análise (Organização do Terceiro Setor – 52 Blumenau, apresentada no capítulo 4 – Resultados da Pesquisa). Os dados foram coletados por diversos meios, sendo observado em seu ambiente natural. O estudo de caso é usado em várias áreas, abrangendo: ciência política e pesquisa de administração pública; psicologia e sociologia; organizações e estudos de administração; cidade e pesquisa de planejamento regional, como estudos de planos, bairros ou agências públicas. (YIN, 2001). Visando aprofundar os conhecimentos e identificar as características do público da organização estudada, o estudo de caso apresenta-se como uma estratégia ideal, pois se restringe a um único ambiente de estudo, com temas e acontecimentos contemporâneos e compreensão de fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos, plenamente relacionados à pesquisa em questão. [...] o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de alguns setores. (YIN, 2001, p. 21). Esta forma de pesquisa, geralmente, utiliza, além de pesquisa bibliográfica, técnicas de coleta de dados como levantamento documental, histórico, entrevistas ou questionários e observação direta. Quanto aos procedimentos técnicos foi realizada pesquisa bibliográfica, obtendo o maior número de informações sobre o problema e tema, visando o alcance dos objetivos, através da seleção, leitura e análise de textos relevantes ao tema do projeto, seguido de um relato escrito de livros, teses, dissertações, artigos científicos de periódicos nacionais e internacionais. Segundo Rampazzo (2001, p. 57) “a pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas (em livros, revistas, etc)”. A pesquisa documental foi utilizada para acompanhar os indicadores de capital social da organização do Terceiro Setor com relação ao seu público, anteriormente citado, assim como verificar registros de participação e atendimento dentre outros dados que a própria organização mantém em seus arquivos. Semelhante a bibliográfica, a pesquisa documental utiliza-se de materiais que não receberam tratamento analítico. Já a pesquisa bibliográfica utiliza-se fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado 53 assunto. As fontes de pesquisa documental são mais diversificadas e dispersas do que as da pesquisa bibliográfica. (DEMO, 2000). 3.1 Coleta de dados A estratégia de estudo de caso baseou-se no desenvolvimento feito previamente de proposições teóricas para, desta forma, conduzir a coleta dos dados e posterior análise. A estratégia de estudo de caso tem por exigência a utilização de múltiplas fontes de evidências. Neste trabalho, especificamente, as fontes de evidências utilizadas foram: pesquisa documental com consulta ao site da organização, relatório de atividades 2005 e informativo on-line da ONG; e questionário encaminhado via e-mail, correio e aplicado na própria ONG. Assim, por meio da análise documental, foi possível identificar a importância das atividades desenvolvidas pela organização, dentre outras. Foram pesquisados 45 beneficiados, 12 funcionários, 05 dirigentes, 05 doadores e 02 voluntários, perfazendo o total de 69 questionários, sendo que 17 caracterizados como público interno e 52 como público externo. Deste montante, 06 foram inutilizados, pois estavam com dados inconsistentes, o que totalizou 63 questionários válidos, no geral, correspondendo a 46% do universo pretendido. O questionário foi estruturado com perguntas fechadas e semi-abertas, específicas ao problema, utilizado para coletar informações dos estratos determinados da organização do Terceiro Setor, detectando os indicadores de capital social para cada público. Neste estudo, a amostra foi determinada através da estratificação aleatória, pois a população estava dividida em subgrupos, que são denominados de estratos (BARBETTA, 2001). Os estratos foram compostos por: funcionários, dirigentes, voluntários, doadores e beneficiados. Os funcionários e dirigentes formam o público interno e os demais, voluntários, doadores e beneficiados formam o público externo. Como o objetivo foi obter informações de cada estrato, foi utilizado o censo em vez de amostra. O censo foi utilizado, pois a população era pequena, sendo não só viável como conveniente, uma vez que se apresenta neste contexto uma elevada variância de características a serem medidas e pequenos tamanhos populacionais. 54 (MALHOTRA, 2002). A Tabela abaixo apresenta a quantidade de pessoas pesquisadas para cada público. Tabela 7: Estratos pesquisados ONG Público Interno Público Externo Funcionários Dirigentes Beneficiados Doadores Voluntários Total Pesquisa Final Total Público 24 12 9 5 52 39 17 50 6 47 2 2 Fonte: Elaborado pela autora, 2006 A pesquisa com o público interno (funcionários e dirigentes) foi efetuada através de questionários, deixados pela pesquisadora na ONG. A pesquisa com o público externo, voluntários e doadores foi feita através de envio de questionário via correio postal e/ou eletrônico. A pesquisa com os beneficiados foi efetuada diretamente pela pesquisadora na sede da organização. 3.2 Estrutura do instrumento de coleta de dados A confecção do instrumento de pesquisa – questionário – teve por finalidade atender os objetivos do presente estudo quanto ao capital social da ONG pesquisada que foi analisar os indicadores de capital social sob a ótica dos públicos interno e externo. O questionário proposto foi composto através da análise bibliográfica do tema e, principalmente, do material proposto por Grootaert et al (2004), para pesquisas desenvolvidas pelo Banco Mundial, fundamentado nas informações tiradas de quatro estudos desenvolvidos e pesquisados pelo autor, conforme cronologia a seguir: • The Tanzânia Social Capital Survey – coleta de dados de membros de associações e confiança, e relacionando isto ao acesso a serviços e tecnologia para agricultura. (NARAYAN; PRITCHETT, 1999). 55 • The Local Level Institutions Study – foram coletados dados comparados do capital social estrutural na Bolívia, Burkina Faso e Indonésia. As análises foram focadas no papel do capital social em dar forma ao bem-estar do lar e pobreza, acesso ao crédito e ação coletiva. (GROOTAERT; VAN BASTELAER, 2001). • The Social Capital Initiative – patrocinou 12 estudos sobre o papel do capital social em projetos setoriais e no processo de criação e destruição do capital social. (GROOTAERT; VAN BASTALAER, 2002a, 2002b). • The Social Capital Survey em Ghana e Uganda – coletou dados de grupos e redes, bem-estar, engajamento político, sociabilidade, atividades comunitárias, violência e crime e comunicação. (IBÁÑEZ; LINDERT; WOOLCOCK, 2002). O objetivo do questionário proposto por Grootaert et al (2004) foi prover um núcleo central de questões de pesquisa para todos os interessados em gerar dados quantitativos das várias dimensões do capital social como parte de uma ampla pesquisa. Cada questão incluída no documento foi desenhada a partir dos trabalhos de pesquisa descritos no parágrafo acima. Algumas questões foram adaptadas pela autora, para o estudo em organizações, uma vez que o questionário original foi desenhado para a pesquisa em comunidades. Após esta etapa chegou-se ao questionário localizado no apêndice A, utilizado para coleta dos dados dos estratos determinados da organização do Terceiro Setor. O instrumento continha perguntas semi-abertas e fechadas, sendo estruturado com perguntas norteadoras da investigação. De acordo com Grootaert et al (2004), os acadêmicos concordam que capital social não é uma entidade única, mas é melhor definido como sendo multidimensional. O questionário teve como base o conceito de capital social como freqüentemente definido em termos de grupos, redes, normas e confiança que as pessoas têm entre eles para propósitos produtivos. Por isso, o instrumento foi desenhado para capturar esta multidimensionalidade, explorando se e como as pessoas participam da ONG, através dos (a) grupos e redes, a natureza e a extensão de suas contribuições com outros membros da ONG. A pesquisa também explora (b) as percepções dos respondentes sobre confiança em outras pessoas e organização que fazem parte das suas vidas, como também as normas de cooperação e reciprocidade que permeiam o trabalho em grupo para a solução dos problemas. Essa diferença entre (a) e (b) refere-se, respectivamente, ao capital 56 social estrutural e cognitivo. O questionário foi desenvolvido com base em seis seções, de acordo com Grootaert et al (2004), sendo divididas em: (1) grupos e redes; (2) confiança e solidariedade; (3) ação coletiva e cooperação; (4) informação e comunicação; (5) coesão social e inclusão e, (6) acréscimo de força e ação política, conforme quadro abaixo: SEÇÃO A VARIÁVEIS GRUPO E REDE DE RELACIONAMENTO Grupo PERGUNTAS RELACIONADAS Q1 – Q8 Q1 – Q4 B Rede de Relacionamento CONFIANÇA E SOLIDARIEDADE Confiança Q5 – Q8 Q09 – Q11 Q0901 – Q0902 – Q0904, Q1001 – Q1011 C Solidariedade AÇÃO COLETIVA E COOPERAÇÃO Ação Coletiva Q0903 e Q11 Q12 – Q15 Q12 e Q13 D E Cooperação INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO Coesão Social Q14 e Q15 Q16 Q17 – Q18 Q17 F G Inclusão ACRÉSCIMO DE POLÍTICA Acréscimo de Força FORÇA Ação Política INFORMAÇÕES PESSOAIS E Q18 AÇÃO Q19 – Q22 Q19 e Q20 Q21 e Q22 Q23 – Q26 Quadro 3: Seis indicadores do capital social Fonte: Elaborado pela autora, 2006 Cada indicador foi pesquisado através de questões que foram agrupadas por melhor definirem, de acordo com a literatura, as variáveis de pesquisa, expostas no quadro abaixo. Seção A – Grupo e Rede de Relacionamentos Quantas vezes nos últimos 12 meses qualquer membro da sua família participou de atividades na organização. Ex.: encarregando-se de reuniões ou fazendo grupos de trabalho? Como você se tornou parte desta organização? Quantos dias de trabalho você doou a organização nos últimos 6 meses? Qual é o principal benefício de se juntar a esse grupo? Pense sobre os membros dessa organização, eles são em maioria do mesmo (a)... Responda 1 para Sim e 2 para Não Essa organização interage ou trabalha com outros grupos com objetivos similares, na cidade/vizinhança? Essa organização interage ou trabalha com outros grupos com objetivos similares, de fora da cidade/ vizinhança? 57 Essa organização interage ou trabalha com outros grupos com objetivos diferentes, na cidade/vizinhança? Seção B – Confiança e Solidariedade A maioria dos colaboradores que estão na organização podem ser confiáveis. Nesta organização, tem que ficar alerta com os outros pois é provável que querem tirar vantagem de você. A maioria das pessoas desta organização estão dispostas a ajudar se você precisar. Nesta organização, as pessoas geralmente não confiam uma nas outras para emprestar ou pedir dinheiro emprestado. Pessoas da sua etnia (raça) ou que falam a mesma língua, pertençam a mesma classe social, mesma religião. Pessoas de outras etnias (raças) ou que falam outras línguas, ou que fazem parte de outra classe social, mesma religião. Lojistas. Funcionários da prefeitura. Funcionários do governo estadual/federal. Polícia. Professores. Enfermeiras e Médicos. Funcionários da organização. Psicólogos. Terapeutas pastorais. As pessoas na sua organização ajudaram as outras pessoas no último mês? Seção C – Ação Coletiva e Cooperação Nos últimos 6 meses, você trabalhou com outros membros desta organização para algo que traria benefícios para todos, na organização? Quais foram as últimas atividades que você fez nos últimos 06 meses? Sua participação foi voluntária ou convocada? Qual a proporção de pessoas na organização que contribuem com tempo ou dinheiro em torno de um objetivo comum da organização. (Exemplo: encontro de famílias). Suponha que aconteça algo não muito bom para alguém na organização, como uma doença séria, ou a morte de um parente. Qual a probabilidade de algumas pessoas do próprio cerne se unirem e ajudarem? Seção D – Informação e Comunicação Por onde você recebe informações sobre os trabalhos desenvolvidos por esta ONG? Seção E – Coesão Social e Inclusão O quanto forte é o sentimento de ficar junto ou próximo às pessoas dentro da sua organização? Assinale com X uma única resposta. Na sua opinião, esta organização geralmente é pacífica ou marcada por violência? Seção F – Acréscimo de Força e Ação Política O quão feliz você se considera dentro da organização? O quanto de controle você acha que tem para tomar decisões que afetam as suas atividades diárias dentro da organização? Você se sente... Nos últimos 12 meses, quantas vezes as pessoas dessa organização se juntaram para fazer pedidos ao governo ou aos líderes políticos em benefício da organização? Algum desses pedidos teve sucesso? Seção G – Dados Pessoais Escolaridade Estado Civil Faixa Etária Sexo Quadro 4: Indicadores e seções do questionário O questionário proposto reflete as percepções dos membros do grupo – estrutural – e as percepções subjetivas de confiança e normas – cognitivo – que compõem a dimensão do capital social e são abordadas nas seções dos grupos A e B. A forma como o capital social opera está contida nas seções C e D, e as seções E e F referem-se às áreas maiores de aplicação ou resultados. O Grupo G retrata os dados pessoais dos pesquisados. 58 3.2.1 Aplicação do questionário A aplicação do questionário foi iniciada em novembro de 2005, através do pré-teste, em 10% da população de outra organização, pois de acordo com Barbetta (2001, p. 33) foi um procedimento necessário “para detectar possíveis falhas que tenham passado despercebidas na elaboração”. Além disso, o pré-teste possibilitou também detectar perguntas ambíguas, respostas não previstas, falta de variabilidade de respostas em alguma pergunta etc. Foi utilizado, também, para estimar o tempo de aplicação do questionário. O pré-teste serviu para possibilitar as modificações nas questões, quando se fez necessário, e ajustar as questões para cada categoria (BARBETTA, 2001). Após a aplicação do pré-teste, as alterações foram efetuadas e foi marcada uma reunião com os responsáveis pela ONG. Nesta reunião foi apresentada uma cópia do questionário para que pudesse ser avaliado. Desta reunião, algumas informações foram alteradas para que internamente o questionário tivesse um perfeito entendimento. Após as alterações solicitadas, uma cópia do questionário foi enviada por e-mail para aprovação final. Cada grupo de respondentes teve um procedimento diferenciado de coleta dos dados. No caso dos beneficiados, foi aplicado internamente na própria ONG. Para os funcionários e voluntários foi enviado via e-mail e via correio. Os doadores receberam por e-mail, assim como os dirigentes. Na etapa seguinte, foi agendado um dia para a aplicação com os beneficiados para que fosse aplicado com todos, na mesma data e local, uma vez que eles possuem atividades externas e de horários diferenciados. Essa aplicação ocorreu em janeiro de 2006, na sede da ONG, em Blumenau, durante uma manhã. Os questionários dos funcionários foram enviados por e-mail, no início de fevereiro, por solicitação da direção, uma vez que eles poderiam preenchê-los em horários mais convenientes e sem a necessidade de parar a organização num período específico para aplicação. Na primeira aplicação, alguns funcionários não responderam os e-mails, segundo seus relatos por estarem de férias ou por esquecimento. Novamente entrou-se em contato com a direção que permitiu que 59 fossem enviados questionários via correio para que os funcionários que não participaram da primeira remessa pudessem responder também a pesquisa. Esse envio aconteceu na segunda quinzena de março e os questionários preenchidos foram coletados na própria ONG, pela pesquisadora, na primeira quinzena de abril. A direção da ONG também disponibilizou a relação dos doadores e dos voluntários para que fosse desenvolvida a pesquisa com esses públicos. A listagem fornecida contemplava 50 doadores entre pessoas jurídicas e físicas e 02 voluntários. Os questionários dos doadores foram enviados via e-mail e dos voluntários foram deixados na própria ONG, uma vez que os dois doadores possuíam horários diferenciados de voluntariado na organização. O envio do instrumento para os doadores obedeceu algumas etapas. Na primeira etapa, ligou-se para toda a relação e o público foi informado sobre a pesquisa que seria desenvolvida e seus objetivos. Após o telefone, o instrumento foi enviado anexado em um e-mail que também continha uma carta que reforçava a importância da resposta para o desenvolvimento do estudo, conforme apêndice B. Após o envio, foram aguardados 15 dias para o retorno do questionário, o que não aconteceu. Mais uma vez fora enviado o instrumento e a carta via e-mail e não houve nenhum retorno. Ligou-se mais uma vez para todos os doadores e foi enviado, pela terceira vez, o e-mail com o anexo e a carta. Na terceira tentativa houve 03 respostas, sendo 01 questionário preenchido e 02 respostas negativas, salientando que não iriam participar da pesquisa por falta de conhecimento da ONG. Na quarta tentativa, 02 doadores enviaram o questionário preenchido. E, na última tentativa, de número cinco, mais 03 doadores responderam. O que finalizou 06 respondentes do grupo doadores após 05 tentativas durante 03 meses da aplicação do instrumento. A relação dos dirigentes foi fornecida também pela ONG e os questionários foram enviados por e-mail, após ligação inicial da ONG e da pesquisadora, informando sobre a pesquisa que seria desenvolvida. Foram necessários 03 tentativas para se obter retorno. 3.3 Análise e interpretação dos dados 60 Por se tratar de uma pesquisa quantitativa, os resultados quantitativos foram analisados com o uso de estatística de análise multivariada de clusters. Já as respostas semi-abertas do questionário foram interpretadas e comentadas dentro de um contexto global, considerando as demais informações disponíveis. 3.3.1 Tratamento e análise dos dados Os respondentes foram divididos em 02 públicos, interno e externo. O público interno foi constituído pelos funcionários e dirigentes. O público externo foi composto pelos beneficiados, voluntários e doadores. Para realizar a análise estatística, primeiramente, foi estruturada uma base de dados com a utilização de planilha eletrônica. Na etapa seguinte, os dados estatísticos foram devidamente tratados e tabulados mediante a utilização do programa Statistica, da Statsoft, através da análise multivariada de clusters, que permitiu a geração de Tabelas e gráficos para uma melhor visualização dos resultados, através de percentuais e interpretação dos dados. A análise multivariada de clusters é uma série de procedimentos estatísticos usados para classificar objetos e pessoas através da observação das semelhanças entre elas, sem a definição prévia de critérios de inclusão em qualquer agrupamento. “Os métodos de análise de clusters são procedimentos de estatística multivariada que tentam organizar um conjunto de indivíduos, para os quais é conhecida informação detalhada, em grupos relativamente homogêneos (clusters).” (REIS, 1997, p. 287). Neste tipo de análise é fundamental ter cuidado na seleção das variáveis iniciais que vão caracterizar cada indivíduo ou caso e que possam determinar, em última instância, qual grupo em que deve ser inscrito. Nesta análise não há qualquer tipo de dependência entre as variáveis, isto é, os grupos são configurados por si mesmos sem a necessidade de definição de uma relação casual entre as variáveis utilizadas. A idéia é que os grupos apresentem coerência e que se diferenciem significativamente uns dos outros. (REIS, 1997). 61 Para a autora, os métodos são, sobretudo, exploratórios e a idéia é a geração de hipóteses, mais do que o teste de hipóteses, pelo qual é necessária a validação posterior dos resultados encontrados, através da aplicação de outros métodos estatísticos. Contudo, o que se pretende é que os grupos sejam coerentes e que se distingam de maneira significativa uns dos outros. (REIS, 1997). A mesma analogia é feita por Johnson e Wirchern (apud RODRIGUES, 2002) cujos autores descrevem a análise de clusters, correspondendo a uma importante técnica exploratória que busca identificar uma estrutura de agrupamentos visando avaliar a dimensionalidade dos dados e fornecer hipóteses acerca de associações, usada, sobretudo, para agrupar indicadores. Reis (1997, p. 290-291) descreve cinco etapas genéricas para a análise de clusters: 1. A seleção de indivíduos ou de uma amostra de indivíduos a serem agrupados; 2. A definição de um conjunto de variáveis a partir das quais será obtida a informação necessária ao agrupamento dos indivíduos; 3. A definição de uma medida de semelhança ou distância entre cada dois indivíduos; 4. A escolha de um critério de agregação ou desagregação dos indivíduos, isto é, a definição de um algoritmo de partição/classificação; 5. Por último a validação dos resultados encontrados. Neste estudo, estas etapas se configuraram da seguinte maneira: 1. A seleção dos indivíduos a serem agrupados obedeceu ao critério inicial da divisão em dois públicos chamados de interno e externo. Como já mencionado, o público interno foi composto pelos funcionários e dirigentes e o público externo pelos voluntários, beneficiados e doadores. 2. A definição do conjunto de variáveis foi embasada na literatura estudada e contemplou 06 indicadores de análise agrupados em: (a) grupos e redes; (b) confiança e solidariedade; (c) ação coletiva e cooperação; (d) informação e comunicação; (e) coesão social e inclusão e, (f) acréscimo de força e política de ação. 3. A medida de semelhança ou distância entre cada dois indivíduos foi expressa através de valores numéricos para cada questionamento do grupo das variáveis, através da distância euclidiana. 62 4. O critério de agregação escolhido foi o critério de Ward. Este critério, segundo (REIS, 1997, p. 321), “é baseado na perda de informação resultante do agrupamento dos indivíduos e medida através da soma dos quadrados dos desvios das observações individuais relativamente às médias dos grupos em que são classificadas”. Pode ser resumidamente explicado nos seguintes passos: Primeiro são calculadas as médias das variáveis para cada grupo; em seguida, é calculado o quadrado da distância Euclideana entre essas médias e os valores das variáveis para cada individuo; somam-se as distancias para todos os indivíduos; por último, pretende-se otimizar a variância mínima dentro dos grupos. A função objetiva que se pretende minimizar é também chamada soma dos quadrados dos erros (ESS) ou soma dos quadrados dentro dos grupos (WSS). (REIS, 1997, p. 321-322). 5. A validação dos resultados encontrados deverá ser feita através de uma análise confirmatória, diferente da proposta deste estudo que é exploratória. Portanto, essa etapa será apresentada como sugestão de projeto futuro de pesquisa sobre o tema. Desta forma, buscou-se seguir os preceitos e o rigor científico necessário em documentos técnico-científicos, visando colaborar na evolução das produções de cunho acadêmico relacionadas ao estudo do Capital Social e Terceiro Setor, frente ao interesse em torno destes temas. Portanto, apresentam-se no próximo capítulo os resultados encontrados durante o desenvolvimento da pesquisa. 63 4 RESULTADOS DA PESQUISA Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados do estudo de caso, através da descrição dos procedimentos realizados para análise e interpretação dos dados coletados, seguido de discussão e comentário destes, através dos gráficos gerados pelo programa Statistica. A pesquisa buscou descrever como esses indicadores são percebidos pelos públicos da organização estudada. Desta forma, o primeiro item deste capítulo apresenta uma caracterização do universo pesquisado, seguido por uma descrição dos dados coletados referentes aos indicadores de capital social e, posteriormente, as análises comparativas dos dados coletados. 4.1 Estudo de caso – ONG De acordo com o relatório de atividades 2005 (ROSSA; GÄRTNER, 2006), fornecido para estudo pela organização, a ONG estudada caracteriza-se como uma associação civil, portadora do CEAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social1, de caráter privado, sem fins lucrativos, que atua como comunidade terapêutica. Tem como missão: “atuar na prevenção da dependência de álcool e outras drogas, e no tratamento do dependente e seus familiares, a partir de uma visão cristã de ser humano integral, buscando a reinserção social e uma melhor qualidade de vida”. Os trabalhos da organização foram iniciados no dia 04 de maio de 1989, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, a partir da Missão Evangélica União Cristã (MEUC), entidade religiosa, civil, sem fins lucrativos, inserida no contexto da IECLB2. Muitos dependentes começaram a procurar as igrejas, inicialmente, para buscar alimentos. Desta forma, os missionários da MEUC, além de fornecer a alimentação, começaram a tentar resolver o problema de dependência química. A partir do 1 O CEAS – é um certificado concedido às entidades que prestam atendimento social gratuito, total ou parcialmente nas áreas de Assistência Social, Saúde e Educação. 2 IECLB – Igreja de Confissão Luterana no Brasil. 64 entendimento de um grupo de pessoas, de que não poderiam ficar alheios ao problema da dependência em álcool e outras drogas, decidiram expressar sua fé além do discurso, na vida prática, auxiliando no tratamento e reabilitação de dependentes químicos (álcool e outras drogas), com uma visão do ser humano completo. Inicialmente, o primeiro beneficiado morou com a família do primeiro colaborador, numa casa de madeira na área rural da cidade de Blumenau. Em seguida, um rancho foi transformado em alojamento, cozinha e refeitório. Com o tempo, houve um constante aumento na demanda para internamento e, com o apoio da MEUC, da Cruz Azul3 da Alemanha, da Gnadauer Brasilien Mission4, da Hilfe für Brüder5, da Prefeitura Municipal de Blumenau, do Governo do Estado de Santa Catarina e de inúmeras pessoas e de amigos da comunidade, foi possível ampliar o trabalho. A ONG é filiada à Cruz Azul, que está presente em mais de 50 países. Para a Cruz Azul a dependência química é vista como uma doença, chegando a esta conclusão muito antes da OMS – Organização Mundial da Saúde, e o dependente, como um doente que precisa de acompanhamento médico, psicológico, social, conforme Relatório de Atividades 2005. Hoje, a ONG possui quatro unidades de tratamento situadas em Blumenau, Palhoça, São Bento do Sul, em Santa Catarina, e Lapa, no Paraná. Juntas estas têm a capacidade de atendimento de 131 dependentes, sendo 124 no programa de tratamento e 14 na Reinserção Social, possui, ainda, em seu quadro profissional o total de 56 colaboradores nas diversas áreas profissionais. A organização oferece 05 programas que têm como foco as mudanças comportamentais e a qualidade de vida dos dependentes e seus familiares, através da assistência aos recuperandos com acompanhamento médico, laborterapia, atividades de lazer, esportivas, educacionais, palestras, terapia em grupo, terapia individual, aconselhamentos e a espiritualidade com base na Palavra de Deus, atendendo pessoas de todas as regiões do Brasil. Os programas são: (a) Programa 3 CRUZ AZUL é uma Federação que congrega Comunidades Terapêuticas, bem como, outras pessoas físicas e jurídicas que atuam na área da dependência química, mantendo relacionamento com a Federação Internacional da Cruz Azul, com sede em Berna, na Suíça. 4 Entidade Alemã, a qual a MEUC é vinculada. 5 ONG Alemã, que tem dado apoio para vários projetos apresentados. 65 de Internamento; (b) Programa de Prevenção; (c) Programa de Reinserção Social; (d) Programa de Atendimento Dia; (e) Programa de Atendimento Social. De acordo com o Estatuto da ONG (Rossa e Gärtner, 2006), no art. 4o, o objetivo social da organização é: ART. 4 – A entidade tem por objetivo a reabilitação física, espiritual e psíquica de dependentes do álcool, de drogas e congêneres, visando tornálos livres, felizes, capazes, úteis, e readaptá-los à sociedade, auxiliando-os na readaptação e reintegração à sociedade. § 1 – A entidade objetiva não só atuar no trabalho de recuperação, mas também na área de prevenção das dependências acima enumeradas, podendo para isso utilizar todos os meios e formas disponíveis para consecução deste objetivo, desde que não contrariem os princípios expressos neste estatuto. § 2 – Além do trabalho de recuperação e prevenção nas áreas acima mencionadas, a entidade se propõe a atuar também através de grupos de apoio, tanto a dependentes como seus familiares, pessoas ligadas e/ou de seu relacionamento que, como atingidos, necessitam de auxílio ou cujo envolvimento se torne imprescindível para o sucesso do tratamento e/ou acompanhamento. § 3 – Constitui também objetivo, sempre que possível, atuar no enfrentamento da pobreza e na assistência às famílias, tanto para com pessoas ligadas ou afetadas às pessoas dependentes, como da sociedade em geral, em especial visando à proteção da família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice, bem como promover a integração ao mercado de trabalho. § 4 – Para atingir os objetivos acima, poderá atuar em conjunto ou não com entidades profissionais, entidades públicas ou privadas, associações e/ou igrejas. O foco é um trabalho cristão diacônico e seu serviço de assistência social, destina-se a todas as pessoas, sem distinção de cor, raça, sexo, nacionalidade, estado civil, profissão, credo religioso ou político, conforme Rossa e Gärtner (2006), nos artigos 6o e 7o: ART. 6 – O trabalho de recuperação destina-se a todas as pessoas que desejam ser curadas e libertadas do álcool e das drogas, sem distinção de cor, raça, sexo, nacionalidade, estado civil, profissão, credo religioso ou político. ART. 7. Os interessados na recuperação deverão estar cientes e se submeter ao Regimento Interno. Sua finalidade é ajudar dependentes do álcool, drogas e congêneres, seus familiares e pessoas afetadas e/ou ligadas às pessoas dependentes. Busca prevenir contra o abuso do álcool e de outras drogas através de publicações, trabalho público em palestras e divulgação de material de informação e de trabalho que visam ajudar pessoas dependentes. A ONG objetiva a manutenção de Entidades e Centros para Recuperação e/ou Comunidades Terapêuticas de dependências e dos provenientes de dependência e que sirvam para aconselhamento, tratamento ambulatorial, médico ou de enfermagem, tratamento e reabilitação. Fornece orientação e 66 treinamento aos seus colaboradores e voluntários, através de publicações e cursos de Capacitação em Dependência Química realizados por pessoal especializado. Conforme o relatório de atividades de 2005, a organização recebeu ao longo de sua história vários prêmios em nível local e nacional, entre eles: (a) destaque como umas das 12 entidades brasileiras que merecem a sua contribuição, divulgado pela Revista Seleções em 2004; (b) destaque como uma das 430 entidades no Brasil que merecem a sua contribuição, divulgado pela Revista Veja em 2001; (c) Prêmio Bem Eficiente em 2002 e 2003; (d) Prêmio Destaque da Lapa, em 2001; (e) Prêmio de Qualidade Empresarial e Profissional de 2000 e 2005, para a unidade de Blumenau, pela qualidade dos serviços prestados. 4.2 Caracterização do universo pesquisado A pesquisa foi aplicada com o público interno (funcionários e dirigentes) e com o público externo (beneficiados, voluntários e doadores), na sede administrativa da organização, na cidade de Blumenau. A pesquisa precisou ser feita em várias etapas, uma vez que em função das atividades administrativas internas, muitos funcionários não se encontravam diariamente na sede. Além disto, a direção é composta por membros externos, o que dificultou a devolução dos instrumentos preenchidos. Dos 63 questionários válidos, pode-se observar no quadro a seguir, que os respondentes são, em sua maioria, homens. Vale ressaltar que a predominância masculina no grupo dos beneficiados deve-se ao fato de que a organização só atende pessoas do sexo masculino, para receber o tratamento, em função disto, o universo feminino contempla somente os grupos de doadores, funcionários e dirigentes. 67 PÚBLICOS TOTAL GERAL % em relação SEXO Funcionários Dirigentes Beneficiados Doadores Voluntários Total ao total Feminino 5 1 0 1 0 7 ~11% % em relação ao público ~42% 20% 20% Masculino 7 4 39 4 2 56 ~89% % em relação ao público ~58% 80% 100% 80% 100% Total 12 5 39 5 2 63 100% % em relação ao público % 100% 100% 100% 100% 100% INTERNO EXTERNO Quadro 5: Sexo dos pesquisados Fonte: Dados empíricos Na seqüência, pode-se observar a divisão dos públicos por faixas-etárias, demonstrada no quadro 6. No geral, as faixas etárias com maior participação são as de 15 a 25 anos, com cerca de 30% dos respondentes, e a de 26 a 36 anos, com cerca de 32%. Quando analisados por públicos, o público interno é composto em sua maioria (~41%) por pessoas de 26 a 35 anos e por pessoas de 36 a 45 anos (~35%). Já o público externo é composto por pessoas de 15 a 25 anos, em 40% dos casos, seguidos em 30% das respostas por pessoas de 26-35 anos. FAIXA ETÁRIA 15-25 PÚBLICOS INTERNO TOTAL EXTERNO Funcionários Dirigentes Beneficiados Doadores Voluntários Total % em relação ao total 1 1 15 0 1 18 ~30% ~8% 3 20% 4 ~45% 9 3 50% 0 19 ~32% 25% 6 80% 0 ~27% 5 60% 2 1 14 28% 50% 2 0 ~15% 2 40% 0 50% 0 4 7% ~17% 0 0 6% 2 0 0 2 ~3% Total 0 12 5 6% 33 5 2 57* 100% % 100% 100% 99% 100% 100% % em relação ao público 26-35 % em relação ao público 36-45 % em relação ao público 46-55 % em relação ao público 56-65 % em relação ao público (*) Não respondidos 07 Quadro 6: Faixa etária dos pesquisados Fonte: Dados empíricos 68 Em relação ao item estado civil, pode-se observar que 46% dos respondentes são casados e 39% solteiros. O público interno é composto, em sua maioria, por pessoas casadas, o que difere do público externo, pois a maioria dos integrantes é composta por solteiros. PÚBLICOS Estado Civil INTERNO Total Geral EXTERNO Funcionários Dirigentes Beneficiados Doadores Voluntários Total % Casado(a) 9 4 10 4 1 29 ~ 46% % 75% 80% ~26% 80% 50% Viúvo(a) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 ~ 6% 0 0 6 ~ 9% 24 ~ 39% 63* 100% % Divorciado(a) 2 % ~17% Separado(a) 0 ~5% 0 6 % ~15% Solteiro(a) 1 1 21 1 1 % ~8% 20% ~54% 20% 50% Total 12 5 39 5 2 % 100% 1005 100% 100% 100% (*) Não respondidos 01 Quadro 7: Estado civil Fonte: Dados empíricos Através da pesquisa, foi possível detectar diferenças no nível de escolaridade dos públicos questionados. O público interno é, em sua maioria, graduado. O que não ocorre com o público externo, onde os pesquisados dividem-se em nível fundamental e médio, conforme demonstrado no quadro 8 abaixo. PÚBLICOS Escolaridade INTERNO Total Geral EXTERNO Funcionários Dirigentes Beneficiados Doadores Voluntários Fundamental 0 0 Médio 3 0 % 15 0 ~42% % 15 25% 0 19 ~ 32% 0 19 ~ 31% 0 7 ~ 11% 60* 100% 100% 13 1 % 25% ~36% 20% Graduação 9 2 7 1 % 75% 40% ~19% 20% Pós-Grad. 0 3 1 3 60% ~3% 60% % Total 2 Total 12 5 36 5 2 % 100% 100% 100% 100% 100% (*) Não respondidos 04 Quadro 8: Escolaridade Fonte: Dados empíricos 69 Na seqüência, os dados foram analisados e interpretados de duas maneiras. Num primeiro instante foi feita a análise separada por públicos (interno e externo), através das respostas das seções do questionário, que detectaram os indicadores de capital social da ONG. Para isto, foram utilizadas as ferramentas de modelo estatístico e análise dos gráficos gerados pelo programa Statistica. Em uma segunda análise, foi feito o cruzamento das respostas do público interno e externo, a fim de processar e detectar os indicadores coletados na pesquisa, comparando a visão dos dois públicos. Os questionários respondidos receberam siglas referentes ao tipo de público e ordem de recebimento do instrumento, conforme demonstrado na Tabela abaixo: Tabela 8: Siglas dos públicos Público Beneficiado Dirigentes Voluntários Doadores Funcionários Sigla B Dir V D F Exemplo B1 Dir1 V1 D1 F1 4.3 Público interno Nos próximos itens do estudo, os resultados coletados serão expostos e analisados, de acordo com cada seção de perguntas do instrumento, inicialmente, pelo público interno e, posteriormente, pelo público externo. 4.3.1 Grupo e rede de relacionamentos – seção A – público interno A figura 1 apresenta os grupos que se formaram ao considerar as respostas dos funcionários e dirigentes, isto é, do público interno. Na distância de corte escolhida para análise, diferenciam-se dois grupos. No primeiro grupo (A) estão inclusos 06 respondentes, do F11 até Dir5 e; no segundo, (B) encontram-se 11 entrevistados, de F14 até Dir 1. 70 Dendograma do Público Interno Seção A Método de Junção: Ward Medida de Parecença: Distância Euclidiana 12 A Legendas dos Grupos: Grupo A: Família não participa, não doação de dias de trabalho. Participam porque a ONG beneficia a comunidade. Relacionamento da ONG com outras ONGS. Grupo B: Família não participa, doação de 2 dias de trabalho. Participam por causa da espiritualidade e benefício próprio. Relacionamento da ONG com outras ONGS. B 10 8 6 Distância de Junção 4 2 0 F11 F7 F6 F9 F1 F14 Dir 5 F13 F12 F10 F8 F2 F3 Dir 2 Dir 3 Dir 1 Dir 4 Figura 1: Dendrograma Público Interno – Seção A – Grupo e Rede de Relacionamentos Fonte: Software Estatístico Statistica Para esta seção grupo e rede de relacionamentos, as questões foram avaliadas individualmente, com valores diferenciados para cada uma das respostas. A análise permitiu detectar, através das respostas, a participação dos respondentes e de sua família na ONG, o benefício de fazer parte da organização, a percepção quanto aos membros da organização, e se, para os respondentes, a organização interage ou trabalha com outros grupos/organizações. Na descrição das respostas, o grupo A é composto por pessoas que foram convidadas a participar da ONG (50%) e que nunca tiveram um membro da família participando de atividades na organização (~67%). Este grupo também nunca doou nenhum dia de trabalho para a ONG (~84%). Para eles, beneficiar a comunidade (50%) é citado como o principal benefício de se juntar a esta organização. Os respondentes deste primeiro grupo (A) assinalaram em cerca de 58% das alternativas que os membros da ONG não fazem parte de grupos homogêneos, 71 como vizinhança, familiares etc. E, cerca de 58%, acredita que a organização interage ou trabalha com outros grupos, de objetivos similares ou não ao da ONG. O segundo grupo (B) é formado por 100% de pessoas convidadas a participar da ONG (50%) e que nunca tiveram um membro da família participando de atividades na organização (~55%). Este grupo doou dois dias de trabalho, nos últimos 06 meses, para a ONG (~36%). Fazem parte da organização porque em cerca de 36% das respostas acreditam que o maiores benefícios são espiritualidade, status social e auto-estima. Para cerca de 62% dos respondentes deste grupo (B) os membros da ONG não fazem parte de grupos homogêneos, como vizinhança, familiares etc. E acreditam que a organização interage ou trabalha com outros grupos, de objetivos similares ou não ao da ONG, em 65% das alternativas assinaladas. Na análise final destas variáveis, através das respostas do público interno, foi possível detectar dois grupos representados na seguinte Tabela: Tabela 9: Representação Público Interno – Seção A – Grupo e Rede de Relacionamentos Público Interno (grupos) Participação da Família na ONG Grupo A Não (~67%) Grupo B Não (~55%) Como se tornou parte da ONG Convite (50%) Doação Dias Trabalho ONG Nenhum (~84%) Convite (100%) 2 dias (~36%) Benefício de estar na ONG Beneficia a comunidade (50%) Espiritualidade / status social / auto estima (~36%) Homogeneida de dos membros da ONG Não (~58%) Interação da ONG com outras organizações Não (~62%) Sim, às vezes (~65%) Sim, às vezes (~58%) Fonte: Dados empíricos 4.3.2 Confiança e solidariedade – seção B – público interno Na análise seguinte da seção confiança e solidariedade, as questões que receberam valores 1, 2 ou 3 expressam baixa confiança e solidariedade por parte dos entrevistados, no entanto, sendo iguais ou superiores a 4 significam alta confiança e solidariedade. 72 Dendrograma Público Interno Seção B Método de Junção: Ward Medida de Parecencia: Distância Euclidiana Legendas dos Grupos: Grupo A: baixa confiança, alta solidariedade. 16 Grupo B: alta confiança, alta solidariedade. 14 12 A B 10 8 Distância de Junção 6 4 2 0 F1 F13 F12 Dir 4 F14 F3 F10 F8 F9 F6 Dir 3 F7 Dir 5 Dir 2 F2 Dir 1 Figura 2: Dendrograma Público Interno – Seção B – Confiança e Solidariedade Fonte: Software Estatístico Statistica Para medir a confiança e a solidariedade do público interno, cujas assertivas relacionam-se com a percepção deste público referente às pessoas que fazem parte da organização e às pessoas externas à organização, foi utilizada a escala de concordância/discordância de 06 pontos, que foi adaptada com a inserção de conceitos, visando facilitar a análise dos dados, conforme quadro abaixo. Escala de Concordância/Discordância de 6 pontos 1 (Discordância Total) 2 3 4 5 6 (Concordância Total) Conceitos correspondentes Baixo Médio Alto Quadro 9: Escala de concordância/discordância de 6 pontos Fonte: Elaborado pela autora, 2006 Continuando a descrição dos dados, na figura 2 estão representados os indicadores confiança e solidariedade, através das respostas do público interno, 73 composto pelos funcionários e dirigentes da ONG pesquisada. A análise deste gráfico permite visualizar 02 grupos aproximados pela distância euclidiana. O grupo A tem como integrantes os respondentes de F1 a Dir4. No grupo B encontram-se 12 pessoas, do F14 a Dir1. Na avaliação das respostas do Grupo A, percebe-se baixa confiança, pois somente cerca de 37% dos pesquisados atribuíram valores iguais ou superiores a 4 para as alternativas questionadas. Para este grupo, somente os terapeutas pastorais receberam valores elevados para confiança. Na variável solidariedade, representada pelas questões Q0903 (a maioria das pessoas desta organização estão dispostas a ajudar) e Q11 (as pessoas costumam ajudar as outras), as respostas foram altas, com 75% dos itens assinalados com valores entre 1 e 2. Deste modo, a percepção deste grupo A se caracteriza por baixo grau de confiança (~63%) e alto grau de solidariedade (75%). Já o grupo B possui um nível de confiança e solidariedade alto, pois as respostas indicaram esta afirmativa. Este grupo, em sua maioria (~76%), assinalou itens de alta confiança. Quando questionados sobre solidariedade, 100% dos respondentes acreditam que as pessoas na organização estão dispostas a ajudar, quando necessário. Na descrição final das variáveis confiança e solidariedade, na visão do público interno, foi possível detectar os 02 grupos representados na seguinte disposição, conforme Tabela a seguir: Tabela 10: Representação Público Interno – Seção B Público Interno (grupos) Confiança Solidariedade Grupo A Baixa (~63%) Alta (75%) Grupo B Alta(~76%) Alta (100%) Fonte: Elaborado pela autora, 2006 4.3.3 Ação coletiva e cooperação – seção C – público interno Da mesma forma que foram utilizados conceitos para medir a confiança e a solidariedade do público interno, a escala de concordância/discordância foi adaptada com a inserção de conceitos, para facilitar as respostas dos pesquisados, quanto ao indicador cooperação, conforme observa-se no quadro a seguir: 74 Escala de Concordância/Discordância de 5 pontos 1 (Concordância Total) 2 3 4 5 (Discordância Total) Conceitos correspondentes Alto Médio Baixo Quadro 10: Escala de concordância/discordância de 5 pontos Fonte: elaborado pela autora, 2006 Continuando a análise dos indicadores ação coletiva e cooperação, referente à seção C do questionário, a figura 3 apresenta os grupos formados através da distância de corte escolhida para análise, em função das respostas fornecidas pelos participantes. Desta maneira, foi possível detectar 02 grupos com características distintas. O grupo A é composto por 05 integrantes, do Dir3 ao F2. O grupo B possui 12 participantes, do Dir4 ao F1. Dendrograma Público Interno Seção C Método de Pesquisa: Ward Medida de Parecença: Distância Euclidiana Legendas dos Grupos: Grupo A: Ação Coletiva: média. Cooperação: alta. 10 Grupo B: Ação Coletiva e cooperação: altas. 8 A B 6 4 Distância de Junção 2 0 Dir 3 Dir 5 F13 F2 Dir 1 Dir 2 Dir 4 F7 F14 F11 F12 F9 F10 F6 F8 Figura 3: Dendrograma Público Interno – Seção C – Ação Coletiva e Cooperação Fonte: Software Estatístico Statistica, 2006 F1 F3 75 O primeiro grupo (A) é formado por pessoas que trabalharam, juntamente com outros membros da ONG, nos últimos 06 meses para algo que traria benefícios para todos (80%). Este grupo, em 60% das respostas, acredita que menos da metade das pessoas, na organização, contribuem com tempo ou dinheiro em torno de um objetivo comum. Mas são unânimes em afirmar que seria muito provável que as pessoas da ONG se unissem e ajudassem outra pessoa que esteja passando por um momento difícil. Na ponderação das respostas, na visão deste grupo, a ação coletiva é mediana (70%) e a solidariedade é elevada (100%). Dos participantes deste grupo (A) que responderam que desenvolveram ações junto com outros membros nos últimos 06 meses, 75% detalharam como participaram dessas atividades, que foram feitas voluntariamente (50%) e por convocação (50%). Ajuda na tesouraria, mutirão em prol de outra unidade da ONG, pedágio e representar a entidade junto a outras organizações, foram atividades desenvolvidas voluntariamente pelos membros deste grupo. Por convocação, os participantes dirigiram e participaram de reuniões, tanto da própria ONG quanto da Cruz Azul, bem como aconselharam e resolveram conflitos. O segundo grupo (B) é formado por pessoas que trabalharam em conjunto com outros membros da ONG em algo que traria benefícios para todos (~92%). Os respondentes deste grupo acreditam que mais da metade das pessoas na organização contribuem com tempo ou dinheiro em torno de um objetivo comum (~67%). E são unânimes em afirmar que seria muito provável que as pessoas da ONG se unissem e ajudassem outra pessoa que esteja passando por um momento difícil. Na ponderação das respostas deste grupo, os dois indicadores são considerados altos. As atividades em conjunto com outros membros da ONG, desenvolvidas pelos integrantes do Grupo B, foram feitas em sua maioria por vontade própria. Foram elas: reuniões da diretoria, apoio na captação de recursos, encontro de famílias dependentes, apoio na corrida rústica, recreação dos beneficiados e atendimento aos familiares. Somente uma atividade foi desenvolvida pelo membro através de convocação: ajuda na terapia individual/grupo e palestra. Na Tabela 11 é possível observar a visão do público interno quanto aos indicadores de ação coletiva e cooperação. 76 Tabela 11: Representação Público Interno – Seção C – Ação Coletiva e Cooperação Público Interno (grupos) Ação Coletiva Cooperação Grupo A Média (70%) Alta (100%) Grupo B Alta (~80%) Alta (100%) Fonte: Elaborado pela autora, 2006 4.3.4 Comunicação e informação – seção D – público interno Esta descrição trata dos indicadores pertencentes à seção D, sobre informação e comunicação, para detectar por quais meios de comunicação os respondentes do público interno recebiam informações sobre os trabalhos desenvolvidos pela ONG estudada. As respostas dos entrevistados contemplavam até 03 alternativas. Dendrograma do Público Interno Seção D Método de Junção: Ward Medida de Parecença: Distância Euclidiana 4,0 3,5 Legendas dos Grupos: Grupo A: informativo da ONG; funcionários; internet. Grupo B: parentes, amigos e vizinhos; rádio; jornal comunitário ou local, televisão e funcionários. B A 3,0 2,5 2,0 Distância de Junção 1,5 1,0 0,5 0,0 Dir4 F7 F3 Dir2 F9 Dir5 Dir3 F6 Dir1 F2 Figura 4: Dendrograma Público Interno – Seção D – Informação e comunicação Fonte: Software Estatístico Statistica, 2006 Dir6 F1 77 Na análise deste indicador, a Figura 4 apresenta os grupos formados através da distância de corte escolhida para análise, com base nas respostas dos pesquisados. Sendo assim, detectou-se 2 grupos com características diferentes. O grupo A é composto por 10 integrantes, do Dir4 ao F2. O grupo B possui 2 participantes, Dir6 e F1. Os respondentes do grupo A recebem informações pelo informativo da ONG (100%), funcionários da organização (60%) e pela internet (60%). E o grupo B recebe informações através de parentes, amigos e vizinhos (100%), rádio (100%) e jornal comunitário ou local, televisão e funcionários da organização (50%) cada. Em uma análise geral, com todos os integrantes inclusos, as três alternativas mais assinaladas pelo público interno foram: informativo da ONG (~29%), funcionários da ONG (~20%) e internet (~17%), conforme ilustrado no gráfico 1. Internet (6) Outras ONGS (0) Funcionários da ONG (7) Líderes comunitários (0) Associações políticas (0) TV (1) Rádio (2) Jornal comunitário ou local (4) Informativo ONG (10) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Parentes, amigos e vizinhos (5) Porcentagem Bloco D - Informação e Comunicação - Público Interno Tipos e Frequência Gráfico 1: Gráfico Público Interno – Seção D – Informação e Comunicação Fonte: Elaborado pela autora em programa Excel, 2006 A Tabela 12 descreve os meios pelos quais cada grupo, do público interno, recebe as informações sobre a ONG pesquisada. 78 Tabela 12: Representação Público Interno – Seção D – Comunicação e Informação Público Externo (grupos) Comunicação Informativo da ONG (100%) Grupo A Funcionários da própria ONG (60%) Internet (60%) Parentes, amigos e vizinhos (100%) Rádio (100%) Jornal comunitário ou local (50%) Televisão (50%) Funcionários da ONG (50%) Grupo B Fonte: Elaborado pela autora, 2006 4.3.5 Coesão social e inclusão – seção E – público interno Na figura 5 estão representados os indicadores coesão social e inclusão, através das respostas do público interno. A análise permite visualizar 02 grupos aproximados pelas distâncias euclidianas. O grupo A é formado pelos respondentes F1 a Dir6. O grupo B é composto pelos respondentes F7 a Dir1. A questão 17 (Q17) abordava o quão forte é o sentimento de ficar junto ou próximo às pessoas dentro da ONG pesquisada. Já a questão Q18, questionava se a organização é geralmente pacífica ou marcada por violência. Dendrograma Público Interno Seção E Método de Junção: Ward Medida de Parecença: Distância Euclidiana 30 Legendas dos Grupos: Grupo A: em branco. Grupo B: Alta coesão, alta inclusão. 25 20 15 Distância de Junção 10 A B 5 0 F1 F4 F5 F7 Dir 6 F8 F3 Dir 5 F14 F12 F13 F10 F11 F6 F9 Dir 4 F2 Figura 5: Dendrograma Público Interno – Seção E – Coesão social e inclusão Fonte: Software Estatístico Statistica, 2006 Dir 2 Dir 3 Dir 1 79 O agrupamento A deixou em branco a questão sobre coesão social (100%) e a questão sobre inclusão em 75% das respostas. O Grupo B respondeu, em sua totalidade, que é muito forte o sentimento de estar próximo às pessoas dentro da organização (Q17) e que a ONG é pacífica (Q18). Portanto, do total pesquisado destes indicadores, composto pelos grupos A e B, 80% dos entrevistados consideram que a organização é pacífica e que é muito forte o sentimento de estarem juntos. Mas é importante frisar que 20% dos respondentes deixaram em branco a questão sobre coesão e 15% também não responderam sobre o grau de violência dentro da organização. Abaixo está a Tabela ilustrativa dos grupos destas variáveis. Tabela 13: Representação Público Interno – Seção E – Coesão social e Inclusão Público Externo (grupos) Coesão Inclusão Grupo A Em branco (100%) Em branco (75%) Grupo B Alta (100%) Alta (100%) Fonte: Elaborado pela autora, 2006 4.3.6 Acréscimo de força e ação política – seção F – público interno Dendrograma Público Interno Bloco F Método de Junção: Ward Medida da Parecença: Distância Euclidiana 6 A 5 B Legendas dos Grupos: Grupo A: Acréscimo de força: médio. Alta ação política. Grupo B: Acréscimo de força e ação política: altos. 4 3 Distância de Junção 2 1 0 Dir 5 F9 F14 F2 F6 F3 F12 F11 F1 F10 Dir 4 F7 F8 F13 Dir 2 Dir 1 Dir 3 Figura 6: Dendrograma Público Interno – Seção F – Acréscimo de Força e Ação Política Fonte: Software Estatístico Statistica 80 A seção F do questionário trata dos indicadores acréscimo de força e ação política, sendo composta por quatro questões. As duas questões iniciais reproduzem a variável acréscimo de força (Q19 e Q20) e as outras duas (Q21-22) ação política. A questão Q19 aborda o quanto feliz o respondente se considera dentro da organização. A Q20 pergunta o quanto de controle o respondente acha que tem para tomar decisões que afetam as suas atividades diárias dentro da organização. Na Q21, detecta-se quantas vezes, nos últimos 12 meses, as pessoas da ONG se juntaram para fazer pedidos ao governo ou aos líderes políticos em benefício da própria organização. E, por fim, a Q22 aborda se alguns desses pedidos teve sucesso. Para a questão Q19 as respostas 1 e 2 significavam muito feliz e moderadamente feliz. Para a Q20 as alternativas 3, 4 e 5 indicavam controle sobre as decisões, em menor e maior grau. Na Q21, as respostas 3 e 4 indicavam que as pessoas da ONG se juntaram para fazer pedidos ao governo ou líderes, poucas vezes e muitas vezes, sucessivamente. Na questão Q22, as respostas 1 e 2 indicavam que os pedidos feitos foram bem sucedidos. A figura 6 mostra as respostas dos pesquisados que foram agrupadas pelo software em 3 grupos distintos, separados pela distância euclidiana. O respondente Dir5 foi agregado ao grupo A, para fins de análise, uma vez que apresentava como único diferencial a Q21, que foi deixada em branco. As respostas do Grupo A demonstram que o indicador acréscimo de força tem uma participação de 50% (média) dentro deste grupo através das respostas dos seus integrantes. Na descrição do indicador ação política, este grupo é unânime em afirmar que, muitas vezes, nos últimos doze meses, as pessoas da ONG se juntaram para fazer pedidos ao governo ou aos líderes políticos em benefício da organização. Mas somente 62,5% dos respondentes acham que a maioria dos pedidos foram bem sucedidos. Na análise geral deste indicador (ação política), cerca de 81% dos respondentes do grupo A acreditam que os participantes são engajados nas causas da ONG. Dos pesquisados do grupo B, cerca de 67% responderam que são muito felizes dentro da organização. Quando questionados sobre o quanto de controle achavam que tinham para tomar decisões que afetam as atividades dentro da organização, 100% dos respondentes afirmaram que têm controle sobre a maioria 81 das decisões. Para cerca de 89% dos respondentes deste grupo as pessoas da ONG se juntaram muitas vezes – mais que 05 – para fazer pedidos ao governo ou aos líderes políticos em benefício da organização. E para aproximadamente 56% destes respondentes a maioria dos pedidos foi mal sucedida. Na análise geral deste grupo B, os respondentes acreditam que são altos os indicadores acréscimo de força (~94%) e ação política (~62%). A representação dos dois grupos internos (A e B) destes indicadores, está abaixo, na Tabela 14. Tabela 14: Representação Público Interno – Seção F – Acréscimo de Força e Ação Política Público Interno (grupos) Acréscimo de Força Ação Política Grupo A Médio (50%) Alta (~81%) Grupo B Alta (~94%) Alta (~62%) Fonte: Elaborado pela autora, 2006 4.4 Público Externo Continuando a descrição dos resultados, nesta parte do trabalho são analisadas as respostas fornecidas pelo público externo, seguindo as seções do instrumento de coleta. 4.4.1 Grupo e rede de relacionamentos – seção A – público externo Os grupos representados na figura 7 foram constituídos através das respostas do público externo, composto pelos beneficiados, voluntários e doadores. Na distância de corte escolhida para análise, diferenciam-se quatro grupos. No primeiro grupo (A) estão inclusos 06 respondentes, do V1 a B13. O segundo grupo (B) possui 14 participantes, do B40 a B2. Do terceiro grupo (C) fazem parte os respondentes de B32 a B8; e, por fim, no quarto grupo (D) encontram-se 16 entrevistados, do D4 até B1. Esta seção teve suas questões avaliadas individualmente, com valores diferenciados para cada uma das respostas. A análise permitiu detectar, através das respostas, a participação dos respondentes e de sua família na ONG, o benefício de 82 fazer parte da organização, a percepção quanto aos membros da organização e se a organização interage ou trabalha com outros grupos/organizações. Dendograma do Público Externo Seção A Método de Junção: Ward Medida de Parecença: Distância Euclidiana 25 20 15 A B 10 Legendas dos Grupos: Grupo A: Família não participa, não doação de dias de trabalho. Participam porque a ONG beneficia a comunidade. Relacionamento da ONG com outras ONGS. Grupo B: Família não participa, doação de 7 dias de trabalho. Participam por causa da espiritualidade e benefício próprio. Relacionamento da ONG com outras ONGS. Grupo C: Família não participa, nunca doaram dia de trabalho. Participam por causa do tratamento próprio. A ONG não se relaciona com outras ONGS. Grupo D: Família não participa, nunca doaram dia de trabalho. Participam por causa do tratamento próprio. A ONG se relaciona com outras ONGS. C B Distância de Junção D B 5 0 V1 D2 D1 B30 B40 B37 B6 B43 B34 B7 B22 B32 B14 B8 B17 B31 V2 B24 B29 B27 B42 B1 D6 D3 D5 B13 B35 B9 B4 B28 B19 B18 B2 B11 B23 D4 B36 B16 B38 B39 B15 B25 B33 Figura 7: Dendrograma Público Externo – Seção A Fonte: Software Estatístico Statistica Na análise dos grupos, o primeiro grupo (A) é composto por pessoas que nunca tiveram um membro da família participando de atividades na organização (~57%) e que foram convidadas a participar da ONG (43%). Quando questionados sobre a doação de dias de trabalho na ONG, este grupo deixou em branco a resposta (~72%) e o restante respondeu que nunca doou um dia. Para eles, o principal benefício de fazer parte deste grupo é o benefício proporcionado pela ONG à comunidade (~71%). Os respondentes deste primeiro grupo (A) assinalaram em cerca de 72% das alternativas que os membros da ONG não fazem parte de grupos homogêneos, como vizinhança, família etc. E cerca de 81% acredita que a organização interage ou trabalha com outros grupos, de objetivos similares ou não ao da ONG. 83 O segundo grupo (B) é formado, em sua maioria, por pessoas que escolheram voluntariamente participar da ONG (~79%) e que a família não participa de atividades na organização (~64%). Nos últimos 06 meses, este grupo doou sete dias de trabalho para a ONG (~43%). Fazem parte da organização porque em 50% das respostas acreditam que os maiores benefícios são espiritualidade, status social e auto-estima. Para cerca de 62% dos respondentes deste grupo (B), os membros da ONG não fazem parte de grupos homogêneos, como vizinhança, família etc. E cerca de 74% dos respondentes acreditam que a organização interage ou trabalha com outros grupos, de objetivos similares ou não ao da ONG. O grupo C é formado pelos respondentes que, em 80% dos casos, não teve participação da família na ONG e que escolheram voluntariamente participar da organização (60%). Todos os participantes deste grupo não doaram nenhum dia de trabalho para a ONG nos últimos 06 meses. Pensando em seu tratamento e recuperação, 80% dos respondentes decidiram fazer parte desta ONG. Para cerca de 54% dos respondentes deste grupo (C), os membros da ONG não fazem parte de grupos homogêneos, como vizinhança, família etc. E, para cerca de 54% dos respondentes, a organização não interage ou trabalha com outros grupos de objetivos similares ou não. Os respondentes que formam o último grupo (D) são, em sua maioria, pessoas que escolheram voluntariamente participar da ONG (75%) e que a família não participa de atividades na organização (~69%). Nos últimos 06 meses este grupo não doou nenhum dia de trabalho para a ONG (~69%). Fazem parte da organização porque, para eles, o maior benefício é cuidar de si, do seu tratamento e recuperação (~56%). 64% dos respondentes deste grupo (D) responderam que os membros da ONG não fazem parte de grupos homogêneos, como vizinhança, família etc. E todos os participantes deste grupo acreditam que a organização interage ou trabalha com outros grupos de objetivos similares ou não ao da ONG. Através das respostas do público externo foi possível detectar os quatro grupos, representados conforme a seguinte Tabela: 84 Tabela 15: Representação Público Externo – Seção A – Grupo Rede de Relacionamentos Público Participação Como se Doação Benefício de Homogenie Interação da Externo da Família tornou Dias estar na ONG dade dos ONG com (grupos) na ONG parte da Trabalho membros outras ONG ONG da ONG organizações Grupo A Não (~57%) Convite (43%) Grupo B Não (~64%) Escolha Voluntária (~79%) Grupo C Não (80%) Grupo D Não (~69%) Escolha Voluntária (60%) Escolha Voluntária (75%) Branco (~72%) Não (~29%) 7 dias (~43%) Nenhum (100%) Nenhum (~69%) Beneficia a comunidade (~71%) Não (~72%) Sim, às vezes (~81%) Espiritualidade/ status social / auto estima (50%) Tratamento/ Recuperação Própria (80%) Tratamento/ Recuperação Própria (~56%) Não (~62%) Sim, às vezes (~45%) Sim GERAL (~74%) Não (~54%) Não (~54%) Não (~64%) Sim, freqüentemente (~58%) Sim GERAL (100%) Fonte: Elaborado pela autora, 2006 4.4.2 Confiança e solidariedade – seção B – público externo Na análise seguinte, para a seção confiança e solidariedade, as questões que receberam valores 1, 2 ou 3 expressam baixa confiança por parte dos entrevistados, no entanto, sendo iguais ou superiores a 4 significam alta confiança. Para medir a confiança e a solidariedade do público externo foi utilizado o mesmo procedimento adotado para o público interno. As assertivas relacionam-se com a percepção deste público referente às pessoas que fazem parte da organização e às pessoas externas à organização e foi utilizada a escala de concordância/discordância de 06 pontos, adaptada com a inserção de conceitos, visando facilitar a análise dos dados, conforme quadro abaixo. Escala de Concordância/Discordância de 6 pontos 1 - Discordância Total 2 3 4 5 6 - Concordância Total Quadro 11: Escala de concordância/discordância de 6 pontos Fonte: Elaborado pela autora, 2006. Conceitos correspondentes Baixo Médio Alto 85 Retomando a análise, a figura 8 mostra os agrupamentos que ocorrem ao considerar as respostas dos beneficiados, voluntários e doadores, isto é, do público externo. Nela e na distância de corte escolhida para análise diferenciam-se três grupos. No primeiro grupo (A) se incluem os respondentes B30 até B2; no segundo (B) encontram-se treze entrevistados, de B20 até B6; e, no terceiro (C) há dezessete respondentes, de B31 a B1. Dendrograma do Público Externo Seção B Método de Junção: Ward Medida de Parecença: Distância Euclidiana Legenda dos Grupos: Grupo A: baixa confiança e alta soliedariedade. 50 Grupo B: alta confiança alta solidariedade. 40 Grupo C: Confiança: baixa (pessoas externas à ONG) e alta confiança (pessoas da ONG). Solidariedade alta. 30 20 A B C B Distância de Junção 10 0 B1 B25 B42 B4 B10 B9 B16 B11 B17 B21 B23 B39 B37 B13 B14 B29 B31 B6 B15 B27 B38 D2 D6 V2 D3 D5 D4 B12 B24 B20 B2 B36 B8 B33 B28 B43 B7 B22 B35 B40 V1 B18 B19 B34 B30 Figura 8: Dendrograma Público Externo – Seção B – Confiança e Solidariedade Fonte: Software Estatístico Statistica, 2006 Na avaliação das respostas dadas às questões que compõem esta seção, o grupo A demonstra uma baixa confiança generalizada, pois quase 78% dos respondentes afirmam não confiar nos itens pesquisados e, quando se trata da confiança depositada no público interno, professores, funcionários, psicólogos e terapeutas pastorais, apenas houve respostas altas para os professores. Para a variável solidariedade, representada pelas questões Q903 (a maioria das pessoas desta organização está disposta a ajudar) e Q11 (as pessoas costumam ajudar as outras), as respostas foram altas, com cerca de 57% dos itens 86 assinalados com valores entre 1 e 2. Assim sendo, a percepção deste grupo A se caracteriza por baixo grau de confiança (~78%) e alto grau de solidariedade (~57%). Já o grupo B possui um nível de confiança e solidariedade alto, pois as respostas apontaram para esta direção. Este grupo, em sua maioria (~85%), assinalou itens de alta confiança. Quando questionados sobre solidariedade, 73% dos respondentes tem alta confiança nos itens pesquisados e 7% deixaram em branco alguns itens dessa variável. No grupo C também há uma baixa confiança, pois cerca de 64% dos pesquisados afirmaram não confiar nas pessoas e situações questionadas. Este grupo apresentou somente alta confiança para as questões sobre professores, enfermeiros/médicos, funcionários da ONG, psicólogos e terapeutas, com 87% de confiança nesses itens, quando analisados isoladamente. Deste modo, é possível afirmar que, segundo as respostas, os respondentes não confiam nas pessoas externas à organização, mas confiam nas pessoas que fazem parte da ONG, como os funcionários, psicólogos e terapeutas pastorais. Na análise destes indicadores, pode-se observar, claramente, a distinção de dois sub-grupos, os que não confiam nas pessoas externas à ONG e os que confiam nas pessoas que colaboram com a organização. Quando questionados sobre o indicador solidariedade cerca de 82% dos participantes do grupo C acreditam que as pessoas costumam ajudar as outras sempre ou na maior parte do tempo. Na análise final destes indicadores na visão do público externo, tornou-se possível detectar os 03 grupos representados na seguinte disposição, conforme Tabela abaixo: Tabela 16: Representação Público Externo – Seção B Público Externo (grupos) Confiança Grupo A Baixa (~78%) Grupo B Alta (~85%) Grupo C Alta (64%) Fonte: Elaborado pela autora, 2006 Solidariedade Alta (~57%) Alta (73%) Baixa (82%) 87 4.4.3 Ação coletiva e cooperação – seção C – público externo Na descrição dos indicadores de ação coletiva e cooperação é possível observar a existência de 04 grupos (vide Figura 9), formados através das respostas fornecidas e da distância de corte escolhida para análise. O primeiro grupo (A) foi composto por 08 integrantes, dos respondentes B39 ao B9. O segundo grupo (B) teve 16 componentes, do D2 a B4. Na seqüência, o grupo C foi constituído pelos integrantes B43 e B5. Por último, o grupo D é composto por 23 pesquisados, do B18 ao B1. Dendrograma Público Externo Seção C Método de Junção: Ward Medida de Parecença: Distância Euclidiana Legendas dos Grupos: Grupo A: Ação Coletiva: alta. Cooperação: alta. Grupo B: Ação Coletiva: média. Cooperação: média. Grupo C: Ação Coletiva: média. Cooperação: baixo. Grupo D: Ação Coletiva: média. Cooperação: média. 30 25 20 15 Distância de Junção 10 A B C D 5 0 B39 B31 B25 B14 D2 B23 B13 B28 D1 B10 D6 B29 B43 B18 B40 B8 B35 B7 D5 B33 B34 B22 B36 B15 B1 B37 B27 B16 B9 B42 V1 B38 B12 B21 V2 B24 B4 B5 D4 B19 D3 B17 B6 B32 B3 B30 B11 B20 B2 Figura 9: Dendrograma Público Externo – Seção C – Ação coletiva e cooperação Fonte: Software Estatístico Statistica, 2006 É possível observar, na descrição do grupo A, que todos os componentes são unânimes em todas as suas respostas. 100% dos respondentes trabalharam com outros membros da ONG em algo que trouxe benefícios para todos e a mesma porcentagem acredita que mais da metade das pessoas na ONG contribuem de alguma forma em torno de um objetivo comum. No indicador cooperação, 100% 88 também é unânime em afirmar que seria muito provável receberem ajuda dos membros da organização, caso ocorresse algum fator desagradável. De todos os que responderam que trabalham com outros membros da ONG, apenas cerca de 63% detalharam quais foram as atividades que desenvolveram, segundo suas respostas, todas voluntariamente. Os serviços prestados foram: limpeza do campo, lavação de ônibus/carros/piso, louvor a Deus, apoio para captação de recursos, serviços gerais e limpeza da lagoa. O grupo B é composto por pessoas que não trabalharam pela ONG, nos últimos 06 meses (~63%), mas que, embora não participando, acreditam que mais da metade das pessoas na organização contribuem com tempo ou dinheiro em torno de um objetivo comum (50%). E a mesma proporção (50%) respondeu que é muito provável que possam ser ajudados pelas pessoas que fazem parte da organização, caso algum problema pessoal venha a ocorrer. Embora com baixa participação nas atividades, dos que assinalaram que participam, cerca de 67% responderam que ajudaram a ONG de diversas maneiras, tanto por convocação quanto voluntariamente. Os serviços desenvolvidos voluntariamente pelos integrantes desse grupo foram: serviços gerais, retirada do lixo (orgânico, reciclado e de comida), participação no Dia da Família e a ajuda na cozinha. As tarefas executadas por convocação foram: cuidado da estrebaria, serviços de marcenaria, ajuda na cozinha, palestra e serviço de terapeuta. O terceiro grupo (C) tem suas opiniões divididas igualmente entre os participantes. Metade não trabalhou na ONG e metade trabalhou. Da mesma forma que metade acredita que todo mundo na organização contribui com tempo ou dinheiro e a outra metade acredita que é mais da metade que contribui. Mas são unânimes em afirmar que seria muito improvável que as pessoas dentro da ONG se unissem para ajudar, caso ocorra algum problema pessoal. Este grupo não detalhou as atividades que desenvolveu na ONG. Cerca de 57% dos participantes do último grupo (D) não trabalharam com outros membros na ONG. Dos respondentes, cerca de 52% acredita que mais da metade das pessoas contribuem com tempo ou dinheiro em torno de algum objetivo comum, mas para cerca de 57% deste grupo, é mais ou menos provável que possam ser ajudados em algum problema pessoal. Neste agrupamento (D), dos que responderam positivamente a ajuda na ONG, cerca de 67% detalhou de que tipo foi esta ajuda/trabalho. Somente uma 89 atividade foi desenvolvida por convocação; o auxílio ao curso da Cruz Azul. As demais atividades, produção de uma Tabela para o jogo de basquete, lavar roupas da cozinha, trabalho de laborterapia, retirada do lixo, ajuda na cozinha, levar crianças para a igreja e corte de grama, foram feitas voluntariamente pelos que desenvolveram algum trabalho na ONG. Desta forma, tornou-se possível configurar a Tabela seguinte, descrevendo, sucintamente, as características de cada grupo, do público externo, sobre a visão dos indicadores ação coletiva e cooperação. Tabela 17: Representação Público Externo – Seção C – Ação Coletiva e Cooperação Público Externo (grupos) Ação Coletiva Cooperação Grupo A Alta (100%) Alta (100%) Grupo B Média (~57%) Média (50%) Grupo C Média (50%) Baixa (100%) Grupo D Média (~55%) Média (~57%) Fonte: Elaborado pela autora, 2006 4.4.4 Comunicação e informação – seção D – público externo Esta descrição refere-se à seção D do questionário, dos indicadores comunicação e informação, para detectar por qual meio os respondentes do público externo recebem informações sobre os trabalhos desenvolvidos pela ONG estudada. Nesta seção os respondentes puderam assinalar até 03 alternativas. Na descrição destes indicadores é possível observar a existência de 04 grupos, conforme figura 10, formados através das respostas fornecidas e da distância de corte escolhida para análise. O grupo A é formado por 09 respondentes, do D6 ao B9. O grupo B, por sua vez, foi composto por 10 integrantes, do B23 ao B8. Os respondentes de V1 a B5, totalizando 10 pessoas, compuseram o grupo C. O Grupo D teve 19 participantes, do D3 ao B1. O informativo e os funcionários da própria ONG foram citados em 100% das respostas do grupo A, como os meios pelos quais recebem informações da organização. Para o grupo B, os canais de comunicação mais assinalados foram os funcionários da organização (70%) e internet (60%). 90 Dendrograma do Público Externo Seção D Método de Junção: Ward Medida de Parecença: Distância Euclidiana 12 10 Legendas dos Grupos: Grupo A: Informativo da ONG; funcionários da própria ONG. Grupo B: Funcionários da ONG e internet. Grupo C: Informativo da ONG; líderes comunitários e internet. Grupo D: parentes, amigos e vizinhos; líderes comunitários e internet. 8 6 A B C D Distância de Junção 4 2 0 D6 B35 V2 B21 B9 B14 B32 B33 B15 B8 D4 B42 B20 D1 B5 B36 B17 B7 B11 B31 B37 B43 B25 B2 B40 B16 B22 B10 B23 B13 B12 B27 B34 V1 B24 B30 B19 B18 D3 D2 B38 B39 B4 B29 B3 B28 B6 B1 Figura 10: Dendrograma Público Externo – Seção D – Informação e Comunicação Fonte: Software Estatístico Statistica, 2006 Informativo da organização (80%), líderes comunitários (70%) e internet (30%) foram os itens mais votados no grupo C. Para o grupo D, parentes, amigos e vizinhos é o canal por onde recebem informações da ONG (100%), seguido por líderes comunitários (~37%) e internet (~37%). Analisando todos os respondentes juntos, as alternativas mais assinaladas pelo público externo foram: parentes, amigos e vizinhos, e; informativo da própria ONG, com cerca de 17% cada, seguido de funcionários da organização (~17%) e líderes comunitários (~16%), conforme demonstrado no gráfico a seguir: 91 20% 15% 10% Internet (17) Outras ONGS (5) Funcionários da ONG (19) Líderes comunitários (18) Associações políticas (1) TV (6) Rádio (4) Jornal comunitário ou local (5) 0% Informativo ONG (20) 5% Parentes, amigos e vizinhos (20) Porcentagem Bloco D - Informação e Comunicação - Público Externo Tipos e Frequência Gráfico 2: Comunicação e Informação – Grupo D – Público Externo Fonte: Elaborado pela autora, 2006 A Tabela 18 descreve os meios pelos quais, cada grupo do público externo, recebe as informações da ONG pesquisada. Tabela 18: Representação Público Externo – Seção D – Comunicação e Informação Público Externo (grupos) Comunicação Grupo A Informativo da ONG (100%) Funcionários da própria ONG (100%) Grupo B Funcionários da ONG (70%) Internet (60%) Grupo C Informativo da ONG (80%) Líderes comunitários (70%) Internet (30%) Grupo D Parentes, amigos e vizinhos (100%) Líderes comunitários (~37%) Internet (~37%) Fonte: Elaborado pela autora, 2006 4.4.5 Coesão social e inclusão – seção E – público externo Nesta análise, na seção de respostas sobre os indicadores coesão social e inclusão foram feitas duas perguntas sobre o tema. A questão Q17 abordava o quão forte é o sentimento de ficar junto ou próximo as pessoas dentro da ONG e as respostas, sendo iguais ou superiores a 4, representavam um sentimento forte. A 92 questão Q18 perguntava se a organização é pacífica ou marcada por violência, onde as respostas 1 e 2 indicavam que a organização era pacífica. As respostas possibilitaram agrupar os respondentes em 4 grupos distintos, conforme figura 11. O grupo A foi formado pelos respondentes B45 até B6, com 11 integrantes. O grupo B teve 12 participantes, de V1 a B3. Quatorze integrantes estão no agrupamento C, dos respondentes B35 a B5. Por sua vez, os beneficiários B14 a B1 compõem o grupo D, com 16 integrantes. Dendograma Público Externo Seção E Método de Junção: Ward Medida de Parecença: Distância Euclidiana 60 50 Legendas dos Grupos: Grupo A: coesão, não respondida. Inclusão: pacífica. Grupo B: fraca coesão, alta inclusão. Grupo C: forte coesão, alta inclusão. Grupo D: nem forte nem fraca coesão, alta inclusão. 40 30 Distância de Junção 20 10 A B C D 0 B1 B2 B30 B33 B10 B17 B20 B28 B40 B43 B9 B25 B37 B11 B13 B14 B5 B16 B21 B22 B27 B32 B39 V2 B8 B12 B38 B23 B42 B35 B3 B7 B34 B4 D4 B18 B24 B19 B29 B31 B36 V1 B6 B15 D1 D2 D3 D5 D6 B26 B41 B44 B45 Figura 11: Dendrograma Público Externo – Seção E – Coesão social e inclusão Fonte: Software Estatístico Statistica Todos os integrantes do grupo A deixaram a questão sobre coesão em branco e cerca de 64% responderam que a organização é muito pacífica. O restante deixou, também, a resposta desta questão em branco. O grupo B foi formado por respondentes que em cerca de 83% das alternativas assinaladas acreditam que a coesão é fraca, mas a organização é pacífica. 93 No grupo C, 100% dos respondentes deste agrupamento responderam que acham forte o sentimento de estar juntos na ONG. Já, 87% das indicações apontaram para o item a organização é pacífica. Por fim, o agrupamento D respondeu que não é nem forte nem fraco o sentimento de estar próximo às pessoas (~63%) e que a organização é pacífica (~87%). Tabela 19: Representação Público Externo – Seção E – Coesão social e Inclusão Público Externo (grupos) Coesão Inclusão Grupo A Em branco (100%) Alta (~64%) Grupo B Fraca (~83%) Alta (~83%) Grupo C Forte ( 100%) Alta ( ~87%) Grupo D Nem forte nem fraca Alta (87%) (~63%) Fonte: Elaborado pela autora, 2006 Numa análise geral de todos os respondentes do público externo, analisados como um grande grupo, é possível observar que 32% dos pesquisados responderam o indicador coesão como sendo alto e cerca de 25% deixaram esta questão em branco, assim como a mesma porcentagem (25%) assinalou que a coesão é fraca dentro da organização. E cerca de 79% assinalaram que consideram a organização pacífica. 4.4.6 Acréscimo de força e ação política – seção F – público externo Na continuação da apresentação dos dados, a seção F trata dos indicadores acréscimo de força e ação política, sendo composta por quatro questões. As duas questões iniciais tratam do indicador acréscimo de força (Q19 e Q20) e as outras duas (Q21-22) de ação política. A questão Q19 aborda o quão feliz o respondente se considera dentro da organização. A Q20 pergunta o quanto de controle o respondente acha que tem para tomar decisões que afetam as suas atividades diárias dentro da organização. Na Q21, quantas vezes, nos últimos 12 meses, as pessoas da ONG se juntaram para fazer pedidos ao governo ou aos líderes políticos em benefício da organização. E, por fim, a Q22 aborda se alguns desses pedidos teve sucesso. 94 Para a questão Q19, as respostas 1 e 2 significavam muito feliz e moderadamente feliz. Para a Q20, as alternativas 3, 4 e 5 indicavam sucessivamente controle sobre algumas decisões, controle sobre a maioria das decisões e controle sobre todas as decisões. Na Q21, a resposta 3 indicava que as pessoas da organização se juntaram poucas vezes (menos que 5 vezes) para fazer pedidos ao governo ou líderes, e a alternativa 4 (mais que 5 vezes). E, para a Q22, a resposta 1 e 2 afirmavam que os pedidos feitos foram em sua totalidade ou maioria bem sucedidos. A Figura 12 mostra as respostas dos entrevistados, agrupadas pelo método em 3 grupos divididos pela distância euclidiana. O agrupamento A foi composto por 10 respondentes, do B38 a B16. O grupo B teve como integrantes 15 respondentes, do B34 a B2. O último grupo C foi composto por 11 pessoas, do B20 ao B1. Na descrição dos agrupamentos observa-se que as questões Q22 (pedidos ao governo ou líderes) e Q23 (se os pedidos tiveram sucesso) não foram respondidas por 2 grupos, o grupo A e o grupo B, o que demonstra falta de conhecimento sobre o assunto questionado. Dendograma Público Externo Seção F Método de Junção: Ward Medida de Parecença: Distância Euclidiana 30 Legendas dos Grupos: Grupo A: Acréscimo Força: alto. Ação Política: em branco. Grupo B: Acréscimo de Força: baixo. Ação Política: em branco. 25 Grupo C: Acréscimo de Força: médio. Ação política: médio. 20 15 A Distância de Junção 10 B C 5 0 B38 B33 B27 B40 B21 B34 B42 B31 B18 B15 B11 B35 B2 B37 B22 B13 B5 B3 B36 B39 B17 B25 B16 B43 B28 B29 B32 V1 B7 B8 B20 V2 B14 B30 B12 B1 Figura 12: Dendrograma Público Externo – Seção F – Acréscimo de Força e Ação Política Fonte: Software Estatístico Statistica 95 No grupo A, os respondentes consideram-se felizes (80%) dentro da organização. A maioria (90%) dos respondentes deste grupo considera que tem controle sobre suas decisões, dentro da ONG. As questões sobre ação política (Q21 e Q22) foram deixadas em branco pelos respondentes. No agrupamento B, os respondentes se consideram moderadamente infelizes dentro da ONG (~54%) e sem controle para tomar decisões que afetem suas atividades diárias na organização (~73%). Há, também, neste grupo, um total desconhecimento sobre o indicador ação política, pois cerca de 83% dos respondentes deixaram as questões referentes ao indicador em branco. Para os respondentes do grupo C, a maioria (~55%) acredita que é feliz na organização, mas que possui pouco controle sobre suas decisões dentro da ONG (~64%). Para o indicador ação política, cerca de 55% dos participantes deste grupo responderam que poucas vezes (menos que 5) as pessoas da ONG se juntaram para fazer pedidos ao governou ou líderes políticos, mas que acreditam que esses pedidos foram bem sucedidos (~64%). Tabela 20: Representação Público Externo – Seção F – Acréscimo de Força e Ação Política Público Externo (grupos) Acréscimo de Força Ação Política Grupo A Alto (85%) Em branco (~100%) Grupo B Baixo (~64%) Em branco (~83%) Grupo C Médio (~60%) Médio (~60%) Fonte: Elaborado pela autora, 2006. O próximo passo da análise dos resultados foi cruzar os dados coletados do público interno com o público externo. Os resultados destes cruzamentos encontram-se descritos na seqüência. 4.5 Cruzamento dos públicos 4.5.1 Grupo e rede de relacionamentos – seção A O cruzamento dos públicos, relacionado aos indicadores grupo e rede de relacionamento, permitiu detectar semelhanças e discordâncias entre eles, como mostra a Tabela 21. 96 Tabela 21: Cruzamento Públicos – Seção A – Grupo e Rede de Relacionamentos Público Participação da Família na ONG Como se tornou parte da ONG Doação Dias Trabalho ONG Interno Não (A/B)* Convite (A/B) Nenhum (A) 2 dias (B) Benefício de estar na ONG Beneficia a comunidade (A) Espiritualidade/ status social / auto estima (B) Externo Não(A/B/C/ Voluntariam 7 dias (B) Beneficia a D) ente (B/C/D) Nenhum comunidade (A) Convite (A) (A/C/D) Espiritualidade/ status social / auto estima (B) Tratamento/ recuperação própria (C/D) * Referem-se aos grupos formados pela análise de clusters Fonte: Elaborado pela autora, 2006 Homogeniedade dos membros da ONG Interação da ONG com outras organizações Não (A/B) Sim, às vezes (A/B) Não (A/B/C/D) Sim (A/B/D) Não (C) Conforme pode ser observado na Tabela acima, os membros da família dos respondentes, tanto do público interno quanto externo, não participam de atividades desenvolvidas pela ONG. O que é contraditório se comparado ao que foi estudado na literatura, uma vez que várias análises sobre o tema apresentam o capital social auxiliando as transações e auxílios. Conforme reforça McGrath Jr e Sparks (2005), amigos e famílias participam mais e de diferentes formas das atividades do que quando estão separados ou se forem trabalhar com pessoas estranhas. E é corroborado por Rattner (2003), pois, para o autor, a construção de capital social atinge, favoravelmente, a coesão da família, da comunidade e da sociedade. Quando questionados sobre a forma como se tornaram parte da organização, foi possível observar que o público interno se tornou parte da ONG por convite, enquanto que o público externo, em sua maioria, fez parte voluntariamente da organização. Como o público externo contempla os voluntários, doadores e beneficiados, a opção voluntária pode ser traduzida como confiança depositada na organização, uma vez que buscam na ONG tratamento e recuperação própria ou cuidado com a espiritualidade e auto-estima. Mesmo participando voluntariamente (público externo), quando questionados sobre a quantidade de dias que doaram para a organização, 03 grupos deste público disseram que nunca doaram nenhum dia para a ONG. Igual informação é encontrada no público interno, onde 1 grupo também nunca doou nenhum dia. Mas há grupos representantes nos dois públicos que já participaram da organização 97 doando dias de trabalho. No público interno, um grupo doou 02 dias e no público externo, a quantidade foi maior, ficando em 07 dias doados para a organização nos últimos 06 meses. Vale salientar que a visão do público interno e do público externo é a mesma quanto aos integrantes da organização. Quando questionados sobre os membros da ONG, se na opinião deles faziam parte da mesma vizinhança, eram parentes, tinham a mesma crença religiosa, pertenciam ao mesmo gênero, entre outras características, os dois públicos responderam que não, o que demonstra que, na visão dos dois públicos, a organização é composta por vários tipos de pessoas. Cabe salientar que, para Cohen e Prusak (2001), organizações não devem fechar as portas somente para membros de algum grupo específico, como de uma etnia específica ou religião, pois a miscigenação de um grupo propicia esforços de cooperação. Deste modo, percebe-se o contrário do visto quanto ao capital social negativo, como exemplo a máfia (PUTNAM, 1994) e o nazismo do Hitler (COHEN; PRUSAK, 2001). No último tópico da análise destes indicadores, no item interação da ONG com outras organizações (rede), ambos assinalaram acreditar que a organização tem interagido com outras organizações. Somente um grupo do público externo assinalou o contrário. Esse relacionamento da organização com outras é importante, pois permite a criação de novas oportunidades e de fluxo do capital social, uma vez que “significariam incremento das probabilidades de realização, já que oferecem possibilidades de relacionamentos.” (FERRAREZI, 2003, p. 7). Isso só é possível exatamente por causa das relações entre os elementos participantes. Para Putnam (1993) o trabalho em rede é como um fomentar de confiança, pois, para o autor, através da ligação entre os grupos, quando há confiança, ela é transmitida a outro grupo e, assim, sucessivamente. Pensamento análogo possui Ferrarezi (2003), que sugere o investimento na criação de redes sociais, pois através delas se obtém um aumento da confiança, que repercute, desta maneira, em desenvolvimento. (FERRAREZI, 2003). Desta forma, o trabalho segue analisando os indicadores confiança e solidariedade na visão dos públicos. 98 4.5.2 Confiança e solidariedade – seção B O passo seguinte foi cruzar as informações sobre os indicadores confiança e solidariedade entre os dois públicos estudados. Os resultados desse cruzamento encontram-se na Tabela 22. Tabela 22: Cruzamento Públicos – Seção B – Confiança e Solidariedade Públicos Confiança Solidariedade Interno Baixa (A)* Alta (A/B) Alta (B) Externo Alta (B/C) Alta (A/B) Baixa (A) Baixa (C) * Referem-se aos grupos formados pela análise de clusters Fonte: Elaborado pela autora, 2006 Observando a Tabela acima é possível visualizar que a percepção dos dois públicos são conflitantes tanto para o indicador confiança quanto para solidariedade. Não há concordância dos públicos quanto a esses indicadores. Desta forma, o público interno divide-se entre baixa e alta confiança. Já o público externo tem 02 grupos que atribuem valores de alta confiança e um grupo de baixa confiança. Observa-se, de acordo com Cohen e Prusack (2001) e Putnam (1993), que a organização apresenta índices de confiança que possibilitam os outros indicadores de capital social se expressarem, como a cooperação. Sendo uma organização de terceiro setor, vale ressaltar que a possibilidade de consolidar projetos coletivos vem do engajamento de muitas pessoas em ações específicas, e que isso é possível graças ao sentimento de confiança mútua que precisa existir em maior ou menor escala entre as pessoas que estão interagindo. (FERRAREZI, 2003). São esses valores positivos que possuem o potencial de atrair voluntários e militantes em ONGs e movimentos sociais. (RATTNER, 2003). “O capital social depende de confiança” (COHEN; PRUSAK, 2001, p. 29). E complementam, salientando que os relacionamentos, comunidades, cooperação e comprometimento mútuo que caracterizam o capital social não conseguem existir sem um mínimo de confiança. Acrescendo o pensamento de Putnam (1993) a confiança garante que ninguém irá levar vantagem sobre o outro. No geral, ela é mais fácil de ser estabelecida em um grupo pequeno do que no grande grupo, principalmente, por causa da relação direta 99 que há entre os participantes de um grupo reduzido (PALDAM; SVENDSEN, 1999), como pode se caracterizar a organização pesquisada. Para o indicador solidariedade, o público interno percebe a organização com alto índice de solidariedade, enquanto que o público externo divide-se em dois grupos que assinalaram alta solidariedade e um grupo baixa solidariedade. Mantém-se, deste modo, a análise desenvolvida para o indicador confiança. Por apresentar índices elevados de confiança, a solidariedade foi percebida da mesma maneira. O que confirma o pensamento de Ferrarezi (2003) que quanto mais elevado for o nível de confiança, maior a probabilidade de haver cooperação e solidariedade, o que realimenta a confiança. Sendo assim, Fernandes (2002) expõe que a produção de confiança facilita a cooperação social, possibilitando o aumento do desempenho e a responsabilidade dos governos e das instituições ditas democráticas. E, ressaltando que, para Putnam (1993), confiança, normas e rede de relacionamento podem fomentar a eficiência de uma sociedade e facilitar a ação coletiva. Como a ONG é vista como confiável e solidária pela maioria dos grupos de cada público, pode-se perceber que a ação coletiva e cooperação, como citados pelos autores, também mantêm os mesmos níveis. 4.5.3 Ação coletiva e cooperação – seção C Neste bloco de indicadores, ação coletiva e cooperação destaca-se o indicador cooperação, por ser o único que foi unânime para um mesmo público, no caso, o público interno, cujos respondentes dos grupos A e B responderam que é alto o índice de cooperação dentro da organização estudada, o que encontra-se evidenciado na Tabela 23. Tabela 23: Cruzamento Públicos – Seção C – Ação Coletiva e Cooperação Públicos Ação Coletiva Cooperação Interno Média (A)* Alta (A/B) Alta(B) Externo Alta (A) Alta (A) Média (B/C/D) Média (B/D) Baixa (C) * Referem-se aos grupos formados pela análise de clusters Fonte: Elaborado pela autora, 2006 100 A Tabela 23 mostra, ainda, que o público interno está dividido em alto e médio quanto ao indicador ação coletiva. Já, no público externo, a maior incidência de ação coletiva é de nível médio, pois os 03 grupos que o compõem assinalaram alternativas que levaram a esta afirmativa. Detalhando melhor o indicador cooperação, percebe-se que enquanto o público interno acredita que esta variável é alta dentro da ONG, o público externo está dividido entre alta, média e baixa cooperação na organização, sendo o nível médio escolhido por dois grupos deste público (B/D). Isso pode ser observado na análise. Como os públicos apresentaram grupos com percepções diferentes sobre confiança, esta percepção disforme manteve-se nos indicadores ação coletiva e cooperação. Mas nos indicadores confiança e solidariedade os grupos de cada público ficaram divididos entre alta e baixa. E nos indicadores ação coletiva e cooperação os grupos dos públicos se dividiram entre média e alta, em sua maioria. Ressaltando, conforme Franco (2001), quanto maior for o nível de confiança existente em uma comunidade, maior as chances de haver cooperação. E é esta própria cooperação que gera confiança. E, para Spence et al (2003a, 2003b), é o valor do relacionamento entre confiança, solidariedade e das relações informais um dos componentes do capital social. Esses indicadores podem ser considerados importantes para uma organização, principalmente, do terceiro setor, uma vez que possibilitam o trabalho em conjunto e “a disponibilidade de cooperar para obter objetivo comum é uma vantagem competitiva e um recurso para o crescimento”. (FERRAREZI, 2003, p. 13). E, para Fernandes (2002, p. 379), o capital social de uma associação “amplia sua capacidade de ação coletiva e facilita a cooperação mútua necessária para otimização do uso de recursos materiais humanos disponíveis”. Para Rattner (2004), sendo o capital social fundamentado nas relações entre atores sociais que estabelecem entre si expectativas e obrigações mútuas, estimulando, desta maneira, a confiabilidade nas relações sociais e agilizando o fluxo de informações, tanto internas quanto externas, a análise dos cruzamentos segue apresentando os indicadores comunicação e informação. 101 4.5.4 Comunicação e informação – seção D Pode-se visualizar na Tabela 24 que os públicos recebem as informações sobre a ONG em diferentes canais de comunicação. O informativo da organização e os funcionários da ONG foram citados pelos dois públicos. Desta maneira, para o público interno, o informativo/funcionários da ONG e a internet são os 3 meios mais citados para consultar sobre a organização. Já o público externo tem mais acesso às informações referentes à organização, através de parentes, amigos e vizinhos; informativo da própria ONG, através dos funcionários da organização e de líderes comunitários. Tabela 24: Cruzamento Públicos – Seção D – Comunicação e Informação Públicos Comunicação e Informação Interno Informativo da ONG (~29%) Funcionários da ONG (~20%) Internet (~17%) Externo Parentes, amigos e vizinhos (~17%) Informativo da própria ONG (~17%) Funcionários da ONG (~17%) Líderes Comunitários (~16%) Fonte: Elaborado pela autora, 2006 Vale salientar que como o público externo é formado em sua maioria pelos beneficiados e que, enquanto estiverem em tratamento têm acesso restrito aos meios de comunicação, os três primeiros meios mais citados por este público retratam redes informais de comunicação, no caso, os parentes, amigos, vizinhos e os funcionários da ONG. De acordo com Cohen e Prusak (2001), as notícias, dentro das organizações, geralmente partem das pessoas que são mais próximas, talvez fisicamente ou porque trabalham em áreas afins. O que pode ser observado nos dois públicos. No público interno, os funcionários da organização aparecem como sendo o segundo meio pelo qual eles mais recebem informações sobre a organização. O que se repete no público externo, onde as fontes mais citadas foram parentes, amigos, vizinhos e funcionários da ONG. Esse fluxo de informação é favorecido pela rede que promove informações que podem ser cruciais para o trabalho. (COHEN; PRUSAK, 2001). 102 O uso do capital social favorece os indivíduos para acessar informações sobre mercado de trabalho, ampliar leque de oportunidades, acessar qualificação e receber informação, neste caso específico, sobre os trabalhos da organização que fazem parte. Segundo Ferrarezi (2003, p. 13), “as políticas públicas poderiam, além da qualificação, possibilitar que os indivíduos façam parte de redes que permitam agilizar esse processo”. Como exemplo, Cohen e Prusak (2001), destacam que uma vez que o processo de comunicação e ajuda mútua das redes começa a ser estabelecido, uma cooperação entre essas redes ocorre, também, como exemplo, os autores citam o caso de quando os economistas do Banco Mundial na Arábia Saudita enviaram um requerimento ao Bank’s Environmental and Socially Sustainable Development (ESSD) solicitando ajuda para informações sobre treinamento relacionado a estações que monitoram a qualidade do ar. O departamento de ajuda imediatamente contatou um empregado que buscou informações com uma empresa deste perfil na região sul da África e enviou catálogos sobre o assunto ao Banco Mundial. Putnam (1993) também argumenta que confiança, normas e rede de relacionamento podem fomentar a eficiência de uma sociedade e facilitar a ação coletiva. 4.5.5 Coesão social e inclusão – seção E Os dados obtidos com base nos questionários aplicados denotam que as percepções em relação ao indicador coesão social encontram-se divididas, ou seja, não é claro para esses grupos o quanto forte é o sentimento de ficar junto ou próximo as pessoas dentro da organização, principalmente, no público externo, conforme detalhado na Tabela 25. Em contrapartida, os dois públicos (interno e externo) enxergam a ONG como uma organização pacífica, por isso, o índice alto para o indicador inclusão. Tabela 25: Cruzamento Públicos – Seção E – Coesão social e Inclusão Públicos Coesão Inclusão Interno Em branco (A)* Alta (A/B) Alta (B) Externo Em branco (A) Alta (A/B/C/D) Fraca (B) Forte (C) 103 Nem fraca nem forte (D) * Referem-se aos grupos formados pela análise de clusters Fonte: Elaborado pela autora, 2006 O indicador inclusão, que trata do sentimento de segurança, também foi detectado alto no estudo desenvolvido por Onyx e Bullen (2000). Os autores, através de pesquisa, chegaram a conclusão que das 05 comunidades australianas pesquisadas, as duas comunidades localizadas na área rural apresentaram, no resultado, maior índice de capital social que as demais. E que os níveis de sentimento de segurança e confiança também se apresentaram em números mais elevados nestas duas comunidades. Em contrapartida, nas áreas urbanas, os níveis mais altos de coesão social apareceram nas áreas urbanas. (ONYX; BULLEN, 2000). Os autores relacionaram os resultados com o conceito de Colemann (1988), que afirma que o capital social é maior em comunidades pequenas e, portanto, mais fechadas. O que pode ser transportado para a pesquisa que aqui se apresenta. 4.5.6 Acréscimo de força e ação política – seção F Pode-se verificar, através da Tabela 26, uma clara divisão dos agrupamentos dentro dos públicos pesquisados, principalmente, no indicador acréscimo de força. Neste item, os dois públicos se dividem em médio e alto (interno/externo) e, ainda, baixo acréscimo de força também foi o conceito do grupo B (externo) para esse indicador. Da mesma forma, acontece diferença de percepção quanto ao indicador ação política pelos dois públicos. Para o público interno, esse indicador pode ser considerado alto, pelos dois grupos que o compõem. Mas, em compensação, há um desconhecimento pela maioria dos integrantes do público externo quanto à quantidade de vezes que as pessoas da organização se uniram para fazer pedidos ao governo/líderes políticos e se algum desses pedidos obteve resultado positivo, questões que englobam o indicador ação política. Conforme detectado na Tabela abaixo, 02 agrupamentos pertencentes a este público deixaram estas questões sem respostas. Somente o grupo C, do público externo, atribuiu valor médio a este indicador. 104 Tabela 26: Cruzamento Públicos – Seção F – Acréscimo de Força e Ação Política Públicos Acréscimo de Força Ação Política Interno Médio (A) Alta (A/B) Alto (B) Externo Alto (A) Em branco (A/B) Baixo (B) Médio (C) Médio (C) * Referem-se aos grupos formados pela análise de clusters Fonte: Elaborado pela autora, 2006 Talvez o fato de o indicador confiança se apresentar confuso para os dois públicos, os indicadores acréscimo de força e ação política acabaram sendo deixados sem responder por alguns grupos do público externo pesquisado, que não sabiam responder se os pedidos feitos pela ONG tiveram resultados. Ferrarezi (2003) expõe que um dos aspectos essenciais para a consolidação de projetos coletivos, que necessitam do engajamento de muitas pessoas em ações específicas, é, sem dúvida, o sentimento de confiança mútua que precisa existir em maior ou menor escala entre as pessoas que estão interagindo. O que se percebe é que mesmo confiando (em menor ou maior grau), ainda, para alguns grupos do público externo, o indicador ação política se torna uma informação que não chega até eles. 105 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES O intuito principal deste último capítulo é desenvolver a conclusão do trabalho, de maneira a atender os objetivos iniciais da pesquisa e delinear recomendações para futuros estudos sobre o tema. 5.1 Considerações finais Este trabalho teve por objetivo principal analisar os indicadores de capital social do ponto de vista dos públicos interno (funcionários e dirigentes) e externo (doadores, beneficiados e voluntários) de uma organização do terceiro setor, da cidade de Blumenau. Os indicadores analisados, de acordo com Grootaert et al (2004), foram (a) grupos e redes; (b) confiança e solidariedade; (c) ação coletiva e cooperação; (d) informação e comunicação; (e) coesão social e inclusão e, (f) acréscimo de força e política de ação, respondendo ao objetivo específico que foi a definição de um conjunto de indicadores a ser pesquisado na organização de terceiro setor. Os resultados da pesquisa foram apresentados em três etapas. Inicialmente foram apresentados os resultados referentes ao público interno e ao público externo em separado. Isto possibilitou responder ao segundo objetivo específico que foi o de identificar como os indicadores de capital social se apresentam em cada público e em seguida, cruzar as respostas obtidas. As respostas a este objetivo possibilitaram descobrir informações relevantes para o entendimento da presença de capital social através das percepções do público interno e externo. Pode-se escrever sobre os efeitos positivos que o capital social apresenta no desenvolvimento de uma comunidade, pois tem base nos indicadores de associativismo, civismo, confiança (PUTNAM, 1996), que facilitam transações de ordem econômica, porque permitem o acesso a essas transações e que esses custos diminuam, além de prover crescimento através do desenvolvimento econômico. A importância da confiança pode permitir com que uma comunidade supere, de modo 106 mais fácil, o que é denominado pelos economistas de oportunismo, de um modo em que os interesses comuns não prevaleçam. Portanto, decorre deste ponto que “quanto mais elevado o nível de confiança numa comunidade, maior a probabilidade de haver cooperação, o que realimentaria a confiança.” (FERRAREZI, 2003, p. 8). A presença do capital social, através dos indicadores estudados, foi percebida de diversas maneiras pelos públicos envolvidos nesta pesquisa. Nos indicadores grupo e rede de relacionamentos, as respostas dos dois públicos foram semelhantes, pois tanto público interno quanto externo não possuem membros da família participando de atividades da ONG; se tornam parte da ONG de maneira voluntária; não doam dias de trabalho para a organização a qual fazem parte; acreditam que a organização é composta por vários tipos de pessoas e, por fim; que a organização tem um bom relacionamento com outras ONGS. Na análise dos indicadores confiança e solidariedade as respostas dos públicos pesquisados apresentaram diferenças. Para o público interno, o indicador confiança foi percebido de duas maneiras contrastantes, para um grupo deste público, conceito de confiança é baixo e para o outro grupo é alto. Para o público externo, o indicador confiança foi percebido, assim como no público interno, de duas maneiras, como sendo alto (por 2 grupos) e baixo (1 grupo). Mas o indicador solidariedade é tido como alto pelo público interno, na percepção dos dois grupos que o compõe. Para o público externo, o indicador solidariedade foi percebido como sendo alto (por 2 grupos) e baixo (1 grupo). Cabe salientar que construir confiança está ligado de forma direta à capacidade de relacionamento com os outros, percebendo-os e incluindo-os em seu universo de referência. Esse tipo de inclusão diz respeito à atitude tão simples e por vezes tão esquecida que é justamente a de reconhecer, no outro, suas habilidades, competências, conhecimentos, hábitos, etc. É essa reciprocidade, que rege as relações informais e formais na comunidade, sendo a base das relações e instituições de capital social. (FERRAREZI, 2003). Na seqüência, na análise dos indicadores ação coletiva e cooperação, o público interno percebe que na organização as pessoas cooperam, mas se dividem quanto ao indicador ação coletiva, em médio e alto. O que difere do público externo, pois a maioria dos grupos acredita que a ação coletiva e a cooperação possuem o conceito médio. 107 Os públicos recebem as informações sobre a ONG em diferentes canais de comunicação, sendo o informativo e os funcionários da organização citados pelos dois públicos. O indicador coesão social foi o que mais apresentou respostas diferentes quanto ao tema, principalmente pelo público externo, não chegando a uma resposta que pudesse ser categorizada como maioria por este público. No público interno, um grupo deixou em branco suas respostas, o que reflete um desconhecimento sobre o sentimento de ficar junto ou próximo as pessoas dentro da organização. Mas, cabe salientar que o indicador inclusão, é tido como alto por todos os grupos integrantes dos públicos interno e externo. Quanto ao indicador acréscimo de força, os dois públicos percebem com conceito médio e alto, em sua maioria. Já o indicador ação política é tido como alto pelo público interno, mas é desconhecido pela maioria do público externo. Pode-se, desta maneira, concluir que existe a presença dos indicadores de capital social dentro da organização, percebido pelos públicos interno e externo, mas sem que fosse possível explicar as origens ou o comportamento desses indicadores ao longo do tempo. O que se pode observar com base nos indicadores utilizados na pesquisa é que alguns indicadores são percebidos de maneiras diferentes pelos públicos, e outros são percebidos da mesma forma. Mas mesmo assim, nada, além disto, pode ser concluído, nem mesmo qual a relação de causalidade entre estes indicadores. Para Fernandes (2002, p. 394) “no que tange à questão da mudança e desempenho institucional, chega-se à constatação de que a existência de capital social pode aumentar o desempenho das instituições, tornando-as mais eficientes e responsáveis”. Capital social faz uma organização, ou um grupo cooperativo mais do que um coletivo de indivíduos com objetivos próprios. O capital social une os espaços entre as pessoas. Os elementos característicos e indicadores incluem alto nível de confiança, redes pessoais fortes e comunidades vibrantes, conhecimentos compartilhados, e um senso de participação igualitária – todas as coisas que desenham os indivíduos dentro de um grupo. Este tipo de conexão suporta colaboração, comprometimento, acesso ao conhecimento e talento, e um comportamento organizacional coerente. Esta descrição de capital social sugere investimentos organizacionais apropriados – isto é, dando espaço pessoal e tempo para conexão, demonstrando confiança, efetivamente comunicando objetivos e 108 crenças, e oferecendo oportunidades igualitárias e recompensas que incentivem participação genuína, mais do que presença física. (COHEN; PRUSAK, 2001). Mas, cabe salientar que as organizações podem dar certo ou não por várias razões, e seria insensato atribuir ao capital social o papel de vilão ou herói desta estória. “Capital social não é a chave para o sucesso organizacional.” (COHEN; PRUSAK, 2001, p. 11). Para o autor, as organizações são complicadas e operam em ambientes complicados. E capital social não é uma estratégia de negócio ou um plano de marketing ou um substituto para ambos. Vale ressaltar que, necessariamente por ser dotada internamente de capital social, uma associação venha a contribuir para o “acúmulo de civismo do todo social, ou seja, para o desenvolvimento do capital social numa sociedade.” (FERNANDES, 2002, p. 385-6). Desta maneira, as conclusões deste estudo devem ser encaradas como um novo caminho que pode ser trilhado, seja para futuras pesquisas sobre o tema, seja para ações da organização no sentindo de incrementar a presença de alguns indicadores pelos públicos envolvidos, seja para fomentar parcerias com outras esferas, uma vez que “estado e sociedade juntos podem produzir civismo ou capital social.” (FERNANDES, 2002, p. 394). 5.2 Limitações Apesar dos esforços da pesquisa, algumas questões precisam ser salientadas, pois talvez possam ter enviesado o estudo desenvolvido, com o objetivo de incentivar a realização de pesquisas futuras. Ao escolher a aproximação do tema capital social ligado ao terceiro setor, este estudo contou com dificuldades de ordem práticas, no que se referiu, principalmente, ao foco do estudo, uma organização do terceiro setor, na dificuldade de devolução dos instrumentos, principalmente por parte dos dirigentes e dos doadores. Como observado no capítulo 3, de 50 doadores, apenas 5 devolveram o instrumento para estudo, o que pode mostrar falta dos indicadores de capital social por parte deste grupo, pertencente ao público externo. Da mesma forma, no público interno, o grupo de dirigentes não participou efetivamente, o que pode fomentar um estudo posterior. 109 5.3 Recomendações para pesquisas futuras Sugere-se, para futuros estudos que a validação dos resultados encontrados seja feita através de uma análise confirmatória, diferente da proposta deste estudo que é exploratória. Outra sugestão é o desenvolvimento de estudos utilizando outros tipos de indicadores de capital social, ou, utilizando os mesmos indicadores, mas em outras organizações de Terceiro Setor. Pesquisar os indicadores de capital social em organizações privadas e públicas e comparar os dados encontrados com este estudo também poderia trazer contribuições. Outro aspecto que pode ser pesquisado é o da baixa participação dos doadores e dirigentes desta organização em específico. Através de pesquisa também pode ser descoberto ações que possam ser desenvolvidas pela ONG para que se atinga a coesão das famílias dos públicos envolvidos, na participação de atividades da organização. Pesquisar quais foram os motivos que levaram o público pesquisado a participar voluntariamente da organização estudada, no sentido de desenvolver ações futuras para captação de novos voluntários e doadores. 110 REFERÊNCIAS AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 2001. ABRAMOVAY, Ricardo. A formação do capital social para o desenvolvimento sustentável. In: FÓRUM CONTAG DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, 2., 1998, São Luiz. Anais eletrônicos... São Luiz: Imonast, 1998. Disponível em: <http://www.lmonast.brturbo.com/capital.html#papers>. Acesso em: 30 out. 2004. ADGER, W. Neil. Social capital, collective action, and adaptation to climate change. Economic Geography, [S.I.], v. 79, n. 4, p. 387-401, out. 2003. ADLER, Paul S.; KWON, Seok-Woo. Social capital: prospects for a new compept. Academy of Management Review, n. 27, p.17-40, 2002. ALVES, Mario Aquino; KOGA, Natália Massaco. Um passo para frente, um Passo para trás: a Reforma Marco Legal do Terceiro Setor à luz da Teoria Institucional. In: ENANPAD, 27., 2003, Atibaia/SP. Anais … Atibaia: ENANPAD, 2003. 1 CD-ROM. ALVES, M. A. Terceiro Setor: as origens do conceito. In: ENANPAD, 26., 2002, Salvador. Anais... Salvador: ENANPAD, 2002a. ALVES, Mário Aquino. Organizações do terceiro setor e sua(s) racionalidade(s). In: ENANPAD, 26., 2002, Salvador/ BH. Anais... Salvador: ENANPAD, 2002b. 1 CD-ROM. ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas Ciências Sociais. In: ______. Os métodos nas Ciências Sociais e naturais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Thomson, 1999. p. 109-146. ARIZPE, L. La cultura como contexto del desarrollo in el desarrollo economico y social en los umbrales del siglo XXI. [S.l.]: Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Washington – DC, 1998. BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. Florianópolis: UFSC, 2001. BRANDÃO, Alberto de O.; SILVA, Andréa de; GUADGNIN, Luís Alberto. Das origens do Estado ao advento do Terceiro Setor. In: ENANPAD, 26., 1998, Foz do Iguaçu/PR. Anais... Paraná: ENANPAD, 1998. BROOK, Keith. Labour market participation: the influence of social capital. Labour Market Trend, [S.l.], v. 113, n. 3, p. 113-123, mar. 2005. 111 BUENO, Eduardo; SALMADOR, Marí Paz; RODRÍGUEZ, Óscar. The role of social capital in today's economy: empirical evidence and proposal of a new model of intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, [S.I.], v. 5, n. 4, p. 556-574, 2004. CARDOSO, R. Fortalecimento da sociedade civil. In: IOSCHPE, E. B. (Org.). 3º setor: desenvolvimento social sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. p. 7. CARRION, Rosinha M. Organizações privadas de sociedade civil de interesse público: a participação do mercado no Terceiro Setor. In: ENANPAD, 24., 2000. Florianópolis. Anais... Florianópolis: ENANPAD, 2000. CHLOUPKOVA, Jarka; SVENDSEN, Gunnar Lind Haase; SVENDSEN, Gert. Building and destroying social capital: the case of cooperative movements in Denmark and Poland. Agriculture and Human Values, [S.I.], v. 20, n. 3, p. 241-252, Fall 2003. COELHO, Simone de Castro Tavares. Terceiro Setor: um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. São Paulo: Senac, 2000. COEN, Don; PRUSAK, Laurence. Good company: how social capital makes organizations work. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2001. COLEMANN, James S. Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, n. 94, p. 95-120, 1988. COSTA, Rogério. Capital social. Disponível <http://www.pucsp.br/linc/blog/archives/000149.html>. Acesso em: 29 out. 2004. em: D’ARAÚJO, Maria Celina Soares. Capital social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. DRUCKER, Peter F. Administração de organizações sem fins lucrativos: princípios e práticas. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 1997. EIKENBERRY, Angela M.; KLUVER, Jodie Drapal. The marketization of the nonprofit sector: civil society at Risk? Public Administration Review, Washington, v. 64, n. 2, p. 132-140, mar./apr. 2004. FALCONER, Andrés P. A promessa do Terceiro Setor: um estudo sobre a construção do papel das organizações sem fins lucrativos e do seu campo de gestão. 1999. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. FERNANDES, Antônio Sérgio Araújo. O capital social e a análise institucional e de políticas públicas. Revista de Administração Pública – RAP, v. 36, n. 3, maio/jun. 2002. FERNANDES, Rubem César. O que é o Terceiro Setor. In: IOSCHPE, E. (Org.). Terceiro Setor: desenvolvimento social sustentado. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 112 FERRAREZI, Elisabete. Capital social: conceitos e contribuições às políticas públicas. Revista do Serviço Social, [S.l.], Enap., v. 54, n. 4, out.-dez. 2003. FIGUEIRÓ, Ana Lúcia. Redefinição política ou despolitização? As concepções de “terceiro setor” no Brasil. Revista Katálysis, Florianópolis, n. 5, jul.-dez. 2001. FRANCO, Augusto de. Capital social. Brasília: Instituto de Polícia – Millennium, 2001. FRANCO, Juliana; PEREIRA, Marcelo Farid; SARTORI, Rejane. Captação de recursos para o Terceiro Setor: um estudo na cidade de Maringá-PR. In: ENANPAD, 27., 2003, Atibaia/SP. Anais... São Paulo: ENANPAD, 2003. 1 CD-ROM. GSA 950. FUKUYAMA, Francis. Capital social y desarrollo: la agenda venidera. In: ______. Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma. Impresso en Naciones Unidas. Santiago do Chile: CEPAL, 2003. Disponível em: <http://www.cepal.cl/publicaciones>. Acesso em: 25 nov. 2004. GROOTAERT, Christiaan et al. Measuring social capital: an integrated questionnaire. Washington, World Bank Working Paper n. 18, 2004. GROOTAERT, Christiaan; VAN BASTELAER, Thierry. Understanding and measuring social capital: a synthesis of findings and recommendations form the social capital initiative. Social Capital Initiative, Washington, World Bank Working Paper n. 24, April 2001. HALPERN, Charles R. Defending and strengthening the nonprofit sector. Annual Reports. The Nathan Cummings Foundation. 1996. Disponível em: <http://www.nathancummings.org/annual96/000104.html>. Acesso em: 1 jul. 2005. HARPHAM, Trudy; GRANT, Emma; THOMAS, Elizabeth. Measuring social capital within health surveys: key issues. Health Policy and Planning, v. 17, n. 1, p. 106-111, 2002. HUTCHINSON, J.; VIDAL, Avis C. Using social capital to help integrate planning theory, research, and practice. Journal of the American Planning Association, Chicago, v. 70, n. 2, p. 142-192, Spring 2004. IIZUKA, Edson S.; SANO, Hironobu. O Terceiro Setor e a produção acadêmica: uma visita aos Anais dos ENANPAD’s de 1990 a 2003. In: ENAPAD, 28., 2004, Curitiba. Anais... Curitiba: ENANPAD, 2004. 1 CD-ROM. IOSCHPE, Evelyn B. Terceiro setor: desenvolvimento social sustentado. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Fontes, 1961. KRISHNA, Anirudh; UPHOFF, Norman. Mapping and measuring social capital: a conceptual and empirical study of collectiva action for conserving and developing watersheds in Rajasthan, Indian. Social Capital Initiative, Working Paper n. 13. The World Bank. Social 113 Development Family. Environmentally and Socially. Sustainable Development Network. June 1999. Disponível em: <http://www.worldbank.org/socialdevelopment>. Acesso em: 1 jul. 2005. LIMA, Roberto A. de Souza. Informação, capital social e mercado de crédito rural. 2003. Tese (Doutorado) – Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz, Piracicaba, 2003. MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: Bookman, 2002. MCGRATH JR., Roger; SPARKS, William L. The Importance of building social capital. Quality Progress, [S.I.], v. 38, n. 2, p. 45-49, 2005. MEIRELES, E. C. de; EL-AOUAR, W. A. O desafio das ONGs ante a minimização do papel do Estado no cenário global. Caderno de Pesquisas em Administração. São Paulo, v.09, n. 3, jul-set, 2002. MÉLE, Domènec. Organizational humanizing cultures: do they generate social capital? Journal of Business Ethics, [S.I.], v. 45, p. 3-14, 2003. MILANI, Carlos. Teorias do capital social e desenvolvimento local: lições a partir da experiência de Pintadas (Bahia, Brasil). In: CONFERÊNCIA REGIONAL ISTR-LAC, 4., 2003, San José. Anais eletrônicos... San José, Costa Rica: [s.n.], 2003. Disponível em: <http://www.adm.ufba.br/capitalsocial/Documents%20para%20download/ISTR%202003%20 Capital%20Social%20e%20Desenvolvimento%20Local.pdf>. Acesso em: 30 out. 2004. NARAYAN, D.; PRITCHETT, L. Cents and sociability: household income and social capital in rural Tanzania. Policy Research Working Paper n. 1796. Washigton DC: World Bank, 1999. NICHOLSON, Gavin J.; ALEXANDER, Malcolm; KIEL, Geoffrey C. Kiel. Defining the social capital of the board of directors: an exploratory study. Journal of the Australian and New Zealand Academy of Management, [S.I.], v. 10, n. 1, p. 54-72, 2004. OCAMPO, J. A. Capital social y agenda del desarrollo. In: ______. Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma. Impresso en Naciones Unidas. CEPAL. Santiago de Chile, enero de 2003. Disponível em: <http://www.cepal.cl/publicaciones>. Acesso em: 25 nov. 2004. ONYX, Jenny; BULLEN, Paul. Measuring social capital in five communities. The Journal of Applied Behavioral Science, [S.I.], v. 36, n.1, p. 23-42, 2000. PALDAM, Martin; SVENDSEN, Gert T. Is social capital an effectiva smoke conderser? An essay on a concept linking the social sciences. Maio 1999. Disponível em: <http://www.worldbank.org/socialdevelopment>. Acesso em: 1 jul. 2005. PORTES, A. Social capital: its origins and applications in contemporary sociology. Annual Review of Sociology, [S.I.], v. 24, p. 1-24, 1998. 114 PUTNAM, Robert. Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, [S.I.], v. 6, n. 1, p. 65-78, jan. 1995. PUTNAM, Robert. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro: FGV, 1996. PUTNAM, Robert. The prosperous community: social capital and public life. The American Prospect, n. 13, Spring 1993. Disponível em: <http://www.psa.org.nz/library/psa/02%20partnership%20for%20quality%20materials/robert %20putnam%20-20social%20capital%20and%20public%20life%201993.doc>. Acesso em: 28 nov. 2004. RATTNER, Henrique. Prioridade: construir o capital social. Revista Espaço Acadêmico, Maringaá, ano 2, n. 21, Fevereiro, 2003. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/021/21rattner.htm>. Acesso em: 25 nov. 2004. REIS, Elizabeth. Estatística multivariada aplicada. Lisboa: Silabo, 1997. RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. RITS – REDE DE INFORMAÇÕES PARA O TERCEIRO SETOR. Disponível em: <http://www.rits.org.br/>. Acesso em: 01 jul. 2005. RODRIGUES, M. C. Prates. Potencial de desenvolvimento dos MUNICÍPIOS fluminenses: uma metodologia alternativa ao IQM, com base na análise fatorial exploratória e na análise de clusters. Caderno de Pesquisa em Administração, v. 9, n. 1, jan./mar. 2002. ROSA, Alexandre Morais et al. Marco legal do Terceiro Setor: aspectos teórico e prático. Florianópolis: Tribunal de Justiça, 2003. ROSA, Sílvia Troncon; COSTA, André Lucirton. Análise comparativa da eficiência e eficácia de gestão entre organizações do terceiro setor e organizações governamentais: um estudo de casos múltiplos nos serviços de educação. In: ENANPAD, 27., 2003, Atibaia/SP. Anais... São Paulo: ENANPAD, 2003. 1 CD-ROM. ROSSA, Maurício; GÄRTNER, Karina. Relatório de Atividades 2005. Blumenau, 2006. SALAMON, L. A emergência do terceiro setor – uma revolução associativa global. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 5-11, jan./mar. 1998. SALAMON, L. Estratégias para o fortalecimento do Terceiro Setor. In: IOSCHPE, E. et al. Terceiro setor: desenvolvimento social sustentado. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997. SALAMON, Lester M. The rise of the nonprofit sector. Foreign Affairs, v. 73, n. 4, p. 109, jul./aug. 1994. 115 SERVA, Maurício. O fenômeno das organizações substantivas. Revista de Administração de Empresas, v. 33, n. 2, p. 36-43, 1993. SILVA, Geórgia P.; OLIVEIRA, Rezilda R. Planejamento estratégico participativo: fonte de capital social. O caso do pró-criança. In: ENANPAD, 28., 2004, Curitiba/PR. Anais... Curitiba: ENANPAD, 2004. 1 CD-ROM. SMITH, David Horton. Four sector or five? Retaining the Member-Benefit Sector. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, [S.I.], v. 20, n. 2, p. 134-150, summer 1991. SPENCE, Laura J.; SCHMIDPETER, René; HABISCH, André. Assessing social capital: smal and medium sized enterprises in Germany and the U.K. Journal of Businnes Ethics, Netherlands, n. 47, p. 17-29, 2003a. SPENCE, Laura J.;SCHMIDPETER, René. SMEs, social capital and the common good. Journal of Businnes Ethics, Netherlands, n. 45, p. 93-108, 2003b. TEIXEIRA, Rubens de França. Discutindo o Terceiro Setor sob o enfoque de concepções tradicionais e inovadoras de administração. Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 1-15, jan./mar. 2004. TENÓRIO, Fernando G. Gestão de ONGs: principais funções gerenciais. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1999. UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ. Pró-Reitoria de Ensino. Elaboração de trabalhos acadêmico-científicos. Itajaí: UNIVALI, 2004. (Cadernos de ensino. Formação continuada. Ensino superior; ano 2, n. 4). WALLIS, Joe; KILLERBY, Paul; DOLLERY, Brian. Social economics and social capital. University of New England, School of Economics. Working Paper Series in Economics. 2003. Disponível em: <http://www.une.edu.au/febl/EconStud/wps.htm>. Acesso em: 31 maio 2005. YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001. 116 APÊNDICE A – Questionário QUESTIONÁRIO ASSINALAR COM X A OPÇÃO QUE VOCÊ SE ENCAIXA: a) ( ) doador b) ( ) funcionário c) ( ) voluntário e) ( ) residente em tratamento d) ( ) dirigente 01. QUANTAS VEZES NOS ÚLTIMOS 12 MESES QUALQUER MEMBRO DA SUA FAMÍLIA PARTICIPOU DE ATIVIDADES NA ORGANIZAÇÃO. EX. ENCARREGANDO-SE DE REUNIÕES OU FAZENDO GRUPOS DE TRABALHO? 0101 ( ) 1 a 2 vezes 0102 ( ) 2 a 3 VEZES 0103 ( ) outra. Especificar: ______________________________ 02. COMO VOCÊ SE TORNOU PARTE DESTA ORGANIZAÇÃO? 0201 ( ) Foi convidado a participar 0202 ( ) Escolha voluntária (especificar) ____________________________________________ 0203 ( ) outros 03. QUANTOS DIAS DE TRABALHO VOCÊ DOOU A ORGANIZAÇÃO NOS ÚLTIMOS 6 MESES? 0301 ( ) nenhum 0302 ( ) 1 dia 0303 ( ) 2 dias 0304 ( ) 7 dias 0305 ( ) outro. Especificar: _______________________________________________ 04. QUAL É O PRINCIPAL BENEFÍCIO DE SE JUNTAR A ESSE GRUPO? 0401 ( ) contribui para minha família com ajuda no sustento ou acesso a serviços 0402 ( ) beneficia a comunidade 0403 ( ) recreação/por prazer 0404 ( ) espiritualidade, status social, auto-estima 0405 ( ) tratamento/recuperação própria 0406 ( ) outros (especificar)______________________________ 05. PENSE SOBRE OS MEMBROS DESSA ORGANIZAÇÃO, ELES SÃO EM MAIORIA DO MESMO(A)... RESPONDA 1 PARA SIM E 2 PARA NÃO: 0501 Vizinhança/povoado 0502 Familiares ou parentes 0503 Religião 0504 Sexo 0505 Idade 0506 Grupo étnico ou que falam a mesma língua/classe social 06. ESSA ORGANIZAÇÃO INTERAGE OU TRABALHA COM OUTROS GRUPOS COM OBJETIVOS SIMILARES, NA CIDADE/VIZINHANÇA? 0601 ( ) Não 0602 ( ) Sim, às vezes 0603 ( ) Sim, freqüentemente 07. ESSA ORGANIZAÇÃO INTERAGE OU TRABALHA COM OUTROS GRUPOS COM OBJETIVOS SIMILARES, DE FORA DA CIDADE/VIZINHANÇA? 0701 ( ) Não 0702 ( ) Sim, às vezes 0703 ( ) Sim, freqüentemente 08. ESSA ORGANIZAÇÃO INTERAGE OU TRABALHA COM OUTROS GRUPOS COM OBJETIVOS DIFERENTES, NA CIDADE/VIZINHANÇA? 0801 ( ) Não 0802 ( ) Sim, às vezes 0803 ( ) Sim, freqüentemente 117 09. NO GERAL, VOCÊ CONCORDA OU DISCORDA DAS AFIRMATIVAS ABAIXO. COLOQUE O NÚMERO CONFORME ESCALA A SEGUIR, ONDE: 1. Concordo totalmente 2. Concordo parcialmente 3. Nem concordo nem discordo 4. Discordo parcialmente 5. Discordo totalmente 0901 ( ) A maioria dos colaboradores que estão na organização podem ser confiáveis. 0902 ( ) Nesta organização, tem que ficar alerta com os outros pois é provável que querem tirar vantagem de você. 0903 ( ) A maioria das pessoas desta organização estão dispostas a ajudar se você precisar. 0904 ( ) Nesta organização, as pessoas geralmente não confiam uma nas outras para emprestar ou pedir dinheiro emprestado. 1 Grau muito grande de confiança. Afirmativas Grau muito pequeno de confiança. 10. AGORA, EU QUERO PERGUNTAR PRA VOCÊ QUANTO VOCÊ CONFIA NOS DIFERENTES TIPOS DE PESSOAS. NUMA ESCALA DE 1 A 6, ONDE 1 QUER DIZER EM GRAU MUITO PEQUENO E 6 SIGNIFICA NUM GRAU MUITO GRANDE, QUANTO VOCÊ CONFIA NAS PESSOAS DE CADA CATEGORIA? RESPONDA COM UM NÚMERO PARA CADA AFIRMATIVA: Variação da confiança 2 3 4 5 6 1001. Pessoas da sua etnia (raça) ou que falam a mesma língua, pertençam a mesma classe social, mesma religião. 1002. Pessoas de outras etnias (raças) ou que falam outras línguas, ou que fazem parte de outra classe social, mesma religião. 1003. Lojistas. 1004. Funcionários da prefeitura. 1005. Funcionários do governo estadual/federal. 1006. Polícia. 1007. Professores. 1008. Enfermeiras e Médicos. 1009. Funcionários da Organização. 1010. Psicólogos. 1011. Terapeutas pastorais. 11. AS PESSOAS NA SUA ORGANIZAÇÃO AJUDARAM AS OUTRAS PESSOAS NO ÚLTIMO MÊS? MARQUE COM UM X. 1101 ( ) Sempre ajudam. 1102 ( ) Ajudam na maior parte do tempo. 1103 ( ) Ajudam algumas vezes. 1104 ( ) Raramente ajudam. 1105 ( ) Nunca ajudam. 12. NOS ÚLTIMOS 6 MESES, VOCÊ TRABALHOU COM OUTROS MEMBROS DO CERENE PARA ALGO QUE TRARIA BENEFÍCIOS PARA TODOS, NA ORGANIZAÇÃO? 1201 ( ) Sim 1202 ( ) Não vá para a pergunta 14 13. QUAIS FORAM AS ÚLTIMAS ATIVIDADES QUE VOCÊ FEZ NOS ÚLTIMOS 06 MESES? SUA PARTICIPAÇÃO FOI VOLUNTÁRIA OU CONVOCADA? Atividades Voluntário Convocado 118 14. QUAL A PROPORÇÃO DE PESSOAS NA ORGANIZAÇÃO QUE CONTRIBUEM COM TEMPO OU DINHEIRO EM TORNO DE UM OBJETIVO COMUM DA ORGANIZAÇÃO. (Exemplo: encontro de famílias). 1401 ( ) Todo mundo 1402 ( ) Mais da metade 1403 ( ) Talvez metade 1404 ( ) Menos da metade 1405 ( ) Ninguém 15. SUPONHA QUE ACONTEÇA ALGO NÃO MUITO BOM PARA ALGUÉM NA ORGANIZAÇÃO, COMO UMA DOENÇA SÉRIA, OU A MORTE DE UM PARENTE. QUAL A PROBABILIDADE DE ALGUMAS PESSOAS DA PRÓPRIA ONG SE UNIREM E AJUDAREM? 1501 ( ) Muito provável 1502 ( ) Mais ou menos provável 1503 ( ) Nem provável nem improvável 1504 ( ) Pouco improvável 1505 ( ) Muito improvável 16. POR ONDE VOCÊ RECEBE INFORMACOES SOBRE OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA ORGANIZAÇÃO? ASSINALE 3 ALTERNATIVAS. 1601 ( ) Parentes, amigos e vizinhos 1602 ( ) Informativo da organização 1603 ( ) Jornal comunitário ou local 1604 ( ) Rádio 1605 ( ) Televisão 1606 ( ) Associações políticas 1607 ( ) Lideres comunitários 1608 ( ) Funcionário da organização 1609 ( ) Através de outras ONGS 1610 ( ) Internet 17. O QUANTO FORTE É O SENTIMENTO DE FICAR JUNTO OU PRÓXIMO AS PESSOAS DENTRO DA SUA ORGANIZAÇÃO? ASSINALE COM X UMA ÚNICA RESPOSTA. 1701 ( ) Muito fraco 1702 ( ) Um pouco fraco 1703 ( ) Nem fraco nem forte 1704 ( ) Um pouco forte 1705 ( ) Muito forte 18. NA SUA OPINIÃO, ESTA ORGANIZAÇÃO GERALMENTE É PACÍFICA OU MARCADA POR VIOLÊNCIA? 1801 ( ) Muito pacífica 1802 ( ) Moderadamente pacífica 1803 ( ) Nem pacífica nem violenta 1804 ( ) Moderadamente violenta 1805 ( ) Muito violenta 19. O QUÃO FELIZ VOCÊ SE CONSIDERA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO? 1901 ( ) Muito feliz 1902 ( ) Moderadamente feliz 1903 ( ) Nem feliz nem triste 1904 ( ) Moderadamente infeliz 1905 ( ) Muito infeliz 119 20. O QUANTO DE CONTROLE VOCÊ ACHA QUE TEM PARA TOMAR DECISÕES QUE AFETAM AS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS DENTRO DA ORGANIZACAO? VOCÊ SE SENTE… 2001 ( ) Sem controle 2002 ( ) Controlo muito pouco as decisões 2003 ( ) Controle sobre algumas decisões 2004 ( ) Controle sobre a maioria das decisões 2005 ( ) Controle sobre todas as decisões 21. NOS ÚLTIMOS 12 MESES, QUANTAS VEZES AS PESSOAS DESSA ORGANIZAÇÃO SE JUNTARAM PARA FAZER PEDIDOS AO GOVERNO OU AOS LÍDERES POLÍTICOS EM BENEFÍCIO DA ORGANIZAÇÃO? 2101 ( ) Nunca 2102 ( ) Uma vez 2103 ( ) Poucas vezes (menos que 5) 2104 ( ) Muitas vezes (mais que 5) 22. ALGUM DESSES PEDIDOS TEVE SUCESSO? 2201 ( ) Sim, todos foram bem sucedidos 2202 ( ) A maioria foi bem sucedido 2203 ( ) A maioria foi mal sucedido 2204 ( ) Nenhum foi bem sucedido 23. ESCOLARIDADE: 2301 ( ) Primário 2302 ( ) Secundário 2303 ( ) Terceiro Grau 2304 ( ) Graduação 2305 ( ) Pós-Graduação 24. ESTADO CIVIL 2401 ( ) Casado(a) 2402 ( ) Viúvo(a) 2403 ( ) Divorciado (a) 2404 ( ) Separado(a) 2405 ( ) Solteiro(a) (nunca casou) 25. FAIXA ETÁRIA 2501 ( ) 15-25 anos 2502 ( ) 25-35 anos 2503 ( ) 35-45 anos 2504 ( ) 45-55 anos 2505 ( ) 55-65 anos 26. SEXO: 2601 ( ) feminino 2602 ( ) masculino 120 APÊNDICE B – Carta
Download