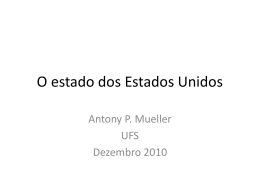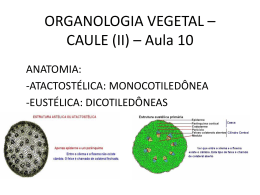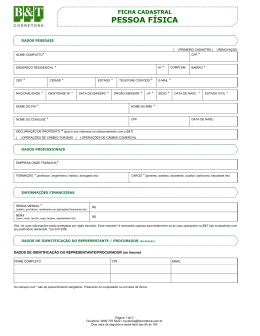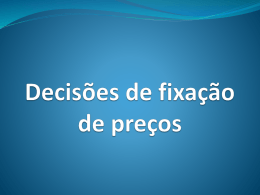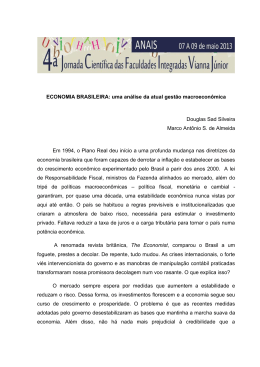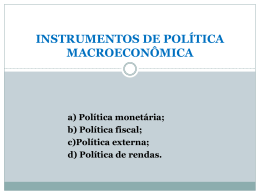A arte de flutuar e intervir Dizem que inventaram a taxa de câmbio para nos manter humildes. Se até o passado é difícil de explicar, imagine projetar o futuro. Menos de 18 meses atrás o real caiu abaixo de 1,70 por dólar e no mês passado alcançou 2,45, após uma depreciação intensa. O Banco Central (BC) anunciou novo mecanismo de intervenção, o que colocou um pouco de água fria na fervura, mas manteve aceso o (eterno) debate. Para onde vai o real? Qual a melhor forma de atuar nesta situação? Divido o atual debate sobre câmbio e intervenção em duas visões (não necessariamente excludentes). A primeira entende que o câmbio deve ir aonde precisar. A ideia é reforçar a importância de preservar ao máximo a flutuação da taxa de câmbio – que faz parte do tripé macroeconômico, junto com a meta de inflação e a responsabilidade fiscal – para mais rapidamente encontrar o novo câmbio de equilíbrio, recuperar a competitividade e estimular o crescimento. Esse processo adquire ainda mais relevância quando a atual depreciação do câmbio parece ter importante componente global. É, na verdade, o dólar que está se apreciando, agora que as perspectivas são de recuperação nos EUA, aumento de juros por lá e volta dos fluxos de capital. De fato, várias outras moedas emergentes também depreciaram fortemente, sinalizando o novo protagonismo dos EUA, com a volta da força do dólar. Nesse contexto global, a flutuação do real seria o caminho mais direto ao novo patamar de equilíbrio e aceleraria o necessário ajuste da economia a essa nova realidade. Se o futuro requer um câmbio mais depreciado, melhor não retardar o processo e já focar nas consequências desse novo patamar. O problema é que o câmbio flutuante está longe de ser perfeito. É apenas o “menos ruim” dos regimes cambiais disponíveis (como o fixo, o administrado, etc.). Sofre de alguns males comuns a outros regimes cambiais e de alguns males específicos (claro que tem várias qualidades específicas também). O “mal” comum é que nenhum regime cambial é capaz de fazer milagre. Todos precisam de políticas macroeconômicas (por exemplo, política fiscal) consistentes. A flutuação só leva a um novo equilíbrio estável se as políticas monetária (juros) e fiscal proverem âncora para os preços. Caso contrário, a flutuação levará à inflação, que induzirá mais depreciação (para manter o valor em termos reais), e o risco é de entrar numa espiral depreciação-inflação. Na ausência de âncora, a flutuação cambial, sem intervenção, revelará rapidamente os defeitos existentes. O problema específico desse regime é que pode flutuar em excesso, para além dos fundamentos. Na realidade pode existir o “overshooting”, termo eternizado pelo trabalho do professor Rudiger Dornbusch, que se refere a movimentos do câmbio que vão para além do seu equilíbrio de médio e longo prazos e acabam voltando (Dornbusch estudou como mudanças na taxa de juros podem levar a “overshooting”, exercício adequado ao atual contexto). Esses movimentos são hoje amplamente conhecidos na literatura e na prática. Para preservar a flutuação, mas ficar alerta a excessos, intervenções têm sido prática comum. Mas o entendimento é que deveriam restringir-se ao objetivo de evitar volatilidade excessiva, proveniente, por exemplo, de falta de liquidez (em que não há mercado devido à incerteza) e processos instáveis (como bolhas). Mas a dificuldade está na prática. Não há forma segura de separar os excessos de flutuação daqueles justificados pelos fundamentos. No caso atual do Brasil, quanto da incerteza doméstica pode estar potencializando o choque global? Em muitos casos, alguma avaliação sobre aonde o câmbio deveria ir é requerida. Tarefa mais fácil de enunciar do que de calcular. No caso do Brasil há pelo menos duas formas de pensar no equilíbrio do real. A primeira é partir da observação de que o Brasil está caro, quando medido em dólar (ou outra moeda forte), e calcular qual seria a taxa de câmbio que faria os preços no Brasil se igualarem aos preços internacionais. É uma vertente da teoria da Paridade do Poder de Compra (PPC), que diz que os preços vão acabar convergindo ao longo do tempo. Nesse caso o câmbio no Brasil ainda teria de depreciar um bom pedaço. No entanto, a evidência empírica mostra que esse tipo de desvio dos preços só é corrigido ao longo de muito tempo, décadas, não anos, muito menos meses. A segunda é calcular qual a taxa de câmbio que ajustaria nosso déficit em conta corrente para níveis consistentes com a nova realidade mundial. Um ajuste do déficit em conta corrente dos atuais 3,5 do PIB para algo em torno de 1,5% em alguns anos requer um câmbio em torno de 2,30 por dólar. A segunda visão sobre intervenção acredita nos benefícios de suavizar o atual choque ao longo do tempo. Nos últimos anos, o Brasil valeu-se de intervenção e acumulou reservas (US$ 370 bilhões) custosas de manter (paga-se a diferença dos juros altos no País, dos baixos recebidos pelas reservas depositadas no exterior), mas vistas como um seguro para amortecer choques. Nessa visão, o sinistro está ocorrendo e o seguro deve ser utilizado. A intervenção é a forma de financiar ao longo do tempo o déficit em conta corrente (e o ajuste de portfólio dos investidores) até que a nova taxa de câmbio estimule as exportações e reduza as importações. O risco aqui é o clássico: que a intervenção em vez de suavizar, substitua a necessidade de outros ajustes econômicos (fiscal, monetário, estrutural). Há que se buscar evitar artificialismos no câmbio, que levem à paralisia e à falta de ajuste na economia. Mas, também, é necessário evitar processos perversos (bolhas e “overshootings”), assim como buscar a melhor trajetória de ajuste usando as reservas disponíveis. Alcançar o balanço adequado é tanto ciência quanto arte. Ilan Goldfajn é economista-chefe e sócio do Itaú Unibanco.
Baixar