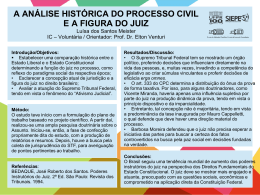UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU Programa de Pós-Graduação em Filosofia O JUIZ E A INTERPRETAÇÃO NO PROCESSO JUDICIAL Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Universidade São Judas Tadeu como exigência para obtenção do título de mestre em filosofia, sob a orientação do Prof. Dr. Hélio Salles Gentil Vânia da Silva Schütz São Paulo, 2013 Schütz, Vânia da Silva S586j O juiz e a interpretação no processo judicial / Vânia da Silva Schütz. - São Paulo, 2013. 155 f. : il. ; 30 cm. Orientador: Hélio Salles Gentil. Banca Examinadora: Dissertação (mestrado) – Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2013. Prof(a). Dr.(a)____________________________________ 1. Filosofia. 2. Juíz – Processo Judicial. I. Gentil, Prof(a). Dr.(a)____________________________________ Hélio Salles. II. Universidade São Judas Tadeu, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Suplentes: Filosofia. III. Título Prof(a). Dr.(a)____________________________________ Prof(a). Dr.(a)____________________________________ CDD 22 – 340.1 Dedicatória Ao meu pai, Juvenil Nunes da Silva, in memorian, que foi, é e será meu modelo de vida, de honestidade, de trabalho, de responsabilidade, de carinho e afeto, meu grande e eterno incentivador. AGRADECIMENTOS Ao meu orientador, Prof. Dr. Hélio Salles Gentil, incansável na orientação de uma operadora do direito que inconformada com a situação judiciária viu na filosofia uma possibilidade de refletir acerca das tantas indagações e contradições do cotidiano jurídico. À minha grande amiga Marilu Oliveira Ramos, pelo incentivo constante e disponibilidade em me ajudar profissionalmente de modo que fosse possível a obtenção de um pouco mais de tempo para a dedicação aos estudos. À minha amiga-irmã Silvana Malaquias Antunes, seus pais, José e Hilda Antunes e seu irmão Saulo Antunes, que torcem incansavelmente pela minha vitória nos mais diversos seguimentos da minha vida, me dando suporte emocional para prosseguir. Por fim, ao meu esposo, Prof. Dr. Jorge Schütz Dias, inspiração acadêmica, companheiro amoroso e fiel, paciente, que abraçou comigo a luta da vida iluminando o meu caminho para que até aqui chegasse, meu especial agradecimento por não ter me deixado desistir de lutar. RESUMO Este trabalho trata da análise do ato de julgar sob a perspectiva da fenomenologia hermenêutica de Paul Ricoeur. O objetivo é examinar o processo judicial desde o seu nascimento, dando-se ênfase à utilização da linguagem. Trabalha-se com a hipótese de que ocorrem vários processos interpretativos em todo o desenrolar do processo judicial, desde o seu nascedouro até a prolação de sentença. Para propiciar esta análise, traz-se a baila o pensamento ricoeuriano acerca da justiça como uma prática social da qual decorrem princípios, quais sejam: ocasiões da justiça que diz respeito ao fato de que se lida com a justiça quando surge a necessidade de evocar uma instância superior para solucionar conflitos; canais da justiça, que diz respeito ao aparelho judiciário compreendendo os tribunais, os juízes, um corpo de leis escritas; argumentos da justiça, que dizem respeito ao fato de fazer parte da justiça a atividade comunicativa mediante o emprego da linguagem. Esses princípios dão o contorno do problema examinado. No que tange à situação específica de prolação da sentença, é examinada a pessoa do juiz na qualidade de um intérprete no processo judicial, analisando-se a relação da formação de sua identidade profissional e de sua identidade pessoal e as implicações dessas relações no julgamento a ser proferido, destacando-se que as sentenças serão justas na medida em que visarem uma vida boa, levando em conta a Sabedoria Prática, de modo que entre o legal e o bom esteja o justo. Palavras-chave: Ricoeur, interpretação, juiz, processo judicial. ABSTRACT This paper covers the act of judging by the perspective of Paul Ricoeur’s hermeneutic phenomenology. The objective is to examine the legal proceeding since its birth, lending emphasis to its language use. This is a study about the hypothesis of the occurrence of various interpretative processes in the course of the proceedings, since its birth until the delivery of the sentence. To provide an analysis of it, the paper brings up Ricoeur’s thoughts about justice as a form of social practice from which the following principles derive: occasions of justice, which refer to the fact that dealing with the justice is mandatory in need of evoking a superior instance to solve conflicts; justice channels, which refer to a judicial system concerning the court, the judges and a body of written laws; justice arguments, which refer to the fact of being part of the justice a communicative activity carried through language. These principles provide the shape of the analyzed problem. With regard to the specific situation of sentence delivery, the person of the judge as interpret in a legal proceeding is investigated, being analyzed the relation between the formation of his professional identity and his personal identity, and the implications of these relations on the judgment to be uttered, highlighting that the sentences will be fair inasmuch as they aim for a pleasant life, taking into account the Practical Wisdom, in a way that between the legal and the pleasing lies the righteous. Keywords: Ricoeur, interpretation, judge, legal proceedings LISTA DE SIGLAS Ag.Reg. Agravo Regimental CC Código Civil CEMN CF Código de Ética da Magistratura Nacional Constituição Federal CPC Código de Processo Civil CP Código Penal DJU Diário de Justiça da União HI Hermenêutica e Ideologias LI Leituras 1 – Em torno ao Político LICC Lei de Introdução ao Código Civil MHE A Memória, a História, o Esquecimento MS Mandado de Segurança SMCO O Si mesmo como um Outro STF Supremo Tribunal Federal STJ Superior Tribunal de Justiça TI Teoria da Interpretação TN Tempo e Narrativa V.U. Votação Unânime SUMÁRIO Introdução...........................................................................................................................08 CAPÍTULO I – A Hermenêutica Filosófica, a Hermenêutica Jurídica e o Conceito de Justiça 1.1. Introdução.....................................................................................................................14 1.1. O Problema Hermenêutico Encontrado por Ricoeur.............................................18 1.2. Uma Parte da Contribuição dada por Ricoeur à Hermenêutica...........................25 1.2.1 A Dialética do Evento e da Significação.................................................................27 1.2.2 A Passagem da Fala para a Escrita e o Mundo do Texto.....................................30 1.3. A Hermenêutica Jurídica.............................................................................................33 1.4. O Conceito de Justiça em Paul Ricoeur....................................................................43 1.4.1. Ética e Moral...............................................................................................................43 1.4.2. O Conceito de Justiça................................................................................................47 1.4.3. Da Teoria à Prática da Justiça..................................................................................58 CAPÍTULO II – A Linguagem no Processo Judicial 2.1. Introdução......................................................................................................................65 2.2 Há diálogo no Processo Judicial?...............................................................................68 2.3. O Processo Judicial como narrativa...........................................................................72 2.4. O Sentimento no Processo Judicial.............................................................................77 2.5. A Passagem da Fala à Escrita no Processo Judicial..................................................83 2.6. O Esquema de Comunicação de Jakobson e o Processo Judicial............................88 2.7. A Significação do Discurso no Processo Judicial.....................................................90 2.8 A Busca da Verdade no Processo Judicial.................................................................94 CAPÍTULO III – Um Intérprete no Processo Judicial: O Juiz 3.1. Introdução......................................................................................................................111 3.2. A Ação Judicial e a Atuação do Juiz ..........................................................................113 3.3. A Formação da identidade ........................................................................................120 3.3.1 A Identidade Funcional.......................................................................................120 3.3.2 A Identidade Pessoal...........................................................................................130 3.4. O Juiz e a Sabedoria Prática........................................................................................138 Conclusão..............................................................................................................................144 Bibliografia............................................................................................................................151 8 INTRODUÇÃO O objetivo deste trabalho é examinar um aspecto do ato de julgar, seu exercício na prática judiciária, sob a perspectiva filosófica de Paul Ricoeur. Um ato que pode parecer simples se considerada a mecanização presente na prática hodierna do direito, revela-se bastante complexo na medida em que dele se toma a devida distância para uma reflexão sobre as condições que envolvem os procedimentos que o constituem. A busca pela compreensão do modo como ocorre o processo judicial até a prolação da sentença levou a pesquisadora a encontrar no pensamento filosófico de Paul Ricoeur instrumentos para pensar inúmeras questões decorrentes da prática judiciária. Assim, o pensamento ricoeuriano será usado como lente através da qual se examinará o processo judicial. Inicialmente examinaremos como se forma o processo judicial e o seu desenrolar até a prolação da sentença. Trabalhamos com a hipótese de que ocorrem várias interpretações ao longo de todo o desenrolar do processo judicial, desde o seu nascedouro até a prolação de sentença. O juiz, como cumpridor do mister de distribuir corretamente o direito às partes litigantes, faz inúmeras interpretações (de textos, de gestos, de falas, da vida) no decorrer do processo, até chegar à prolação da sentença, que também será passível de interpretação pelas partes, por juízes de Segunda Instância e por terceiros, uma vez que algumas sentenças geram efeitos não somente entre as partes, mas atingem uma coletividade. No entanto, antes de adentrar-se à discussão das questões de interpretação ocorridas no processo judicial, acompanharemos, em linhas gerais, a constituição e caracterização do que se denomina hermenêutica filosófica, no que ela é distinta de uma hermenêutica jurídica, tomando como ponto de chegada o problema hermenêutico tal como encontrado por Ricoeur decorrente, segundo sua própria leitura, das elaborações desenvolvidas por Schleiermacher, Dilthey, Heidegger e Gadamer, após o que 9 destacaremos o a contribuição específica de Ricoeur para esta hermenêutica, consistente, no que nos interessa aqui, no destaque dado por ele à passagem do discurso oral ao discurso escrito e aos problemas colocados para a interpretação de textos, diferentes dos colocados para a interpretação de falas. Em que pese o desenvolvimento deste trabalho com base na hermenêutica filosófica, é cediço a existência da hermenêutica jurídica, esta, considerada uma hermenêutica especial que está diretamente ligada à interpretação de textos legais. A escolha da hermenêutica filosófica para examinar as questões de interpretação ocorridas no processo judicial decorre do entendimento de que a hermenêutica jurídica não dá conta da totalidade das dimensões envolvidas nas interpretações ocorridas no processo judicial, da qual ela é apenas uma parte. Julgar um caso concreto não se reduz a simplesmente aplicar a lei mediante suas interpretações regradas, da forma como trata do assunto a hermenêutica jurídica. O que se pretende examinar aqui são as condições que vão muito além destas meras aplicações regulamentadas, daí a perspectiva mais abrangente da hermenêutica filosófica. E o pensamento de Ricoeur não é trazido somente para exame das questões relativas à interpretação. Para situar o problema em exame, qual seja, o ato de julgar, traz-se à baila o pensamento ricoeuriano acerca da justiça como uma prática social, nos oferecendo um quadro geral da totalidade do processo, distinguindo: as “ocasiões da justiça”, expressão com que indica o fato de que se lida com a justiça quando surge a necessidade de evocar uma instância superior para solucionar conflitos; os “canais da justiça”, que diz respeito ao aparelho judiciário compreendendo os tribunais, os juízes, um corpo de leis escritas; e os “argumentos da justiça”, que diz respeito ao fato de fazer parte da justiça a atividade comunicativa mediante o emprego da linguagem. Além disso, consideramos também suas ideias acerca da ética e da moral, do justo entre o bom e o legal e da justiça como sabedoria prática, e que nos ajudarão na compreensão da prolação da sentença judicial. Sendo assim, no primeiro capítulo, com o fito de dar-se uma visão geral do problema objeto da pesquisa, a exposição tem início com a posição de Ricoeur na 10 hermenêutica partindo-se do pensamento de seus antecessores os quais foram tomados por ele como referência para que chegasse às suas concepções sobre hermenêutica. Ricoeur apontou o pano de fundo, o estado em que se encontrava o problema hermenêutico examinando os filósofos Schleiermacher, Dilthey, Heidegger e Gadamer, para a partir daí formular sua contribuição, a qual será parcialmente considerada. Neste primeiro capítulo também será exposta a hermenêutica jurídica, apresentando suas características e os métodos desenvolvidos de interpretação da lei. Para a hermenêutica jurídica, a referência da interpretação é a lei e todas as regras aplicadas convergem para esta ideia. Ainda no capítulo 1, apresentamos algumas das ideias de Ricoeur sobre a justiça. Ora, sendo o tema deste trabalho a sentença judicial, esta, decorrente de um processo judicial que é instaurado na medida em que uma pessoa (física ou jurídica) busca a tutela estatal para a resolução de um conflito no qual está envolvido, clamando por justiça, encontramos nas ideias de Ricoeur sobre a justiça noções esclarecedoras dessa situação, procurando com elas estabelecer o campo de nosso problema. O segundo capítulo tem por foco o exame da linguagem no processo judicial e começa com o exame da existência do diálogo no processo judicial, aproveitando o mote de Ricoeur de que “a hermenêutica começa quando termina o diálogo“.1 Nesse sentido, consideraremos se o conflito decorre da falta de diálogo ou se existe a possibilidade de diálogo mesmo onde existe conflito, e de que maneira o diálogo está presente no processo judicial. Ademais, examinaremos como o processo judicial caminha até a prolação da sentença, descrevendo os elementos da linguagem que estão diretamente envolvidos na prática processual e seus desdobramentos no decorrer do processo. Para melhor compreender a linguagem utilizada no processo judicial, se examinará a questão da narrativa, uma vez que a reconstrução da história no processo judicial é um momento importante deste processo. O passado está em permanente processo de reinterpretação, tendo em vista um futuro. Ainda no que tange à compreensão da linguagem e, 1 RICOEUR, TI, 2009, p. 50. 11 especificamente no concernente ao discurso, será posta sob exame a significação do discurso no processo judicial, aí compreendido “o dizer”, “o dito”, “acerca do que se diz” e as consequências dessa significação. A produção de provas no processo judicial será objeto de exame em dois momentos distintos, dando-se ênfase em ambos os momentos à colheita de provas testemunhais. Destacamos que todos os atos processuais se tornam escritos, ainda que tenham sido feitos inicialmente de forma oral. Examinaremos as consequências desta transformação do meio oral para o escrito, dessa passagem da fala para a escrita. Num segundo momento, voltamos à questão dos depoimentos testemunhais para examinar a dimensão da verdade no processo judicial, aí considerando a verdade como correspondência entre o que narram as testemunhas ou as partes e o que de fato se passou entre elas no acontecimento original. Levando-se em conta que o processo judicial tem por finalidade intermediária a busca da verdade a fim de que o juiz, tendo encontrado a verdade de acordo com seu livre convencimento, dê razão a uma, a outra parte ou a ambas as partes, examinamos aqui a possibilidade de uma alegação falsa ser tomada por verdade e suas consequências, podendo acarretar uma sentença judicial contrária à finalidade de distribuição da justiça. Também se examinará no segundo capítulo a presença dos sentimentos no processo, em particular nos escritos do processo judicial. Segundo Ricoeur, o indivíduo é mais sensível ao sentimento de injustiça do que ao sentimento de justiça. Se há sentimento de injustiça no processo judicial (ou de justiça), como este sentimento poderia se exteriorizar? A hipótese considerada é que o processo judicial carrega em seus discursos sentimentos que se revelam mediante a utilização de termos, a concatenação das palavras, as exclamações, as interrogações, pontuações em geral, alternância entre palavras com letras maiúsculas e minúsculas, repetição de alguma expressão ou afirmativa, itálicos, negritos, sublinhado, de modo a exteriorizar o sentimento do peticionário. E estes sentimentos assim expressos não são irrelevantes para as interpretações que o juiz faz e para a sentença prolatada. 12 No terceiro capítulo tomamos como foco o sujeito que conduz o processo judicial e nele faz as interpretações até a prolação da sentença e é essencial ao funcionamento do Poder Judiciário: o Juiz, o magistrado. Saliente-se que o Poder Judiciário é dividido em Instâncias, sendo a Primeira Instância o local onde os processos judiciais são propostos tendo sequência até seu julgamento. Se houver insatisfação com o julgamento, a parte insatisfeita poderá entrar com recurso para que seja reexaminada a matéria por um colegiado de Juízes que compõem o Tribunal, este, considerado Segunda Instância. O juiz sob exame aqui é o juiz de Primeira Instância, aquele que conduz o processo e prolata a sentença em Primeira Instância.2 Destarte, neste capítulo se examinará a atuação do juiz na ação judicial e as ferramentas legais que ele tem para conduzir o processo e prolatar a sentença. Ato contínuo se examinará a formação de sua identidade pessoal, considerando que há uma relação importante entre seu exercício profissional e sua identidade pessoal. Por ser o ato de julgar designado pela sociedade a uma pessoa é que se faz necessário pensar em quem é este sujeito que julga. Quem é ele, o que ele faz, qual a sua formação técnica, como se forma a identidade pessoal e sua relação com os problemas que envolvem o exercício de sua função. Para exame da formação de sua identidade profissional, são trazidos o Estatuto da Magistratura e o respectivo Código de Ética e para o exame da formação de sua identidade pessoal são trazidas as ideias de Charles Taylor e de Paul Ricoeur. Por fim, se examinará o ato de julgar com base na concepção de justiça como prática social, no modo como pensado por Ricoeur, levando-se em conta que o juiz, ao prolatar uma decisão e, baseado em todas as interpretações feitas durante o processo, suas referências éticas e morais, suas reflexões acerca de si e acerca do outro, acabará por estabelecer, na prática, uma medida entre o que é legal e o que é o bom em suas referências, mesmo que não saiba disso. Pode-se pensar que há ele de achar um 2 A regra geral é que o processo judicial se inicia com o juiz monocrático, de Primeira Instância. No entanto, a lei prevê – pela via da exceção – os casos em que são de competência originária dos Tribunais processar e julgar determinadas causa. Não é este o caso sob exame neste trabalho. 13 equilíbrio a fim de que entre o legal e o bom esteja o justo. Este equilíbrio decorreria de uma “sabedoria prática”, que assim considerada, nos termos de Ricoeur, transcende a norma e que lida com o viver em conjunto, não se detendo somente ao que é bom para os indivíduos e nem somente ao que está na norma. A conclusão deste trabalho retoma algumas das ideias de Ricoeur para exame do processo judicial. Se por um lado, tomando-se a devida distância da prática judiciária há uma gama de possibilidades de exame da justiça em abstrato, por outro lado, colocando a lente do pensamento ricoeuriano bem perto da prática judiciária, podem-se enxergar com clareza as nuances dos procedimentos muitas vezes automatizados e viciados pela prática hodierna. Não se pretende neste trabalho dar soluções para o juiz sentenciar deste ou daquele jeito. Dizer o que o juiz deve ou não deve fazer não é o objetivo deste trabalho. No entanto, o que se pretende mostrar é que a partir da consideração de uma intenção de vida boa, reconhecida como horizonte maior de todo ato de julgar, é possível pensar que uma visão mais ampla do que a da hermenêutica jurídica mais tradicional pode contribuir para se achar o melhor lugar do justo, como nos ensinou Ricoeur, entre o bom e o legal. 14 CAPÍTULO I A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA, A HERMENÊUTICA JURÍDICA E O CONCEITO DE JUSTIÇA EM RICOEUR 1. Introdução Segundo Richard Palmer, a palavra hermenêutica vem do verbo grego hermeneuien o substantivo hermeneia, palavras estas que derivam do deus grego Hermes. Na mitologia grega, é atribuído ao deus Hermes a transformação de “... tudo aquilo que ultrapassa a compreensão humana em algo que essa inteligência consiga compreender.” 3 Então, segundo a crença grega, Hermes tornava claro, nítido e compreensível o que a inteligência humana tivesse por obscuro e incompreensível.4 Por conta deste “poder aclarador”, os gregos atribuíam a Hermes a descoberta da linguagem e da escrita, já que tanto a linguagem como a escrita são ferramentas para a compreensão e transmissão dos significados pelos seres humanos.5 O uso da palavra hermenêutica tendo como significado interpretar/compreender se deu inicialmente no campo da teologia, na medida em que as técnicas de interpretação começaram a ser usadas para a compreensão das Escrituras Sagradas. Segundo Palmer, a palavra hermenêutica encontrou seu atual uso na medida em que houve necessidade de utilização de regras para uma exegese adequada das Escrituras. 6 3 PALMER, Richard. E. Hermenêutica, Coleção O saber da Filosofia, Edições 70, 2006, p. 24. Embora o pensamento de Palmer sobre a derivação da palavra hermenêutica do deus Hermes não seja isolada, a atribuição ao deus-Hermes como origem da hermenêutica também não é consenso entre os filósofos. Emerich Coreth diz que não há certeza de ter a palavra hermenêutica derivado do deus Hermes. Para ele, esta derivação é apenas uma probabilidade, porém, independentemente de ser ou não a palavra derivada de Hermes, para os gregos o termo hermenêutica referia-se a uma dimensão sacra de compreensão e interpretação da palavra advinda de uma divindade. CORETH, Emerich. Questões Fundamentais da hermenêutica, Tradução de Carlos Lopes Matos, Editora Pedagógica e Universitária Ltda., 1919, p. 2. 5 PALMER, Richard. Op. cit., p. 23-24. 6 PALMER, 2006, p. 44. 4 15 Richard Palmer não situa exatamente no tempo quando teria sido difundido o significado mais antigo da palavra hermenêutica como princípio de interpretação bíblica. Segundo Palmer, as operações de exegese textual e as teorias de interpretação remontam a antiguidade.7 No entanto indica como provável o aparecimento do termo hermenêutica Ra como título de uma obra de J. C. Danhauer publicada em 1654, obra esta intitulada Hermenêutica Sacre Sive Methodus exponendarum sacrarum litterarum.8 Segundo Palmer, depois da publicação da obra de Danhauer, o termo “hermenêutico” passou a surgir com mais frequência, notadamente na Alemanha, onde círculos protestantes passaram a criar manuais de interpretação das Escrituras, aparecendo no decorrer dos anos entre os séculos XVII e XVIII novos manuais que ajudassem os sacerdotes na exegese das Escrituras, estes antes sem qualquer recurso para decidirem sobre as questões de interpretação.9 No século XVIII, com o advento da filologia clássica as escolas de interpretação bíblica gramatical e histórica passaram a reconhecer que os mesmos métodos de interpretação da Bíblia deveriam ser utilizados nas demais obras não bíblicas. Concluiuse nessa ocasião que para a compreensão de um texto, seria imprescindível a análise e compreensão do contexto em que estava inserido. No caso dos textos bíblicos, os contextos históricos das narrações bíblicas, de modo que a tarefa do intérprete tornou-se uma tarefa também histórica, estando diretamente ligada à filologia.10 Segundo Palmer, a interpretação o conjunto de regras para interpretação de textos bíblicos aos poucos se transformou num conjunto de regras gerais da exegese filológica, sendo a Bíblia apenas um dos textos em que a utilização dessas regras era viável. 11 De acordo com Palmer, foi Schleiermacher (1768-1834) quem passou a ver a hermenêutica como arte da compreensão, em total crítica ao ponto de vista da filologia. Para Schleiermacher, a hermenêutica não podia ser tida como um conjunto de regras, mas a arte de compreensão em qualquer diálogo. Então, a partir de Schleiermacher, a 7 PALMER, 2006, p. 45. PALMER, 2006, p. 44. Nesse mesmo sentido, CORETH, Emerich, 1973, op. cit., p. 3. 9 PALMER, 2006, p. 44. 10 PALMER, 2006, p. 49. 11 Idem. 8 16 hermenêutica deixa de ser um conjunto de regras para interpretação de um texto específico disciplinar para passar a uma arte de interpretação geral, conforme se verá adiante.12 A história do desenvolvimento das técnicas interpretativas segue com Wilhem Dilthey (1833-1911), Martin Heidegger (1889-1976) e Hans George Gadamer (1900-2002). Foi com base no desenvolvimento da teoria hermenêutica por estes pensadores (além de Schleiermacher), que Ricoeur apontou o estado em que recebia e percebia o problema hermenêutico para, a partir daí, ofertar sua contribuição ao tema.13 Para Ricoeur, foi com Schleiermacher e Dilthey que o problema hermenêutico se tornou problema filosófico.14 Paul Ricoeur define a hermenêutica como “a teoria das operações da compreensão em sua relação com a interpretação de textos.”15 Para entender esta definição de Ricoeur, necessário se faz passar pelo conceito de compreensão. E, ao se pensar em compreensão torna-se inevitável o questionamento sobre a possibilidade de os textos, as obras, a vida, serem compreendidos se os sujeitos têm horizonte de significados distintos uns dos outros. Como é possível compreender? Esta questão indica o problema filosófico acerca da compreensão contido na palavra hermenêutica. Para Emerich Coreth, compreender significa apreender o sentido, num universo em que o sentido é aquilo que é significativo em um contexto e tem uma significação originária da linguagem. As coisas no mundo não têm um único sentido, assim como as palavras não têm um único sentido. Para que o sentido das coisas e das palavras se revele, há que se analisar o contexto em que estão incluídos os objetos de análise. Se a compreensão se tratar de algo da vida humana cotidiana, por exemplo, há que se analisar o contexto da situação vivida a fim de que possa haver compreensão da 12 PALMER, 2006, p. 50. RICOEUR, HI, 2008, p. 24. 14 RICOEUR, CI, 1969, p. 7. 15 RICOEUR, HI, 2008, p. 23. 13 17 situação. Se a compreensão é da palavra – quer oral, quer escrita – há que se analisar o contexto da fala ou da escrita. 16 Para Ricoeur, compreender não é só um modo de conhecimento, mas um modo de ser. O questionamento feito acima no sentido de que como um sujeito pode compreender um texto, uma história, para Ricoeur é substituído pela seguinte questão: o que é um ser cujo ser consiste em compreender?17 E a relação da compreensão com os textos? Segundo Ricoeur, a primeira e mais originária relação entre o conceito de interpretação e compreensão é a relação de comunicação dos problemas técnicos da exegese textual com os problemas da significação e da linguagem.18 Para Ricoeur, “é primeiro e sempre na linguagem que vem exprimir-se toda a compreensão única ou ontológica”.19 Desta feita, abordar-se-á a importância da Linguagem na visão ricoeuriana para, posteriormente, abordar-se a questão da linguagem no processo judicial com base no pensamento ricoeuriano. A abrangência da teoria de interpretação hermenêutica é muito ampla. Interpretar é inerente ao ser humano e faz parte de sua vivência no mundo. O ser humano interpreta para compreender e a busca pela compreensão não é somente pela compreensão de textos, de obras de arte, de músicas. O ser humano quer compreender a própria vivência, a vivência de outrem, os fatos e situações da vida, a forma de estar no mundo, e, até mesmo os pensamentos e os sonhos.20 Palmer, citando Ricoeur, aponta que a interpretação permeia todo o viver humano, pois o ser humano não somente interpreta textos, obras de arte, músicas, mas interpreta a vida, a forma de estar no mundo. O viver humano é repleto de símbolos. Até mesmo os sonhos são passíveis de interpretação porque são formados por imagens simbólicas.21 16 CORETH, Emerich. Op.cit., p. 50-51. RICOEUR, CI, 1969, p. 8. 18 RICOEUR, CI, 1969, p. 6. 19 RICOEUR, CI, 1969, p. 13. 20 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica, 1997, p. 82-86. 21 PALMER, 2008, p. 52. 17 18 Dessa forma, a interpretação parece ser ato essencial do ser humano, permeando seu pensamento. Nesse sentido, muito interessante o pensamento de Raimundo Bezerra Falcão, segundo o qual “viver é estar condenado – grata condenação! – a interpretar constantemente”.22 Como se pode verificar, o problema hermenêutico é amplo e complexo. Interpretar, compreender, clarificar, não são tarefas tão fáceis quanto parecem ser diante da imensidão de abrangência e da multiplicidade de símbolos, signos, significados e diferentes percepções destes. Isto porque, é cediço que cada ser humano tem um horizonte de significado e isto faz com que a compreensão passe a ser um problema. Considerando que este trabalho tem por foco o problema da interpretação na prolação da sentença, não se poderia deixar de fora a consideração de abordagem da hermenêutica jurídica. Isto porque, se a prática jurídica tem uma hermenêutica própria, não seria ela, com sua teoria e suas regras, suficiente à reflexão sobre as questões oriundas das interpretações que ocorrem no decorrer do processo judicial até a prolação da sentença? Parece que não. Pretende-se demonstrar no decorrer deste capítulo que a metodologia de interpretação abordada pela hermenêutica jurídica não dá conta da totalidade da questão interpretativa presente no processo judicial até a prolação da sentença. Por esta razão que este trabalho volta-se à hermenêutica filosófica, com o objetivo de refletir acerca da problemática da interpretação no processo judicial. 1.1. O problema Hermenêutico Encontrado por Ricoeur Segundo Paul Ricoeur, a hermenêutica tem como objetivo “desvelar” o sentido que o texto oferece para além do conteúdo manifesto. Para Ricoeur, a hermenêutica 22 FALCÃO, 1997, p. 84. 19 possui uma proximidade às questões da linguagem. Ele define a hermenêutica como “a teoria das operações da compreensão em sua relação com a interpretação de textos”.23 Essa proximidade das questões da linguagem, segundo Ricoeur, se dá porque nas línguas naturais, as palavras possuem vários significados, ou seja, as palavras têm como característica a polissemia quando consideradas fora de um contexto específico. Sendo assim, para que a palavra seja compreendida faz-se necessária uma sensibilidade ao contexto em que está inserida. E, o manejo deste contexto articula uma atividade de discernimento que é a interpretação. Então, para Ricoeur, o primeiro e mais elementar trabalho da interpretação é a identificação do significado do discurso elaborado com palavras polissêmicas. Este discernimento de significado é a é a interpretação que somente é possível mediante o uso da linguagem.24 Por isso, para Ricoeur a hermenêutica deve ser estudada a partir da linguagem, principalmente da linguagem escrita. Este vínculo da interpretação com a linguagem escrita se dá porque, segundo Ricoeur, a hermenêutica é a teoria da interpretação voltada para textos e são os textos exemplos de linguagem escrita.25 Para Ricoeur, a linguagem é o” primeiro lugar da interpretação”.26 O desenvolvimento da teoria hermenêutica realizada por Ricoeur é decorrente de uma revisão da hermenêutica romântica de Schleiermacher e Dilthey, da renúncia da subjetividade e do idealismo da fenomenologia de Husserl e do aprofundamento de uma hermenêutica fenomenológica, a exemplo do que já haviam realizado Heidegger, em Ser e Tempo (1927), e Gadamer, em Verdade e Método (1960)27 como se verá a seguir: Para Ricoeur foi Friedrich Schleiermacher (1768-1834) que fez uma reviravolta na hermenêutica, na medida em que a hermenêutica que até então se tratava de método 23 RICOEUR, Paul HI, 2008, p. 23. RICOEUR, Paul HI, 2008, p. 25. 25 RICOEUR, Paul TI, 2009, p. 41. 26 RICOEUR, Paul HI, 2008, p. 24. 27 TARRICONE, Jucimara. O Intérprete Benedito Nunes, XI Congresso Internacional da ABRALIC, julho/2008-USP, 2009. Disponível em: http://www.abralic.org.br/anais/cong2008/AnaisOnline/simposios/pdf/044/JUCIMARA_TARRICON E.pdf. Acesso em: 28 jan. 2012. 24 20 de interpretação para textos específicos, passou a ser um método para textos em geral. A este movimento Ricoeur chamou de desregionalização.28 Isto porque, para Scheleiermacher, em que pese a existência da multiplicidade de temas inerentes a textos comum a todos os das mais diversas disciplinas, a arte da compreensão é textos, independentemente dos assuntos abordados. Scheleiermacher defendeu que antes de qualquer arte especial de interpretação está a arte geral da compreensão e esta opera mediante regras universalmente válidas, leis que podem ser descobertas e que têm por objeto a extração do sentido do texto.29 Segundo Ricoeur, o que havia antes de Schleirmacher era a filologia de textos clássicos e a exegese dos textos sagrados (Antigo e Novo Testamentos). Como cada um desses textos possuía suas particularidades, uma hermenêutica geral, isto é, aplicada a todo e qualquer texto independentemente do assunto por ele tratado, exigia do intérprete tanto um distanciamento, num nível superior, das aplicações particulares para a interpretação de cada texto, como também um distanciamento das operações comuns aos ramos da hermenêutica até então existentes, isto é, a filologia e a exegese. Para a compreensão dos textos sagrados e clássicos, existiam regras específicas bem como, regras gerais de interpretação, estas, comuns a todo e qualquer texto a ser interpretado. E, para Ricoeur, a hermenêutica nasceu desse esforço de se manter um distanciamento tanto das operações particulares como das operações comuns de modo a tornar a filologia e a exegese uma ”tecnologia”.30 Segundo Ricoeur, o programa hermenêutico de Schleirmacher era portador das marcas romântica e crítica que parecem demarcar toda a hermenêutica futura. E ele explica: A marca romântica decorre do fato de seu programa guardar relação estreita com o processo de criação, buscando “compreender um autor tão bem, e mesmo melhor do que ele se compreendeu”.31 Em outras palavras, a compreensão se volta para a mensagem do autor, em sua singularidade. E a marca crítica decorre do desejo de Schleiermacher 28 RICOEUR, HI, 2008, p. 26. PALMER, 2006, p. 97. 30 RICOEUR, HI, 2008, p. 26. 31 SCHELEIERMACHER, F. Hermeneutik. Kimmerlé § 15 e 16, apud RICOEUR, HI, 2008, p. 56. 29 21 elaborar regras universalmente válidas de compreensão, lutando contra a não- compreensão. Com Wilhelm Dilthey (1833-1911) a hermenêutica foi direcionada como método de compreensão das ciências humanas também chamadas ciências do espírito, estando inclusa nestas, a história. Para Ricoeur, Dilthey é o intérprete do pacto entre a hermenêutica e a história. Buscava Dilthey uma forma de interpretação objetivamente válida das expressões de vida humana, ou seja, uma base metodológica para a interpretação de gestos, atos históricos, leis, obras de arte ou literatura e encontrou na hermenêutica o fundamento de todas as ciências humanas32 e naturais. Dilthey considerou que somente a experiência concreta, histórica e viva, pode impulsionar a interpretação das expressões de vida interior do homem. A questão da compreensão da vida humana decorre da compreensão da própria história de existência de cada ser humano.33 A questão fundamental colocada por Dilthey foi: como o conhecimento histórico é possível? Um primeiro passo tomado por Dilthey para demonstrar como esse conhecimento histórico do homem mediante a interpretação da vida pela própria vida é possível, foi separar as ciências humanas das ciências naturais apontando a grande oposição entre a explicação da natureza e a compreensão da história.34 Segundo Ricoeur, Dilthey retém da hermenêutica de Schleiermacher o lado psicológico, ao entender que “todas as modalidades do conhecimento do homem implicando uma relação histórica pressupõe uma capacidade primordial: a de se transpor na vida psíquica de outrem.35 Segundo Ricoeur, considerada a hermenêutica sob o ponto de vista de compreensão por transferência na vida psíquica de outrem e, uma vez que não é possível a apreensão imediata das expressões de outrem, a hermenêutica desempenha o 32 Dilthey chamou as ciências humanas de ciências do espírito. Nesse sentido vide CORETH, 1973, p. 20. PALMER, Op. cit., p. 105-106. As ciências humanas e sociais são denominadas por Dilthey “Geisteswissenschaften”. 34 PALMER, 2006, p. 112. No mesmo sentido RICOUER, HI, 2008, p. 31. 35 RICOEUR, HI, 2008, p. 31. 33 22 papel de reconstrução da escrita (ou qualquer outro procedimento de inscrição) mediante a interpretação dos signos, a fim de que haja a compreensão. Como afirmou Ricoeur, “Dilthey percebeu perfeitamente o âmago do problema: a vida só apreende a vida pela mediação das unidades de sentido que se elevam acima do fluxo histórico. Percebeu um modo de ultrapassagem da finitude sem sobrevôo, sem saber absoluto, que é propriamente, a interpretação.”36 Com Martin Heidgger (1889-1976) ocorreu nova revolução na hermenêutica, eis que ele questionou a relação sujeito-objeto sobre a qual teoria estava assentada a questão da compreensão. Para Heidegger, a compreensão da existência do homem é a compreensão do ser-aí (dasein) do homem que constrói sua identidade na sua história. O ser que compreende a si mesmo antes de qualquer compreensão. Segundo Ricoeur, em Heidegger “surge uma questão nova: ao invés de nos perguntarmos como sabemos, perguntaremos qual o modo de ser desse ser que só existe compreendendo”.37 Esta primeira reviravolta dá lugar a uma segunda reviravolta, qual seja, a questão da compreensão. Para Heidegger, a compreensão tem significado totalmente distinto do que foi pensado por Dilthey e Schleiermacher, pois para ele a compreensão se tornou ontológica, a compreensão é compreensão do ser e se dá através do mundo. O mundo e a compreensão são partes inseparáveis da constituição ontológica da existência do Dasein.38 Segundo Ricoeur, permanece não resolvida em Heidegger a questão de “como tornar consciência de uma questão crítica em geral, no contexto de uma hermenêutica fundamental?”39 De acordo com o pensamento de Heidegger, somente uma parte da tarefa é completada, percorrendo apenas um caminho: aquele que vai da epistemologia à ontologia, ficando afastado o regresso da ontologia à epistemologia.40 36 RICOUER, HI, 2008, p. 36. RICOUER, HI, 2008, p. 37. 38 PALMER, 2006, p. 137. 39 RICOEUR, HI, 2008, p. 44. 40 SANTOS, Fausto dos. Prospecções filosóficas: Platão e Aristóteles, Estética, Hermenêutica e Teologia. Chapecó: Argos, 2012, p. 163. 37 23 Com Hans-George Gadamer (1900-2002), a hermenêutica volta a dialogar com as ciências do espírito a partir da ontologia de Heidegger. Segundo Ricoeur, a filosofia de Gadamer sintetiza dois movimentos: de um lado das hermenêuticas regionais à hermenêutica geral e de outro lado, da epistemologia das ciências do espírito à ontologia.41 Em sua principal obra, Verdade e Método (1960), Gadamer reparte a experiência hermenêutica em três esferas: 1) A esfera estética: Na esfera estética a experiência de ser apreendido precede e torna possível o exercício crítico do juízo; 2) A esfera histórica: Na esfera histórica as tradições que precedem ao ser humano tornam possível exercitar um método histórico no nível das ciências humanas e sociais e 3) A esfera da Linguagem: A esfera da linguagem atravessa as duas anteriores e nela a co-pertença precede e torna possível o tratamento científico da linguagem como um instrumento disponível.42 Gadamer visou à descoberta do tipo de interpretação que pode ser encontrada nas ciências humanas, sem, no entanto, se preocupar em encontrar métodos de interpretação, pois para ele o método não é capaz de revelar a verdade. Entende que a dialética da verdade é a antítese do método, porque no método o tema a investigar é passível de controle e manipulação, enquanto na dialética as questões a serem respondidas serão levantadas pelo próprio tema e a resposta é dada na medida em que pertence ao tema e se situa nele. Assim, Gadamer encontrou na dialética a ferramenta capaz de possibilitar a produção da interpretação, isto é, ao serem respondidas questões suscitadas num texto, às respostas às perguntas são capazes de produzir a interpretação.43 Gadamer pensou a hermenêutica como experiência e iniciou sua análise a partir deste conceito. Seguindo o pensamento de Hegel44, segundo o qual, experiência “é um 41 RICOUER, HI, 2008, p. 46. RICOEUR, HI, 2008, p. 46 e 111. 43 PALMER, 2006, p. 169-170. 44 HEGEL, Geog Wilhelm Friederich (1770-1831). O mais importante filósofo do idealismo alemão póskantiano e um dos que mais influenciou o pensamento de sua época e o desenvolvimento posterior da 42 24 produto do encontro da consciência com o objeto”, Gadamer explicita que a experiência refere-se ao acúmulo de compreensão, não sendo uma capacidade pessoal de conhecimento, um dom, tampouco uma informação transmitida, mas é o conhecimento do modo como as coisas são pelo que já se vivenciou. Ele também chama a experiência de sabedoria e a relaciona com a história do homem e com o tempo, afirmando que a verdadeira experiência diz respeito à historicidade, pois é individual e pertence à natureza do homem e à sua história que ocorre no tempo, presente e passado, projetando o futuro. Em relação ao tempo, Gadamer destaca que pela experiência o homem pode projetar o futuro e conseguir alcançar seus objetivos e pela homem pode aprender que seus planos experiência passada o são incompletos. Nesta assertiva está a estrutura da historicidade. Diz Gadamer: “A verdadeira experiência é a experiência da nossa própria historicidade”.45 Sendo assim, toda a interpretação de uma obra do passado consiste num diálogo entre o passado e o presente. A interpretação pressupõe uma précompreensão determinada pela história que funde os horizontes do passado e do presente com a intervenção da linguagem. Ricoeur, comentando a obra de Gadamer, explicita que o conceito de fusão de horizontes indica a distância da comunicação entre dois conceitos e significa que não vivemos em horizontes fechados, nem em um único horizonte. Qualquer situação histórica contém o seu próprio horizonte, sendo inadequada a concepção de um horizonte isolado do presente. Por essa razão, um horizonte permanece em constante processo de formação, pondo à prova os nossos preconceitos no encontro com o passado, na tentativa de compreender partes de nossa tradição.46 Decorre daí a importância da tradição na hermenêutica de Gadamer, pois para ele, a experiência hermenêutica pressupõe o processo de transmissão da tradição, assim considerada uma essência unificadora do passado, presente e futuro e o objeto da filosofia... Pode-se considerar a filosofia de Hegel como o último grande sistema da tradição clássica (JAPIASSU, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de filosofia, op. cit., p. 127). 45 GADAMER, Hans-Georg, 2007 apud PALMER, 2006, p. 199. 46 RICOEUR, HI, 2008, p. 49 e 125. 25 pré-compreensão do ser humano. A compreensão ocorre a partir dos preconceitos, que advém da realidade histórica do ser. A relação do intérprete com a tradição decorre do próprio intérprete enquanto compreende e de modo contínuo transmite a tradição. Este é o círculo hermenêutico entendido por Gadamer que “descreve a compreensão como a interpretação do movimento de tradição e do movimento do intérprete.”47 Com Gadamer e sua obra Verdade e Método, a teoria hermenêutica deu um salto, passando a ser a compreensão entendida como o modo de ser do próprio homem, sendo a linguagem capaz de revelar as coisas mediante a participação humana nela. Para Gadamer esta é a verdadeira base da experiência hermenêutica. Ricoeur contesta o pensamento de Gadamer quanto à ocorrência de interpretação a partir de uma dialética entre perguntas e respostas. Para o filósofo, com a escrita não é possível haver interpretação mediante a utilização do diálogo, as perguntas e respostas ao texto, do texto e para o texto. Para interpretar a escrita o leitor necessita de outras técnicas para que os sinais escritos sejam capazes de decifrar a mensagem do texto.48 Ao suscitar o pensamento dos filósofos aqui apontados (Schleiemacher, Dilthey, Heidegger e Gadamer), Ricoeur indica o estado do problema hermenêutico, isto é, o pano de fundo por ele encontrado e sobre o qual ele viria a abordar o assunto, formando seu pensamento filosófico de modo que fosse significativo para o diálogo entre as disciplinas semiológicas e exegéticas, conforme se abordará a seguir. 1.2. Uma parte da Contribuição dada por Ricoeur à Hermenêutica Ricoeur aponta que todo esse levantamento por ele feito (o qual foi abordado no tópico anterior) levou-o a antinomia, qual seja a oposição entre distanciamento alienante e pertença, explicando que só é possível introduzir uma instância crítica em 47 48 GADAMER, 2007, p. 439. RICOEUR, HI, 2008, p. 25. 26 uma consciência de pertencimento, esta, definida pela recusa do distanciamento, mediante o reconhecimento do distanciamento como constitutivo da história, assim como o pertencimento. No entanto, Ricoeur entende que a esta problemática entre distanciamento alienante e pertença escapa a problemática dominante do texto, pela qual, segundo ele, produz-se o distanciamento. Para Ricoeur o texto é o paradigma do distanciamento na comunicação porque revela um caráter da historicidade da experiência humana, qual seja, que a experiência humana é uma comunicação na e pela distância.49 Para elaborar a noção de texto, Ricoeur propõe uma organização da problemática em torno de cinco temas, os quais segundo ele, em conjunto constituem os critérios da textualidade, quais sejam: a) a efetuação da linguagem como discurso; b) a efetuação do discurso como obra estruturada; c) a relação da fala com a escrita; d) a obra de discurso como projeção no mundo; e) o discurso e a obra de discurso como mediação da compreensão do si. No entanto, considerando o foco deste trabalho, isto é, a análise da sentença judicial sob a lente da filosofia Ricoeuriana, não se analisarão todos estes elementos, tendo sido destacados apenas dois elementos que ajudarão a compreender a linguagem no processo judicial, quais sejam: A efetuação da Linguagem como discurso e a relação da fala com a escrita. Antes de adentrar-se aos dois elementos da noção de texto que se pretende analisar, há que se destacar que ao abordar a importância da filosofia do discurso, Ricoeur pretendeu libertar a hermenêutica de seus preconceitos psicologizantes. Isto porque, Segundo Ricoeur, a teoria hermenêutica oriunda dos pensamentos de Schleiermacher e Dilthey teve por tendência a identificação da interpretação como compreensão, entendida a compreensão como reconhecer a intenção do autor do texto. Para Ricoeur tanto Schleiermacher como Dilthey atribuíram tarefa equivocada à interpretação diante da impossibilidade de “compreender um autor melhor do que ele a 49RICOEUR, HI, 2008, p. 52-53. 27 si mesmo compreendeu”50. Para Ricoeur, um texto escrito é uma forma de discurso e não somente uma forma de comunicação intersubjetiva. Uma obra escrita não fica adstrita ao horizonte de seu autor, mas se abre a um horizonte infinito. Na interpretação o “diálogo” com o autor do texto é rompido e o texto se torna universal a quem quer que saiba ler. 1.2.1. A Dialética do Evento e da Significação Segundo Ricoeur, o distanciamento presente no discurso pode ser explicado mediante a análise do que ele chama de dialética do evento e da significação. No que tange ao evento, Ricoeur ensina que o discurso é o evento da linguagem51, e este evento é composto de algumas características reunidas: Primeiro, o discurso é um evento da linguagem porque “algo acontece quando alguém fala”.52 Segundo, o discurso é um evento porque se realiza temporalmente e no presente. O discurso é ligado à pessoa que fala; alguém diz algo a outro e esta troca entre ouvinte e locutor constitui a linguagem como comunicação53. Terceiro, o evento corresponde ao ingresso do mundo na linguagem mediante o discurso. Este mundo corresponde à troca realizada entre os interlocutores, estabelecendo-se o diálogo. E quarto: o discurso se caracteriza pela predicação, uma vez que toda frase tem um predicado. Alguém diz alguma coisa sobre algo para alguém. O discurso é sempre a respeito de algo, referindose a um mundo que se pretende descrever54. No que tange à significação do discurso, Ricoeur destaca que é ela que deve ser compreendida e não o discurso, porque a significação permanece, mas o evento não. Isto porque, segundo Ricoeur, 50 na linguística do discurso o evento e a significação se RICOEUR, TI, 2009, p. 38-39. A afirmação de Ricoeur tem por base a distinção feita por F. Saussure entre langue e parole, que não é objeto deste estudo. RICOEUR, TI, 2009, p. 21. 52 RICOEUR, HI, 2008, p. 53. 53 RICOEUR, TI, 2009, p. 28. 54 RICOEUR, HI, 2008, p. 54. 51 28 articulam um sobre o outro e ao ingressar no processo de compreensão há a ultrapassagem do evento na significação, esta, típica do discurso. Sendo assim, segundo Ricoeur, o primeiro distanciamento é o distanciamento do dizer no dito. Para explicar esta questão, Ricoeur recorre às filosofias de Austin e Searle55, que defendem que o ato do discurso se constitui por atos subordinados, hierarquicamente distribuídos em três distintos níveis, quais sejam: Nível do ato locucionário ou locutório que diz respeito ao ato de dizer; nível do ato ilocucionário ou ilocutório que diz respeito ao que o indivíduo faz ao dizer e nível do ato perlocucionário ou perlocutório, que diz respeito ao que se faz pelo fato de falar, ao efeito produzido pela fala. Segundo Ricoeur, tais distinções feitas por Austin contribuem para a questão da ultrapassagem pelo evento na significação uma vez que: O ato locucionário, ou locutório é a exteriorização da ação do indivíduo. Ele “faz o que diz ao dizê-lo”56. Sendo assim, uma frase se apresenta como enunciação. Ricoeur exemplifica este ato com a questão da promessa, explicando que o ato da promessa implica em um empenhamento específico do falante que ao dizer “prometo” se empenha em fazer o que diz que irá fazer. Este ato é também chamado de ato preposicional porque a frase pode ser identificada como proposição. Já o ato ilocucionário (ou ilocutório) é o que diferencia uma ação, uma preposição, pois pelo ato ilocutório o indivíduo faz algo ao dizer. Ricoeur cita como exemplo dar uma ordem. Ao dar uma ordem, o indivíduo faz algo ao dizer (dar a ordem) e não “faz o que diz ao dizê-lo”. Tanto nos atos locutórios como nos atos ilocutórios a gramática demonstra a intenção do ato. No caso dos atos ilocutórios, não só a gramática auxilia na sua exteriorização, como também outros procedimentos que indicam a força contida no ato, tais como a comunicação corporal (gestos, entonação de voz, expressões fisionômicas, mímicas), além da reprodução dos verbos imperativos, sinais gráficos, interjeições, também utilizados no discurso escrito. Em ambos os casos, isto é, tanto nos atos locutórios como ilocutórios, o discurso 55 Ricoeur faz sua análise recorrendo à linguística é a teoria de Speech-act defendida pelos filósofos J. L. Austin e J. R. Searle, cujas filosofias não são objeto deste trabalho, salvo a abordagem que serviu de embasamento ao pensamento ricoeuriano. 56 RICOEUR, TI, 2009, p. 28. 29 age pelo reconhecimento pelo ouvinte da intenção do locutor. Então, tais atos são eventos porque têm a intenção de serem reconhecidos pelo que são: Enunciação, predicação, ordem, desejo, promessa, etc. Quanto aos atos perlocutórios, diz Ricoeur serem eles os menos comunicáveis do ato de fala porque são relativos ao discurso como estímulo, isto é, no caso dos atos perlocucionários ou perlocutórios, o discurso age não pelo reconhecimento pelo ouvinte da intenção do locutor, transmitido pelo locutor ao ouvinte, pelo sentir transmitidas pelo locutor. Segundo Ricoeur, perlocutório) são aptos a mas pelo estímulo pelo ouvinte das emoções este três atos (locutório, ilocutório e tornar possível a escrita mediante a exteriorização do intencional. A linguagem tira a experiência do privado e torna-a pública. Significar é não só o que o locutor faz, mas o que a frase faz.57 Segundo Ricoeur, além dos três atos supra elencados, outra contribuição para a dialética do evento e da significação é fornecida pelo ato interlocutório, ou seja, um ato que é dirigido a alguém: um fala e outro ouve, formando um diálogo, que é estrutura essencial ao discurso nos dizeres de Platão, este, citado por Ricoeur. Nesta estrutura do diálogo há um indivíduo que fala algo a alguém, sendo este “algo” uma mensagem e o “alguém” um ouvinte. Nesse sentido, o evento é a troca intersubjetiva entre locutor e ouvinte. No diálogo são ligados os eventos do locutor e do ouvinte, em que um fala ao outro o que quer dizer ajudando-o, mediante o uso dos dispositivos gramaticais adequados, a identificar e compreender a mensagem. Por ser a maioria das palavras polissêmicas, isto é, têm uma pluralidade de significados e interpretações possíveis, a análise do contexto do discurso é a ferramenta a ser utilizada para a compreensão da mensagem. Segundo Ricoeur, a função do diálogo é iniciar a função de filtragem do texto.58 Embora Ricoeur faça uma análise mais minuciosa do diálogo, interessa a este trabalho para análise posterior a situação do diálogo enquanto uma estrutura em que um indivíduo fala, outro ouve e ambos se compreendem, alcançando o significado da mensagem, ainda que suas ideias sejam divergentes. 57 58 RICOEUR, TI, 2009, p. 27-34 e RICOEUR. HI, 2008 p. 56-58. RICOEUR, TI, 2009, p. 28-30. 30 1.2.2 A Passagem da Fala à Escrita e o Mundo do Texto Ao transformar um discurso oral num discurso escrito, ocorrem algumas mudanças. A primeira mudança é relativa ao meio, ou seja, o discurso passa de oral para escrito. Aquilo que antes era verbalizado através da fala e assimilado mediante a audição, passa a ter uma inscrição, um registro. A passagem da fala para a escrita de fato muda o meio, mas, mais que isso, fixa o conteúdo da fala. Transformar um discurso oral num discurso escrito é, segundo Ricoeur, tirar algo que está no virtual para colocálo perante um público abrangente, isto é, o discurso escrito se torna acessível a todo aquele que sabe ler. O discurso oral se restringe ao modo do diálogo em que um fala (locutor) e o outro escuta (ouvinte). Ainda que o discurso oral seja dirigido a várias pessoas, ele fica restrito aquele público que o ouve. Além disso, o discurso oral também ficará restrito à significação que o orador quer dar ao discurso. Já quando se torna escrito, o discurso passa a ter alcance ilimitado. Sendo assim, a passagem da fala para a escrita, além de mudar o canal de comunicação, isto é, passar do canal oral para o canal escrito, liberta o texto da significação que o autor deu a ele. A escrita torna o texto autônomo em relação a intenção do autor. Isto quer dizer que o que o texto significa não mais coincide com aquilo que o autor quis dizer. 59 Segundo Ricoeur, a passagem da fala para a escrita fixa o discurso e não o evento da fala. Assim, quando o discurso oral se torna escrito, o “dito” da fala é fixado e as marcas materiais passam a transportar a mensagem. Saem as expressões corporais, os gestos, as interjeições orais e permanecem em cena a gramática, os sinais gráficos, que servirão para a inscrição e fixação do discurso. O discurso escrito fixa o dito da fala e não o ato de falar. Isto quer dizer que a escrita separa os elementos constitutivos do discurso visto no tópico anterior, quais sejam, evento e significação. O evento da fala, enquanto evento (algo acontece quando alguém fala) não passa pela inscrição, mas a significação deste evento, o "dito" esta sim passa pela inscrição. A escrita toma o lugar 59 RICOEUR, TI, 2009, p. 42 e RICOEUR, HI, 2008, p. 62. 31 da fala e possibilita a compreensão da significação do discurso mesmo sem passar ele pelo ato de fala. Para demonstrar que a fixação da escrita é mais que uma mera fixação material, Ricoeur enumera mudanças sociais e políticas relacionadas à invenção da escrita, dentre elas, o nascimento do domínio político exercido pelo Estado diante da possibilidade de transmissão de ordens a povos mais distantes sem distorções; o nascimento da economia mediante a fixação escrita das regras de cálculo; a história mediante a fixação dos arquivos; o nascimento da justiça e dos códigos jurídicos através da fixação do direito como padrão de decisões. Nessa esteira de raciocínio aponta, então, que a escrita não é somente a fixação de um discurso falado, mas é o pensamento humano trazido à escrita sem o estágio da fala. Uma vez que quando da passagem da fala para a escrita o texto torna-se autônomo em relação a intenção do autor, a significação do texto e a significação mental ou psicológica são destinos diferentes. O texto não mais tem o significado que o autor quis lhe dar, mas é autônomo na medida em que cada leitor tem acesso ao significado textual, isto é, o que o texto diz e não o que o autor intencionou dizer. Segundo Ricoeur, esta autonomia do texto faz com que o “mundo do texto” ultrapasse o mundo do autor. Ricoeur define “mundo do texto” como o conjunto das referências abertas pelos textos. Com base em Fregue, Ricoeur afirma que em toda a proposição é possível distinguir o sentido e a referência. E ele explica: o sentido é o objeto real que a proposição visa e a referência é a sua pretensão de atingir a realidade. Somente o discurso, diz ele, aplica-se à realidade e exprime o mundo, porque a língua não possui relação com a realidade. O sentido é imanente ao discurso, relacionando a função de identificação e a função predicativa da frase, enquanto a referência exprime o movimento em que a linguagem transcende a si mesma, relacionando a linguagem ao mundo. Então, referir é o que o locutor faz quando aplica suas palavras à realidade. Segundo Ricoeur, a dialética do sentido e referência diz alguma coisa sobre a relação entre a linguagem e a condição ontológica do ser-no-mundo e explica: A 32 linguagem não é um mundo, mas porque os indivíduos são afetados por situações no mundo e porque se compreendem diante de tais situações, a experiência é trazida à linguagem. Aponta Ricoeur que a noção de trazer a experiência à linguagem é a condição ontológica refletida na linguagem na medida em que há uma postulação da existência com base na identificação: o indivíduo pressupõe que algo deve existir para que algo possa se identificar. 60 Para Ricoeur, quando o discurso se torna texto, ou seja, ao passar da fala para a escrita, a referência é alterada. Isto porque, no discurso oral o locutor pode mostrar aos seus ouvintes ou interlocutores uma realidade comum a eles ou situá-los nas situações comuns a eles, na rede espaço-temporal a qual pertencem. Relatos com descrições da realidade podem oferecer o equivalente da referência ostensiva no modo de como se lá estivesse. Na passagem da fala para a escrita deixam de existir as condições concretas do ato de mostrar e o indivíduo passa a ter um mundo e não apenas uma situação. O texto liberta a sua referência dos limites da referência da situação e abre um conjunto de referências, a qual Ricoeur denomina “mundo”. Outra extensão do alcance de referência indicada por Ricoeur diz respeito à literatura de ficção e poética, ou à escrita enquanto canal da literatura. Segundo Ricoeur, quando não mais existem as condições concretas do ato de mostrar, se torna possível o fenômeno chamado “literatura”. Nas literaturas de ficção e poética, “a literatura parece glorificada em si mesma em detrimento da função referencial do discurso ordinário”.61 Se por um lado Ricoeur afirma que a literatura abole as condições do ato de mostrar a realidade, por outro Ricoeur aponta que não há discurso que seja totalmente fictício, sem ir ao encontro de uma realidade em um nível mais fundamental que o discurso descritivo. É a dimensão referencial da literatura que coloca o problema hermenêutico mais fundamental apontado por Ricoeur, qual seja: Se não se pode definir a hermenêutica pela procura das intenções psicológicas existentes por detrás do texto e 6060 61 RICOEUR. TI, p.36 RICOEUR. HI, p.65 33 se não se pretende reduzir a interpretação à quebra de estruturas, o que permanece para ser interpretado? A resposta que Ricoeur fornece a tal questão é: “interpretar é explicitar o tipo de ser-no-mundo manifestado diante do texto”. O que deve ser interpretado num texto é uma proposição de mundo, um mundo próprio ao texto, um mundo que não corresponde a uma linguagem cotidiana, mas que constitui um distanciamento entre o real e si mesmo, distanciamento este que a ficção introduz na apreensão do real, pois são abertas novas possibilidades de ser-no-mundo na realidade quotidiana. 1.3. A Hermenêutica Jurídica Tomando-se por base os preceitos da hermenêutica filosófica analisadas nos tópicos anteriores, a hermenêutica jurídica é uma hermenêutica especial desde os seus primórdios e lida com as técnicas da interpretação da lei. Carlos Maximiliano, ex-integrante da Corte Suprema e renomado jurista em nosso país, assim ensina sobre hermenêutica jurídica: A Hermenêutica Jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do direito. As Leis Positivas são formuladas em termos gerais; fixam regras, consolidam princípios estabelecem normas, em linguagem clara e precisa, porém ampla, sem descer a minúcias. É tarefa primordial do executor a pesquisa da relação entre o teto abstrato e o caso concreto, entre a norma jurídica e o fato social, isto é, aplicar Direito. Para o conseguir, se faz mister um trabalho preliminar: descobrir e fixar sentido verdadeiro da regra positiva; e, logo depois, o respectivo alcance, a sua extensão. Em resumo, o executor extrai da norma tudo o que na mesma se contém: é que se chama interpretar, isto é, determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito.62 Embora alguns juristas admitam que a hermenêutica não pode restringir-se aos estreitos termos da Lei e que deve ser endereçada ao direito que a lei exprime como forma de alcançar o objetivo da lei com clareza e segurança (já que a Lei tem limitações 62 MAXIMILIANO, 2005, p. 8. 34 para bem exprimir o direito)63, a literatura dedicada à hermenêutica jurídica geralmente trata dos métodos da interpretação da lei, sistematizando-os de modo a ensinar como se pode/deve interpretar a lei. Nos cursos de Direito também é assim que a hermenêutica é estudada: Como um compêndio de técnicas da interpretação da lei, se restringindo a esta seara. Diante desta realidade prática quanto ao ensino e aplicação da hermenêutica jurídica, impõe-se a apresentação neste trabalho dos critérios e métodos utilizados na hermenêutica jurídica, antes da discussão acerca de sua aplicação na sentença judicial, o que será objeto da conclusão desta dissertação. 64 Para o já citado jurista Carlos Maximiliano, hermenêutica e interpretação não se confundem: A hermenêutica perquire e ordena regras e a interpretação consiste na aplicação destas regras para o bom entendimento dos textos legais.65 Rubens Limonge França ao tratar do tema transcreve o entendimento de Pasquale Fiori segundo o qual, “a interpretação da lei é a operação que tem por fim fixar uma determinada relação jurídica, mediante a percepção clara e exata da norma estabelecida pelo legislador ”. Prossegue França explicitando que nem sempre houve a possibilidade de interpretar a lei, dizendo que ao tempo do Imperador Justiniano, quem ousasse comentar sua compilação incorreria em crime de falso testemunho e suas obras seriam sequestradas e destruídas. Tal determinação foi insculpida no Prefácio ao Digesto.66 Em tempos modernos, porém, é unânime a ideia de que as leis podem ser interpretadas a fim de que se adequem melhor aos casos concretos. Aliás, aplicar o 63 FRANÇA, R. Limonge. Hermenêutica Jurídica. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 4. Os teóricos da Hermenêutica Jurídica que serão utilizados para essa análise são aqueles cujos manuais são utilizados nos cursos de Graduação de Direito que prepara os profissionais em suas diversas áreas, inclusive os juízes. 65 FRANÇA, 1999, p. 3-4. 66 Justiniano (482-565) foi Imperador Romano do Oriente do ano 527 até sua morte em 565. Assim que assumiu o poder Justiniano reorganizou o Direito Romano em dimensões legislativa, doutrinária e didática, criando o “corpus juris civilis”. Este livro era composto por quatro partes: O Código de Justiniano que continha toda a legislação romana revisada desde os primórdios, o Digesto ou Pandectas, que era composto pela Jurisprudência romana e os Institutos, que eram “novelas” ou “autênticas” que continham leis formuladas por Justiniano. Esta obra representou uma revolução jurídica e serviu de base ao direito civil moderno (MARKY, Thomas. Curso Elementar de Direito Romano. 6ª ed. São Paulo, 1992). 64 35 direito significa enquadrar um caso concreto a uma norma jurídica adequada.67 Quanto melhor for esmiuçada e compreendida a lei, melhor será sua aplicação. E se as leis podem ser interpretadas, parece lógica a existência de um intérprete. Nesse sentido há que se levar em conta que, quando da instauração de um processo judicial, a aplicação do direito está relacionada ao aparecimento de uma terceira pessoa imbuída da missão de solucionar um conflito entre pessoas e com o surgimento do Estado moderno, o juiz se transforma num órgão desse Estado. Então, é o juiz o intérprete da lei para aplicá-la ao caso concreto. Maximiliano assim explica a tarefa da interpretação: Incumbe ao intérprete aquela difícil tarefa. Procede à análise e também à reconstrução ou síntese. Examina o texto em si, o seu sentido, o significado de cada vocábulo. Faz depois obra de conjunto; compara-o com outros dispositivos da mesma lei, e com os de leis diversas, do país ou de fora. Inquire qual o fim da inclusão da regra no texto, e examina este tendo em vista o objetivo da lei toda e do Direito em geral. Determina por este processo o alcance da norma jurídica, e, assim, realiza, de modo completo, a obra moderna do hermeneuta. Interpretar uma expressão de Direito não é simplesmente tornar claro o respectivo dizer, abstratamente falando; é, sobretudo, revelar o sentido apropriado para a vida real, e conducente a uma decisão reta.68 Reconhecendo a difícil tarefa de interpretar, haja vista as atividades inseridas na interpretação e, nos dizeres de Maximiliano representadas pelos verbos analisar, comparar, examinar, revelar o sentido, há na hermenêutica jurídica classificações de tipos de interpretação. A seguir se exporá a classificação clássica, a teor do ensinamento de Rubens Limonge França. Quanto ao agente de interpretação, ou seja, quem vai interpretar a Lei, classificase a interpretação em Pública e Privada. Pública é a interpretação feita por órgãos públicos: Executivo, Legislativo ou Judiciário. Privada é aquela feita por estudiosos e teóricos do direito, chamados Doutrinadores, que exaram pareceres esmiuçados sobre as leis, razão pela qual esta interpretação também é chamada Doutrinária. 67 68 MAXIMILIANO, 2005, p. 5. MAXIMILIANO, 2005, p. 12. 36 A interpretação pública é subdividida em: Interpretação autêntica, isto é, aquela oriunda de quem elaborou a lei e que é levada a efeito mediante a confecção de dispositivos corretivos/interpretativos que valem como lei nova. A título de exemplo mencionamos que uma lei elaborada pela Câmara terá deste mesmo órgão o pronunciamento exegético; Interpretação judicial, que é a interpretação realizada pelo poder judiciário. Tal interpretação está ligada com as questões da jurisprudência, isto é, o entendimento reiterado dos Tribunais sobre a interpretação da lei, tema este que será tratado adiante; Interpretação Administrativa, que por sua vez se subdivide em Regulamentar, isto é, aquela que tem por objeto normas gerais em relação à certas normas ordinárias e Casuística, que é a interpretação que esclarece dúvidas que surgem quando da aplicação das normas gerais ao caso concreto; por fim, a interpretação pública se subdivide em interpretação usual, isto é, a interpretação que advém do direito consuetudinário, que surge dos costumes de uma sociedade, normas não escritas.69 A interpretação pode também ser classificada quanto à natureza. É assim subdividida em Gramatical, Lógica, Histórica e Sistemática.70 A interpretação gramatical tem por objeto o exame do significado de cada palavra que forma o fraseado da norma. Esta modalidade de interpretação é a mais antiga forma de interpretar e num determinado momento foi a única aceita pelo direito romano. Em tempos modernos, esta modalidade de interpretação é considerada insuficiente para que o intérprete obtenha um bom resultado de sua interpretação. Para tanto, ele necessita articular outros elementos da intepretação juntamente com a interpretação gramatical. A intepretação lógica investiga o sentido das locuções e orações do texto legal, fazendo conexões entre elas. Historicamente se enquadra no momento da evolução da ciência jurídica, isto é, o momento em que se adota na doutrina jurídica o conceito do jurisconsulto do Império Romano Celso segundo o qual “conhecer as leis não é 69 FRANÇA, 1999, p. 5-8. Carlos Maximiliano não concorda com a divisão da interpretação em gramatical e lógica, fundamentando seu pensamento no argumento de que atualmente a interpretação é uma só e não pode ser fracionada. Deve ser exercitada por vários processos no parecer de uns e aproveitar-se de elementos, dentre eles o gramatical e o lógico (MAXIMILIANO, 2005, p. 87). 70 37 compreender suas palavras, mas o alcance da sua força.” A interpretação histórica “indaga das condições de meio e momento da elaboração da norma legal, bem assim das causas pretéritas da solução dada pelo legislador”, isto é, procuram a razão de ser da lei. Por fim, a interpretação Sistemática busca resolver eventuais conflitos entre as normas, atribuindo melhor significação aos princípios, normas e valores jurídicos, buscando com isso, a solução de antinomias71 existentes no sistema jurídico.72 No que tange à sua extensão, a interpretação é classificada quanto à sua extensão em Declarativa, Extensiva e Restritiva. A primeira diz respeito aos casos em que o enunciado coincide com a sua amplitude, o que quer dizer que o sentido pretendido pelo legislador foi alcançado e está nítido, dispensando-se outras técnicas para que o sentido seja revelado. Na interpretação extensiva a expressão literal da lei indica aparentemente extensão menor do que o sentido pretendido pelo legislador. Nesta modalidade de classificação também se enquadra a situação de adaptação pelo intérprete da intenção do legislador às novas exigências da realidade social, ou seja, o intérprete estende a norma através da interpretação às novas realidades sociais. No que tange à interpretação restritiva, e ao contrário da extensiva, é aquela em que o intérprete conclui que o legislador usou expressões que dão à lei amplitude maior do que o sentido que ele almejava.73 Há ainda a subdivisão da interpretação em Interpretação teleológica (finalidade), não adotada por todos os doutrinadores que tratam da matéria.74 Diz-se teleológica a interpretação que usa o entendimento sobre a finalidade da lei. A interpretação teleológica consiste em revelar o fim da norma, o valor ou bem jurídico tutelado pelo 71 Antinomias Jurídicas são “incompatibilidades possíveis ou instauradas entre normas, valores ou princípios jurídicos pertencentes, validamente, ao mesmo sistema jurídico tendo de ser vencidas para a apresentação da unidade interna e coerência do sistema e para que se alcance a efetividade de sua teleologia constitucional.” (FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito - Técnica, Decisão, Dominação. São Paulo: Atlas, 1988). 72 FRANÇA, 1999, p. 8-9. 73 FRANÇA, 1999, p. 10-11. 74 FRANÇA não trata desta classificação. Maximiliano a apresenta como o método mais eficaz de interpretação, embora faça a ressalva que não se deve depositar confiança demasiada neste método, haja vista não haver processo infalível, nem absolutamente apto a substituir os outros (MAXIMILIANO, 2005, p. 128). 38 ordenamento de determinado preceito. A título de exemplo, cita-se novamente o artigo 5º da antiga nominada Lei de Introdução ao Código Civil e atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que contem uma exigência teleológica: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. A interpretação teleológica e axiológica ativa a participação do interprete na configuração do sentido. De acordo com França, a hermenêutica é conjunto orgânico das regras de interpretação, contando com três conjuntos de regras: Regras Legais, Regras Científicas e as Regras da Jurisprudência. Esta definição se aproxima daquela dada por Pasquale Fiori, uma vez que, tais regras aplicadas podem fixar uma determinada relação jurídica mediante o aclaramento da norma criada pelo legislador. Por outro lado, esta definição também pode se tornar distante da definição de Pasquale Fiori na medida em que ao se pensar na hermenêutica apenas como um conjunto de regras de interpretação préfixadas e enquadradas na modalidade legal, científica e de jurisprudência, pode-se estar limitando a interpretação e prejudicando a fixação de uma determinada relação jurídica. As regras legais, como o próprio nome deixa claro, são as regras impostas pela lei: Há lei que determina como interpretar e aplicar a lei. Nesse sentido menciona-se a Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) atualmente denominada Lei de Introdução ao Direito Brasileiro prescreve regras para a interpretação das leis do país, seu modo de vigência, dentre outros comandos gerais para a utilização da lei no direito brasileiro. Dentre estas regras, destaca-se por importante para este trabalho os artigos quarto e quinto que tratam da forma como o juiz deve aplicar a lei, devendo decidir os casos concretos de forma a atender aos fins sociais e às exigências do bem comum e, em caso de ser a lei omissa, decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 75 75 FRANÇA, 1999, p. 21-22. tratados no capítulo 3. Os conceitos de analogia, costumes e princípios gerais do direito serão 39 Quanto às regras científicas, são elas aquelas regras consolidadas por juristas, estudiosos do direito, que analisam a lei e baseados em seus conceitos técnicos, emitem parecer sobre a melhor interpretação para os artigos da lei. França exemplifica estas regras científicas citando um autor do passado, o Imperador Justiniano que criou o “Corpus Juris Civillis”, uma compilação composta por leis, doutrina e jurisprudência e que serviu de base ao direito civil moderno.76 As Regras da Jurisprudência são muito importantes para este estudo. Isto porque, a Jurisprudência, por ser o entendimento reiterado dos Tribunais sobre a aplicação da Lei ao caso concreto de modo a embasar novas decisões judiciais e, em alguns caso, uniformizá-las (como é o caso da súmula vinculante), é uma das formas interpretativas mais usadas em nosso direito e tem direta ligação com a questão da argumentação. Há um brocardo jurídico77 que diz: “Onde houver a mesma razão, aplica-se o mesmo sentido” (ubi idem ratio, ibi idem jus).78 É comum que, ao se estudar um caso concreto, o jurista consulte como têm sido as decisões dos tribunais sobre casos similares. Estas decisões podem integrar o arrazoado a ser remetido ao juiz da causa, com o objetivo de convencê-lo sobre a melhor forma de decisão acerca daquele litígio, uma vez que em litígio semelhante, já houve uma decisão que corrobora a fundamentação do peticionário. Estas decisões também podem ajudar a fundamentar a sentença a ser proferida pelo juiz. Em outras palavras, ao pedir a intervenção do Estado para solucionar um litígio, pode-se apresentar ao juiz decisões semelhantes que justificam a interpretação da norma e do direito de acordo com a pretensão do peticionário, assim como pode o juiz, ao decidir a causa, apresentar decisões semelhantes a dele já proferidas em casos similares. 76 FRANÇA, 1999, p. 25-28. Um brocardo (em latim: brocardus) é um princípio particularmente escrito em latim e que expressa concisamente um conceito. 78 Raimundo Bezerra Falcão ao comentar este brocardo jurídico destaca que só será válido se observada, também, a correta interpretação dos fatos, a fim de que se tenha um sentido ensejador de um certo grau de confiança na afirmação de que eles sejam idênticos. Prossegue dizendo que, em se tratando de vida humana, é vã a esperança de encontrarem-se fatos semelhantes (FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 262). 77 40 Quando se acumulam decisões iguais, formando praticamente um consenso sobre o modo de decidir uma questão sobre determinado assunto, o Tribunal pode criar um enunciado com o entendimento, denominado Súmula. A súmula é uma preposição clara e direta que sintetiza a decisão para todos os casos parecidos decididos da mesma maneira. No entanto, tais interpretações já exaradas pelos tribunais, quer sejam jurisprudência, quer sejam súmulas não vinculam o juiz, que tem poder de livre convencimento sobre a causa, conforme se verá no capítulo 3 com mais vagar. O Juiz, no decorrer do processo judicial interpreta todos os argumentos lançados para, ao final, prolatar sua decisão mediante a aplicação da lei, decidindo em favor de um, de outro, ou de ambos os litigantes, sem ser obrigado a tomar a mesma posição já tomada pelos Tribunais. A exceção a esta regra de não vinculação está na chamada Súmula Vinculante (prevista na Emenda Constitucional Nº 45/2004 que prevê a possibilidade de uma súmula editada pelo Supremo Tribunal Federal mediante o preenchimento de alguns requisitos79) que tem eficácia vinculante sobre decisões futuras em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, com o objetivo de que uma mesma norma não seja interpretada de formas distintas para situações idênticas, criando conflitos e distorções. A súmula vinculante também tem por objeto desafogar o Supremo Tribunal Federal que acumula casos idênticos e cujo desfecho já se pode conhecer.80 Por todas as regras previstas pelos doutrinadores para a aplicação da hermenêutica, 79 reafirma-se que parece que a hermenêutica jurídica está A Emenda Constitucional Nº 45/2004 passou a prever dois requisitos para aprovação, revisão ou cancelamento da súmula: (a) quórum mínimo de dois terços dos membros do tribunal; (b) somente matéria constitucional, após reiteradas decisões, poderá ser objeto da súmula vinculante, ficando afastadas questões de outra natureza. Ainda, de acordo com o §1º do art. 103-A, da CF, “a Súmula terá por objetivo a validade, interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica”. 80 Não há consenso entre os juristas sobre a Súmula vinculante. Embora em vigor, há pareceres desfavoráveis no sentido de ser a súmula vinculante uma forma de violação ao princípio da livre convicção e independência do juiz (Notas 27 e 28: CAPEZ, Fernando. Súmula Vinculante. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/7710/sumula-vinculante, elaborado em 11/2005. Acesso em: 21 fev. 2012). 41 equivocadamente engessada na interpretação de leis. Isto talvez se deva ao fato de se estar num sistema dogmático em que a lei é feita para ser cumprida e não para ser contestada em sua existência, se for formalmente válida. Importante é destacar que o filósofo do direito Miguel Reale, há muito vêm chamando a atenção para o fato de não poderem os profissionais do direito receberem o sistema jurídico apenas como um sistema de proposições lógicas, mas entenderem este sistema como um processo de integração dialética, que vai do fato à norma e da norma ao fato. E que “o direito, visto na totalidade de seu processo, é uma sucessão de culminantes momentos normativos, nos quais os fatos e os valores se integram dinamicamente”, devendo ser a unidade concreta e a dinâmica objeto da hermenêutica jurídica.81 Embora a Lei seja a vontade transformada em palavras82, na aplicação do direito há muito mais o que interpretar e não somente a letra fria da lei. Ora, quando da prolação da sentença por um juiz ele há que estar atento aos sentidos e às diversas interpretações que lhe são postas à frente: Da Lei, De fatos, De vidas. Tais interpretações (inclusive a da Lei) não se esgotam nas classificações (pública, privada, gramatical, lógica, histórica, etc.) entabuladas pela hermenêutica jurídica clássica e indicadas neste tópico. Ao que parece, a hermenêutica jurídica trata a interpretação de modo mecânico, ditando regras e classificações talvez sem levar em conta as diferenças dos indivíduos principalmente quando suscita o uso da jurisprudência, tendo por base o brocardo: “Onde houver a mesma razão, aplica-se o mesmo sentido”, isto é, em casos iguais, decide-se de forma igual; em casos iguais, os fatos, a lei, as provas são igualmente interpretados. Isto realmente não parece razoável. Embora existam autores que digam que uma das funções da jurisprudência é humanizar a lei83, talvez nada haja de humano quando se usa a mesma medida para julgar casos parecidos, sem, no entanto, 81 REALE, 2002, p. 580-581. MAXIMILIANO, 2005, p. 23. 83 FRANÇA, 1999, p. 167. 82 42 levar em conta que naquele problema levado ao judiciário há humanos envolvidos, logo, as relações não são correspondentes. O próprio fundamento do Supremo Tribunal Federal ao criar a Súmula vinculante, dizendo ter esta medida o objetivo de que uma mesma norma não seja interpretada de formas distintas para situações idênticas, criando conflitos e distorções, não torna nada humana a interpretação da norma. Ora, o que é idêntico? Ousa-se afirmar que nada é idêntico. O processo judicial lida com pessoas: As pessoas não são idênticas. O processo judicial lida com fatos: Os fatos não são idênticos. O processo judicial lida com argumentos: Os argumentos nem sempre são idênticos (salvo quando suscitada a jurisprudência a título argumentativo). As nuances de um caso concreto, os detalhes, nunca são iguais ao outro caso concreto. Então, não há como considerar uma humanização da lei que não leva em conta as diferenças humanas e as peculiaridades de cada caso, aí incluídas as peculiaridades de cada indivíduo. Os casos que são levados ao judiciário para a intervenção de um terceiro, são casos particulares, de indivíduos carentes de uma decisão justa e que buscam no Poder Estatal a solução de seu conflito particular mediante a melhor e mais humana aplicação da lei ao caso concreto. Antes da prolação da sentença judicial a lei atua como orientação de conduta. Já a sentença judicial obriga de modo individual o cumprimento da lei. É difícil achar respostas à problemática da humanização da aplicação da lei quando se está diante do positivismo jurídico. No entanto, se os julgamentos dos humanos são feitos por outros humanos, uma boa alternativa de melhorar a interpretação e aplicação do direito ao caso concreto talvez fosse um melhor exame, pelo juiz, de si mesmo, colocando-se no lugar do outro e, ao mesmo tempo mantendo a distância necessária a um julgamento justo. Não obstante, a Hermenêutica Jurídica há que encontrar um meio de interpretar todo o contexto (e não somente a lei), de modo a aplicar o direito com o fito de uma melhor convivência, para o bem estar comum e também o bem estar individual. Segundo Maximiliano “A boa Hermenêutica depende mais, muito mais, de critério jurídico do que da observância de regras fixas; a precisão matemática ou silogística foi 43 um sonho da dogmática tradicional: não é raro dois grandes profissionais compreenderem diferentemente o mesmo trecho.”84 . O conjunto de regras de que trata a hermenêutica jurídica, conforme exposto neste tópico, não atende de modo suficiente às demandas jurídicas porque limita a interpretação e não leva em conta o contexto e as diferenças naturais de cada caso. Ademais, cada intérprete coloca na interpretação a sua experiência, a sua visão de mundo, a sua vivência, razão pela qual, surgem interpretações divergentes, pois as experiências dos intérpretes, assim como os sujeitos da ação judicial, não são idênticas. 1.4. O Conceito de Justiça em Ricoeur 1.4.1. Ética e Moral Ricoeur se preocupou em resgatar a ética como sabedoria prática, propondo uma diferença conceitua entre a ética e a moral. Reservou o termo “ética” para indicar a intenção de uma vida boa e o termo “moral” para indicar o lado obrigatório das ações (o dever) marcadas pelas normas que as dirigem. Para refletir sobre ética e moral, Ricoeur traz à lume os filósofos Aristóteles e Kant. O primeiro no que diz respeito à perspectiva teleológica da ética e o segundo no que tange à definição de moral como norma a seguir, um dever, isto é, uma perspectiva deontológica. Então, a ética está diretamente relacionada ao que se estima como bom, de acordo com a tradição aristotélica e a moral relacionada ao obrigatório, conforme a tradição kantiana. 85 Ricoeur pauta a intenção ética em três termos igualmente importantes, ou seja, sem qualquer hierarquia entre eles, quais sejam: “intenção de vida boa”, “com e para os outros”, e, “instituições justas”. Segundo Ricoeur, a expressão “vida boa”, de origem aristotélica designa uma aspiração de viver bem, um cuidado: de si, do outro e da instituição. Para explicar este 84 85 MAXIMILIANO, 2005, p. 128. RICOEUR, LI, 1995, p. 161. 44 “cuidado” e sua importância para a intenção ética, Ricoeur associa o termo “si” à “estima” no plano ético fundamental e ao “respeito” no plano moral. Para Ricoeur, duas coisas são estimáveis em si mesmas: a primeira seria a capacidade de agir intencionalmente e a segunda a capacidade de iniciativa. Então, parece que por esse ponto de vista ricoeuriano, tanto a ética quanto à moral dizem respeito a uma ação intencional do sujeito que pode mudar o curso da sua história no mundo, tomando suas iniciativas, reconhecendo suas ações e se responsabilizando pelos seus atos. Segundo Ricoeur a estima de si é o momento reflexivo das ações. Cada indivíduo apreciando as suas ações, aprecia a si mesmo como autor das ações, assumindo-as e responsabilizando-se por elas, não simplesmente atribuindo às ações forças da natureza ou sentindo-se meros instrumentos para agir. O segundo componente da intenção ética proposta por Ricoeur é viver bem “com e para os outros”. A este componente Ricoeur designa o nome de “solicitude”. Mas o que seria a solicitude? Para Ricoeur a solicitude é a troca entre dar e receber.86 A solicitude acrescenta o dado de que cada pessoa é única e insubstituível para a outra. Cada um é insubstituível não a si mesmo, mas ao outro. Segundo Ricoeur, “é na experiência do caráter irreparável da perda do outro amado que aprendemos, por transferência do outrem para nós mesmos, o caráter insubstituível de nossa própria vida”.87 Para Ricoeur, a solicitude não anda separada da estima de si. Uma não pode ser pensada sem a outra. A solicitude explicita a dimensão de diálogo explícita na estima de si88. Ora, o ser humano não vive isoladamente, razão pela qual, na constituição do sujeito está presente esta troca na convivência com o outro sujeito e com o mundo. É a partir da relação com o outro que cada indivíduo se constitui como sujeito. O outro é, então, constitutivo de cada indivíduo. É a partir do outro que constituo meu próprio ser. Os indivíduos não se constituem de modo separado ou isoladamente. consciências individuais se constituem a partir do outro e com o outro. 86 RICOEUR, SMCO, 1990, p. 221. RICOEUR, SMCO, 1990, p. 226. 88 RICOEUR, LI, 1995, p. 163. 87 As 45 E quem é o outro? Para Ricoeur, o outro é o ser que pode dizer eu como eu e, como eu, pode ser considerado um agente responsável pelos seus atos. Não fosse assim, diz ele, as regras de reciprocidade não seriam possíveis, uma vez que na reciprocidade as pessoas são consideradas insubstituíveis, umas às outras. Um estima o outro tanto quanto estima a si.89 Há que se pensar, no entanto, em como ter em vista o outro, como manter uma reciprocidade, como se manter uma relação de equilíbrio, se as pessoas por natureza são diferentes, ou seja, há na vivência dos indivíduos uma desigualdade entre eles, quer pelo modo de ser de cada um, quer pela posição em que se encontram. Ricoeur não exclui a questão das desigualdades existentes na reciprocidade. Para ele, quando a desigualdade advém do fato de estarem os indivíduos em posições diferentes, como, por exemplo, o discípulo e o mestre, é através do reconhecimento pelo discípulo da superioridade de seu mestre que se restabelece a reciprocidade. Quando a desigualdade advém da fraqueza do outro, do seu sofrimento, cabe à compaixão restabelecer a reciprocidade, pois o indivíduo que exercita a compaixão, na medida em que recebe gratidão e reconhecimento, recebe mais do que dá. “A solicitude restabelece a igualdade lá onde ela não é dada, como na amizade entre iguais”.90 Então, de acordo com Ricoeur, estabelecer relação de reciprocidade com o próximo é restabelecer a igualdade. Por isso a noção do outro, segundo Ricoeur, envolve o sentido de justiça. O viver bem de um indivíduo para com o outro implica na vivência justa do todo. Desse modo, “o viverbem não se limita às relações interpessoais, mas estende-se à vida das instituições”.91 O terceiro termo da intenção ética de Ricoeur diz respeito às instituições justas: “Vida boa, com e para o outro em instituições justas”. Ricoeur define por instituição “todas as estruturas do viver em comum de uma comunidade histórica, irredutíveis às relações interpessoais e, contudo, ligadas a elas 89 Idem. Idem. 91 RICOEUR, LI, 1995, p. 164. 90 46 num sentido específico, que a noção de distribuição – encontrada na expressão justiça distributiva – permite esclarecer.”92 Segundo Ricoeur, as sociedades modernas ampliam incessantemente o campo de aplicação da partilha igual ou da chamada igualdade aritmética. No entanto, diz ele, que se levando em conta toda a variedade de bens a partilhar, nenhuma sociedade funciona sob o modo de partilha igualitária. Somente a chamada igualdade proporcional, igualdade que não é entre coisas, mas entre relações das coisas com as pessoas, define a justiça que os medievais chamavam “distributiva”.93 Para Ricoeur, é possível compreender uma instituição como um sistema de partilha. E esta ideia de distribuição, repartição, partilha, a ser feita por uma instituição tira do foco a repartição entre amigos e estende a intenção ética a todos. A justiça consiste, assim, em dar a cada um o que é seu, sendo este “cada um” o partidário no sistema de distribuição. Por conta desse sistema distributivo e das desigualdades que permeiam a sociedade, é que Ricoeur aponta ser inevitável que a ideia de justiça se componha também pela moral e não somente pela ética, sendo necessário submeter a intenção ética à prova da norma. Sendo assim, Ricoeur faz um paradoxo entre ética e moral, num sistema de correspondência que deságua na sabedoria prática. A sabedoria prática consiste na invenção pelo sujeito autônomo de um comportamento apropriado à singularidade de cada caso; porém, a autonomia terá de se pautar pela regra da justiça e pela regra da reciprocidade, o que impede desde já que ela seja a tomada de saída como autonomia auto-suficiente.94 De acordo com Ricoeur, esta sabedoria prática torna-se possível na medida em que se institui um debate público onde são feitas as avaliações que dão sentido às partilhas da sociedade. 92 RICOEUR, LI, 1995, p. 164. RICOEUR, LI, 1995, p. 94. 94ROSSATO, Noeli Dutra. Viver Bem, ética e Justiça. Texto encaminhado para Revista Mente, Cérebro & Filosofia, vol. 11 – Presença do outro e interpretação: Ricoeur, Gadamer - Julho 2008. Disponível em: http://w3.ufsm.br Acesso em: 10 dez. 2012. 93 47 1.4.2. O Conceito de Justiça Segundo Ricoeur, o conceito de justiça constitui uma ideia reguladora que preside uma prática social: a da justiça enquanto mecanismo institucional do Estado. Nesta prática social são postos em jogo conflitos típicos que ocasionam a necessidade da intervenção do Estado para decidir entre os interesses ou direitos opostos, o que Ricoeur denomina como ocasiões da Justiça. E, para tanto, tem-se um aparelho judiciário composto de corpo de leis, de Tribunais, de Juízes, aparato este com poder de impor uma decisão de modo coercitivo, que Ricoeur chama de canais ou vias da justiça. Uma das partes integrantes do modo como se opera a solução dos conflitos é atividade comunicativa, uma vez que se utiliza da linguagem de modo dialógico para o confronto dos argumentos pelas partes litigantes perante o juiz ou Tribunal, que Ricoeur denomina argumentos da justiça. Tudo isso será visto de modo mais detalhado no decorrer deste texto. Ao apontar o sentido da justiça, Ricoeur diz ser preciso o reconhecimento de que o ser humano é mais sensível à injustiça do que à justiça. Segundo Ricoeur esta sensibilidade à injustiça decorre do fato de ser ela - a injustiça - predominante na sociedade, enquanto a justiça escassa, tendo o homem uma visão maior daquilo que falta às relações humanas do que uma visão de como organizá-las95. Na sociedade fala-se muito mais das injustiças cometidas do que das justiças cometidas. Aliás, não raras vezes se fala que não se fez justiça quando alguém não foi severamente penalizado sobre algo que praticou, ainda que a lei não designe para aquela ação pena tão severa. É assim que se vê nos casos de ocorrência de crimes: Os indivíduos que integram a sociedade querem ver o criminoso severamente penalizado, ainda que a lei preveja para o respectivo crime uma pena mais branda. E quando se aplica a lei, aquela mais branda em que a situação se enquadra, a sociedade clama: É injusto! 95 RICOEUR, LI, 1995, p. 90. 48 No cotidiano e nas relações interindividuais, com certa frequência vê-se alguém a dar uma explicação dizendo que age daquela forma porque não seria justo agir de outra forma. Raramente se fala “é justo que se faça assim”, mas frequentemente se diz: “Não é justo se fazer assim”, ou seja, é injusto! A sensação de que algo é injusto parece emergir de situações conflituosas, isto é, nas situações em que não se chega a um consenso ou a um resultado equilibrado para as partes envolvidas. Se há conflito insolúvel é provável que uma das partes ou ambas as partes tenham a sensação de injustiça. Para Ricoeur o indivíduo penetra no campo do que é justo e do que é injusto sob o modo de queixa, mesmo quando procura a justiça institucionalizada. O indivíduo faz a queixa por aquilo que entende ter sido a ele injusto. Para pedir que se faça justiça, parece ser necessário primeiro que se narre o que é injusto. Parte-se da queixa da injustiça, para se chegar ao pedido de justiça. Saber discernir o que é justo e o que é injusto parece não ser uma tarefa fácil. Esta dificuldade não é relativa à modernidade, pois se perpetua desde os tempos antigos. Segundo Ricoeur a ideia de injustiça movimenta o pensamento dos filósofos desde os primórdios, a exemplo do que ocorreu nos diálogos de Platão e na ética aristotélica, nos quais houve uma preocupação em nomear o injusto e o justo.96 Buscando a definição do vocábulo “injusto” nos dicionários de língua portuguesa, vê-se que a maioria deles define injusto como o que é contrário à justiça, o que leva a indagar, o que seria a justiça e o que poderia ser a ela contrária? Inicialmente, há que se destacar que ao se falar de justiça, o que vem à mente institucionalizada, isto é, a instituição que é a justiça soluciona conflitos e reparte papeis buscando com isso dar a cada um o que é seu. A justiça institucionalizada é necessária porque não se admite numa sociedade que se faça “justiça” com as próprias mãos, mas que ela seja feita através da “justiça”. A primeira justiça aqui mencionada está ligada ao predicado justo. A segunda, à instituição. E é por isso, por conta da institucionalização da justiça, que se ouve dizer que alguém que se sentiu injustiçado vai demandar “na 96 RICOEUR, LI, 1995, p. 90. 49 justiça” por seu direito. “Ir à justiça” neste contexto significa dizer valer-se do Poder Judiciário para, por meio da decisão do Juiz, ver reconhecido o seu direito como forma de se fazer justiça. Então, isto parece apontar que também para procurar o Poder Judiciário enquanto meio para fazer justiça o indivíduo primeiramente se sente injustiçado. Segundo Ricoeur, a constituição da ideia de justiça decorre de concepções rivais de justiça. Para ele o predicado “justo” parece atraído por um lado para o “bom” e por outro lado para o “legal” e esta dialética bom/legal seria inerente ao papel de ideia reguladora atribuído à ideia de justiça como prática social. 97 Legal e Bom aparecem à primeira vista como orientações opostas: uma, a do bom advém de uma concepção teleológica, isto é, concepção consequencialista em que as ações são boas em função de um fim. A outra, a do legal, advém de uma concepção deontológica, segundo a qual as ações decorrem de um dever, da obrigação. Esta diferença existente entre o legal e o bom leva a pensar se para existir um predicado não pode existir outro ou se ambos andam juntos. Tudo que é legal é bom? Tudo que é bom é legal? Pode algo ser legal e não ser bom? Pode algo ser bom e não ser legal? Parece que a resposta a estes questionamentos seria no sentido que nem tudo que é bom é legal e nem tudo que é legal é bom, havendo ações que podem ser ao mesmo tempo legais e boas. Emerge deste raciocínio a reflexão acerca do que é o “bom” e do que é o “legal.” Falar sobre o legal remete ao conjunto de normas, de regras, que regulam a vida da sociedade. Não se consegue imaginar uma comunidade sem regras, por menor que ela seja. Há regras na família, no local de moradia quer seja condomínio ou rua, religião, nas associações, na no partido político, na Cidade, no Estado, no País. Provavelmente, ao se pensar no estabelecimento de regras, o fim a ser alcançado é a convivência dos indivíduos de modo organizado e pacífico. A criação de regras padroniza os comportamentos, não ficando a critério de cada indivíduo a autolegislação, mas na mão de um poder soberano. E, levando-se em conta a falta de 97 Idem. 50 consenso entre os indivíduos acerca do que é bom e é ruim, do que é certo e errado, do que é justo e é injusto, é bem provável que se as regras não existissem se viveria num caos. As regras na sociedade são também chamadas leis. Numa sociedade que edita leis, todos sabem (ou deveriam saber) o que é legal e o que é ilegal, ainda que as coisas legais não sejam necessariamente entendidas como boas e/ou entendidas como justas. Volta-se a questão acerca do discernimento se tudo que é legal é bom e se é justo; se as ações dos indivíduos podem ser consideradas justas e/ou boas pelo simples fato de estarem calçadas na lei. Será que a justiça instituída ao aplicar a lei promove a justiça? Seria possível se fazer justiça sem a aplicação da lei? Segundo Ricoeur, a justiça sob o signo do bem é uma virtude. Ricoeur evocando o quadrado medieval das virtudes cardeais, coloca a justiça como virtude ao lado da prudência, da temperança e da coragem. Prossegue dizendo que considerar a justiça uma virtude é admitir que ela contribui para a felicidade do ser humano, isto é, na condição de virtude a justiça contribui para que a ação humana seja portadora de intenção de uma vida boa. E por conta desta intenção de vida boa é que a justiça teria concepção teleológica, ou seja, o seu telos seria viver bem 98. No entanto, Ricoeur diz que o conceito de justiça como virtude comporta ao mesmo tempo sedução e perturbação. Sedução porque a intenção de vida boa dá a ação humana um sentido, uma significação. Perturbação porque não há consenso sobre o que é efetivamente o bem e, desta falta de consenso emerge uma incerteza sobre o que é o bem e o que é bom.99 Ricoeur critica a concepção de justiça de Aristóteles por entendê-la como limitada, uma vez que para Ricoeur não basta uma análise de todas as virtudes para se chegar à concepção teleológica da justiça. Ricoeur entende que por conta do traço particular existente na justiça e que conduz do ponto de vista teleológico ao ponto de vista deontológico, a justiça sempre constituiu um caso à parte nos tratados das virtudes. Segundo Ricoeur, esta peculiaridade, este traço particular responsável por 98 99 RICOEUR, LI, 1995, p. 91. Idem. 51 fazer o elo entre a justiça como bem e a justiça como dever, conduzindo uma à outra, é o formalismo, que o autor chama de “formalismo imperfeito”, ou seja, o ponto de mediania, um equilíbrio, um termo médio entre dois extremos. Para explicar o que entende por formalismo imperfeito, Ricoeur cita Aristóteles dizendo que “segundo a Ética a Nicômaco de Aristóteles, a justiça é definida pelo frágil equilíbrio entre um excesso e uma falta, um muito e um muito pouco, o que o leva a considerá-la como uma ‘mediania’, um termo médio entre dois extremos”. O ponto de equilíbrio apontado por Aristóteles seria a igualdade, ou isotés, princípio segundo o qual a justiça seria distributiva de bens e encargos. Seria a justiça o meio do caminho entre o excesso de querer ter sempre mais e a falta de não contribuir suficientemente aos encargos da Cidade.100 A questão da igualdade suscitada por Aristóteles leva a refletir em como se falar em igualdade e distribuição igualitária de papéis se os indivíduos são diferentes. E ainda, como se fazer essa distribuição de bens e encargos de tal maneira a se alcançar o bem comum. Seria a justiça, enquanto instituição, responsável também pela distribuição de papéis e encargos na sociedade? A sociedade instituída seria, por si só, capaz de distribuir papéis aos indivíduos sem o auxílio da justiça? Ricoeur indica que distribuir, partilhar e repartir são atividades institucionais, o que leva a crer que toda sociedade, enquanto instituída reparte papéis tarefas, vantagens, desvantagens, honras e encargos. Ricoeur questiona a natureza das grandezas às quais se aplica a ideia de justiça como igualdade. Questiona também, a que modalidades essa igualdade se aplica. Diante de tais questionamentos, Ricoeur desenvolve a ideia de sociedade como sistema de repartição mediante o destaque de dois corolários. O primeiro seria a distinção da virtude da justiça para a virtude da amizade, baseando-se no fato de a amizade ter diante de si um próximo e a justiça ter diante de si um terceiro, desconhecido. Parece ser possível dizer que os indivíduos que exercitam a amizade conhecem um ao outro e têm recíproca afinidade. Os indivíduos se compreendem mutuamente e estabelecem uma relação de solidariedade em busca de 100 RICOEUR, LI, 1995, p. 92. 52 viverem bem consigo, com o outro, com e na sociedade. Ricoeur segue a ideia aristotélica sobre amizade para indicar o alcance da solicitude, elemento integrante da intenção ética “Vida boa, com e para os outros em instituições justas”, o que se verá com mais vagar no capítulo 3. Nesse contexto indica que a amizade transita entre a perspectiva de vida boa e a justiça, sendo a primeira uma virtude aparentemente solitária e a segunda uma virtude da pluralidade humana de caráter político.101 A amizade é exercitada face-a-face, entre pessoas próximas, sem necessidade de intermediação enquanto a justiça é exercitada entre desconhecidos. Os que buscam a justiça podem até se conhecer, mas entre eles não há amizade. Diz Ricoeur que “o outro na justiça não é o outro na amizade, mas o cada um de uma distribuição justa”.102 O segundo corolário destacado por Ricoeur diz respeito à ligação do conceito de distribuição à ideia de justiça, que indivíduos, ou seja, entre levanta um falso debate entre sociedade e o viver coletivo e o viver individual. Com base no pensamento de Durkheim103, Ricoeur aponta que a sociedade é a controladora das ações individuais. O indivíduo aprende a seguir normas que não foram criadas por ele. As normas estão dentro das possibilidades que a sociedade impõe e, caso o indivíduo extrapole os limites impostos, estará sujeito a ser socialmente punido. Desta forma, o viver coletivo se sobrepõe ao viver individual, fazendo com que a sociedade seja mais que a soma de seus membros. Para contrapor este raciocínio de Durkheim, Ricoeur faze referência ao individualismo metodológico de Max Weber, que em seus conceitos de sociologia indicou somente a probabilidade de comportamento do indivíduo deste ou daquele modo, não resolvendo a questão da sociedade como distribuição. Ricoeur indica uma saída para o falso debate entre sociedade e indivíduos. Segundo Ricoeur, para que exista uma instituição considerada como regra de distribuição, é preciso que os indivíduos dela participem a fim de que seja possível 101 RICOEUR, SMCO, 1990, p. 213. RICOEUR, LI, 1995, p. 92. 103Émile Durkheim (1858-1917). Sociólogo e filósofo francês considerado fundador da sociologia científica. Procurou elaborar uma ciência de fato social, marcada por uma preocupação ética, buscando caracterizar o fato social como fenômeno coletivo (JAPIASSU, Hilton; MARCONDES. Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 4ª ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p. 79). 102 53 serem feitas análises das probabilidades aplicadas aos comportamentos individuais e não ao todo. As relações sociais transcendem. Expostos os dois corolários acerca distribuição, Ricoeur da ideia de sociedade como sistema de retoma a questão suscitada acerca da natureza das grandezas às quais se aplica a ideia de justiça como isotés ou igualdade, respondendo que tal questão levanta a dificuldade de se saber o que é que define como bom a natureza das coisas a partilhar e os beneficiários da partilha.104 Ricoeur aponta uma nova dificuldade que se agrava nas sociedades modernas, qual seja, a questão das partilhas desiguais e acaba por concluir pela igualdade proporcional em detrimento da igualdade aritmética. Segundo Ricoeur, as sociedades modernas ampliam incessantemente o campo de aplicação da partilha igual ou da chamada igualdade aritmética. No entanto, diz ele, que se levando em conta toda a variedade de bens a partilhar, nenhuma sociedade funciona sob o modo de partilha igualitária. chamada igualdade Somente a proporcional, igualdade que não é entre coisas, mas entre relações das coisas com as pessoas, define a justiça que os medievais chamavam “distributiva”.105 Ricoeur pergunta se as dificuldades encontradas na ideia de igualdade proporcional se encerrariam ao se passar do lado teleológico para o lado deontológico. Seria possível se falar em justiça ou no predicado “justo”, ou em partilhas igualitárias por simples obediência à lei, cortando o laço da virtude da justiça com a ideia do bem?106 A resposta é não. Segundo Ricoeur, a concepção deontológica da justiça na qual as relações morais, jurídicas e políticas são em conformidade com a lei, passou a valer para a teoria da justiça sob o impulso da filosofia de Kant.107 A linha Kantiana ortodoxa defende que somente pode receber o nome de “lei” as disposições jurídicas derivadas do Imperativo Categórico formulado por Kant, a saber: “Age de tal modo que trates a humanidade na tua 104 RICOEUR, LI, p. 94. RICOEUR, LI, p. 94. 106 RICOEUR, LI, p. 95. 107 RICOUER, LI, p. 95. 105 54 pessoa ou na de outros não apenas como meio, mas sempre também como um fim em si”108Já de acordo com a teoria do direito contida na “Metafísica dos Costumes”, diz Ricoeur, que um número pequeno de leis pode ser considerado uma consequência direta e indiscutível do Imperativo Categórico. As demais leis, ou seja, aquelas que não são oriundas do Imperativo categórico, são aquelas advindas da atividade legislativa, dos políticos imbuídos desta tarefa.109 Então, diferentemente da conformidade com a lei na forma tratada por Kant, nas sociedades esta conformidade decorre da obediência às normas editadas nas instituições legislativas institucionalizadas. Segundo Ricoeur o fundamento escapa à razão prática e cai no controle do Poder Legislativo. Ainda que as leis advindas da atividade legislativa sejam elaboradas visando o bem comum, a partilha igualitária na sociedade e a igualdade dos cidadãos, a formalização das leis como modo de organização social passa pela esfera teleológica e chega à concepção deontológica, isto significa dizer que, com a finalidade de um bem viver criam-se obrigações/ regras a serem seguidas por todos, ou nos dizeres de Ricoeur: “a teoria da justiça passou para o lado deontológico, vale dizer, uma concepção na qual todas as relações morais, jurídicas e políticas são postas sob a ideia de legalidade, de conformidade com a lei.”110 Nesse sentido, tomando por referência esta passagem da concepção teleológica para a concepção deontológica, há que se refletir se uma elimina a outra, isto é, se ao formalizar a lei e seguir-se o positivismo jurídico, a ideia de bem, de intenção de vida boa acaba sendo deixada de lado. Como fica a questão da prática social num emaranhado de leis prontas a serem seguidas? E mesmo levando em conta que no decorrer dos tempos novas leis surgem, outras são revogadas, será que este movimento de criação, modificação e revogação de leis anda no mesmo passo das mudanças inevitáveis da sociedade? Segundo Ricoeur, a concepção deontológica da lei se firma no campo institucional onde se aplica a ideia de justiça em função de uma união à tradição contratualista, 108 RICOEUR, LI, p. 95. RICOEUR, LI, p. 96. 110 RICOEUR, LI, p. 96. 109 55 segundo a qual certo conjunto de indivíduos consegue superar um estado primitivo de natureza para chegar ao Estado de Direito.111 O contrato social é um modo fictício de transformar os direitos naturais em direitos civis. Pelo contrato social fictício, os direitos naturais do homem sobre todas as coisas que o cercam são transferidos a um Poder Soberano. Mas porque seria fictício? Ricoeur afirma que o contrato social é uma ficção porque a liberdade do indivíduo pode ser chamada de “fato da razão” atestado pela consciência. Assim e, considerando que a república não é um fato como a consciência e precisa ter um fundamento, provavelmente, nunca a título definitivo, o contrato social só pode ser uma ficção.112 Segundo Ricoeur, a ficção do contrato tem por objetivo separar o justo do bom fazendo com que um compromisso prévio substitua o processo de uma deliberação imaginária. Nessa hipótese, seria o contrato social o formatador dos princípios da justiça. O pensamento de Ricoeur indica que a problemática da fundação da república se faz clara ao se deparar a formulação do contrato social nos modos pensados por Rousseau e por Kant: no modo pensado por Rousseau113 a sociedade recorre a um legislador para estabelecer as normas a serem seguidas. Já no modo pensado por Kant, cada indivíduo tem a autonomia para autolegislar abandonando per si sua liberdade natural e retomando-a como liberdade civil. Ricoeur traz à baila o pensamento de John Rawls114 que, segundo ele, tenta dar uma solução a esta polêmica entre as explicações das normas emanadas do Estado e normas criadas por cada indivíduo para si (autolegislação) e assim o faz propondo como chave do conceito de justiça a Equidade (tradução do termo fairness), que “caracteriza a situação original do contrato do qual, supostamente, deriva a justiça das instituições 111 112 114 RICOEUR, LI, p. 96. Idem. RAWLS, John (1921-2002), filósofo do direito norte-americano, professor na Universidade de Harvard. Formulou uma teoria da justiça de forte conotação social, com ênfase na noção de justiça distributiva, bastante influente no contexto anglo-saxônico contemporâneo, opondo-se ao utilitarismo e ao individualismo e reelaborando a teoria do contrato social (JAPIASSU, Hilton; MARCONDES. Danilo, op. cit., p. 234). 56 de base.”115 Segundo Ricoeur, para Rawls o contratualismo e o individualismo devem andar juntos, de modo que haja um contrato original entre pessoas livres que queiram promover seus interesses individuais. Para Ricoeur o projeto de Rawls pode ser compreendido na medida em que é contraposto ao projeto de Kant, segundo o qual a lei deriva do respeito à pessoa. No entanto, sendo o princípio do respeito à pessoa humana abstrato, dele não pode derivar um corpo de leis. Estas devem emanar do poder legislativo que dá um conteúdo ao vazio deixado pelo princípio do respeito à pessoa humana, passando ao positivismo jurídico. Ricoeur reteve de Rawls a contribuição para solucionar o problema inerente aos princípios da justiça que Rawls considera como derivados da deliberação numa situação irreal sob o véu da ignorância116. Segundo Ricoeur, Rawls teria respondido ao que chama de perigo interno da corrente deontológica, isto é, a passagem do princípio abstrato ao positivismo jurídico, se na situação irreal da deliberação, fossem produzidos princípios de justiça complexos suficientes para organizar o campo social.117 Seriam os princípios da justiça derivados de deliberação numa situação imaginária feita sob o véu da ignorância suficientes para articular o querer viver bem de uma sociedade que não é imaginária, mas real? Ricoeur diz não duvidar que os princípios oriundos de uma deliberação irreal possam conduzir a princípios mais precisos do que aqueles emanados do imperativo abstrato do respeito às pessoas. No entanto, permanece a distância entre os princípios legais da justiça e a prática jurídica. 115 RICOEUR, LI, p. 97. O véu da ignorância constitui, na obra de Rawls, a descrição metafórica da barreira contra o uso de interesses parciais na determinação dos princípios da justiça. O véu da ignorância define a “posição original”. É como se as partes em causa tivessem de fazer um contrato acerca das estruturas sociais básicas, definindo, por exemplo, as liberdades que a sua sociedade permitirá e a estrutura econômica que irá aceitar, mas sem saber que papel elas próprias irão ocupar na sociedade. Rawls acredita que só deste modo, a partir de uma posição deste tipo, um sistema social pode satisfazer os requisitos da justiça. (REIS. Flávio Azevedo. A Posição original em Rawls. Primeiros Escritos, volume I, Nº 1, p.109, Fflech, USP, 2009. Disponível em: http://www.fflch.usp.br/df/site/publicacoes/primeirosescritos/09.Flavio_Azevedo_Reis.pdf). Acesso em: 03 fev. 2013. 117 RICOUER, LI, 1995, p. 98. 116 57 Esta distância indica a necessidade de se pensar sobre os desdobramentos que os princípios da justiça devem encontrar numa discussão real, isto é, num espaço público de manifestação. Analisando os princípios da Justiça com base no pensamento de Rawls, Ricoeur destaca em primeiro lugar serem os princípios da justiça princípios de distribuição. Por essa vertente, o conceito de justiça se estende a distribuição de direitos, deveres por um lado e benefícios e encargos por outro lado. A distribuição de direitos e deveres e de benefícios e encargos, isto é, de vantagens e desvantagens, seria de fácil compreensão se não houvesse várias formas de repartição. Por conta dessa diversidade na forma de partilhas, parece ser inevitável o surgimento do conflito, principalmente, pelo modo como se distribui na sociedade todas as coisas sujeitas à distribuição (bens, serviços, encargos, responsabilidades, autoridades, riquezas, benefícios, etc.) e quando da distribuição desigual. aponta que na sociedade existe um fenômeno consensual-conflitivo. Consensual porque se não houver um consenso nos processos de interesses opostos estabilidade social e conflitivo porque havendo repartição desigual Ricoeur não há a alocação de partes pode ser contestada. Em segundo lugar, Ricoeur aponta que para Rawls existem dois princípios da Justiça: o primeiro princípio seria aquele que assegura a igualdade de todos os cidadãos diante da lei. “Cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de liberdades de base iguais para todos, que seja compatível com o mesmo sistema para os outros.”118 No entanto, numa sociedade desigual, como tratar a todos com igualdade? Segundo Ricoeur, o segundo princípio proposto por Rawls diz respeito à possível solução para esta questão das partilhas desiguais na forma como antes evocada por Aristóteles sob o título de “Igualdade Proporcional”, que consiste no tratamento igual dos indivíduos e distribuição proporcional entre eles. Atribui-se benefícios maiores aos mais necessitados e ônus progressivos aos menos necessitados. Então, entre as 118 RICOEUR, LI, p. 100. 58 partilhas desiguais sempre há aquela mais justa que todas as demais, na medida em que aumenta as vantagens dos mais favorecidos e compensa este aumento com a diminuição de desvantagens dos menos favorecidos. Ricoeur resume este princípio com a fórmula: maximizar a parte mínima (princípio maximin). Ricoeur aponta a seguinte questão: Até que ponto os princípios da justiça, principalmente aquele que trata da igualdade proporcional, exercem o papel de ideia diretriz da justiça enquanto prática social apontando um vazio entre princípios da justiça e a prática judiciária caracterizada por ocasiões ou circunstâncias da justiça, meios e argumentos da justiça, conforme se verá a seguir. 1.4.3 Da Teoria à Prática da Justiça No que tange ao contexto prático de justiça, diz Ricoeur que qualquer que seja o sentido e o conteúdo de ideia de justiça, rege ela uma prática social formada por ocasiões e circunstâncias, canais no plano institucional e os argumentos no nível de discurso. A seguir, se destacará cada um desses pontos. Por circunstâncias ou ocasiões da Justiça Ricoeur demonstra que quando existem interesses opostos em que os indivíduos envolvidos não encontram entre eles uma solução, surge a necessidade de se pedir a intervenção do Estado para decidir sobre as reivindicações levantadas. Os interesses opostos podem estar presentes em matérias inerentes aos mais diversos ramos do direito. Quer tenham os conflitos consumerista, penal, previdenciária, demais ramos do direito, internacional natureza civil, comercial, ou seja relativo a qualquer dos em havendo intervenção estatal, a solução será buscada mediante a instauração de processo. Destarte, são submetidas à Justiça (enquanto instituição do Estado) os mais diversos tipos de conflitos. Desde a dissolução de uma sociedade conjugal com a repartição de seus bens (interesses individuais) até as questões inerentes à preservação do planeta através do chamado direito ambiental (interesse de toda a sociedade). E, 59 segundo Ricoeur, quando a justiça é chamada a decidir são revigoradas as concepções teleológicas da justiça porque o que se espera da Justiça é uma correta distribuição, dando a cada um o que é seu, ou em outras palavras, se espera da justiça a atribuição para cada um de sua justa parte. 119 Retoma-se a questão no que tange à possibilidade de partilha igualitária. Ricoeur aponta que as demandas levadas ao Judiciário para decisão são portadoras de valores, de avaliações em termos de bens. Como se pode partilhar igualmente coisas que não são iguais? E aqui se acrescenta: como se pode partilhar igualmente entre pessoas que não são iguais e que, portadoras de diferentes valores, terão por iguais as partes recebidas? Segundo Ricoeur, maximizando a parte mínima. Mas maximizar a parte mínima não é uma tarefa fácil e talvez não se possa se deter apenas neste preceito para a partilha. Isto porque, segundo Ricoeur, a maior dificuldade está no fato de serem as coisas sujeitas à partilha heterogênea. Esta heterogeneidade não se dá no campo das ideias, mas existe na prática. Não é possível se falar na sociedade como um sistema de repartição sem considerar a dificuldade gerada na partilha pelo fato de serem as coisas heterogêneas. E, por conta dessa dificuldade, para efetivar-se a partilha não é suficiente ter ampla noção de repartição e distribuição, mas é preciso estar atento a heterogeneidade real dos bens sociais primários. Segundo Ricoeur o esquema processual ao chegar ao princípio da maximização da parte mínima, isto é, aumento de vantagens dos mais favorecidos e diminuição de desvantagens dos menos favorecidos, traz a questão para uma realidade prática, qual seja, a partilha, que sai do campo virtual para uma prática nada fácil por conta das escolhas da ordem prioritária dos bens. E a escolha desta ordem prioritária dos bens depende, não só de valores, como também de consenso acerca da ética. Para Ricoeur, uma concepção processual de justiça puramente que requer um desdobramento de uma teoria de valores, dificilmente funciona numa sociedade desprovida de consenso acerca da ética. Ricoeur 119 RICOEUR, LI, p. 102. 60 entende que, em que pese a dificuldade no consenso acerca da ética, as condições de consenso não estão perdidas e dependem da capacidade dos cidadãos de conjugarem os ensinamentos recebidos no passado, suas heranças cultural, religiosa e política. Aponta, ainda, que o princípio não pode ser substituído pelo valor. Isto porque, o valor tem um lado forte e um lado fraco. A fraqueza consiste no seu conceito abstrato e a sua força consiste no fato de ser o valor o mediador entre o abstrato e o cotidiano. No nível abstrato o consenso permanece forte – consenso de que pessoas não são coisas – e no cotidiano surgem novas situações que carecem de decisão. Então, o que faz o abstrato – onde há consenso – se comunicar com o cotidiano de novas situações é o valor. Segundo Ricoeur, depende da qualidade da discussão pública avivar o consenso através da interseção das diferentes heranças recebidas no passado, bem como das convicções, desde aquelas que evoluem lentamente até as que evoluem de modo mais rápido. Integram os chamados Canais da Justiça o que neste trabalho se chama de Poder Judiciário (e que Ricoeur chama de aparelho judiciário) o conjunto de leis escritas, os tribunais aos quais é atribuída a função jurisdicional por meio de lei, bem como os juízes, indivíduos dotados de independência e com a missão de pronunciar a sentença em cada caso particular. Entenda-se por função jurisdicional o poder que tem o Estado de intervir nos conflitos, aplicando o direito ao caso concreto, mediante a decisão de um juiz por ele nomeado, decisão esta que tem força coercitiva. Quando se falou das circunstâncias ou ocasiões da justiça, mencionou-se que quando existem interesses opostos em que os indivíduos envolvidos não encontram entre eles uma solução, surge a necessidade de se pedir a intervenção do Estado120 para decidir sobre as reivindicações levantadas. Segundo Ricoeur, o aparelho judiciário 120 Ricoeur chama o Estado de “instância superior”. No entanto, não se utilizará aqui desta nomenclatura no mesmo sentido que Ricoeur lhe atribui uma vez que para o Poder Judiciário Instância Superior é aquela que julga o processo em grau de recurso e isto, num dado momento, pode confundir o leitor. Instância Superior no mundo jurídico trata-se do direito que tem o jurisdicionado ao duplo grau de jurisdição, ou seja, quando proferida uma sentença, têm as partes litigantes o direito a apresentar recurso a fim de que uma Instância Superior ao magistrado singular, isto é, o Colegiado do Tribunal, reveja a decisão proferida mantendo-a ou modificando-a. 61 espera do Estado que ele garanta o seu bom funcionamento dentro de um espaço específico e protegido no espaço público e que decida, pela via legislativa, sobre a ordem de prioridades na partilha entre bens sociais primários concorrentes, uma vez que as demandas judiciais, nos diferentes segmentos, não poderão ser satisfeitas ao mesmo tempo e nem na mesma proporção. Nesse sentido, diz Ricoeur, a ideia de justiça necessita da mediação política para que seja alcançada a prática da justiça. A ordem de prioridades das partilhas depende não só da discussão política, como também da decisão política, que assegura o enquadramento global da lei.121 Além da mediação política, para Ricoeur abaixo do judiciário e, porque não dizer, antes dele, existe uma base de discussão na sociedade civil. É nesse espaço público que nascem as chamadas mentalidades. Nas conversas havidas nas relações interpessoais, no debate público interindividual ou coletivo é que são ponderadas as avaliações que dão significado aos bens e papéis distribuídos na sociedade e por ela atribuídos a indivíduos como direitos. É no debate público que é estabelecida a ordem das prioridades entre os bens a serem partilhados. Segundo Ricoeur, a justiça como instituição não poderia existir numa sociedade na qual não se pudesse discutir e na qual faltasse a prática do exercício oral e informal do julgamento, que acaba sendo formalizado na figura do judiciário. Nesse diapasão há que se refletir em o porquê de certas leis serem criadas. Algumas, de fato, inovam na sociedade. São pensadas, editadas e aprovadas no meio político organizando a sociedade de modo inovador ou recriminando condutas antes aceitáveis. Outras, no entanto, e quem sabe a maioria delas, refletem tão somente um juízo que já existe na sociedade ou uma prática dela decorrente. Nesse mesmo sentido parece ser possível se afirmar que as decisões judiciais, o modo de interpretação do direito, o modo de repartição dos bens, a atribuição do direito a este ou a aquele também decorre deste debate público. Os juízes, imbuídos de prolatar a sentença em cada caso concreto o fazem tomando por base avaliações sobre 121 RICOEUR, LI, p. 104. 62 cada caso, tanto avaliações legais, como pessoais e sociais. E estas avaliações também oriundas do espaço público, são do debate entre indivíduos, das conversas interpessoais acerca daquilo que é socialmente aceitável ou não. Então, ao afirmar que o debate público está abaixo do Estado, Ricoeur parece não querer determinar a posição inferior do debate, mas a sua anterioridade a todo o processo formal. Ricoeur idealiza um quadro explicativo sobre a Justiça: No alto e acima, o estado; embaixo e na base, o espaço público de discussão e entre os dois o processo judicial. Ricoeur embora não use a nomenclatura processo judicial como se faz neste trabalho, indica claramente que o processual a que se refere não é aquele irreal dos contratualistas, mas a pratica judiciária consistente na operação que rege a sequência leis-cortes e tribunais-sentenças e juízes. Os conflitos submetidos ao Estado guardam a justa distância das paixões, dos interesses próprios. O juiz prolata a sentença com o objetivo de fazer a partilha, dando a cada um a sua justa parte e por isso, segundo Ricoeur, ele aparece como uma figura instituída tanto do distanciamento entre o judiciário e político, entre o judiciário e o conflito aberto e entre as partes litigantes. Já se viu neste texto as circunstâncias da justiça e os canais da Justiça. Uma terceira dimensão constitutiva da prática social judiciária, segundo Ricoeur, são os argumentos da Justiça. Ricoeur destaca que ao se buscar a justiça mediante a utilização da instituição, ou seja, ao se chamar o Estado para intervir em um conflito, há necessidade da utilização da linguagem. Como visto nos parágrafos precedentes, na medida em que existe um debate público dele decorrendo a ordem de prioridades a se estabelecer nas partilhas, o estatuto dos valores, a significação de bens, etc., o discurso da justiça está em ação, ou seja, a linguagem atua na prática judiciária. Mas não somente na seara do debate público que a linguagem é atuante na prática judiciária. O modo como se pleiteia a intervenção do Estado para dirimir um 63 conflito é através da linguagem. Segundo Ricoeur, “todo o procedimento judiciário, da lei à pronunciação da sentença não é mais que um longo discurso.”122 Ademais, quando o conflito é submetido ao Estado, este, “diz o direito”, eo poder de dizer o direito está revestido de atividade argumentativa, pois quem diz, diz algo a alguém. Neste caso o Estado, mediante a prolação da sentença pelo juiz diz o direito às partes litigantes. A sentença pronuncia o direito situando as partes no seu justo lugar. E o processo judicial nessa perspectiva é uma troca de argumentos, de uma parte e de outra parte, argumentos estes que serão devidamente analisados pelo juiz que prolatará a sua sentença com base nos argumentos de uma das partes ou parcialmente, de ambas as partes. Por essa razão, segundo Ricoeur o processo judicial é uma continuidade da atividade comunicativa da sociedade, constituindo o uso dialógico da linguagem mediante lógica e ética inseparável uma da outra.123 Segundo Ricoeur, o discurso da justiça ilustra o lugar da argumentação, em que pese não ser ela por si só suficiente à resolução da demanda, uma vez que num processo se exige a produção de provas, quer sejam elas formuladas mediante a apresentação de documentos, perícias Ricoeur, que ainda que a prova perde seu espaço, pois tem ou depoimentos de testemunhas. Mas, diz seja rigorosamente produzida, a argumentação não o poder de seduzir e agradar de acordo com a conveniência da parte. De certa forma pode-se dizer que a argumentação nunca tem fim, pois sempre cabe um “mas”. Sempre pode haver controvérsias acerca de uma afirmação, tanto assim que são cabíveis apelos a instâncias superiores (Tribunais) das decisões prolatadas pelo juiz monocrático, quer sejam essas decisões prolatadas no início, meio ou final do processo. Por outro lado, a argumentação pode ser considerada finita na medida em que o julgamento é exercido numa situação particular. No entanto, como dito anteriormente, o juiz ao prolatar a decisão o fará apontando as justificativas (prós ou 122 123 RICOUER, LI, 1995, p. 106. RICOEUR, LI, 1995, p. 107. 64 contras) contidas na argumentação e dará razão a uma ou a outra parte, ou ainda, a ambas as partes. As questões sobre examinadas a argumentação existentes no processo judicial serão com mais vagar no próximo capítulo, quando da demonstração da utilização da linguagem no processo judicial, usando-se a lente da filosofia ricoeuriana para compreendê-la. 65 CAPÍTULO II A LINGUAGEM NO PROCESSO JUDICIAL 2.1. Introdução Como se viu no capítulo anterior, para Ricoeur define a hermenêutica como “a teoria das operações da compreensão em sua relação com a interpretação de textos”.124 Segundo Ricoeur, na prática social que a justiça, o discurso está em ação primeiro no debate público que estabelece a ordem das prioridades na partilha entre os bens segundo certos valores socialmente estabelecidos, seguindo em ação no modo como se pleiteia a intervenção do Estado para dirimir um conflito, uma vez que os atos do processo judicial se dão através de discursos. Mais ainda afirma Ricoeur que “todo o procedimento judiciário, da lei à pronunciação da sentença não é mais que um longo discurso.”125 As narrativas processuais feitas pelo autor e pelo réu visam ao convencimento do juiz, daí porque se usa uma argumentação que pode agradar e convencer. Aponta Ricoeur que o processo ilustra o lugar da argumentação e, ainda que para a prolação da sentença haja a necessidade de provas, como se verá no decorrer desta dissertação, a argumentação não perde lugar ou importância. Segundo Ricoeur, no processo judicial se encontram presentes as condições lógicas e psicológicas para um debate que tem por objeto o convencimento do juiz, que prolatará uma sentença declarando o direito de uma, de outra, ou de ambas as partes, conforme o caso.126 O autor, ao fazer seu pedido inicial, faz um discurso dirigido ao juiz com suas pretensões de aplicação da lei ao seu caso concreto. Ele apresenta suas razões de pedido, seus argumentos, 124 sua fundamentação legal que embasa seus argumentos e o seu RICOEUR, HI, 2008, p. 23. RICOEUR, LI, 1995, p. 106. 126 RICOEUR, LI, 1995, p. 107. 125 66 pedido. De igual modo, o réu ao ofertar sua resposta apresenta suas razões impeditivas, modificativas ou extintivas da não concessão do pedido do autor. O juiz ao prolatar a sentença, apresenta um discurso sobre o acolhimento ou desacolhimento da pretensão do autor. Os discursos integrantes do processo judicial têm uma linguagem própria que, com a prática se torna de uso automático pelos operadores do direito, mas que, tomando a devida distância dela, de um lado se perceberá como é diferente de escrever uma petição. O seu vocabulário peculiar faz com que a petição seja um texto diferente de outros textos da literatura. Por outro, há muitas semelhanças entre uma narração num processo e a narração de uma história descritiva de fatos, mas neste caso, os fatos narrados desencadeiam num pedido, ou seja, a história é contada, mas não há a conclusão da história como desfecho do caso. Na petição, os fatos narrados são a causa de um (ou mais) pedido (s) a ser(em) feito(s). O juiz ao prolatar a sentença indicará o desfecho da história, a favor ou contra o pedido feito na petição inicial. A petição inicial conta uma história, isto é, faz uma a descrição dos fatos que levam o autor a pleitear o que entende por seu direito, sujeitando esta história à interpretação do juiz. O réu, ao apresentar sua defesa, conta a sua história. O Juiz, ao sentenciar conta as histórias, ou seja, narra as alegações feitas pelo autor e pelo réu e dá o seu desfecho ao pleito e a história, prolatando a sentença judicial. Então, não só a petição inicial, mas o processo judicial como todo é formado por narrativas de histórias recheadas de argumentos. Tendo acabado o diálogo extrajudicial entre as partes, os fatos ocorridos entre os litigantes precisam ser contados ao terceiro que julgará a causa. O discurso escrito que pode dar subsídio à pretensão do autor e do réu é uma narrativa histórica. O autor conta a sua história e pede ao juiz que dê a ela um “final feliz”, isto quer dizer, aquele final que entende ser mais justo mediante a aplicação da lei e reconhecimento de seu pretenso direito. O réu, por seu turno, também conta uma história. Esta, via de regra, impeditiva da concessão do direito pretendido pelo autor. O réu muitas vezes com seus argumentos, desdiz o que disse o autor, dá outra versão à 67 história e sugere outro final, diferente daquele final pretendido pelo autor e, por conseguinte, mais justo segundo ele, réu. Do ponto de vista da linguagem jurídica a petição inicial pertence ao gênero textual do requerimento, porque sempre contém um requerimento, uma pretensão a ser alcançada, um pedido, bastando ao autor narrar os fatos constitutivos de seu direito e que fundamentam o seu pedido e os fundamentos de seu pedido 127 enquanto a 128 Os requisitos para a confecção de uma petição inicial estão previstos no Código de resposta do réu, isto é, a contestação, faz uso dos recursos da argumentação. Processo Civil, artigo 282. São eles: O juiz ou tribunal a que é dirigida; os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; o valor da causa; o requerimento para citação do réu. Pois bem, não é possível pensar na narrativa “do fato” sem com isso, contar uma história. Tal história terá seus protagonistas (autor e réu) e desencadeará em um pedido fundamentado na lei, na doutrina ou na jurisprudência (os fundamentos jurídicos do pedido). Mas por que existe essa diferenciação na forma de elaboração do discurso jurídico em relação aos demais discursos narrativos? Responde-se a esta pergunta com base nos ensinamentos da Profa. Maria José Constantino Petri. Segundo ela, o discurso jurídico é um discurso diferenciado porque é organizado segundo um propósito (acusar, defender, testemunhar). É um discurso contendo argumentos e estratégias, que prima pela lógica, pois o operador do direito raciocina (e narra) sobre fatos e sobre normas, adequando uns aos outros, isto é, os fatos às normas. O discurso jurídico busca a interpretação da norma e sua adequação aos valores semânticos de seus termos.129 127 Segundo a doutrina jurídica, a teoria predominante para a causa de pedir é a teoria da substanciação ou substancialização prevista no artigo 282 do CPC, segundo a qual, a petição inicial deve conter os fatos e fundamentos jurídicos, ou seja, cabe ao autor alegar os fatos constitutivos de seu direito. Tal teoria também é marcada pelo brocardo jurídico “Dá-me os fatos que te darei o direito”(Da Mihi factum, dabo tibi jus). 128 PETRI, M. José Constantino. Manual da Linguagem Jurídica. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 129 PETRI, M. José Constantino. Argumentação Linguística e Discurso Jurídico. São Paulo: Selinunte, 1994, p. 95-97. 68 Assim, neste capítulo pretende-se examinar a utilização da linguagem no processo judicial e sua importância para a prolação da sentença pelo juiz de direito sob a lente da filosofia ricoeuriana e não sob a lente das teorias jurídicas. Aborda-se, de início, a questão da existência do diálogo no processo judicial tomando por base a afirmação de Ricoeur no sentido de que “a hermenêutica tem início quando termina o diálogo”. 130 Ato contínuo, examinar-se-á com mais vagar o processo judicial como narrativa histórica, levando em conta as ponderações de Ricoeur na obra “Tempo e Narrativa”, bem como os sentimentos presentes no processo judicial, a significação do discurso, a passagem da fala à escrita, a verdade no processo judicial, tudo isso dentro do princípio dos “argumentos da justiça”. 2.2. Há Diálogo no Processo Judicial? Embora o pensamento de Ricoeur não esteja limitado ao contexto do processo judicial, sendo muito mais amplo ousa-se tomar a frase “A hermenêutica começa onde o diálogo acaba”131 como ponto de partida para se pensar na importância da hermenêutica no processo judicial. Primeiro, ao que parece, quando se chega a instaurar um processo judicial buscando a intervenção do Estado para a solução de um conflito entre duas ou mais pessoas, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, provavelmente é porque o diálogo entre as partes terminou, ou quem sabe, nunca foi possível e por isso talvez nunca tenha sequer começado. Seria razoável que duas ou mais pessoas que conseguissem travar um diálogo, ainda que este diálogo fosse permeado por ideias divergentes, ao invés de resolverem elas mesmas os seus problemas mediante a troca de argumentos e negociações preferissem a busca da intervenção de um terceiro desconhecido para 130 131 RICOEUR, TI, 2009, p. 50. Idem. 69 resolver, decidir e determinar os caminhos para as suas vidas? Provavelmente por ter terminado o diálogo entre as partes, surgiu a necessidade da instauração de processo judicial para dirimir o conflito. Acabou o diálogo e começa o processo judicial mediante o lançamento do conflito a um terceiro que o interpretará e formará sua convicção para decidir a quem cabe o direito. Em segundo lugar findo o diálogo entre as partes possuidoras de interesses individuais em conflito, e, uma vez buscada a intervenção do poder judiciário para solução do conflito, nasce, no entender desta pesquisadora, outro modo de diálogo: agora não mais sozinhas as partes litigantes, mas com a mediação de um terceiro: O Juiz. Não se sabe se é correto dizer que o Processo Judicial é um confronto entre as partes através do “diálogo” com o Juiz para dirimir o conflito. Isto porque, quando se pensa em um diálogo ideal parece se tratar de uma consensualidade entre as partes que se dispõem a uma conversa em que cada indivíduo tem a liberdade de expressar seu ponto de vista divergente em relação ao seu interlocutor para chegarem a um consenso ou simplesmente para troca de opiniões divergentes. Nesse tipo de diálogo consensual, não há a necessidade de intermediação de um terceiro para que este diálogo se torne possível. Nesse sentido, o processo judicial não é algo amistoso, tampouco consensual entre as partes. Explica-se: Um indivíduo, por exemplo, que tem um crédito a receber preferiria recebê-lo diretamente de seu devedor, sem necessitar pedir ao Estado para determinar o pagamento pelo devedor, a penhora de seus bens e outros atos decorrente. O devedor, por seu turno, preferiria não ser acionado judicialmente para o pagamento, até porque isto lhe acarreta outro ônus. Um empregado que prestou serviços durante anos numa empresa talvez preferisse receber aquilo que entende ter direito sem a necessidade de intermediação do poder judiciário. A empresa, por seu turno, preferiria não ter que responder o processo. O criminoso, ainda que saiba que seus atos são tipificados como crime no direito pátrio, não deve se realizar ao ser preso e processado criminalmente. Um indivíduo que contribuiu durante anos para o Instituto da 70 Previdência, provavelmente preferiria não ter que recorrer ao poder judiciário para ver reconhecido o seu direito a aposentadoria. Parece que, no processo judicial existe o diálogo do juiz com as partes, mas não mais o diálogo das partes, salvo naqueles momentos específicos em que o juiz promove a tentativa de conciliação. De um modo em geral, talvez seja correto dizer que as partes não mais dialogam no processo judicial haja vista a necessidade de um mediador. Assim, embora o processo judicial seja na maioria das vezes voluntarioso, ele decorre de uma pretensão resistida entre indivíduos. Após a instauração do processo e, no decorrer dele, podem as partes chegar a uma composição amigável, conforme prevê a legislação vigente. No entanto, sua raiz é conflitiva, porque mesmo que se faça acordo, o processo se iniciou por conta da existência de um conflito. O Processo Judicial decorre de interesses divergentes entre as partes. Quando não há composição amigável a divergência permanece até o final do processo, e muitas vezes a ultrapassa, já que uma das partes litigantes restará insatisfeita com o resultado, tendo em vista que o juiz decidirá a favor de uma das partes, ou o autor, ou o réu e, ainda que decida a favor das duas partes – dando razão parcial a uma e a outra – provavelmente restarão ambas insatisfeitas, pois o autor ao ingressar com o pedido persegue a satisfação de sua totalidade. Por outro lado, não se pode olvidar que, sendo o processo judicial formado por discursos argumentativos, não haverá argumentação se não houver quem leia ou escute esta argumentação. Diz Perelman que “para argumentar é preciso ter apreço pela adesão do interlocutor, pelo seu consentimento, pela sua participação mental”132. Olhando por este prisma, talvez possa se pensar que a argumentação no processo judicial não é feita somente para ser ouvida pelo juiz, na qualidade de mediador, mas também pela outra parte. A argumentação de uma parte pode ser aceita pela outra parte ou por ela repudiada. No entanto, quer para aceitá-la, quer para repudiá-la, as partes têm de ouvir /ler a argumentação uma da outra. 132 PERELMAN, 2005, p. 18. 71 Nesse diapasão, levando em conta o pensamento de Perelman e considerando este pensamento no processo judicial (em que pese sua amplitude e extensão muito além dos pequenos muros da seara judicial), poderia se dizer que pode haver diálogo no processo judicial, na medida em que uma parte fala e precisa ser pela outra ouvida. Tal raciocínio, em princípio, contraria aquele anterior que se fez com base no pensamento de Ricoeur. Disse Perelman: ... não basta falar ou escrever, cumpre ainda ser ouvido, ser lido. Não é pouco ter a atenção de alguém, ter uma larga audiência, ser admitido a tomar a palavra em certas circunstâncias, em certas assembleias, em certos meios.133 A leitura dos escritos de uma parte no processo pela outra parte, não só integra a compreensão do litígio e a necessidade para se montar as estratégias de ataque e de defesa, como também se torna obrigação às partes, na medida em que a cada fala de uma parte a outra pode ter a palavra para contra argumentá-la. Ora, só pode contra argumentar uma alegação quem ouviu ou leu esta alegação. Explica-se: O autor faz a petição inicial narrando os fatos, o direito que entende possuir e seu pedido. O réu, para responder aos termos propostos da ação, terá de ler o pedido escrito do autor e contra argumentá-lo. Após, o juiz abrirá a oportunidade para o autor se manifestar sobre os argumentos do réu. Depois, parte-se para a produção de provas, em que cada parte poderá argumentar e contra argumentar as provas que pretende produzir. Ato contínuo o juiz proferirá a sentença e cada parte também poderá se manifestar contra argumentando os fundamentos da sentença mediante a interposição de recurso. Ao se olhar para esta dinâmica, parece estar clara a existência de um diálogo, desde que considerado diálogo um falar e o outro ouvir, independentemente da consensualidade e consenso entre as partes. Então, até poderia se dizer que terminado o diálogo extrajudicial e na ausência de consenso entre as partes, deu-se início a um diálogo judicial, este, com fim previsto para quando o juiz proferir o seu veredito e der a sua interpretação sobre tudo que viu e ouviu processualmente. Então, neste segundo 133 PERELMAN, 2005, p. 19. 72 momento, retoma-se a aplicação do pensamento de Ricoeur: “A hermenêutica começa onde o diálogo acaba”. Independentemente de aceitar-se o processo judicial um diálogo ou não, é evidente a presença da comunicação em seu desenrolar, pois, do início ao fim do processo judicial cada parte tem direito de dirigir-se ao juiz fazendo alegações, retrucando e respondendo às alegações da outra, contestando dados e documentos ou com eles concordando, conforme entenda ser o cabimento de seu direito. Esta comunicação é, então, formada por diversas fases, cada uma delas implicando em interpretações, como se mostrará a seguir. Então, quer se entenda haver diálogo, que se entenda não haver diálogo, o processo judicial implica uma hermenêutica para alcançar sua função de distribuição da justiça. 2.3 O Processo Judicial como Narrativa Agora serão consideradas as narrativas que ocorrem no decorrer do processo judicial até a prolação da sentença. Reitere-se que, dentro do quadro da justiça como prática social proposto por Ricoeur destacam-se três elementos: As circunstâncias da Justiça, os canais da Justiça e os argumentos da justiça. Aqui se aborda a linguagem no processo judicial, considerando os argumentos da justiça. O processo judicial tem iniciativa por quem quer ver seu direito reconhecido, de modo que chama um terceiro para intervir na situação conflituosa a se manifestar mediante um julgamento acerca de quem está com a razão, de acordo com as convicções deste terceiro acerca do que leu e ouviu. Os conflitos que são levados ao Poder Judiciário (este, integrante dos Canais da Justiça que, nos dizeres de Ricoeur é o conjunto de leis escritas, os tribunais aos quais é atribuída a função jurisdicional por meio de lei, bem como os juízes) se reportam a fatos 73 ocorridos no passado que darão, no presente e/ou no futuro, o direito a uma das partes ser atendida em sua pretensão. Ainda que se admita que algumas causas judiciais têm por fito decisões preventivas, isto é, decisões proibitivas de atos futuros antes mesmo de terem ocorrido iguais no passado, tais fatos com repercussão no futuro têm por origem um fato ocorrido no passado. Então, ao que tudo indica, no processo judicial, passado, presente e futuro se encontram para que a sentença prolatada distribua corretamente a justiça. Este encontro do passado, do presente e do futuro se dá no decorrer do processo que tem por objetivo precípuo a busca da verdade dos fatos. Há assim no processo judicial uma narrativa histórica feita pelas partes. Cada uma delas narra no processo os fatos ocorridos que embasam a sua respectiva pretensão. Sendo assim, a mesma história é contada de modo diferente pelas partes, e às vezes, outras versões dela aparecem com a oitiva das testemunhas. Há a reconstrução das falas, das ações, da identidade dos agentes dessas ações, nem sempre exatamente na mesma ordem em que ocorreram, mas numa forma de reconstrução dos acontecimentos relativos ao litígio e importantes para o seu deslinde. A narrativa da história e sua reconstrução pelas partes são fundamentais para que o juiz analise o litígio que está em suas mãos para julgamento. Não parece possível a compreensão do problema gerador do litígio, sem que haja uma articulação dos fatos ocorridos preteritamente e que culminaram com a discórdia levada ao judiciário para resolução. Em Tempo e Narrativa, Ricoeur examina a relação entre os dois temas do título, ou seja, o tempo e a narrativa, sob a tese de que o acesso à experiência humana do tempo se dá através da narrativa, e esta, torna o tempo humano. A reflexão é extensa e não se pretende aqui explorá-la por não ser o foco deste estudo. O assunto em si merece uma dissertação. No entanto, aqui se tomará algumas de suas ideias para esclarecer o ligar da narrativa no processo judicial. Diz Ricoeur que a frase narrativa indica quem faz, o que faz, como faz, em que circunstâncias faz e a quem faz. Nesse sentido, toda narrativa pressupõe que o 74 narrador e seu auditório tenham familiaridade com os termos que indiquem agente, objetivo, circunstância, meio, conflito, sucesso e fracasso.134 No processo judicial há uma narração dos fatos, do modo como se sucederam, de acordo com uma sequência e uma ordem. Trata-se de um momento presente em que se fala dos momentos passados. O narrador conhece o agente, a circunstância, o objetivo, e faz a narrativa de modo que seja mais verossímil possível, atrelando a fala aos acontecimentos. Esta verossimilhança da narrativa tem importância na medida em que o processo judicial busca a verdade dos fatos, tendo cada parte a missão de convencer o juiz da história que integra o direito pretendido. A questão da narrativa é importante para a compreensão da linguagem no processo judicial vez que o que se busca no processo judicial é a verdade dos fatos, de modo que ao prolatar a sentença, o juiz, sabendo da história ocorrida, declare o direito de uma ou de outra parte. A reconstrução da história no processo judicial é uma tarefa desempenhada em função do caso que está sob análise. O passado está em permanente processo de reinterpretação, tendo em vista um futuro, isto é, a prolação de uma sentença que, conforme se verá neste trabalho, decorre das inúmeras interpretações feitas pelo juiz. As histórias contadas no processo também são interpretadas pelo juiz, que as analisará e se convencerá daquela que lhe parecer mais verossímil. O juiz é um terceiro, um ouvinte ou destinatário da história contada. Um indivíduo que não participa do passado da história, mas participa do seu futuro, na medida em que dá um fechamento à história conflituosa a partir da prolação da sentença. O passado da história que lhe é narrado no processo judicial, serve para que, remontando os fatos ocorridos, se convença desta ou daquela versão, não só com base nos argumentos expostos nas narrativas, mas também nas provas produzidas acerca das versões das histórias narradas. No terceiro volume de Tempo e Narrativa, Paul Ricoeur aponta que o tempo se torna humano pelo entrecruzamento da história e da ficção. Por este entrecruzamento, Ricoeur entende ser “a estrutura fundamental tanto ontológica como epistemológica, 134 RICOUER, TN, p. 98-99. 75 em virtude da qual a história e a ficção concretizam suas respectivas intencionalidades tomando de empréstimo a intencionalidade da outra.135 O entrecruzamento entre o histórico e o ficcional quer dizer que a narrativa histórica faz menção a fatos passados e toma por empréstimo da narrativa ficcional a intenção de contextualizar e de dar significado aos seus relatos, de modo que conte o passado para o destinatário da narração que terá a possibilidade de aceita-lo como plausível.136 Nesse sentido, Ricoeur em sua obra A Memória, a História e o Esquecimento faz uma diferenciação das tarefas do juiz e do historiador. Para Ricoeur tanto o historiador como o juiz de direito ocupam um lugar de “terceiro” em relação aos lugares ocupados pelos protagonistas de um fato relatado. E este lugar de terceiro deve ser revestido de imparcialidade, ou seja, o terceiro deve ser totalmente neutro, não dando espaço nem para a complacência nem para qualquer outra paixão.137 A comparação feita por Ricoeur é separar o processo judicial da crítica historiográfica que se inicia no âmbito dos arquivos. Tanto o historiador como o juiz estão engajados na descoberta da verdade através do exame de narrativas, de documentos e de outras provas. O testemunho tanto para o historiador como para o juiz é peça fundamental ao seu trabalho. Como se verá mais tarde neste trabalho, no processo judicial o testemunho oral é tornado escrito e arquivado no processo para consulta posterior. Segundo Ricoeur o juiz e o historiador têm traços que andam juntos, quais sejam: a preocupação com a prova e o exame crítico da credibilidade das testemunhas. Ricoeur cita as palavras de Luigi Feragioli, presentes na obra de Carlo Ginzburg: “O processo é, por assim dizer, o único caso de ‘experimentação historiográfica’ – nele as fontes intervêm de vivo, não só porque são recolhidas diretamente, mas também porque 135 RICOEUR, TN, v. 3, p. 311. ROSSETI, op. cit., p. 158. 137 RICOEUR, MHE, 2010, p. 330. 136 76 são confrontadas umas com as outras, submetidas a exames cruzados e incitadas a reproduzir, como num psicodrama, o caso que está sendo julgado.”138 Nesse sentido, tanto o juiz como o historiador levantam dúvidas, analisando os depoimentos de testemunhos e neles encontrando possíveis falsificações, retirando-lhes a credibilidade ou, se reputados verdadeiros, dando-lhes credibilidade. Os fatos ocorridos e que deram origem ao processo judicial são recontados, quer de modo escrito, quer de modo oral, sendo a história reconstruída e posta sob a análise do juiz. O passado é representado no presente com vistas a um futuro (prolação da sentença com distribuição da justiça). A sentença prolatada pelo juiz tem um caráter definitivo, na medida em que é imediatamente aplicável quando dela não caiba mais recursos. Segundo Ricoeur, este é o mais evidente ponto de diferença entre o historiador e o juiz: O que foi julgado só pode ser contestado pela opinião pública, mas não pode ser julgado novamente. O juiz põe fim a um litígio, julga, decide, diz o direito. O historiador não pode fazer o mesmo. Sua obra é sempre submetida a um processo infindável de revisões que faz da escrita da história uma perpétua reescrita.139 O historiador desenvolve sua crítica historiográfica que se inicia no âmbito dos arquivos, sem ter ele qualquer pretensão ou mesmo função de dirimir conflitos. A reconstrução que ele faz do passado não tem por objetivo a prolação de uma decisão, contrariamente ao que ocorre com o juiz. Por conta dessa diferenciação talvez se possa indagar se o historiador e o juiz ouvem os depoimentos com os mesmos ouvidos e se o olhar deles para os fatos ocorridos têm igual direção. A resposta a esta indagação parece ser não. O historiador tem olhares e ouvidos para os fatos e não precisa atentar para as suas consequências futuras. Ainda que se trate de um conflito, não lhe compete qualquer decisão sobre o assunto. Diferentemente, o juiz olha para os fatos e os apura na perspectiva de decidir o futuro das partes mediante a prolação da sentença. 138 139 GINZBURG, Carlo. Le Juge et l’historien, Paris, Verdier, 1997, apud RICOEUR, MHE, 2010, p. 332. RICOEUR, MHE, 2010, p. 335. 77 Caberá ao juiz as interpretações adequadas das histórias contadas, dos depoimentos colhidos, dos documentos anexados, para ao final, proferir uma decisão dando razão a uma das partes ou a ambas as partes. 2.4 O Sentimento no Processo Judicial Ainda no âmbito dos argumentos da justiça, propõe-se pensar aqui no discurso jurídico um pouco além do teor das definições contidas nos manuais de linguagem jurídica. Primeiro, porque como já foi dito anteriormente e se repetirá no decorrer desta dissertação, o processo judicial tem por horizonte intermediário a busca da verdade, então, o discurso jurídico, com todas as suas técnicas, tem por objetivo mostrar a verdade, ainda que existam diferentes interpretações da mesma verdade. Então, ainda que a verdade apareça nos discursos do processo judicial permeada de argumentação retórica, é a verdade um horizonte, pois é a partir dela que o juiz poderá proferir uma decisão que distribua corretamente a justiça. Segundo, porque o discurso jurídico contém o sentimento de justiça entranhado no coração do peticionário. Quem se dirige ao Poder Judiciário para pleitear um direito, clama seja feita a justiça, indicando este clamor em seu discurso oral ou escrito. Conforme já explicitado no capítulo 1, segundo Ricoeur o ser humano é mais sensível à injustiça. Na prática social são postos em jogo necessidade da intervenção do Estado conflitos típicos que ocasionam a para decidir entre os interesses ou direitos opostos, o que no quadro proposto por Ricoeur ele denomina “ocasiões da justiça”. Assim, ao submeter um conflito ao Estado para que este diga o direito, parece haver uma tentativa de restauração da ordem, do discernimento entre o bem e o mal, do certo e do errado, do justo e do injusto. O sentimento de justiça é que faz o peticionário narrar os fatos capazes de desencadear de modo lógico, um pedido de aplicação da lei, ou ainda, argumentar 78 contra aqueles fatos que foram narrados na petição inicial. Como o processo judicial tem por objetivo intermediário a busca da verdade, para se alcançar a verdade no processo judicial é necessário estar a parte postulante movida pelo sentimento de justiça. Isto porque, aquele que pede o amparo judicial, seja porque viu seu direito lesado, seja porque está sendo acusado de ter lesado o direito de outro sem tê-lo feito, intentará mostrar que justo é aquilo que pleiteia, porque narra a verdade que, no seu entender, conduz para que haja um resultado justo para si. De igual modo, parece que o sentimento de justiça é que move (ou deveria mover) o juiz a prolatar a sentença contra ou a favor do autor. O juiz ao prolatar a sentença descortinou a verdade dos fatos e, então, dá o fechamento na historia que lhe foi narrada. Sendo assim, uma vez alcançada a verdade, o discurso que corresponde à sentença deveria ser muito mais do que um discurso técnico e frio com o qual muitas vezes se depara no dia-a-dia o operador do direito, mas um discurso humano e acalorado pelo sentimento de justiça diretamente ligado à verdade encontrada no decorrer do processo, não só mediante as narrativas, mas também consoante as provas contidas no processo judicial. Conforme já se falou no capítulo I, Ricoeur ao refletir acerca dos princípios da Justiça aponta que o ser humano é mais sensível ao sentimento de injustiça do que ao sentimento de justiça. Segundo Ricoeur, esta sensibilidade à injustiça decorre do fato de ser ela - a injustiça - predominante na sociedade, haja vista que os indivíduos que convivem em sociedade têm uma visão mais apurada em relação ao que falta para as relações humanas, não tendo a mesma visão quanto à organização dessas relações humanas.140 Isto leva a refletir sobre o sentimento de injustiça contido no processo judicial e como este sentimento poderia se exteriorizar. A hipótese aqui descrita é que o processo judicial carrega em seus discursos sentimentos que se revelam mediante a utilização de termos, a concatenação das palavras, as exclamações, as interrogações, pontuações 140 RICOEUR, LI, 1995, p. 90. 79 em geral, alternância entre palavras com letras maiúsculas e minúsculas, repetição de alguma expressão ou afirmativa, itálicos, negritos, sublinhado, etc. Neste sentido, as pontuações gráficas podem manifestar na escrita diversos sentimentos, tais como, revolta por fato ocorrido, por ação ou omissão de alguém, sentimento de lamentação, sentimento de tristeza, sentimento de desigualdade, dentre outros. A reunião de tais sentimentos que dizem respeito à injustiça fazem com que as palavras escritas com as suas pontuações expressem o sentimento de justiça. Sendo assim, os escritos de um processo transpiram sentimento de justiça, este, formado por uma reunião de outros sentimentos que transpiram primeiramente o sentimento de injustiça, do qual decorre o sentimento de Justiça. Nesse passo, destaca-se que não somente no processo judicial o sentimento de injustiça gera o sentimento de justiça: Não raro o indivíduo se depara com reportagens de telejornais, debates entre profissionais de determinado ramo do direito e consultas a profissionais especializados e/ ou profissionais que estão a serviço do Estado sobre determinado fato ou ato que ocorreu na sociedade e causou perplexidade, partindo daí a discussão sobre ser tal ato/fato injusto para, a partir disto, pensar-se no que seria justo. O advogado ao redigir uma petição ao juiz em que quer enfatizar, por exemplo, a inocência de seu cliente, geralmente vai repetir muitas vezes em seu discurso que seu cliente é inocente, e ainda, por vezes, colocará esta afirmativa em letras maiúsculas seguidas de exclamações, enfatizando que ele – o cliente – É INOCENTE!!! Cita-se ainda a empresa que se defende num processo trabalhista alegando que os pedidos feitos pelo autor são improcedentes porque ela – empresa – nada deve ao ex- empregado. O discurso elaborado pelo advogado é recheado de palavras como “improcedente”, “indevido”, “descabida a pretensão”, “impugna-se veementemente”, etc. Tais palavras e expressões além de serem combativas, talvez revelem o sentimento do texto conforme o modo como serão grifadas, pontuadas, etc.141 141 O leitor pode estar se perguntando se esta forma de redação descrita nos dois parágrafos precedentes não poderia ser somente uma estratégia de convencimento do juiz ao invés de um sentimento. Pode ser 80 Nos depoimentos de testemunhas e, quando da passagem da fala para a escrita, as transcrições não são feitas com as ênfases dadas na entonação de voz do falante, nem em suas expressões. Embora haja pontuação gráfica, estas raramente representam as interjeições faladas no decorrer do depoimento. As palavras faladas são convertidas em texto e, salvo a memória do juiz que colheu o depoimento, quem lê o escrito raramente enxerga na transcrição o nervosismo, a ansiedade, a fúria e todos os demais sentimentos que carregava a fala do depoente. Os discursos orais no processo judicial são – via de regra - restritos a depoimentos de testemunhas e debates orais, e ainda, todos os discursos orais são convertidos em escrita. Ainda assim parece ser possível pensar a construção do discurso escrito e o sentimento de justiça presente no texto com base na análise dos atos de fala feita por J. L. Austin, retomada por Ricoeur. O advogado ao redigir o pedido inicial ou, do outro lado, argumentos defensivos de seu cliente está apresentar os expressando por escrito um conjunto de sentimentos que visam à demonstração da verdade, alcançando a compreensão do julgador. O advogado escolhe as palavras, a forma da narrativa, mostra seu inconformismo com uma situação, demonstra o quanto injusto é algo. Talvez o sentimento contido nos escritos processuais fique adstrito às razões subscritas pelos advogados, que necessitam convencer o juiz de que seu cliente tem o direito, seu cliente está com a razão, seu cliente diz a verdade, ou ainda, que a outra parte não tem direito ao que pleiteia. Diz-se isto em relação aos escritos dos advogados levando-se em conta que o processo judicial também é composto por pareceres técnicos e depoimento de testemunhas. Os pareceres técnicos processuais, ou seja, os laudos periciais médicos, contábeis, de engenharia, etc., provavelmente não carregam sentimentos, já que são técnicos e imparciais e dizem respeito a uma constatação. O sentimento, estratégia e convencimento ou ambas as coisas, dependendo de cada caso e de cada profissional. No entanto, a hipótese aqui cogitada é aquela em que o operador do direito tem intimamente suas convicções acerca do direito de seu cliente e faz a defesa colocando em seus escritos seus mais profundos sentimentos de justiça sobre o caso. 81 perito constata algo a pedido do juiz. Nesta constatação, ao que parece, não há motivação que denote sentimentos de justiça, pois o que predomina é a técnica142. O depoimento da testemunha é carregado de sentimentos, o que faz atentar para a passagem da fala para a escrita no processo judicial e sua importância, como se verá adiante de modo mais detalhado. Com relação à transcrição do depoimento testemunhal, diz Ricoeur que esta transformação da fala em escrita é o momento do arquivamento do depoimento e o seu ingresso na história. O que é falado se tornará escrito e ficará registrado. A escrita fixa um conteúdo. E a passagem da fala para a escrita, segundo Ricoeur, muda o discurso em pelo menos dois aspectos que interessam a este trabalho. A mudança mais óbvia é o meio: Passa do meio oral para o meio escrito. O segundo aspecto da mudança é o que é escrito se torna acessível a todo aquele que sabe ler, tendo um alcance ilimitado, enquanto aquilo que é falado tem destinatário (s) limitado(s).143 O momento do arquivo é o momento do ingresso na escrita da operação historiográfica. O testemunho é originariamente oral; ele é escutado, ouvido. O arquivo é escrita. Ela é lida, consultada. Nos arquivos, o historiador profissional é um leitor.144 Já se disse neste trabalho que o processo judicial contém história contada tanto por quem ingressou com o processo, como por quem nele se defende. E, esta história fica registrada de modo escrito, para ao final, ser relida, analisada e sentenciada pelo juiz. De fato, o testemunho é ouvido e transcrito, ou seja, escreve-se o testemunho para que fique registrado. Este registro compreende a fixação da fala. Com razão Ricoeur ao demonstrar que à medida que o depoimento testemunhal é escrito ele pode ser arquivado e posteriormente consultado, a exemplo do que se faz na historiografia. 142 O juiz não está adstrito a julgar conforme o resultado pericial, mas segundo seu livre convencimento. A perícia é prova técnica auxiliar do juiz. Pode ele acatá-la ou não, conforme suas convicções baseadas nos argumentos das partes e das demais provas colhidas nos autos. 143 RICOEUR, TI, 2009, p. 42-45. 144 RICOUER, MHE, 2010, p. 176. 82 No entanto, em se tratando da questão do sentimento da fala, do momento do depoimento, dos gestos, das feições, das exatas palavras faladas com seus pontos e vírgulas, todas estas características talvez não sejam transcritas juntamente com as palavras. E isto traz consequências às decisões a serem prolatadas. Os sentimentos presenciados quando da colheita do depoimento, talvez fiquem na memória do juiz que os colheu. O juiz analisa o depoimento de uma testemunha levando em conta elementos psicológicos. Para considerar ou desconsiderar um depoimento, há toda uma análise psicológica em torno das falas. Para que esta análise psicológica do momento do depoimento não seja em vão, na legislação pátria há a determinação de que o juiz que colhe as provas é o que deverá prolatar a sentença, sob pena de nulidade da decisão.145 Por outro lado, levando-se em conta o assoberbamento do judiciário, não se pode descartar que não necessariamente no ato de julgar o juiz se lembrará dos gestos, feições, modos de fala ocorridos durante o depoimento, mas levará em conta aquilo que foi registrado, escrito. Ademais, ainda que este juiz prolator da sentença tenha se convencido pela forma como a testemunha depôs oralmente (quer porque se recorda dos detalhes, quer porque prolata a sentença em seguida ao depoimento), a sentença poderá ser passível de recurso ao Tribunal, onde será examinada por um colegiado de juízes, que se deterá tão somente ao que foi escrito simplesmente porque desconhece o ato de fala já que não se encontrava presente. Então, por todo o exposto, a passagem da fala para a escrita é elemento importante para análise do processo judicial, e é o que será visto em seguida. 145 Tal assunto é juridicamente tratado como o Princípio da Identidade Física do Juiz e está insculpido no artigo 132 do Código de Processo Civil: “O juiz titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, caso em que passará os autos ao seu sucessor. Parágrafo Único: Em qualquer hipótese, o juiz que proferir a sentença, se entender necessário, poderá mandar repetir as provas já produzidas. 83 2.5. A Passagem da Fala à Escrita no Processo Judicial A passagem da fala à escrita é de grande importância no processo judicial. “Aquilo que não está nos autos não está no mundo”146, logo, para que seja levado em conta no processo, toda e qualquer fala, todo e qualquer discurso, toda e qualquer argumentação necessita estar registrada no processo judicial para se analisada. Ricoeur, ao tratar da passagem da fala à escrita, deixa claro que a transformação do discurso oral para o discurso escrito implica numa mudança preliminar e óbvia, que é a alteração do seu meio ou canal. Isto quer dizer que o discurso proferido e veiculado através da fala passa a ser escrito, isto é, o canal que antes a utilização da voz humana para a pronúncia das palavras que em conjunto geravam um sentido, agora passa a ser fixado mediante palavras escritas. 147 Levando-se em conta a necessidade de registros processuais, as audiências realizadas com o juiz são tomadas por termo, ou seja, são transcritas e ficam registradas. Os discursos orais proferidos em audiência, os requerimentos ali feitos, os depoimentos, tudo é transcrito, nada permanece “ao vento”, nada permanece no virtual, mas passa a ser registrado. Então, neste momento se pretende fazer uma análise dessa problemática da passagem da fala à escrita e suas interpretações, tomando-se como referência a fase processual de colheita de provas testemunhais, pois embora as testemunhas façam seus discursos de modo oral, como todos os demais atos do processo são transformados em discursos escritos. A testemunha – via de regra148 – é pessoa que viu, ouviu, presenciou, vivenciou os fatos que são objeto da discussão processual e podem ser peças chave para 146 Trata-se de brocardo jurídico oriundo do latim: “Non quod est in actis non est in mundo” e é o brocardo que caracteriza a Verdade Formal do processo judicial, o que será visto em tópico próprio. 147 RICOEUR, TI, p. 43. 148 Diz-se via de regra porque no processo penal há a testemunha de bons antecedentes, isto é, aquela que nada viu acerca do crime, mas que comparece em juízo para narrar acerca da boa conduta do acusado. Há também peritos que por fazerem laudos relativos às questões do processo são chamados a depor como testemunhas. 84 comprovarem os fatos constitutivos (ou impeditivos) do deferimento do pleito do autor. Presume-se que a testemunha que é ativada em depoimento judicial ali está para falar aquilo que sabe, aquilo que presenciou, aquilo que vivenciou149. A testemunha verbaliza a sua versão daquilo que sabe, usando sua voz como canal para, mediante respostas às perguntas, fazer a sua narrativa dos fatos que lhe são arguidos. Ora, se a testemunha vai repetir algo que já vivenciou ou presenciou, que viu ou ouviu alguém falar, não estaria ela interpretando os fatos ao narrá-los? Por força do princípio do livre convencimento atribuído ao juiz, tem ele a faculdade de convencimento de acordo com seus princípios e percepções individuais. Também se espera do juiz a imparcialidade durante todo o processo judicial. Antes de prolatar a sentença, o juiz não pode se posicionar a favor de uma ou de outra parte, conforme se verá em tópico próprio. Sendo assim, será considerado o discurso oral da testemunha sob três aspectos hermenêuticos. O primeiro seria o sentido da possibilidade de a fala da testemunha - que, enquanto discurso oral pode carregar certeza, revolta, passividade, abuso, desconfiança e todo tipo de emoção - não ser meio hábil a fazer com que o juiz continue imparcial até o término da colheita das provas, após o que proferirá a sentença. O depoimento oral de uma testemunha, carregado de sentimentos, pode fazer o juiz enveredar precocemente para um lado processual, viciando previamente as demais provas orais que serão colhidas? O segundo diz respeito à condução do procedimento de arguição da testemunha. Em linhas gerais, após fazer os alertas de praxe (ou seja, que aquele indivíduo está ali para colaborar com a justiça, que não pode mentir sob pena de responder a processo penal por crime de falso testemunho, razão pela qual deverá responder somente com fatos que sejam realmente de seu conhecimento) o juiz passa a inquirir a testemunha acerca dos fatos que são objeto da discussão processual. A dinâmica é: o juiz pergunta à testemunha e ela responde. Se a testemunha não compreender a pergunta, pode pedir 149 Diz-se “presume-se” porque não raramente – por serem falhos os seres humanos – pode alguém comparecer em juízo para de forma simulada dizer sobre o que não sabe e nem viu, com a mesma aparente certeza de quem sabe e de quem viu. 85 ao juiz que a repita. De igual modo, se a testemunha responder e o juiz não entender a resposta ou com ela não se satisfizer, pode reperguntar. Dada depoente, o juiz – via de regra – repete o que ele falou ditando a resposta pelo a fala para que seu assistente (escrevente judiciário) transforme a fala – agora não mais da testemunha, mas do juiz repetindo o que disse a testemunha - em discurso escrito. Esta dinâmica depende assim de várias interpretações. De um lado a testemunha necessita interpretar o que lhe perguntou o juiz. O juiz, por sua vez, ao ouvir a testemunha, interpreta a sua fala e a transmite, ditando as palavras, de acordo com a sua compreensão, para transformá-las em forma escrita. Considerando que o juiz dita a resposta colocando nela sua interpretação, no caso de a testemunha poderá interpretar que aquela fala do juiz não corresponde à sua fala, corrigir o juiz informando-o sobre o que quis dizer. “Eu disse isso e não aquilo”. Aponta-se aqui para a problemática desta dinâmica. Primeiro a quantidade de interpretações presentes num curto espaço de tempo e, talvez, realizadas de uma forma quase que automática, sem qualquer ponderação ou reflexão acerca do que se está sendo feito. Segundo a transformação do sentimento da fala quando ela se transforma em escrita, conforme já se viu em tópico anterior. Um terceiro aspecto hermenêutico que se vislumbra nesse procedimento de conversão do discurso oral em discurso escrito, diz respeito à releitura que será feita destes escritos em outros momentos processuais. A decisão processual é tomada com base naquilo que está nos autos. Efetivamente o depoimento testemunhal está nos autos, porém, de forma escrita e não mais oral. Embora a lei preveja, em muitos casos, o julgamento das causas em uma única audiência, o assoberbamento do poder judiciário não permite esta metodologia ágil e raramente os julgamentos são proferidos na mesma sessão em que se ouviu as testemunhas. Sendo designada outra data para julgamento, o juiz necessitará fazer uma releitura de tudo quanto foi pedido e provado. Nesta ocasião os textos se sujeitam a uma nova interpretação, evidente no caso do juiz não mais se lembrar das nuances havidas 86 na audiência (os sentimentos manifestos, os gestos, os olhares, etc.), conforme se analisou em tópico anterior. Ricoeur separa a significação textual da significação mental ou psicológica. O texto pode descontextualizar-se e se recontextualizar numa nova situação. Esta operação decorre do ato de ler. Pela leitura, o texto se liberta de seu autor e passa a ter sua própria autonomia. 150 O texto se liberta da intenção mental do autor e dos limites de referência da situação. E estas referências abertas pelos textos, Ricoeur denomina “mundo do texto”. Para ele, mundo é o conjunto de referências desvendadas por todo tipo de texto. Então, quando o discurso se torna texto, a escrita altera a referência. No discurso oral, a problemática se resolve pelo modo de se produzir (ou reproduzir) o discurso, o modo ostensivo da fala, a ênfase dada as palavras, etc. A referência se faz pelo poder de mostrar uma realidade comum aos interlocutores. Já no discurso escrito, há um problema diferente pelo fato de haver um mundo presente comum entre escritor e leitor. Não há na modalidade escrita os mesmos mecanismos de revelação da referencia de mundo. Quando um discurso passa da fala à escrita, a escrita torna o texto autônomo, independente em relação ao seu autor, isto quer dizer que o texto não coincide mais com aquilo que o autor quis dizer. Segundo Ricoeur, “graças à escrita o mundo do texto pode fazer explodir o mundo do autor.”151 A escrita é a substituição da voz humana por sinais materiais e gramaticais, razão pela qual, o discurso humano ao fixar-se na escrita é profundamente afetado na sua função comunicativa. A escrita toma o lugar da fala e corresponde ao pensamento humano sem o estágio intermediário da linguagem falada. Se um indivíduo repete oralmente o discurso, ainda que seu conteúdo seja o mesmo, as palavras não serão as mesmas, os gestos, as expressões, os olhares lançados ao falar não serão os mesmos. Na medida em que o discurso passa da fala à escrita, há uma fixação do discurso, desaparecendo os gestos, as emoções, as expressões e os 150 151 RICOEUR, HI, 2008, p. 63. RICOEUR, HI, 2008, p. 62. 87 sentimentos colocados na fala. As palavras não contêm emoção por si só, e ainda que os sinais gráficos queiram demonstrar o sentimento, conforme mencionado neste trabalho, vai depender do leitor dar-lhes ou não esta característica. Aquilo que parece uma simples mudança de modalidade – da oral para a escrita – é, segundo Ricouer, um fator que acarreta várias outras consequências, inclusive, quanto à compreensão. Assim, para Ricoeur a tarefa hermenêutica consiste em discernir o mundo do texto e não o que o autor do texto quis dizer. Para Ricoeur, “interpretar é explicitar o tipo de ser-no-mundo manifestado diante do texto”152. A tarefa hermenêutica não é a investigação e a revelação das intenções psicológicas contidas e ocultas no texto. O que deve ser interpretado num texto é a proposição de mundo.153 Segundo o pensamento de Ricoeur, o mundo do texto não é, portanto, o da linguagem corriqueira do quotidiano. O mundo do texto promove um distanciamento e é por meio do distanciamento o que a ficção gera uma nova apreensão da realidade: pela ficção, pela poesia, ampliam-se inovadoras possibilidades de ser-no-mundo.154 Em se tratando do processo judicial, especificamente, em se tratando do depoimento das testemunhas, não há que se falar nem em ficção, nem em poesia, já que o que se busca é a verdade, assim considerada verdade como correspondência (como se verá em tópico próprio). A testemunha vai falar aquilo que sabe sobre o assunto objeto do processo. Sabe por que viu, porque participou. No entanto, ainda que não se compare à ficção e nem à poesia, aquilo que será narrado pela testemunha e transcrito nos autos será interpretado pelo leitor, de acordo com a sua proposição de mundo. 152 RICOEUR, HI, 2008, p. 65. RICOUER. Do Texto a Acção – Ensaios de Hermenêutica II, Tradução de Alcindo Cartaxo e Maria José Sarabando. Portugal: Res, 1989, p. 62. 154 RICOEUR, HI, 2008, p. 66. 153 88 2.6. O Esquema de Comunicação de Jakobson e o Processo Judicial Sendo o processo judicial formado por discursos escritos, quer aqueles que foram originalmente escritos, quer aqueles que foram orais e se transformaram em escritos, para esclarecer o gênero literário que compõe o processo judicial e a forma de sua inscrição, se fará uma comparação entre e mensagem e código estudada por Ricoeur no esquema de comunicação estabelecido por Jakobson. Nessa perspectiva, entende-se que no processo judicial a “mensagem” é o que foi escrito, o conteúdo, o discurso registrado em forma narrativa. O “código” diz respeito à forma como os registros foram feitos, isto é, o que foi usado para a produção do discurso. O processo judicial tem toda uma técnica própria para a sua inscrição, a codificação utilizada inclui no discurso processual uma forma de literatura narrativa, conforme já se falou neste trabalho. Menciona-se somente narrativa porque os demais gêneros literários apontados pelo filósofo, quais sejam, poesia e ensaio, provavelmente não estão presentes no processo judicial. Isto porque, o ensaio é uma composição sobre determinado tema sem a análise de fatores empíricos comprováveis. O ensaio é um exercício do próprio julgamento do autor e suas inclinações. O processo judicial não pode ser meramente um exercício das inclinações do autor, tampouco do seu julgador. Os discursos escritos do processo judicial têm por fundamento os fatos, as provas e a lei aplicada ao caso concreto e não as inclinações das partes ou do juiz. Quanto à poesia, embora alguns artigos de Lei soem aos ouvidos desta pesquisadora como poesia, como por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, não se pode chamar o discurso jurídico de poesia por conta do lugar e da função poética, na visão de Jakobson, para quem a poesia diz respeito a versos rimados, sendo umas poesias veiculadas à função referencial da linguagem, outras vinculadas à função emotiva, outras à função conativa. 89 Ricoeur, retomando a classificação de fala estabelecida por J. L. Austin, considera que todas as classes de fala, isto é, ordens, desejos, perguntas, advertências, promessas, além de dizerem algo fazem algo ao dizer, produzindo efeitos pelo que disseram. Como se sabe, são estes atos classificados por Austin como atos locutórios, isto é, aqueles que dizem algo; ilocutórios, isto é, atos que fazem algo e perlocutórios, isto é, os que produzem efeitos.155 Ora, a análise feita por Ricoeur é rica e abrangente e não se quer empobrecê-la trazendo para o âmbito do processo judicial como uma mera aplicação, porque talvez nem seja possível fazê-lo. O que se pretende ao evocar a classificação de fala estabelecida por Austin e retomada por Ricoeur é analisar o processo judicial sob esta lente, na tentativa de melhor compreensão acerca do que ocorre no processo judicial. Sendo assim, poder-se-ia dizer que os atos ilocutórios no processo judicial são aqueles que despertam não só a compreensão, mas o sentimento de justiça. Eles fazem algo ao dizer. Os escritos produzidos no processo (e para o processo) têm o objetivo de fazer não só com que o juiz compreenda a história, mas também que se convença de que daquela narrativa decorre o direito perseguido pelo autor ou pelo réu. Assim, a escrita do processo faz algo ao dizer. A escrita busca ser demonstrativa da verdade e convincente, fazendo com o juiz defira ao peticionário o direito perseguido por ele. O ato ilocutório não somente ocorre quando o escritor alcança um objetivo, qual seja, de fazer o juiz compreender e se convencer do direito de quem o persegue. Este fazer algo também pode ter efeito contrário: Fazer com que o juiz não se convença. O não convencimento do juiz não retira da escrita a função de fazer algo. Neste caso a escrita não fez o juiz se convencer, mas continuou fazendo algo. Nesta mesma esteira de raciocínio, as partes ao produzirem seus escritos encaminhando seus pedidos ao juiz praticam atos locutórios e ilocutórios. Locutórios porque seus escritos dizem algo. As palavras contidas nos escritos, o fraseado, as 155 RICOEUR, TI, 2009, p. 28. 90 proposições têm significados. Ilocutórios porque os escritos fazem algo ao dizer. As partes se utilizam do processo judicial para fazerem seus pedidos ao juiz. Estes escritos têm efeitos, fazem algo, por isso são ilocutórios. Os efeitos gerados pelo que se escreveu, pediu, negou, alegou, etc. são atos perlocutórios. O juiz, por sua vez, quando profere uma decisão também está praticando atos locutórios e ilocutórios, porque a sentença proferida diz algo (locutório) e isto que ela diz gera efeitos (ilocutórios). Tais efeitos são atos perlocutórios. Como já foi dito, o processo é formado por diversos discursos, que podem ser analisados como constituídos por atos locutórios, ilocutórios e perlocutórios, que ampliam a noção de significação do discurso, que se analisará a seguir. 2.7. A Significação do Discurso no Processo Judicial Ricoeur faz uma ampla análise sobre a significação do discurso. Retoma-se aqui o que já foi analisado no capítulo 1 acerca da composição do discurso. Conforme visto no capítulo 1, para Ricoeur o discurso é composto pelo binômio evento e significação, sendo o evento composto por algumas características reunidas, dentre elas: o acontecer de algo mediante a fala de alguém (“algo acontece quando alguém fala”156), a temporalidade, a ligação à pessoa que fala e troca entre ouvinte e locutor (um fala, outro escuta).157 Além disso, segundo Ricoeur, o evento corresponde ao ingresso do mundo na linguagem mediante o discurso. Este mundo corresponde à troca realizada entre os interlocutores, estabelecendo-se um diálogo em que alguém diz alguma coisa sobre algo para alguém. No que tange à significação do discurso, Ricoeur destaca que é ela que deve ser compreendida e não o discurso, porque a significação permanece, mas o evento não. Para melhor elucidar a questão da significação Ricoeur subdivide a significação em objetiva e subjetiva. Por significação objetiva entende a significação da enunciação, 156 157 RICOEUR, HI, 2008, p. 53. RICOEUR, TI, 2009, p. 28. 91 do conteúdo proposicional, isto é da frase composta por sujeito e predicado e que transmite um sentido mediante a junção das palavras. E ainda demarca outra subdivisão na significação objetiva explicando que pode ela significar “o que” do discurso e “acerca de que” do discurso. “O que” é o seu sentido, ou seja, o que é dito e “acerca do que” a sua referência, acerca do que se diz. Por significação subjetiva diz ser o que o locutor fez ao dizer, a sua intenção de reconhecimento pelo ouvinte. 158 Não é tarefa fácil pensar o processo judicial e seus escritos tomando-o sob a lente desta análise feita por Ricoeur. Aqui se tentará fazê-lo refletindo que a significação objetiva do discurso processual no que tange ao significado, ou seja, ao “o que”, pode ser as manifestações escritas do processo: as petições, as sentenças, os despachos judiciais (decisões interlocutórias), as atas, os laudos, as contestações, os recursos. Isto é o que é dito no processo judicial. Conforme já explanado, tudo que é dito no processo judicial se não estiver escrito tornar-se á escrito e o que não estiver escrito não estará no processo. Para que o “dizer” esteja no processo é necessário que se escreva as chamadas “peças processuais”, isto é, manifestações escritas das partes através de seus advogados, manifestações dos peritos, além das atas (onde se transcreve o que ocorreu nas audiências), as decisões interlocutórias do juiz, a sentença final, etc. Como disse Ricoeur, “o sentido é imanente ao discurso e objetivo no sentido de ideal”159. Em se tratando do processo judicial há um horizonte a ser alcançado e sem o discurso escrito, sem o dito, sem as peças processuais adequadas, sem os laudos, sem os despachos, sem a sentença, o ideal processual que corresponde à busca e reconhecimento ou não de um direito - não será alcançado. Em se tratando da referência, isto é, “acerca do que se diz”, é provável que guarde total dependência à forma como o assunto objeto do processo judicial será nele tratado, ao modo de narrar as minúcias de cada caso, ao modo de contar a história da qual desencadeará um pedido, à forma de suscitar o artigo de lei para que se defira o 158 159 RICOEUR, TI, 2009, p. 34-35. RICOEUR, TI, 2009, p. 25. 92 pedido, etc. Para se escrever acerca de algo, o locutor/escritor se vale da linguagem e, articulando as palavras, as vírgulas, os pontos, os parágrafos, as interjeições, monta um encadeamento lógico acerca do que pretende dizer, sempre em busca de alcançar o objetivo processual de reconhecimento do direito perseguido. O escritor escolhe as palavras, escolhe escolhe as sua melhor colocação para a formação das frases, melhores frases e elabora um discurso fazendo com que a articulação das palavras transmita uma mensagem. No que tange à significação subjetiva, ou seja, o resultado da ação de dizer do locutor refletida no ouvinte, para analisá-la tem-se primeiro que refletir sobre quem seria o ouvinte, o alvo do discurso no processo judicial. Quem é o ouvinte no processo judicial? Seria somente o juiz a quem as petições são dirigidas, a quem os laudos são encaminhados, ou o(s) ouvinte (s) seria(m) as partes litigantes? uma dinâmica Entende-se que existe em que todos os participantes do processo judicial mudam seu posicionamento conforme o caminhar do processo. Ora, ao escrever a petição inicial, a parte – através de seu advogado – é o locutor e o juiz e a parte contrária, são os ouvintes. Quando a parte contrária se defende daquilo que foi dito na petição inicial, ela - a parte contestante - é a locutora, sendo o juiz e a parte autora os ouvintes. Quando o perito apresenta o seu laudo, ele é o locutor e as partes e o juiz são os ouvintes. Quando o juiz transcreve as atas de audiência, bem como quando prolata os despachos, as decisões interlocutórias e a sentença final ele é o locutor e as partes litigantes as ouvintes. Este revezamento de papéis não retira de cada locutor a intenção do reconhecimento do seu discurso pelo ouvinte nem a força do ato linguístico. Talvez simplesmente cada locutor intente ser reconhecido por seu ouvinte, sabendo que no momento seguinte ele deixará de ser locutor e passará a ser ouvinte. No processo judicial, ainda que se saiba que os locutores se valham da linguagem processual própria, com técnicas jurídicas e vocabulários peculiares às práticas processuais e forenses, nem por isso a linguagem deixa de exteriorizar o ser-nomundo de cada locutor e sua compreensão das situações do mundo. Explica-se: Se 93 fosse o escrito processual somente um amontoado de palavras que não refletissem o estar no mundo do locutor, as peças processuais seriam absolutamente iguais e engessadas. Então, por exemplo, para um pedido do famoso “habeas corpus”160 imagina-se que bastaria o impetrante ter acesso a um formulário pré-montado, com palavras previamente escolhidas de modo genérico, adicionar o nome do impetrante e a assinatura do advogado, remetendo-o à autoridade competente, que por sua vez também teria um formulário previamente montado com as opções de deferimento e indeferimento e justificativas generalizadas para tal. Numa outra reflexão exemplificativa, se poderia pensar na existência de uma sentença matriz a ser aplicada a todos os pedidos sobre o mesmo assunto. Assim, todos os pedidos de despejo por falta de pagamento teriam uma sentença pré-montada; todas as reclamações trabalhistas; todas as ações de cobrança e assim sucessivamente. O aparelho judiciário seria como uma máquina em que se aperta o botão do tipo de problema e sairia um extrato da sentença solucionadora. No entanto, não é assim que funciona e a linguagem dos escritos processuais exprime a experiência de cada locutor, os seus mais diversos sentimentos, inclusive o sentimento de injustiça, consoante já se narrou, toda a sua experiência de vida, o modo como compreende o mundo e as situações do mundo. Toda a técnica jurídica processual que venha a ser utilizada nos escritos de um processo não consegue retirar linguagem esta dimensão da experiência do locutor. sentido de referência ao locutor da Nesse sentido, parece que o aqui examinado ultrapassa as possibilidades contempladas por Ricoeur. 160 Habeas Corpus é a medida que visa proteger o direito de ir e vir. É concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Quando há apenas ameaça a direito, o Habeas corpus é preventivo. Disponível em: <http://estudandoodireito.blogspot.com.br/2006/05/definio-habeas-corpus-habeas-data.html>. Acesso em: 02 mai. 2012. 94 2.8. A Busca pela Verdade no Processo Judicial Dentro do quadro proposto por Ricoeur da justiça como prática social composta por ocasiões da justiça, canais da justiça e argumentos da justiça, continua-se a se tratar neste tópico, assim como nos demais tópicos deste capítulo, dos argumentos da justiça. Neste tópico se examinará a busca da verdade no processo judicial e para tanto, se partirá do conceito de retórica. Isto porque, chama a atenção no processo judicial a vasta argumentação utilizada por cada parte, através de seus advogados, na tentativa de convencer o juiz acerca da sua versão dos fatos. Seria esta argumentação escrita a indicação da verdade ou mera retórica? Para examinar a questão, há que se levar em conta o conceito de retórica. Segundo o dicionário de filosofia de Japiassu, retórica é a arte de utilizar a linguagem de forma persuasiva em um discurso para convencer um indivíduo (ou um público) de algo. Trata-se numa primeira visada de uma técnica argumentativa baseada na habilidade de emprego da linguagem para convencer os ouvintes.161 Para Reboul a retórica é “a arte de persuadir pelo discurso”.162 Segundo Reboul, Aristóteles definiu a retórica cada caso comporta”163. como a “a arte de achar os meios de persuasão que Escreveu Aristóteles: “A retórica é uma forma de comunicação, uma ciência que se ocupa dos princípios e das técnicas de comunicação. Não de toda comunicação, obviamente, mas daquela que tem fins persuasivos”.164 Então, para estes filósofos, a retórica não é aplicada a todos os discursos, mas somente aos discursos que visem à persuasão. 161 JAPIASSU e MARCONDES, 2006, p. 240. REBOUL, 2004, p. 24. 163 ARISTÓTELES. Rhétorique, Les Belles-Lettres. 3 vols., trad. Fr. M. Dufour, 1967 apud REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 24. 164 ARISTÓTELES, Retórica, v. VIII, Tomo I. Obras Completas de Aristóteles. Coordenação de António Pedro Mesquita. 2ª Ed. Revista. Revisão de Texto Levi Condinho, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Portugal, 2005. Disponível em: <http://br.librosintinta.in/retorica-aristoteles-pdf.html>. Acesso em: 15.02.2012. 162 95 Comparando as definições descritas nos parágrafos precedentes, verifica-se que a primeira – de Japiassu - define a retórica como arte de usar a linguagem de modo persuasivo para convencer. A segunda – de Reboul - diz tratar-se de arte de persuadir pelo discurso. E como já se mencionou nesta dissertação que cada parte tem por horizonte convencer o juiz de sua versão dos fatos e de seu direito, surge a problemática sobre a existência de diferença entre persuadir e convencer. Seria persuadir a mesma coisa que convencer? Ou são conceitos diferentes, cabendo a expressão “persuadir para convencer” mencionada por Japiassu na definição retro transcrita? Embora alguns dicionários de língua portuguesa indiquem as palavras persuadir e convencer como sinônimas, existe na filosofia a discussão sobre a diferenciação entre os atos de persuasão e convencimento. Olivier Reboul definiu “persuadir” como levar a crer e “convencer” como levar a compreender. E desta definição outro desdobramento surge: A diferença entre crer e compreender. Novamente consultando-se o dicionário para a definição dos vocábulos, encontra-se no Dicionário Abbagnanno as seguintes características da noção de crença: Na filosofia contemporânea, a noção de crença é marcada pelas seguintes características: 1) A crença é atitude de adesão a uma noção qualquer; 2) Essa adesão pode ser mais ou menos justificada pela validade objetiva da noção ou não se justificar de modo algum; 3) A própria adesão transforma a noção em regra de comportamento (o que Peirce chamava de “hábito de ação”); 4) Como regra de comportamento, em alguns campos a crença pode produzir sua própria realização ou seu próprio desmentido.165 Então de acordo com algumas das características apontadas pode-se dizer que levar a crer é fazer alguém aderir a algo de modo justificado ou não, sendo esta adesão capaz de transformar a noção de regra de comportamento. Se persuadir é, segundo Reboul, levar a crer, uma das hipóteses de abrangência da palavra persuasão seria a de levar outra pessoa a adesão de algo, de alguma ideia, de alguma noção. 165 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1ª. Edição Brasileira coordenada e revista por Alfredo Bosi. Revisão da tradução e tradução dos novos textos: Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 219. 96 Examinada a questão da crença, resta ainda tratar do convencimento. Segundo Reboul, convencer é levar a compreender. Conforme se mencionou no capítulo 1, para Emerich Coreth, compreender significa apreender o sentido, num universo em que o sentido é aquilo que é significativo em um contexto e tem uma significação originária da linguagem.166 Ao se examinar o estado em que Ricoeur encontrou o problema hermenêutico, foi demonstrado que segundo Ricoeur, a teoria hermenêutica oriunda dos pensamentos de Schleiermacher e Dilthey teve por tendência a identificação da interpretação como compreensão, entendida a compreensão como reconhecer a intenção do autor do texto. Para Ricoeur tanto Schleiermacher como Dilthey atribuíram tarefa equivocada à interpretação diante da impossibilidade de “compreender um autor melhor do que ele a si mesmo compreendeu”167. Para Ricoeur, um texto escrito é uma forma de discurso e não somente uma forma de comunicação intersubjetiva, ou seja, um texto não é um modo de comunicação em que o ouvinte (ou leitor) busca a compreensão do autor e não a do texto e segundo Ricoeur, um texto se abre a um horizonte infinito, não podendo ficar restrito à compreensão de seu autor (daquilo que o autor quis dizer). Então, compreender, para Ricoeur, não é reconhecer a intenção do autor do texto, e nem um modo de conhecimento, mas é um modo de ser.168 Nesse sentido levar a compreender não é fazer com que o destinatário da mensagem (ou ouvinte) reconheça a intenção do autor, mas fazer com que reconheça o que aquele texto diz. Destarte, a diferenciação entre persuadir e convencer na forma como proposta por Reboul, isto é, persuadir como levar a crer e convencer como levar a compreender, parece não ser suficiente à composição da lente para exame da persuasão e do convencimento no processo judicial. No entanto, ao se fazer um casamento entre a ideia de Reboul e a de Perelman a lente fica mais nítida. Isto porque, para o filósofo belga Chaim Perelman a diferenciação entre convencimento e persuasão também não é tão simples e tem a ver, por um lado, com o 166 CORETH, 1973, p. 50-51. RICOEUR, TI, 2009, p. 38- 39. 168 RICOEUR, CI, 1969, p. 8. 167 97 tipo de auditório a quem se dirige o discurso e por outro, com a razão. Para Perelman uma argumentação persuasiva é aquela que só vale para um auditório particular, ao passo que uma argumentação convincente é a que se pretende válida para todo ser dotado de razão169. Destaque-se, no entanto, que Perelman ao apresentar a diferença entre persuadir e convencer deixa claro não haver uma definição precisa por conta das diferenças entre os auditórios. Diz Perelman: Nosso ponto de vista permite compreender que o matiz entre os termos convencer e persuadir seja sempre impreciso e que, na prática deva permanecer assim. Pois ao passo que as fronteiras entre a inteligência e a vontade, entre a razão e o irracional, podem constituir um limite preciso, a distinção entre diversos auditórios é muito mais incerta, e isso ainda mais porque o modo como o orador imagina os auditórios é o resultado de um esforço sempre suscetível de ser retomado. Nessa esteira de raciocínio se poderia dizer que: levar a crer (persuadir) é fazer alguém e/ou um público especifico, um auditório específico aderir a certa ideia ou noção. Levar a compreender (convencer) seria usar de argumento com alcance a todo ser dotado de razão, independentemente do tipo de auditório a que pertença o receptor da mensagem. Nesse sentido, convém examinar a que auditório o discurso no processo judicial é dirigido. Se o foco das partes, representadas por seus advogados é “convencer” o juiz de sua versão como verdadeira, pode o juiz ser considerado um auditório? E em caso positivo, levando-se em conta as características individuais de cada juiz, seria cada juiz um auditório diferente? Ou poderia se considerar os juízes como um tipo de auditório, independentemente das diferenças existentes nas características pessoais e individuais de cada um? à persuasão ou, por ser E ainda: seriam os juízes um auditório específico a ser sujeito o juiz dotado de razão, pode ele de aderir a qualquer argumentação convincente válida? 169 PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação. A Nova Retórica. Tradução Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 31. 98 As perguntas acima não têm respostas precisas. De acordo com o pensamento de Perelman, se levado em conta o fato de ser o juiz um ser racional, capaz de aderir a toda e qualquer argumentação válida, a argumentação levada ao juiz deve convencê-lo. Cumpre aqui esclarecer que Perelman indica como “válido” o conjunto de fatos e verdade que todo homem deve aceitar. Mas e se a argumentação for válida em outros aspectos que não o legal, mas for contra a lei, pode ele aderir? A resposta é não. O juiz não pode decidir contrariamente a lei. No entanto, vislumbra-se a hipótese de também não ser adequado afirmar que o juiz é persuadido, comparando-o a um auditório particular. Se cada indivíduo tem suas peculiaridades, então, auditório particular desconhecido do orador cada juiz seria um visto terem características pessoais diferentes. Como disse Perelman, a diferenciação entre os diversos auditórios é incerta também porque depende do modo como o orador imagina os auditórios. Ainda que o juiz não possa aderir a uma argumentação válida contra a lei, conclui-se que a expressão que mais se aproxima da realidade do processo judicial é “convencer”, pois o juiz usará a razão para aderir as argumentações válidas, aí consideradas aquelas válidas para si, como indivíduo e, concomitantemente, legais. Ademais, considerando a diferenciação entre crer e compreender, também se mostra mais plausível que a função da retórica seja “convencer” o juiz e não persuadi-lo, uma vez que o juiz deve ser levado a compreender sobre algo que lhe será explicado. Não será somente levado a crer, convencimento mas deve ser levado a compreender, formando seu respaldado em argumentos, nas provas, nas demonstrações feitas durante o processo judicial, quer documentais, quer testemunhais ou periciais, levando em conta para proferir a decisão a lei, todas as nuances que envolvem cada caso em sua especificidade e individualidade e não somente a crença pela crença, dissociada do conhecimento, das provas, da demonstração Desse modo, adota-se a nomenclatura “convencimento” do juiz, pelo que, a retórica será considerada como a arte da linguagem que visa convencer, no caso do processo judicial, convencer o juiz. Vencida a discussão acerca da diferenciação entre persuadir e convencer, retomase a questão da argumentação retórica no processo judicial. Sendo a retórica a arte da 99 linguagem com uma finalidade, seria plausível dizer que os argumentos redigidos pelos advogados são argumentos retóricos que independem da verdade e visam somente o convencimento ou tais argumentos servem para revelar a verdade dos fatos – como correspondência - mediante a utilização de palavras adequadas com o fito de convencer? E o depoimento das testemunhas? Qual seria a importância da retórica para o depoimento testemunhal? Comentando o livro “A retórica” de Aristóteles, Reboul destaca que a retórica é útil porque dela se pode esperar o que se espera de todas as técnicas: um serviço.170 Passa-se então a examinar sobre o tipo de serviço que a retórica presta ao processo judicial. Inicialmente para se pensar sobre esta questão do serviço prestado pela retórica, parece ser necessário reiterar que no processo judicial há uma tentativa de busca da verdade. Com base na verdade apurada é que o juiz decidirá o conflito. A doutrina jurídica atribui à verdade dupla face: “Verdade Formal” e “Verdade Real”. A primeira diz respeito às provas produzidas nos autos, à verdade encontrada, correspondente ao que foi demonstrado no processo judicial. O brocardo jurídico “o que não está nos autos, não está no mundo” (quod non est in actis non est in mundo) expressa o princípio da verdade formal, na medida em que indica os limites da prova utilizável pelo julgador para proferir sua decisão, ou seja, a prova constante dos autos. A segunda, verdade real diz respeito ao princípio da livre iniciativa probatória, através do qual, o juiz não está obrigado a se satisfazer apenas com as provas levadas ao processo pelas partes ou por ela solicitadas, podendo assumir uma postura ativa na sua produção. O juiz tem a liberdade de determinar a juntada de documentos que sabe existir ou presume a existência, de ouvir testemunha sequer apontada pelas partes, de realizar perícias não requisitadas, etc., desde que pertinentes ao fato. A “verdade real” trata-se daquilo que o juiz enxerga além do que está materializado no processo, determinando novas diligências para averiguar a verdade existente além do que está inicialmente declarado. Sendo assim, “verdade formal” e “verdade real” acabam se 170 REBOUL, 2004, p. 25. 100 misturando, haja vista que a verdade formal em tese, está formalmente nos autos e a verdade real, aquela que está além dos autos, será trazida ao processo de acordo com as determinações de produção de provas pelo juiz, tornando-se verdade formal.171 Não se pretende analisar minuciosamente todas as possibilidades e definições do conceito de verdade na filosofia, tampouco se prender a questão técnica jurídica de distinção entre verdade real e verdade formal. Não é este o foco deste trabalho. Há que se reconhecer que o tema verdade é de uma profundidade tamanha que mereceria uma dissertação exclusiva para se tentar abarcar Pretende-se aqui considerar um pouco de sua abrangência. o conceito de verdade, entendida a verdade como correspondência entre o que foi alegado e os fatos ocorridos. Em se tratando do processo judicial não se pode negar que tudo que ali acontece, desde a narrativa dos fatos, a produção de provas – quer documentais, quer periciais, quer orais, pedidas pelas partes ou pelo juiz - até a prolação da sentença é uma tentativa de se encontrar a verdade como correspondência entre o que foi alegado e o que aconteceu de fato, para atribuir o direito a quem o detém por força da verdade. Assim, por exemplo, se o ex-empregado ingressa com processo judicial visando ser reconhecido o seu direito à percepção de indenização decorrente de dano moral por ter sido humilhado por seu superior hierárquico, o empregador será chamado para responder ao processo e tudo que ocorrer no processo terá por horizonte apurar se aquele chefe agia de modo a humilhar e constranger o ex-empregado. Ou seja: o horizonte do processo é a apuração da correspondência entre o alegado e que de fato ocorreu. E não importa que se tenha num mesmo processo vários pedidos, diversas pretensões coligadas a um mesmo assunto. A apuração da verdade abrangerá uma por uma das pretensões. Pode-se encontrar verdade em determinados pedidos e falsidades em outros ou ainda, verdade ou falsidade em todos os pedidos. Segundo a definição contida no dicionário de Abbagnano acerca do vocábulo “verdade”, é 171 possível distinguir cinco conceitos fundamentais de verdade: (1) A O princípio da verdade real é típico do processo penal, já que no processo civil o juiz – via de regra – fica adstrito a “verdade” levada aos autos pelas partes , ou seja, verdade formal. CAPEZ, Fernando. Processo Penal, 17 ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2007, p. 40. 101 verdade como correspondência; (2) A verdade como revelação; (3) A verdade como conformidade a uma regra; (4) A verdade como coerência; (5) A verdade como utilidade, é provável que ao se refletir sobre o depoimento testemunhal se encontre a verdade nestes mais diversos conceitos. No entanto, para o exame aqui proposto, se considerará a verdade somente como correspondência. Assim diz o dicionário acerca dessa da verdade como correspondência: O conceito de V. como correspondência é o mais antigo e divulgado. Pressuposto por muitas das escolas pré-socráticas, e pela primeira vez, explicitamente formulado por Platão com a definição do discurso verdadeiro que dá no Crátilo “Verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são; falso é aquele que as diz como não são”(Crat. 385 b. v. Sof. 262 e; Fil. 37 c). Por sua vez Aristóteles dizia: “Negar aquilo que é e afirmar aquilo que não é, é falso, enquanto afirmar o que é e negar o que não é, é a verdade” (Met., IV, 7. 1011 b 26ss v. V, 29, 1024 b 25). Aristóteles enunciava também as duas teses fundamentais dessa concepção de verdade. A primeira é que a verdade está no pensamento ou na linguagem, não no ser ou na coisa (Met., IV, 4, 1027 b 25). O segundo é que a medida da V. é o ser ou a coisa, não o pensamento ou o discurso: de modo que uma coisa não é branca porque se afirme com V que é assim, mas afirma-se com V. que é assim porque ela é branca(Met., IX, 10, 1051 b 5)... Examinando a questão da verdade processual, verifica-se que nem sempre as coisas aparecem como são; nem sempre se afirma o que é e se nega o que não é. Por isso, ou seja, porque nem sempre se diz o que é, que se falou anteriormente – e aqui convém repetir - que o que acontece no processo judicial acaba por ser uma tentativa de encontrar a verdade, não havendo garantia de que este fim será alcançado. Como bem disse Aristóteles “Negar aquilo que é e afirmar aquilo que não é, é falso, enquanto afirmar o que é e negar o que não é, é a verdade”.172 Num processo judicial que tem por horizonte a busca da verdade, as partes litigantes deveriam afirmar o que é e negar o que não é, no entanto, por equívoco ou com o fito de se defender ou ainda, fazer valer um direito inexistente, por vezes negam aquilo que é e afirmam o que não é, tornando falsa (s) a(s) versão (ões) apresentada(s). 172 ARISTÓTELES. Metafísica, vol. II, Ensaio Introdutório. Texto grego com tradução e comentário de Giovanni Reale. Tradução Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 2002, p. 179 (Met. IV, 7. 1011 b, 25). 102 Aquilo que é falso pode ser entendido como verdade e, através da sentença judicial, pode passar a valer como verdade, mesmo sendo um entendimento equivocado, advindo daí as consequências de se tomar por verdade o que era falso. Para melhor compreensão cita-se um caso prático: Diz-se muito que “prova de pagamento é recibo”. Assim, se uma pessoa é cobrada judicialmente por uma dívida que pagou mas cujo recibo não teve o cuidado de guardar por um tempo, certamente será condenado a pagar ao pretenso credor do valor cobrado. Ora, mas neste caso a verdade é que o credor recebeu e o devedor já pagou. O fato de o devedor não provar o pagamento não transforma a verdade do pagamento em mentira. No entanto, o que se tomará por verdade será a inadimplência do devedor. Independentemente da questão probatória, o que se evoca é que a realidade não foi alterada, tomou-se por verdade o que era mentira. Como disse Aristóteles “de modo que uma coisa não é branca porque se afirme com verdade que ela assim é, mas afirma-se com verdade que ela é branca porque é”. 173 Sendo assim, ainda que se tome uma alegação falsa por verdade, isto não alterará a realidade: a verdade continuará sendo verdade e a mentira continuará sendo mentira, ainda que tomada por verdade. No parágrafo anterior se exemplificou que um argumento falso pode ser acolhido por falta de provas, o que não o torna verdadeiro, mas é tomado por verdadeiro. No tanto, nem sempre as alegações falsas são acolhidas como verdadeiras pela falta de prova daquilo que de fato seria a verdade. Pode-se “provar” uma mentira e esta ser tomada por verdade, como se verá adiante. Para o reconhecimento da verdade no processo judicial não bastam argumentos, nem explicações isoladas. É necessária a produção da prova daquilo que se alega e se argumenta. Para convencer o juiz, como já se mencionou num dos parágrafos anteriores, a parte há que levá-lo a compreender. Por este motivo, e considerando que o juiz prolatará a sentença com base naquilo que foi levado a crer durante o desenrolar do processo judicial, é preciso examinar a questão da colheita de provas, notadamente, as testemunhais. 173 ABBAGNANO, op. cit., p. 995-996. 103 Para provar os fatos – quer sejam os constitutivos de direito ou os impeditivos, extintivos ou modificativos do direito – durante o processo judicial as partes indicam e requerem a produção de suas provas.174 As provas podem ser testemunhais e periciais.175 As provas produzidas documentais, serão essenciais à formação do convencimento do julgador, uma vez que visam à demonstração e comprovação de fatos alegados pelo autor ou réu. Vale ressaltar que a prova tem por objeto a comprovação do fato e não do direito em questão. Quem decide pela existência ou inexistência do direito perseguido é o julgador, que forma seu convencimento de acordo com a comprovação ou não dos fatos. É por isso que o brocardo jurídico que diz “Dá-me os fatos, que eu te darei o direito” é usualmente suscitado nas demandas judiciais, já que as partes em litígio comprovam (ou não) os fatos e o juiz a partir deles e das provas produzidas (ou não) decide acerca do direito. Os argumentos levados a efeito nas peças processuais podem ser acompanhados dos documentos que os embasam, mas, na ausência de documentos ou caso este não sejam suficientes, os argumentos são sustentados por depoimentos de testemunhas, que são chamadas a confirmar ou negar os fatos relatados pelo autor e pelo réu. Destarte, o depoimento testemunhal é de grande importância no processo judicial e é aplicado em quase todos os tipos de processo (civil, penal, trabalhista), ofertando-se às partes produzirem prova de suas alegações mediante a narrativa de terceiros que não sejam as próprias partes litigantes e que têm por missão a narrativa daquilo que sabem por que viram. 174 O juiz também pode determinar a realização de prova que entender cabível para a formação de seu convencimento. 175 A prova pericial é o relatório técnico realizado por profissional indicado pelo juiz, ou seja, com neutralidade e conhecimento técnico sobre determinado assunto. Este relatório também chamado Laudo, auxiliará o juiz no seu convencimento sobre as questões versadas no litígio. Assim, se a questão discutida é inerente a doença adquirida no trabalho, por exemplo, o perito será um médico, que avaliará se o autor da demanda é portador da moléstia alegada e se esta moléstia guarda relação com o serviço executado. Se a questão a ser discutida tiver cunho contábil, o juiz nomeará um perito contador e assim sucessivamente. 104 Levando-se em conta que este trabalho visa a análise da presença da interpretação nas decisões judiciais, é de extrema importância esclarecer o depoimento testemunhal, suas formas e consequências, visto que tais depoimentos servirão ao convencimento do juiz e, por conseguinte, o embasamento da decisão judicial. Então, no que tange à situação específica da produção de prova mediante a oitiva de testemunhas - ou seja, oitiva de indivíduos que não são partes no processo mas que têm conhecimento com os fatos objeto da discussão - viram os fatos, participaram de alguma forma para a ocorrência dos fatos e cujas narrativas orais, chamadas no processo de depoimentos, podem ajudar no convencimento do juiz acerca da existência ou inexistência do direito do autor, no processo judicial ela é feita na modalidade facea-face. A testemunha responde oralmente às perguntas – também orais – que lhe são feitas pelo juiz, razão pela qual, pode-se considerar o depoimento testemunhal como um verdadeiro diálogo entre o juiz e a testemunha, até porque, se a testemunha não entender o que lhe foi perguntado, pode dizer isso ao juiz, assim como pode corrigi-lo na hipótese de ele repetir o que a testemunha disse com diferente sentido, no entender do depoente. Ricoeur diz que: É diante de alguém que a testemunha atesta a realidade de uma cena à qual diz ter assistido, eventualmente como ator ou como vítima, mas no momento do testemunho, na posição de um terceiro com relação a todos os protagonistas da ação.176 Ricoeur trata do tema do testemunho sem focar somente sua utilidade judicial, mas vislumbrando sua presença em outras searas. Indica que, independentemente de onde será utilizado, o testemunho, remete a uma história do passado com narrativas e artifícios retóricos. Para começar, o testemunho tem várias utilidades: o arquivamento em vista da consulta por historiadores é apenas uma delas, para além da prática do testemunho na vida cotidiana e paralelamente a seu uso judicial sancionado pela 176 RICOEUR, MHE, 2010, p. 173. 105 sentença de um tribunal. Além disso, no próprio interior da esfera histórica o testemunho não encerra a sua trajetória com a constituição dos arquivos, ele ressurge no fim do percurso epistemológico no nível da representação do passado por narrativas, artifícios retóricos, colocação em imagens. Mais do que isso, sob certas formas contemporâneas de depoimento suscitadas pelas atrocidades em massa do século XX, ele resiste não somente à explicação e à representação, mas até à colocação em reserva nos arquivos, a ponde manter-se deliberadamente à margem da historiografia e de despertar dúvidas sobre sua intenção veritativa.177 A testemunha relata o passado por ela vivenciado. Ela estava no local onde algo ocorreu, ela escutou algo, ela viu algo, ela narra o o que de alguma forma vivenciou reconstruindo as imagens, os lugares, os trajes, os ambientes de trabalho, e, muitas vezes, descreve detalhes que passaram despercebidos por outros indivíduos. O depoimento convincente de uma testemunha pode fazer com que arquivos antes registrados (quer historiográficos, quer processuais) sejam postos em dúvidas. Ao tratar da questão do testemunho em tópico anterior, já se destacou a questão da passagem da fala para a escrita neste momento processual, em que o depoimento testemunhal passa do modo oral para o modo escrito, ficando registrado no processo. Já se falou, também, que para a prolação da sentença este registro será consultado, assim como poderá ser consultado pelos advogados, pelas partes, pelo Tribunal em caso de recurso e, sendo o processo público, por qualquer leitor que queira consultá-lo. E ainda, foi analisada a situação da narrativa dos fatos pretéritos no momento presente para repercussão no futuro. Aqui se pretende ir um pouco além examinando a dificuldade que envolve o testemunho no que tange ao discernimento acerca da verdade. Como anteriormente visto, o horizonte intermediário do processo judicial é a busca da verdade. As provas levadas ao processo, quer documentais, quer periciais ou testemunhais, visam mostrar essa verdade. No entanto, no que se refere à testemunha, põe-se em questão a detecção da verdade em seu depoimento. Como saber se a narrativa da testemunha é verdadeira? Como acreditar que aquilo que está sendo dito de fato ocorreu ou são as impressões da 177 RICOEUR, MHE, 2010, p. 173. 106 testemunha sobre o que ocorreu? Como saber se a testemunha está negando aquilo que é e afirmando aquilo que não é? Ricoeur aborda o núcleo do sentido do testemunho colocando na balança a confiança e a suspeita. “Até que ponto o testemunho é confiável”?178. No caso do processo judicial, por um lado, o juiz precisa confiar na testemunha para acolher seu depoimento como forma de embasar a decisão, por outro, a testemunha precisa gerar credibilidade sobre aquilo que está falando. E compete ao juiz as análises acerca da confiança e da suspeita, pois tem por lei o livre convencimento. Só ele, juiz, pode fazer a balança da confiança e da suspeita e decidir se o testemunho é ou não confiável com base em suas convicções. No entanto, nem sempre a testemunha fala a verdade, ainda que tenha prometido dizer a verdade e diga estar com ela compromissado. Então, não raro, mentiras são tomadas por verdades por conta de uma a narrativa falsa de uma testemunha, que faz passar a sua narrativa por verdadeira e convence o juiz de sua fala. Considere-se a situação hipotética de um ex-empregado que reclamou contra seu empregador pleiteando indenização por assédio moral, mesmo sendo este assédio inexistente. Na audiência para produção de prova testemunhal este ex-empregado pode levar até o juiz duas ou três pessoas, previamente por ele ensaiadas, que, na qualidade de testemunhas narrarão a existência de um assédio inexistente, como se verdadeiro fosse o ato, de modo a convencer o juiz de um fato mentiroso, que passa a ser tomado por verdadeiro. Ainda que o empregador tenha testemunhas dizendo o contrário, o juiz pode formar seu convencimento com base nas testemunhas apresentadas pelo exempregado, já que o juiz tem por lei a prerrogativa do livre convencimento e, ao medir os depoimentos, pode acreditar mais naqueles prestados pelas testemunhas levadas pelo ex-trabalhador, que podem expor as narrativas de modo a lograr êxito no convencimento do juiz, ainda que não estejam falando a verdade. Este é um exemplo em que a mentira pode ser provada e tomada por verdade. Diz-se isto para salientar que nem só por falta de provas - conforme se afirmou antes - se toma a mentira por 178 RICOEUR, MHE, 2010 p. 171. 107 verdade. Também pelo falsear das provas pode ocorrer o mesmo. Ou até mesmo, pela falta de credibilidade dada pelo juiz às provas verdadeiras (porque tem o livre convencimento), podem-se acolher as falsas. E nem se pense ser absurda a questão do falseamento da verdade pela testemunha uma vez que a legislação pátria prevê como crime o testemunho falso, pois, na prática, muitos falsos testemunhos ocorrem e a falsidade não é detectada, não havendo nestes casos penalização. Esclarece Ricoeur que a testemunha com credibilidade é aquela que mantém seu testemunho no tempo, que mantém o que narrou. A testemunha confiável é aquela que pode manter seu testemunho no tempo. Essa manutenção aproxima o testemunho da promessa, mais precisamente da promessa anterior a todas as promessas, a de manter a promessa, de manter a palavra... A testemunha deve ser capaz de responder por suas afirmações diante de quem quer que lhe peça conta delas.179 Em se tratando de depoimento judicial, e salvo no processo penal e alguma outra exceção, na maioria dos processos judiciais, a testemunha é chamada a depor uma única vez. Sendo assim, não pode o juiz analisar a veracidade e credibilidade do depoimento pela manutenção dele no tempo. Na maioria das vezes, o momento do diálogo entre a testemunha e o juiz é único e daquele momento o juiz colherá suas impressões, sem outros encontros. O juiz tem a prerrogativa do livre convencimento e tem os seus critérios próprios e pessoais para acreditar em alguém ou em algo. Sendo assim e considerando um único encontro de juiz e testemunha – via de regra - caindo por terra a possibilidade de verificar-se a veracidade do depoimento por sua manutenção no tempo, não existe qualquer fórmula universal, pronta e eficaz do modo de se dizer algo ao juiz, quer de forma escrita, quer verbalmente, que garanta o seu convencimento acerca do que está sendo dito. Salienta-se, no entanto, a força do discurso e a forma como ele é proferido o que provavelmente pode ser grande instrumento influenciador para este convencimento 179 RICOEUR, MHE, 2010, p. 174. 108 sobre a verdade, ou sobre o que será tomado por verdade, embora também não sejam uma fórmula mágica, uma vez que, por mais convincente que seja o discurso, outros elementos nortearão a decisão do juiz. Então, levando-se em conta que a mentira pode existir no processo judicial e pode vir a ser acolhida em detrimento da verdade, pergunta-se: teria Aristóteles razão quando, ao tratar da Retórica, disse que “o verdadeiro e o justo são por natureza mais fortes que seus contrários?”180 Não seria o ato de convencimento do juiz – quer pela verdade, quer pela mentira – uma arte relativa ao convencimento alheio, independentemente da natureza dita forte do verdadeiro e do justo? Seria mesmo a natureza do verdadeiro e do justo forte e predominante? Parece que não. Diante do princípio do livre convencimento atribuído ao juiz, a natureza do verdadeiro e do justo pode não ser predominante, na medida em que alegações falsas podem ser tomadas por verdadeiras, sendo, muitas vezes, o convencimento do juiz resultado da arte do convencimento alheio. Uma testemunha que vai depor em juízo, ainda que esteja falando a verdade, se não o fizer de modo convincente não alcançará o intento. E aqui não estou me referindo ao uso de técnicas prévias de retórica, argumentação, de oratória. Um indivíduo com a voz trêmula, com respostas que passam a sensação de incerteza do que se diz, com equívocos constantes na fala (ou seja, contradições) ou ainda, com olhares desviantes do seu interlocutor (o juiz), provavelmente não transmitirá ao juiz segurança em seu depoimento, não tendo o seu discurso o poder de convencimento. Um depoente que, ao contrário, responda com firmeza ao que lhe for perguntado, fitando os olhos no interlocutor, narrando de modo preciso os fatos arguidos, ou seja, usando a linguagem com arte (ainda que não possua uma técnica aprendida nas escolas, mas seja esta arte inerente ao seu modo de ser), provavelmente terá mais chances de convencer ao juiz de que está falando a verdade, ainda que dela não esteja se valendo. Não é à toa que na maioria das vezes ouve-se mais de uma testemunha para cada parte processual, a fim de que o depoimento de uma seja ratificado pelo depoimento da outra 180 25. ARISTÓTELES. Rhetorique, Les Belles-Lettres, 3 vols., trad. R. M. Dufour, 1967, apud REBOUL, 2004, p. 109 ou não. Mas isto não é uma regra. Uma única testemunha firme no seu depoimento, que use a arte para proferir o seu discurso pode valer mais que duas ou três testemunhas não investidas de retórica, convencendo o juiz de sua versão dos fatos. Importante salientar que, embora as partes litigantes levem testemunhas em audiência própria para sua oitiva, as testemunhas são consideradas do juiz e não das partes, já que servirão ao convencimento do juiz, razão pela qual não podem ser contaminadas pelas partes e ou terceiros interessados no deslinde da demanda deste ou daquele modo. Em que pese esperar-se da testemunha somente a verdade, diz-se no meio jurídico que “a testemunha é a prostituta das provas”, pois, por interesse voltado para A ou para B, ou ainda, instruída por A ou por B pode dizer de modo às vezes convincente, aquilo que não sabe, aquilo que não viu, aquilo sobre o que não ouviu falar, mas que ali diz saber, convencendo o juiz de uma mentira que será tomada por verdade e gerará consequências que seriam indevidas quando da prolação da sentença, mas que tornarse-ão devidas por força da decisão judicial. Por esse motivo, ou seja, para não haver contaminação da testemunha por interesse pessoal, a lei determina que antes de depor a testemunha declare se tem relações de parentesco com a parte, ou interesse no objeto do processo (art. 414 CPC). Ao que parece este dispositivo legal quando recitado ao depoente não é suficiente a demovê-lo de responder ao juiz de acordo com o seu interesse caso assim tenha ajustado com a parte. A questão do parentesco, via de regra, é facilmente descoberta e raramente contestada pelo depoente por conta de sobrenomes comuns, documentos, etc. Já as relações de amizade, inimizade e interesses em geral nem sempre são detectadas e/ou confessadas, ou ainda, provadas e segue-se um depoimento contaminado, sem que o juiz saiba ou sequer se dê conta de sua falsidade. Por um lado, o atolamento do judiciário não permite que se estenda demais numa oitiva. Por outro lado, aquele que estiver disposto a quebrar a promessa de falar a verdade e tiver capacidade retórica, repetirá inúmeras vezes a mesma fala, ainda que seja o falsear da verdade. Talvez não haja solução para a detecção do falsear da verdade. 110 O depoimento testemunhal é de grande importância à decisão judicial. O Juiz, valendo-se de critérios subjetivos, pode depositar confiança na palavra de outrem, ou simplesmente, ignorá-la. E, segundo Ricoeur, dar crédito a palavra de outrem faz do mundo social um mundo compartilhado. [...] trata-se de uma competência do homem capaz: o crédito outorgado à palavra de outrem faz do mundo social um mundo intersubjetivamente compartilhado. Esse compartilhamento é o componente principal do que podemos chamar ‘senso comum’.181 O juiz para proferir sua decisão não somente se utiliza do senso comum decorrente de um compartilhamento do mundo, como também no crédito que dá a palavra de outrem (especificamente partes, testemunhas e envolvidos diretamente no processo judicial) e o faz de acordo com seus critérios, por força da livre convicção que a lei lhe confere. Isto quer dizer que o juiz pode dar a um depoimento mais valor que ao outro; pode confiar mais em uma palavra que em outra; pode crer em uma e desacreditar a outra, desde que fundamente os motivos que levaram à sua convicção e a partilha, a distribuição da justiça, será feita de acordo com o que ele foi levado a compreender. Conclui-se que a retórica presta um serviço no processo judicial e não somente mediante o uso de argumentos nos textos escritos, mas também na produção das provas. Em todos os discursos processuais, quer orais ou escritos os litigantes, seus advogados, as testemunhas se valem da retórica para convencer o juiz acerca dos fatos narrados por cada um. Saliente-se, por fim, que o juiz também se vale da retórica para proferir seus despachos e a sentença final, sempre elencando os fundamentos que o levaram a decidir desta ou daquela forma, pois, dentre outras razões, sua sentença poderá ser passível de reexame pelo Tribunal e o colegiado de juízes também deverá ser convencido de que os argumentos esposados na sentença objeto do reexame foram condizentes com os fatos e provas dos autos, tendo distribuído corretamente a justiça. 181 RICOEUR, MHE, 2010, p. 175. 111 CAPÍTULO III O INTÉRPRETE NO PROCESSO JUDICIAL: O JUIZ 3.1. Introdução [...] efetivamente, o papel do juiz é muito mais difícil e complexo, e .... o juiz, moral e politicamente, é bem mais responsável por suas decisões do que haviam sugerido as doutrinas tradicionais. Escolha significa discricionariedade, embora não necessariamente arbitrariedade; significa valoração e “balanceamento”; significa ter presentes os resultados práticos e as implicações morais da própria escolha; significa que devem ser empregados não apenas os argumentos da lógica abstrata, ou talvez os decorrentes da analise lingüística puramente formal, mas também e sobretudo aqueles da historia e da economia, da política e da ética, da sociologia e da psicologia. E assim o juiz não pode mais se ocultar, tão facilmente, detrás da frágil defesa da concepção do direito como norma preestabelecida, clara e objetiva, na qual pode basear sua decisão de forma “neutra”. E envolvida sua responsabilidade pessoal, moral e política, tanto quanto jurídica, sempre que haja no direito abertura para escolha diversa. E a experiência ensina que tal abertura sempre ou quase sempre esta presente.”182 Neste capítulo, se considerará o indivíduo que faz as interpretações no processo judicial e é essencial ao funcionamento do Poder Judiciário: magistrado. O Juiz, o Pergunta-se se quem julga é um ser humano investido de pura técnica jurídica, sendo esta técnica suficiente para o exercício do mister de julgar ou se, por ser um pessoa como todas as outras, sujeita aos mesmos erros e paixões e formas de constituição de identidade, necessite buscar diariamente novas interpretações de significados a fim de ser apto a solucionar os mais variados tipos de conflito, dando nova direção às vidas que se apresentam a ele na busca de seus direitos. Esta questão é importante haja vista o trabalho do juiz como intérprete no processo judicial. Cabe a ele fazer interpretações desde o início até o fim do processo. Como já se viu em capítulo anterior, no desenrolar do processo há a interpretação de 182 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993, p. 33. 112 gestos, falas, sentimentos. Há um modo de comunicação e interpretação próprias envolvido no processo judicial. Nada é tão simples como parecem crer alguns juristas e operadores do direito como reconheceu Cappelletti. Nos capítulos anteriores foi visto como o processo judicial caminha até a prolação da sentença. As interpretações que envolvem os atos processuais, necessidade de provas, os sentimentos, a importância da linguagem, presente no processo judicial e a possibilidade de a o discurso não resolução dos problemas processuais de interpretação pela chamada hermenêutica jurídica. Para os que trabalham no dia a dia na operação do direito pode ser que a tarefa de julgar tenha entrado numa rotina que faz com que não se pense mais em suas implicações. Não é difícil se perguntar a um operador do direito qual é a função do juiz e obter-se como resposta: “Aplicar a lei ao caso concreto”. E, de fato, esta é uma tarefa do juiz, mas não é a única e também não é tão simples e nem automática como dá a entender esta fala que é repetida em forma de reza, sem envolvimento de qualquer raciocínio acerca deste ato. E por ser o ato de julgar realizado por uma pessoa, o juiz, é que faz-se necessário se pensar em quem julga: Quem é o juiz, o que ele faz, qual a sua formação, como lida com os problemas que envolvem o exercício de sua função. Segundo Lazarini, entende-se por magistratura o conjunto de juízes que integram o Poder Judiciário. Os magistrados, também conhecidos por juízes, exercem seu poder de julgar como dever para com a sociedade e buscam a aplicação da lei tendo como meta a realização do bem comum.183 Prossegue o supracitado autor definindo o juiz e sua atividade: A atividade profissional de distribuir a Justiça é no Brasil, exercida só por magistrados, pertencentes ao Poder Judiciário. Magistrado, em direito, é o juiz concursado, vitalício, que exerce ou já exerceu a autoridade administrativa e a função de julgar, em 1º. e 2º graus ou em grau especial de jurisdição, sujeito a normas especificas do Estatuto da Magistratura, representando, pois, em grau especial de jurisdição, sujeito a normas específicas do Estatuto da Magistratura, 183 LAZZARINI, Álvaro. Magistratura: Deontologia, Função e Poderes do Juiz. Publicado em Caderno de Jurisprudência da Ematra XV, v.1. n.4., jul/ago. 2005, p. 119. 113 representando, pois, diretamente o Poder Judiciário do qual é membro.....Hoje se usam indiferentemente os vocábulos magistrado e juiz, referentes às pessoas que exercem as funções judicantes, embora não sejam considerados sinônimos perfeitos...184 Doravante se referirá ao juiz como magistrado ou juiz e se deterá especificamente à sua função de julgar de modo monocrático ou singular às causas, isto é, se refere neste trabalho é aquele de Primeira Instância, que o juiz a que acompanha o processo judicial desde o seu nascimento e profere a sentença. Faz-se esta distinção porque há os Tribunais de Segunda Instância que, sendo compostos por Turmas ou Câmaras de juízes, reexaminam as sentenças prolatadas pelos juízes singulares, quando instados pelas partes a fazê-lo mediante a interposição de competente recurso. Não se pode olvidar que os Ministros que compõem os Tribunais Superiores, como Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e a Corte Maior, o Supremo Tribunal Federal, também são juízes e se enquadram nos perfis aqui analisados. No entanto, o foco aqui é o trabalho do juiz de Primeira Instância, especificamente na sua função de condutor do processo e prolator da sentença, deixando-se de lado sua função administrativa.185 Para melhor se entender a função o juiz, faz-se a seguir uma breve explanação sobre a ação judicial e a sua forma procedimental, para depois se pensar nas relações entre sua função juiz e sua identidade pessoal. Depois, se examinará e se discutirá essas relações da perspectiva da hermenêutica de Ricoeur, com destaque para o horizonte da vida boa apontado por ele. 3.2. A Ação Judicial e a Atuação do Juiz Qualquer pessoa com capacidade civil pode solicitar a prestação jurisdicional, isto é, pedir a intervenção do órgão judicial na decisão de um conflito mediante o uso 184 LAZZARINI, 2005, p. 119. Os juízes podem assumir atividades administrativas, tais como, a Presidência de um Tribunal, a participação em corregedoria da magistratura, dentre outras. Estas funções não serão analisadas neste trabalho. 185 114 de seu direito de ação. Ao se exercitar o direito de ação provoca-se a jurisdição, que por sua vez se exerce através do complexo de atos que é o processo judicial, nomenclatura que vem sendo adotada neste trabalho desde o seu início. A ação judicial é prestação da tutela o direito público exercido perante o Estado-Juiz, visando a jurisdicional, entendendo-se por tutela jurisdicional “a composição obtida pela intervenção dos órgãos jurisdicionais, substituindo a vontade das partes na decisão do litígio, através de uma sentença de mérito que aplique o direito material previsto na norma genérica de conduta ao caso concreto”. 186 A ação judicial é iniciada por qualquer pessoa187 que, via de regra, através de um advogado 188, dirige ao Juiz o pedido de apreciação pelo Poder Judiciário da sua pretensão, geralmente oriunda de um conflito de interesses. A Ação Judicial é instrumentalizada através do chamado processo judicial, isto é, a ação judicial se materializa mediante o processo judicial, que é um conjunto de atos concatenados formados pelos sujeitos do processo, isto é, as partes (sujeito ativo e sujeito passivo) e o juiz189, sendo este o representante do Estado obrigado a gerir a relação processual entre os demais sujeitos de modo imparcial. O indivíduo que dá início a ação, isto é, forma o polo ativo é chamado de autor e contra quem a ação é intentada (polo passivo) é chamado réu190. 186 Autor e réu são BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de Matos. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 187Diz o artigo 7º do CPC: “Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo.” “A capacidade processual ou capacidade de estar em juízo está intimamente ligada ao conceito de capacidade civil. ‘As pessoas físicas têm essa capacidade quando se acham no pleno exercício de seus direitos (CPC, art.7º). Trata-se dos maiores de dezoito anos que não se encontram em nenhuma das situações nas quais a lei civil os dá por incapazes para os atos da vida civil (CC, arts. 3º e 4º)’ (STJ 1ª Turma, RESP 266, 219-RJ-AgRg., rel.Min.Luiz Fux, j.27.04.04, negaram provimento, v.u. DJU 31.5.04.p.176; citando Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, vol.II, p. 284 (NEGRÃO. Teotônio. GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 37 ed. São Paulo: Saraiva, atualizada até 10.02.2005). 188 Há processos que independem da presença de advogado para seu início, como por exemplo, os civis de pequeno valor (Juizados Especiais), Trabalhistas, dentre outros. 189 Segundo ensinamento de CARNELUTTI, o juiz não é parte, sendo partes aqueles que estão perante o juiz para serem julgados. Menciona ainda que há juristas que definem o juiz como supraparte, estando por isso no alto e as partes embaixo (CARNELUTTI, op.cit., p. 32). 190 As nomenclaturas podem mudar conforme o tipo de ação. Nas ações trabalhistas o autor é reclamante e o réu, reclamado. A ação de execução, o autor é exequente e o réu executado. Na reconvenção usa-se o 115 partes no processo judicial e assim se referirá a elas daqui por diante, ou seja, “partes”. O advogado é o interlocutor entre as partes e o juiz. É ele – advogado – que postula e defende os direitos dos cidadãos perante o Poder Judiciário, dirigindo-se ao Juiz em nome das partes. O Juiz é o indivíduo que recebe o pedido de reconhecimento de direito pretendido pelas partes e que conduz o processo judicial até que seja prolatada a sentença, quando se diz estar a prestação jurisdicional entregue pelo Poder Judiciário, isto é, com a prolação da sentença o Estado dá o seu parecer sobre o conflito para o qual se pediu a sua intervenção. O processo judicial é um confronto entre as partes com a mediação do Juiz, tendo ele a função de dirimir o conflito. Cada parte tem direito de dirigir-se ao juiz fazendo alegações, retrucando e respondendo às alegações da outra, contestando dados e documentos ou com eles concordando, conforme entenda ser o cabimento de seu direito. No processo judicial cada parte tem oportunidade de manifestar seus pontos de vista de forma escrita (do início ao fim) e oral (em audiência previamente designada para tanto). Cabe ao Juiz examinar cada pedido feito durante o processo judicial, proferir despachos e decisões interlocutórias191, presidir audiências na tentativa de conciliação, oitiva das partes e demais produções de provas (fase chamada tecnicamente de instrução processual), dando um fechamento nisso tudo com a prolação de sentença em que, considerando as interpretações por ele feitas durante o desenrolar da causa, aplicará a lei ao caso concreto que lhe foi apresentado, deferindo o pedido a uma das partes, a ambas as partes ou a nenhuma das partes, conforme cada caso. O juiz tem garantias e responsabilidades processuais e civis. Além disso, a lei indica como deve ser em termos processuais a sua atuação, listando os poderes, os termo reconvinte e reconvindo. Na exceção de Incompetência usa-se excipiente e excepto, etc. No entanto, neste trabalho se usará a nomenclatura autor e réu de modo genérico para se referir ao polo ativo (autor) e polo passivo (réu), sem se deter ao tipo de ação. 191 Os atos processuais do juiz consistem em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo; decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz no curso do processo, resolve questão incidente; despachos são todos os demais atos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma (artigo 162 do Código de Processo Civil). 116 deveres e as responsabilidades do juiz em capítulo próprio de Código de Processo Civil (Capítulo IV), já tendo sido alguns artigos aqui mencionados. Então, ao mesmo tempo em que o juiz tem poderes de decisão, tem deveres com os outros. Os poderes processuais do juiz não são privilégios ou vantagens a ele outorgadas, mas se destinam a uma atuação justa, se configurando garantias às partes e aos advogados e por isso também chamados “poderes-deveres”.192 Assim, o juiz dirige o processo conforme as disposições legais, havendo normas específicas no Ordenamento Jurídico pátrio que ditam a sua conduta e os procedimentos processuais a serem por ele adotados, não ficando ao seu bel prazer o modo de condução do processo em geral, marcação de audiências, colheita de provas, prolação de decisão, recebimentos de recursos e etc. Isto não quer dizer que o juiz tenha que atuar sem liberdade e com limitadíssimo poder diretivo, pois, conforme se verá nos parágrafos seguintes deste texto, tem o juiz a prerrogativa de livre convencimento, de liberdade de escolha de procedimentos a serem adotados (ainda que dentro de certos limites), de preenchimento de lacunas eventualmente existentes na lei. Estas normas procedimentais servem para dar um norte a todos os envolvidos (juiz e partes processuais), bem como para uniformizar a forma de atuação em toda a nação, tanto nas Cidades mais desenvolvidas, como naquelas subdesenvolvidas, tornando igualitária a forma procedimental como modo também de ajudar a tornar imparcial a conduta do juiz, sem privilégios procedimentais a classes sociais, políticas, religiões, etnias, etc. O artigo 125 do Código de Processo Civil deixa claro competir ao juiz: Assegurar às partes igualdade de tratamento, velar pela rápida solução do litígio, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e tentar, a qualquer tempo conciliar as partes. Quanto à aplicação da norma e, na falta desta, prossegue o Código determinando que: O juiz não se exime de sentenciar ou despachar193 alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais. Não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito” (artigo 126 CPC). 192 193 LAZZARINI, 2005, p. 123. Despachos são atos praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte (artigo 162 CPC) 117 Nesse mesmo sentido repete o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil -LICC – (denominada recentemente de “Lei de Introdução ao Direito Brasileiro): “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso inspirado princípios gerais do direito”. preenchimento de lacunas na analogia, nos costumes e nos A doutrina dominante prevê que os meios para conforme aqui citados são hierárquicos, ou seja, o juiz obedece a uma sequência ordenada, não podendo o juiz se valer deles de forma aleatória. Explica-se a seguir cada uma dessas ferramentas: Por analogia entende-se a adaptação a um evento concreto não previsto pelo legislador de regra jurídica relativa a um caso previsto, desde que em ambos ocorra semelhança e os mesmos motivos jurídicos para solucioná-los de forma igual. Esta regra existe no ordenamento jurídico brasileiro e foi herdada da afirmativa dos romanos de que “onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito ou onde impera a mesma razão deve prevalecer a mesma decisão” (Ubi eadem mratio ibi idem jus ou Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio). Cabe salientar que exceção a esta regra se encontra no Direito Penal, onde não há lacunas já que “não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal” (artigo 3º do Código Penal). Assim, toda conduta humana para ser criminosa deve estar prevista na lei penal. Então, a analogia só poderá ser aplicada se for para beneficiar o réu, nunca para agravar sua pena.194 Por costume entende-se um elemento supletivo da norma formado por dois elementos: o uso e a convicção jurídica. É, então, o costume, a norma jurídica que decorre de prática ao longo do tempo uniformizada, que seja pública e geral em relação a determinado ato. 195. Por princípios gerais do direito entende-se enunciados normativos gerais, muitas vezes de valor universal, que orientam a compreensão do ordenamento jurídico e servem para a elaboração, aplicação, integração, alteração ou supressão das normas. São 194 MOTA, Silvia. Introdução ao Estudo do Direito. Disponível em: www.silviamota.com.br/direito/artigos/metodoanalogico.htm Acesso em: 10 nov. 2011. Nesse mesmo sentido: MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – parte geral. 36 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 40-41. 195 GOMES. Orlando. Introdução ao Direito Civil. Coordenador: Edvaldo Brito. 19 ed. São Paulo: Forense, 2008, p. 39-40. 118 ideias de justiça, liberdade, igualdade, democracia, dignidade, etc. Os princípios gerais do direito contêm múltipla natureza: a) São decorrentes das normas; b) derivam das ideias políticas e sociais vigentes; c) são reconhecidos pelas nações civilizadas.196 Além do preenchimento de lacunas mediante a aplicação das ferramentas supra elencadas e previstas em lei, pode, ainda, o juiz aplicar regras de experiência comum. Tal aplicação está consolidada no artigo 335 do CPC que reza “em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quando a esta, o exame pericial.” Quanto à formação do seu convencimento, cabe ao juiz de ofício, por sua livre iniciativa ou a requerimento de qualquer parte processual, a determinação das provas que serão produzidas e necessárias à busca pela verdade processual, tendo o poder de indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias. Tais provas, quer requeridas pelas partes, quer indicadas pelo juiz de oficio, serão livremente apreciadas pelo juiz, ou seja, o juiz atentará aos fatos e circunstâncias constantes no processo. O juiz tem livre convencimento sobre a prova. Ele dá à prova o valor que entender pertinente, baseado em suas convicções. Pode, por exemplo, entender como imprestável o depoimento de uma testemunha pelo fato de sua fala ser frágil e não lhe transmitir confiança. Pode, ainda, indicar que este ou aquele documento não é hábil a provar alguma circunstância. Pode acolher ou não o laudo elaborado por um perito. A única restrição que se faz ao livre convencimento do juiz é que ele indique na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. Porque o juiz tem livre convencimento e precisa indicar os motivos embasadores de sua decisão é que o mesmo juiz que colher a prova (esta, produzida em audiência, salvo disposição especial em contrário197) será aquele responsável pelo julgamento, o que é chamado de “princípio da identidade física do juiz”. Tal regra tem exceções, 196 197 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 76. Sobre as “Provas” vide capítulos VI e VII e do CPC, artigos 332 a 456. 119 sendo razões para a causa ser julgada por outro juiz se aquele que colheu as provas (ou seja, oitiva de testemunhas, oitiva de partes, etc) estiver convocado, licenciado, aposentado, afastado por qualquer motivo, promovido, circunstâncias em que passará o processo para outro proceder ao julgamento. Para que esta questão do princípio da identidade do juiz fique clara, faz-se necessário salientar que numa Vara (cível, criminal, trabalhista) pode haver mais de um juiz: o titular e o substituto. Via de regra, eles dividem o serviço que é dirigido àquela vara, ficando cada um com uma quantidade de processos sob sua responsabilidade. Por outro lado, juízes se ausentam por férias, faltas e afastamentos em geral (doença, maternidade, paternidade, licença prêmio, etc.). Daí a importância do princípio mencionado, a fim de que outro juiz que eventualmente esteja naquela jurisdição198 não atue como sentenciador em processo em que não se convenceu mediante a oitiva das partes e análise das provas. Cabe ainda ressaltar que, em qualquer hipótese, pode o juiz, se entender necessário, mandar repetir as provas já produzidas.199 Além dos princípios supra elencados, quais sejam “livre convencimento do juiz” e “identidade física do juiz”, tem ainda o juiz a prerrogativa de escolher, dentro de certos limites, a providência a ser adotada com base na oportunidade e conveniência em face de determinada situação não regulada em lei expressamente. Trata-se do “princípio do poder discricionário do juiz”, ou seja, um poder cautelar geral em que o juiz pode autorizar a prática de atos ou determinar a abstenção de determinados atos não previstos em lei, como meio de garantir às partes que não sofram lesão aos seus direitos antes do julgamento definitivo da causa.200 Mas quem é este representante do Poder Judiciário que aprecia estas ações judiciais? Como ele se forma? Como ele age para distribuir corretamente a justiça dando a cada um o que é seu, aplicando a lei ao caso concreto e promovendo justiça social, como se verá adiante? 198 Por Jurisdição entende-se dizer o direito (júris dictio) mediante o dever do Estado de solucionar conflitos submetidos ao seu crivo (In: BARROSO, op. cit., p. 39). 199 Sobre o livre convencimento do juiz e o Princípio da Identidade do Juiz, vide artigos 131 e 132 do CPC. 200 Sobre Poder Discricionário do Juiz, vide artigos 266, 793, 798, 799 e 866 do CPC. 120 Como é constituída a sua identidade funcional? E a sua identidade pessoal? Será que as identidades funcional e pessoal andam juntas ou de modo separado? Como se combinam no fazer próprio do juiz? São muitas questões intrigantes. De um lado, se pensa no homem/mulher técnico, com notável saber jurídico, saber sem o qual não é possível a condução do processo e a prolação da sentença, tanto assim que necessita provar ter conhecimento jurídico mediante aprovação em concurso público. Por outro lado, tem-se que o litígio se passa entre indivíduos que buscam no Estado a solução do conflito. Ainda que seja um indivíduo investido da missão de solucionar o conflito pelo Estado, o juiz não deixa de ser uma pessoa. Para refletir sobre essas questões apontadas, se examinará primeiramente a identidade funcional do juiz considerando o que a lei diz acerca desta função, os requisitos para exercê-la e a forma de ingresso. 3.3. A Formação da Identidade 3.3.1. A Identidade Funcional Com base no entendimento do jurista Dalmo de Abreu Dallari no sentido de que o Juiz “não decide nem ordena como indivíduo e sim na condição de agente público, que tem uma parcela de poder discricionário, bem como de responsabilidade e de poder de coação para a consecução de certos objetivos sociais”,201 pretende-se destacar de início as características funcionais do juiz. Quanto à preparação técnica, para ser Juiz é necessário formar-se, primeiramente, em Bacharel em Direito, tal como fazem os demais operadores do direito (ou seja, advogados, promotores, procuradores do Estado/Município/República, etc.). Posteriormente, é preciso prestar Concurso Público específico para tornar-se o agente julgador do Poder Judiciário, a serviço do Estado, na missão de julgar os conflitos. 201 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juízes. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 88. 121 A magistratura é uma carreira e, o ingresso na carreira, se dá mediante nomeação, após concurso público de provas e títulos, organizado e realizado com a participação do Conselho Secional da OAB (arts. 93, I da CF, e 78 da LOMN), e cujo cargo inicial será juiz substituto202 (art. 93, I da CF). É permitida por lei a exigência de inscrição no concurso mediante o título de habilitação em curso oficial de preparação para a magistratura (Art. 78, parágrafo 1º da LOMN). Os candidatos serão submetidos a investigações relativas aos aspectos morais e sociais, e a exame de sanidade física e mental (parágrafo 2º). Após as investigações, são indicados para a nomeação, em número correspondente às vagas, nomeando-se mais dois juízes para cada vaga, sempre que possível (parágrafo 3º). O juiz, no ato da posse, deverá apresentar uma declaração pública com a relação de seus bens, e prestará o compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo, cumprindo a Constituição Federal e as Leis do País (art. 79 da LOMN). Como se vê pela disposição legal supracitada, há um conjunto de exigências para a escolha do ocupante do cargo de juiz face à responsabilidade que lhe recairá às mãos. E não é só. Visando funções, dar ao juiz condições de exercer com eficiência suas a Lei orgânica da Magistratura Nacional (LOMN) e a Constituição Federal (CF) conferem ao juiz algumas garantias que lhe possibilitam imparcialidade e independência. São elas: (a) - Liberdade de expressão: o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir, salvo nos casos de propriedade ou excesso de linguagem (artigo 41 da LOMN). Isto quer dizer que o juiz tem independência para decidir e exercer sua função com liberdade 202 Juiz substituto é o nome do cargo ocupado pelo magistrado, até sua promoção a titular, desde quando passa a responder pela presidência de determinada Vara. Antes da promoção a titular, o juiz substituto atende às convocações do Presidente do Tribunal, quer para substituir, quer para auxiliar, na área de jurisdição da Corte, de acordo com as necessidades do serviço (FAVA, Marcos Neves. É inamovível o juiz substituto? (Disponível em <www. http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/Legis/CLT/Doutrina/MNF_09_09_06_4.html,>. Consultado em: 04.10.2012). 122 intelectual, sendo livre para fazer as interpretações que entender necessárias, não podendo ser punido em seu desempenho ou sofrer abusivos processos civis ou penais em sua prática profissional. Eventuais temores e opressões poderiam inibir a prática de julgar, daí porque a lei confere esta proteção. No entanto, independência não significa dizer que o juiz pode se exceder. A imunidade prevista neste artigo não tem caráter absoluto, mas sim relativo. O juiz não fica isento de evitar expressões inadequadas e destempero verbal. Se por sua posição pode exigir do advogado, promotores de justiça, etc. certa conduta ética e comportamental que concorra para a finalidade do processo, não pode ele estar isento, daí porque a lei ressalva o uso de propriedade ou excesso de linguagem ao tratar da liberdade de expressão.203 (b) Vitaliciedade: o magistrado somente perderá o cargo mediante ação penal por crime comum ou de responsabilidade e mediante administrativo para a perda do cargo nas procedimento hipóteses de exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função, salvo um cargo de magistério superior, público ou particular; de recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de percentagens ou custas nos processos sujeitos a seu despacho e julgamento e de exercício de atividade político-partidária. A vitaliciedade no primeiro grau204 somente será adquirida após dois anos de exercício da função, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado.205 São vitalícios a partir da posse os ministros do Supremo Tribunal Federal, os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, os Ministros do Superior Tribunal Militar e os Ministros e Juízes do Tribunal Superior 203 PELUSO, Vinícius de Toledo Piza; GONÇALVES, José Wilson. Comentários à Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Coordenação Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 124. 204 Juiz de Primeiro Grau é sinônimo de Juiz de Primeira Instância, ou seja, é o magistrado que em primeiro lugar julga as causas e de cujas decisões há recurso para a instância imediatamente superior (Segunda Instância ou Segundo Grau). 205 Diz-se transitada em julgado a sentença sobre a qual não caibam mais recursos. Assim, a coisa julgada é a imutabilidade da sentença e de seus efeitos formais e materiais. Sobre o assunto vide BARROSO, op. cit., p. 224. 123 do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. São vitalícios após dois anos de exercício da função os Juízes Federais, os Juízes Auditores e Juízes Auditores Substitutos da Justiça Militar da União; os Juízes do Trabalho titulares e substitutos; os Juízes de Direito e os Juízes substitutos da Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, bem assim os Juízes Auditores da Justiça Militar dos Estados.206 (c) Inamovibilidade: O juiz não pode ser movido de um lugar para outro sem o seu consentimento, salvo em caso de penalidade disciplinar, hipótese em que O Tribunal ou seu órgão especial poderá determinar, por motivo de interesse público, em escrutínio secreto e pelo voto de dois terços de seus membros efetivos: a remoção de Juiz de instância inferior.207 (d) Irredutibilidade de Vencimentos: Os vencimentos dos magistrados são irredutíveis, sujeitos, entretanto, aos impostos gerais, inclusive o de renda, e aos impostos extraordinários. Além disso, e também com o objetivo de assegurar a imparcialidade e a independência do juiz, a Constituição Federal Brasileira consagra o “princípio do juiz natural” significando do que a designação do juiz se dá anteriormente à ocorrência dos fatos levados a julgamento e feita de forma desvinculada de qualquer acontecimento concreto ocorrido ou que venha a ocorrer. “Juiz natural” é aquele que está previamente encarregado como competente para o julgamento de determinadas causas abstratamente previstas. Em que pese o supra mencionado “princípio do juiz natural”, a lei também estabelece hipóteses em que o juiz não pode atuar no processo por impedimento ou 206 Art. 22, II da LOMN, e art. 95, I da CF. Vide art. 30 e art. 45 da LOMN. Muito se discutiu se a inamovibilidade atingia somente os juízes titulares ou também seria garantida aos juízes substitutos. Em maio de 2012, o Supremo Tribunal Federal por maioria de 8 votos a 1, ao julgar mandado de segurança do juiz substituto de Mato Grosso decidiu anular decisão do Conselho Nacional de Justiça e assegurou que não só os juízes titulares, mas também os substitutos — ainda não titulares de varas ou de comarcas — a garantia da inamovibilidade prevista no artigo 95 da Constituição, como forma de garantir a independência e a imparcialidade dos magistrados. MS 27958. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=207689>. Acesso em: 04 out. 2012. 207 124 suspeição. Tais hipóteses estão elencadas nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil. São elas: (i) quando for parte; (ii) quando tiver intervindo no processo como mandatário da parte, perito, tenha funcionado como Ministério Público ou tenha prestado depoimento como testemunha; (iii) que tenha conhecido em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão; 208 (iv) quando for cônjuge, parente, consanguíneo ou afim de alguma das partes em linha reta ou na colateral até o terceiro grau; (v) quando o advogado da parte for o seu cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral até o segundo grau. (vi) quando alguma das partes for credora ou devedora do juiz; (vii) quando amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes; (viii) quando herdeiro presuntivo, donatário e empregador de alguma das partes; (ix) quando receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender às despesas do litígio. Ao recusar a causa por motivo de suspeição, o juiz tem a opção de não explicitar o motivo, declarando-se suspeito por motivo de foro íntimo.209 Por outro lado, caso o juiz não se declare suspeito ou viole o dever de abstenção, a lei também garante à parte a recusa do juiz (artigos 137 e 304 do CPC). Sendo assim, a parte que se sentir prejudicada por ser conhecedora de algum motivo embasador de impedimento ou suspeição do juiz poderá argüir esta condição na primeira oportunidade em que lhe couber se manifestar no processo, fundamentando seu pedido de afastamento do magistrado e juntando documentos comprobatórios de suas alegações, se houverem. Após o julgamento deste incidente a causa retoma o seu curso.210 O juiz tem responsabilidades civis advindas de sua função. Ele responderá por perdas e danos quando, no exercício das suas funções proceder com dolo ou fraude, ou 208 O dispositivo se refere ao juiz de Segunda Instância ou Segundo Grau que em Primeira Instância ou Primeiro Grau sentenciou ou decidiu no processo. 209 Vide parágrafo único do artigo 135 do Código de Processo Civil. 210 Nos processos de natureza civil, o próprio juiz da causa recebe o pedido de suspeição ou impedimento e o julga, cabendo recurso desta decisão. Nos processos trabalhistas, o Tribunal de cada região é o órgão competente para julgar o pedido de suspeição ou impedimento do juiz monocrático. 125 se recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, procedimento que deva ordenar de ofício, ou a requerimento da parte.211 Quanto à ética funcional do juiz, há pouco mais de quatro anos foi editada norma designando como deve ser sua conduta, qual seja o Código de Ética da Magistratura Nacional (CEMN)212. De acordo com o preâmbulo de referido código, tal norma é “instrumento essencial para os juízes incrementarem a confiança da sociedade em sua autoridade moral” e se faz necessária porque “é fundamental para a magistratura brasileira cultivar princípios éticos, pois lhe cabe também função educativa e exemplar de cidadania face aos demais grupos sociais.”213 Os artigos que seguem ao preâmbulo tratam magistrado, apontando do exercício da função do que sua conduta deve ser norteada por princípios de independência, de imparcialidade, de conhecimento e capacitação, de cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro. No que tange à independência, diz o Código que o juiz deve ser eticamente independente sem interferir na atuação de outro colega, desenvolvendo suas atividades sem receber indevidas influências externas e estranhas à convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam submetidos, devendo denunciar qualquer interferência que limite sua independência. Esta independência implica na vedação ao juiz de participar de atividade político-partidária (artigos 4 a 7). Quanto à imparcialidade, diz o código no artigo 8º: O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo processo uma distância equivalente das partes e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. 211 Vide art. 133 Código de Processo Civil – CPC, no mesmo sentido art. 49, I e II da LOMN. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/codigo-de-etica-da-magistratura>. Acesso em: 04 out. 2012. 213 Código de Ética da Magistratura Nacional. Aprovado na 68ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de Justiça, do dia 06 de agosto de 2008, nos autos do processo Nº 2008290000007337. 212 126 Segue a lei dizendo que deve o juiz tratar as partes de modo igualitário, “vedada qualquer espécie de injustificada discriminação”. E, ao que parece, na tentativa de explicar esta estranha expressão “injustificada discriminação” (porque dá a impressão de que pode o juiz discriminar havendo justificativa para tal, não deixando a lei claro o sentido da palavra discriminação) segue a lei tratando de duas – e apenas duas hipóteses em que não se considera tratamento discriminatório injustificado: a) a audiência concedida a apenas uma das partes ou seu advogado, contando que se assegure direito à parte contrária caso seja solicitado e b) o tratamento diferenciado que resulte de lei (artigos 8 e 9). Quanto à transparência, preceitua o Código que o juiz deve atuar com transparência, documentando seus atos sempre que possível e mesmo quando não for legalmente previsto, a fim de favorecer a publicidade, ressalvados os casos de sigilo. E ainda, indica o dever de comportar-se de forma prudente e equitativa em sua relação com os meios de comunicação, cuidando para que não sejam prejudicados direitos e interesses legítimos das partes e procuradores, bem como, abstendo-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, ainda que de outro colega, ou fazer juízo depreciativo sobre votos, decisões interlocutórias ou finais de órgãos judiciais, podendo, no entanto, fazer tais críticas no processo respectivo, em exposição doutrinária ou no exercício do magistério (artigos 10 a 12). Ainda quanto à transparência, diz a lei que o juiz deve evitar comportamentos de busca injustificada e desmesurada por reconhecimento social, principalmente a autopromoção em publicação de qualquer natureza, cumprindo a ele ostentar conduta positiva e de colaboração para com os órgãos de controle e aferição de seu desempenho profissional(artigos 13 e 14). Os artigos 15 a 18 tratam da integridade pessoal e profissional do juiz, e, ao que parece é um dos poucos, quiçá o único momento da lei em que se considera seu dever ético fora dos muros forenses, indicando que deve o juiz conciliar sua função com os seus interesses da vida privada. Nesses artigos diz-se, por exemplo, que os magistrados devem se comportar na vida privada de modo a dignificar a função e que 127 sua conduta fora da atividade jurisdicional contribui para que os cidadãos tenham confiança na judicatura. Os artigos 20 a 27 tratam da conduta do magistrado quanto à dedicação e diligência no exercício de suas funções, quanto à cortesia para com os colegas, advogados, Ministério Público, partes, testemunhas e público, quanto à prudência em suas decisões e quanto ao sigilo profissional sobre dados ou fatos que tenha tomado conhecimento no exercício de sua atividade. Só depois de ter tratado de toda esta parte de deveres a cumprir, apresenta a lei os artigos acerca do conhecimento e capacitação do magistrado, dizendo que a exigência de conhecimento e capacitação dos juízes tem por fundamento o direito da sociedade à obtenção de um serviço de qualidade na administração de justiça, indicando que “um magistrado bem formado é o que conhece o Direito vigente e desenvolveu as capacidades técnicas e as atitudes éticas adequadas para aplicá-lo corretamente” (artigo 30)” E ainda, que a formação contínua do magistrado deve abranger as matérias jurídicas e os conhecimentos e técnicas que possam favorecer o melhor cumprimento das funções judiciais artigos (29 a 31). Destaca-se o artigo porque posteriormente se examinará esta visão de boa formação do magistrado, adiantando, porém, que ao que parece, para o legislador (neste caso, o Conselho Nacional de Justiça) o juiz é formado somente por capacidades técnicas, tanto assim que segue a lei dizendo que sua formação contínua deve abranger não só matérias jurídicas como conhecimentos e técnicas para o exercício da função No entanto, e, talvez de modo contraditório, diz o artigo 32 que a capacitação dos juízes adquire uma intensidade especial no que se relaciona com as matérias, as técnicas e as atitudes que levam à máxima proteção dos direitos humanos e ao desenvolvimento dos valores constitucionais, não explicitando, no entanto, de que se trata esta intensidade especial. Não diz o artigo em que é melhor que os outros o magistrado que possui este conhecimento com intensidade especial, tampouco como se mede esta intensidade. Como se disse no parágrafo anterior, o artigo parece contraditório com as demais disposições do código que tratam da capacitação puramente técnica, uma vez que ao 128 considerar como capacitação com intensidade especial as matérias de proteção aos direitos humanos (e aqui não se pensa naqueles direitos estritos descritos em lei, mas num âmbito geral), o legislador parece lembrar que o magistrado precisa mais do que técnicas jurídicas para exercer sua função. No entanto, por não ser claro o artigo, fica ao arbítrio do intérprete esta visão, inclusive, a interpretação do que sejam os direitos humanos, se em sentido amplo ou se aqueles apontados por lei. Concluindo a parte da lei que trata do conhecimento e da capacitação, diz os artigos 33 a 36 que o magistrado deve facilitar e promover a formação de outros membros do órgão judicial, manter uma atitude de colaboração ativa em todas as atividades que conduzem à formação judicial e esforçar-se para contribuir com seus conhecimentos teóricos e práticos para melhor desenvolvimento do direito e administração da justiça, sendo seu dever atuar para que a instituição que faz parte ofereça os meios para que sua formação seja permanente. O penúltimo capítulo do Código de Ética diz respeito à dignidade, honra e decoro. Dita a norma que é vedado ao juiz o procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções e ainda, que não deve exercer atividade empresarial, exceto na condição de acionista ou cotista e desde que não exerça o controle ou gerência. Segue a lei dizendo ser atentatório à dignidade do cargo de juiz qualquer ato ou comportamento do juiz no exercício profissional que implique discriminação injusta ou arbitrária de qualquer pessoa ou instituição (artigos 37 a 39). Mais uma vez indica a lei a discriminação injusta, parecendo haver discriminação justa. Enfim, o último capítulo do Código de Ética da Magistratura traz disposições finais que tratam da data da entrada em vigor, da obrigação dos Tribunais de entregarem ao juiz por ocasião de sua posse um exemplar do Código e ainda, diz que os preceitos nele contidos complementam os deveres funcionais que emanam da Constituição Federal, do Estatuto da Magistratura214 e das demais disposições legais. 214 Além da Lei Orgânica da Magistratura e do Código de Ética mencionados neste trabalho, há o Estatuto da Magistratura que trata de quase todos os assuntos tratados pela Lei Orgânica da Magistratura e pelo Código de Ética e outros assuntos concernentes à composição da magistratura judicial, traje a ser usado, 129 Após tratar de toda a parte técnica jurídica que envolve a função de juiz devidamente descrita em lei, há que se perguntar se esta formação exigida, os concursos, a pesquisa acerca da moral do juiz, as garantias concedidas por lei, enfim, todas as características funcionais que se destacou até aqui, os direitos, os deveres impostos, a ética indicada no código respectivo, são suficientes à formação de um profissional competente, assim entendido aquele que cumpre condignamente o papel atribuído pelo Estado como seu representante na solução de conflitos, em outras palavras, se são suficientes para o exercício de sua função, para a prática da justiça. Será que todo este preparo técnico-jurídico, por si só, é suficiente à função exercida pelo juiz? Seria necessário algum outro preparo, algum outro requisito para o exercício da função? E, em caso positivo, qual seria(m) este(s) requisito(s)? É possível se pensar que o Código de Ética pode não contemplar, oferecer solução para todas as questões implicadas na função do juiz? Todo esse questionamento é relevante considerando não ser o juiz uma máquina, com engrenagens automáticas a produzir decisões acerca da vida alheia mediante o acionamento de um controle. Como se disse no preâmbulo deste capítulo a missão de “aplicar a lei ao caso concreto” não é tão simples não é mera aplicação mecânica. As normas que tratam do exercício da função do juiz aqui vistas, Lei Orgânica da Magistratura e Código de Ética da Magistratura, ou seja, normas que indicam a formação necessária e que tratam da conduta inerente ao cargo do juiz, não parecem resolver toda a problemática envolvida na questão do julgamento porque indicam como tarefa simples o cumprimento dos quesitos ali contidos, parecendo deixar de lado a condição humana do magistrado e as implicações desta condição. O juiz é um ser humano como os outros, uma pessoa que está sujeita às mesmas paixões que os demais seres humanos, não podendo se despir da condição humana para ocupar a posição de juiz. O juiz, enquanto humano, não está acima daquele que é julgado, mas, para exercer a função é colocado numa posição de superioridade, acima possibilidade de faltas, ausências, dispensas para participação em congressos e simpósios, foro competente para julgar ações contra os magistrados, nomeações, aposentadorias, dentre outros. 130 das partes. Simbolicamente, esta superioridade se revela na disposição das partes e do juiz na sala de audiências: O juiz fica à frente e acima das partes (num desnível superior do chão). As partes ficam uma à sua direita e outra à sua esquerda (não existindo uma regra absoluta para indicar quem fica à esquerda e quem fica à direita, se autor ou réu). Efetivamente, sua superioridade vem do poder de decidir que lhe é atribuído. Então, pergunta-se sobre as relações entre o profissional e o homem. E, ao se analisar essas relações, pelo menos três considerações devem ser levadas em conta. A primeira delas é a consideração sobre a falibilidade, uma vez que como humano o juiz está sujeito as mesmas paixões que aqueles que são julgados. A norma diz que o juiz é imparcial, diligente, prudente, cônscio de seus deveres. É possível esta pretensa “perfeição” num ser falível? A segunda consideração diz respeito a separação entre pessoa e profissional, na medida em que recai sobre ele a exigência de se colocar enquanto profissional acima de quem está sendo julgado. Ao proceder assim, não estaria retirando de si, ainda que de modo ilusório (porque não é possível), sua condição humana? Estar investido do poder de julgar torna o juiz um humano diferenciado? E, uma terceira consideração: se o juiz se vê como humano ao exercer sua função, seria possível proferir sentenças acertadas se colocando nesta condição de igualdade com aqueles que estão sendo julgados? A questão do lado humano do juiz parece ser mais bem compreendida quando se pensa na formação da identidade pessoal. Todos os seres humanos passam por uma formação de sua identidade pessoal, independentemente da função profissional que um dia virão a exercer. Esta formação da identidade pessoal é que se abordará a seguir. 3.3.2. A Identidade Pessoal Ainda que se leve em conta todas as garantias concedidas ao juiz por lei, conforme se tratou no tópico anterior, tendo em vista a grande responsabilidade que pesa sobre seus ombros, é importante pensar nas condições que precisa ter para 131 desempenhar bem o seu papel de juiz, fora aquelas técnicas que já se considerou e que estão presentes na legislação pátria vigente. Agora será examinado o juiz como pessoa, como homem/mulher, sujeito às mesmas paixões que qualquer outro ser humano e ainda, sujeito aos mesmos litígios os quais poderá julgar. Os conflitos que são levados ao Poder Judiciário são conflitos humanos, alguns muito comuns, outros menos comuns, alguns exóticos, mas todos humanos e serão julgados por um humano. A questão de ser o conflito julgado por um homem coloca questões: se por um lado pode se pensar que, sendo o juiz também um homem pode vir a compreender o que se passa com as partes, os sentimentos envolvidos em cada litígio e em cada discurso, a melhor forma de solucionar o conflito, por outro lado, ser humano faz do juiz um ser falível, sujeito a contradições, talvez nem sempre disposto a novos aprendizados e/ou portador de visão de mundo suficientemente ampla para a compreensão das causas que lhe são postas para julgar. Luis Carlos Figueiredo diz que Giovanni Pico Della Mirandola (1943-1494) em Oratio de hominis dignitate concordava com os que reconheciam o homem como o mais maravilhoso de todos os seres da criação, apenas discordando das razões costumeiramente dadas para esta avaliação. Segundo Figueiredo, Mirandola expõe que o Criador ao criar o homem inventou um ser “a quem nada pertence naturalmente”, um ser com “natureza indeterminada”, para colocá-lo no centro do mundo. Segundo Figueiredo a concepção de “centro do mundo” expressa no texto de Mirandola não é mais o centro com dimensão ontológica, mas o lugar daquele que tudo pode, mas nada é, o lugar privilegiado do não ser: O centro está assim ocupado pelo não, e esta negatividade estrategicamente localizada acabará desestabilizando todo o Universo e superando a possibilidade de concebê-lo na forma fechada e perfeita do círculo.215 215 FIGUEIREDO, L. C., 1992, p. 23. 132 Mirandola, segundo Figueiredo, entende que Deus deu ao homem livre arbítrio para escolher sua própria identidade, e por isso o criou com natureza indeterminada, colocando-o no meio do mundo para olhar para o mundo e fazer suas escolhas, inclusive escolher sua própria identidade. Figueiredo investigando uma concepção de natureza humana do século XVI, a de Pico dela Mirandola, conclui que o homem é pura negatividade: não tem lugar determinado, não tem tarefa específica, não tem aspecto que lhe seja próprio, não tem lei natural para reger o comportamento, cabendo a ele determinar suas próprias leis. Um ser que nasce sem natureza certa e habita num mundo aberto às suas escolhas e que por isso deve se preocupar desde o seu nascimento, sobretudo com sua liberdade e sua destinação, bem como deve depender sempre mais de sua consciência do que do juízo dos outros e, apesar disso, ser capaz de se relacionar com os outros para, neste confronto com o outro, construir a sua própria identidade.216 A construção da identidade pessoal, ainda que por escolha, não parece ser um processo simples. Encontrar a própria identidade exige uma reflexão sobre si mesmo. O ser humano para conseguir se autodefinir precisa de uma reflexão sobre si e ainda, sobre o outro. Segundo Charles Taylor, a identidade do ser humano é complexa, multifacetada e vinculada à orientação moral. O ser humano é moldado pelo que julga serem compromissos universalmente válidos. O ser humano revela quem ele é naquilo que é importante para ele, naquilo que faz e na avaliação do que faz. Saber quem se é equivale a estar orientado no espaço moral do que vale e do que não vale à pena fazer. 217 Conhecer a sua própria identidade mediante a resposta à pergunta “Quem sou eu?” não parece simples, o ser humano tem múltiplas possibilidades, e por isso talvez não seja possível a qualquer homem se definir por completo por um único enunciado. Apesar disso, aquilo que se diz ser, ou seja, o enunciado que se usa para se autodefinir ou para definir o outro pode ser uma das características individuais mais relevantes. 216 FIGUEIREDO, L. C. A Invenção do Psicológico. São Paulo: Escuta/Educ, 1992, p. 24. TAYLOR, Charles. As fontes do Self: A construção da Identidade Moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 2005. 217 133 Aquilo que se diz ser, segundo mostra Taylor, tem a ver com a visão individual das condutas consideradas válidas, das responsabilidades quanto aos atos praticados, daquilo que é considerado certo e errado, das coisas reputadas como importantes para si, daquilo que tem sentido para cada um. E cada indivíduo desenvolve a sua orientação moral de acordo com o seu horizonte, de acordo com a sua visão de mundo. Não raramente se responde à pergunta “quem sou eu?” com a indicação do nome e da genealogia “Sou Maria, filha de Joana e José, neta de Isaura e Joaquim”. Talvez esta indicação da genealogia decorra da importância de se indicar a que família pertence, qual o seu lugar no mundo a partir de sua família. Para Taylor, responder dessa forma, dando nome e genealogia, ainda não satisfaz completamente à pergunta. Outra forma de responder parcialmente à pergunta “quem sou eu?” segundo Taylor, é dando indicativos de algum compromisso moral ou espiritual, ou seja, compromissos universalmente válidos em certo contexto (ser desta ou daquela religião, deste ou daquele grupo social, deste ou daquele partido político). Segundo Taylor, quando as pessoas fornecem estas informações para se identificarem, estão indicando a posição que defendem em questão sobre o que é bom, sobre o que é admirável ou sobre o que é de valor. Se um indivíduo diz ser católico, está indicando nesta fala não só seu tipo de compromisso espiritual, como também qual é a sua postura moral, já que a religião católica defende certos princípios morais. O mesmo ocorre se o indivíduo se diz protestante: sabe-se que a religião protestante defende preceitos morais diferentes daqueles apregoados pela religião católica. Um indivíduo também indica a sua posição moral quando diz ser deste ou daquele grupo social, desta ou daquela nação, porque as características das nações e dos grupos sociais expressam posições. Um indivíduo nascido num país do oriente carrega consigo tradições e concepções diferentes do indivíduo nascido no ocidente. Um indivíduo que se declara anarquista deixa claro seu posicionamento na sociedade, bem como as questões que defende como válidas. 134 A definição da identidade de uma pessoa envolve não só a sua posição em assuntos morais e espirituais como também alguma referência a uma comunidade definitória e uma não exclui a outra. Uma pessoa pode se identificar como um protestante nascido no oriente; ou um brasileiro anarquista. Assim diz Taylor: Defino quem sou ao definir a posição a partir da qual falo na árvore genealógica, no espaço social, na geografia das posições e funções sociais, em minhas relações íntimas com aqueles que amo, e, de modo também crucial, no espaço de orientação moral e espiritual dentro do qual são vividas minhas relações definitórias mais importantes.218 Segundo Taylor, há pessoas que perdem esse tipo de identificação e passam a não saber a significação das coisas, entrando na chamada “crise de identidade”. Na crise de identidade, o indivíduo diz não saber quem é, porque veio ao mundo, o que faz na vida, porque age desse ou daquele modo. Para Taylor, esta crise de identidade pode ser vista como uma incerteza da posição em que o indivíduo se coloca no mundo.219 Taylor diz que situações como a narrada acima em que as pessoas passam a não saber o significado das coisas, mostram o vínculo existente entre a identidade e uma espécie de orientação. Saber quem se é equivale a estar orientado no espaço moral, um espaço em que surgem questões acerca do que é bom ou ruim, do que vale e do que não vale a pena fazer, do que tem sentido e importância para o indivíduo e do que é trivial e secundário.220 E segue perguntando sobre o porquê da existência deste vínculo entre identidade e orientação moral identificando, em primeiro lugar, que este vínculo tem seu lugar na história. O ser humano desde os primórdios formula interrogações morais fundamentais. E, mesmo estando na modernidade, continua a fazê-lo, no entanto, de 218 TAYLOR, 2005, p. 54. Idem. 220TAYLOR, 2005, p. 44. 219 135 forma diferente porque no passado as questões universais eram indiscutíveis, diferentemente do que ocorre na modernidade. Ademais, a pergunta “Quem?” situa um interlocutor numa sociedade de interlocutores, que responde por si mesmo. Ao telefone se pergunta “quem fala?”. Pode-se perguntar “quem é aquela pessoa?”, “quem é você?” E as respostas virão na forma de nome, às vezes acompanhado por outro tipo de identificação relacional. Assim, uma pessoa pode responder seu nome, e se intitular parente desta ou daquela outra pessoa. Ou então, pode dizer seu nome acompanhado de sua profissão, sua função, seu papel social. Pode-se perguntar “quem é aquela pessoa?” e a resposta ser: “É um artista de tal emissora de televisão”. Ao responder a pergunta “quem” o indivíduo se situa na sociedade e situa também o outro. Ao responder à pergunta “quem” o ser humano se situa num espaço dentro do qual encontra seu caminho e identifica o sentido das coisas para si. Não raramente o indivíduo se depara socialmente com esta pergunta “quem?” de forma agressiva e arrogante. Quantas vezes, ao ser interpelado, chamado a atenção ou provocado, um indivíduo ergue a voz e pergunta ao seu interlocutor: “Você sabe com quem você está falando?”, parecendo querer dizer com isso que é uma pessoa diferenciada, importante e talvez se colocando numa condição de superioridade frente aos outros indivíduos. Segundo Taylor, se o indivíduo é capaz de responder sobre si mesmo, sabe em que posição se encontra. Por isso tende naturalmente a falar de sua orientação fundamental em termos de quem é. Uma vez definida a posição a partir da qual o indivíduo responde, fica definida sua identidade.221 Taylor ainda considera que o ser humano existe fazendo distinções, escolhas. Ao pensar, agir, julgar, o ser humano está distinguindo, avaliando situações, fazendo escolhas de acordo com seus critérios pessoais. Assim, segundo as avaliações de cada um, há uma forma de vida mais plena que outra, mais profunda, mais digna, etc. Estas escolhas marcam o sujeito com os seus desejos e inclinações, formando sua ética. 221 TAYLOR, 2005, p. 46. 136 O conjunto de discriminações (aqui e doravante a palavra tem sentido de discernimento, distinção, diferenciação), avaliações, escolhas, constitui padrões de julgamento de todo ser humano. As avaliações envolvem sentimentos e enunciados. Fazendo avaliações o indivíduo pode responder às perguntas que faz para si mesmo, acerca do que é certo e errado, do que é bom ou mal.222 Para Charles Taylor, todas as escolhas humanas envolvem o que ele chama de avaliações fortes. Estas avaliações são diferenciações acerca do certo ou errado, melhor ou pior, mais elevado ou menos elevado, bem e mal, não existindo identidade humana sem este tipo de discriminação e padrão de julgamentos. Ricoeur, comentando Charles Taylor na já citada obra O Justo, entende a expressão “avaliações fortes” como “as estimativas mais estáveis da consciência comum, estimativas que, com sua estrutura binária, exprimem, cada uma a seu modo, aquilo que se acaba de chamar de discriminação entre bem e mal.”223 Segundo Ricoeur, as avaliações fortes consistem num trabalho reflexivo com estrutura binária, conferindo às acepções de bem e mal um número considerável de variantes. Uma possível forma de fazer a distinção entre o bem e o mal é com “avaliações fortes” do bem e do mal, do certo e do errado, do moral e do imoral, do digno e do indigno, do honroso e do vergonhoso, etc. Prossegue Ricoeur dizendo que o termo avaliação exprime o fato de que a vida humana não é neutra no sentido moral, mas tão logo seja submetida a exame, passa pela separação entre o que é sentido como melhor e aquilo que é pior. 224 Ricoeur, fazendo referência a Taylor e com ele concordando no sentido de que a pergunta “Quem sou eu?” norteia a busca da identidade pessoal, encontra uma possível resposta desta pergunta “quem sou eu?” nas modalidades de adesão com as quais se responde à solicitação das “avaliações fortes”. Nesse sentido, Ricoeur entende 222 TAYLOR, 2005, p. 35. RICOEUR, O Justo, 2008, p. 200. 224 Idem. 223 137 ser possível uma correspondência entre as variantes do bem e do mal, bem como ser possível uma orientação no espaço moral.225 Segundo Taylor, espaço moral é o espaço de indagações acerca do bem e do mal, onde o ser humano toma alguma posição acerca dessas indagações. Falar de orientação moral pressupõe a existência de um espaço moral no interior do qual o ser humano estabelece o seu caminho. Se o indivíduo necessita se situar num espaço definido por distinções qualitativas, significa que a posição na qual se encontra em relação a estas distinções é importante para ele. Assim escreve Taylor: O que emerge de tudo isso é que pensamos nessa orientação moral fundamental como essencial para se ser um interlocutor humano capaz de responder por si mesmo. Mas falar de orientação é pressupor um análogo espacial dentro do qual encontramos nosso caminho. Compreender nossa condição em função de encontrar ou perder a orientação no espaço moral é tomar como ontologicamente básico o espaço que nossas configurações buscam definir. A pergunta é: por meio de que definição de configuração posso encontrar meu rumo no espaço moral? Em outras palavras, julgamos básico que o agente humano exista num espaço de indagações. E essas são as questões para as quais nossas definições de configurações são as respostas, proporcionando o horizonte no interior do qual sabemos onde estamos e que sentido têm as coisas para nós.226 Diz Taylor que cada ser humano define o que é importante e o que não é importante para si. É a identidade que permite ao humano as discriminações, inclusive as que dependem das avaliações fortes. 227 Taylor propõe o resgate da presença do bem na constituição da identidade do sujeito mediante a análise do pano de fundo da vida, ou seja, o quadro que dá sentido às avaliações das ações e às respostas das perguntas que o sujeito faz para si mesmo. Fazem parte deste quadro de avaliações as concepções sobre a ética, sobre a moral, sobre bem e o mal, sobre o certo e o errado, etc. Só com a presença deste pano de fundo, segundo Taylor, o ser humano é capaz de fazer avaliações.228 225 RICOEUR, O Justo, 2008, p. 201. TAYLOR, 2005, p. 46. 227 TAYLOR, 2005. p. 47. 228 TAYLOR, 2005, p. 47. 226 138 Nesse sentido ao se analisar a identidade pessoal do juiz, como um indivíduo como os demais, conclui-se que faz parte da identidade do juiz uma avaliação de si mesmo, a sua posição, a sua orientação moral. O juiz, assim como os demais indivíduos, faz escolhas que envolvem avaliações decorrentes da diferenciação entre certo e errado, melhor ou pior, bem e mal. Estas avaliações são feitas com base no pano de fundo da vida, e são um trabalho reflexivo do indivíduo. As interpretações feitas pelo juiz no decorrer do processo judicial serão feitas a partir de sua identidade pessoal, as reflexões e avaliações que ele é capaz de fazer de si mesmo e do outro. 3.4. O Juiz e a Sabedoria Prática Carnelutti em seu livro As misérias do processo Penal afirma que nenhum homem, se pensasse no que ocorre para julgar outro homem aceitaria ser juiz. Para ele, ser juiz constitui um drama. Carnelutti ilustra este drama trazendo à baila a Bíblia Sagrada naquele episódio do Evangelho de João em que tendo sido uma mulher apanhada em adultério e fadada a ser apedrejada por conta da determinação nesse sentido da lei local, foi levada pelos discípulos ao Mestre Jesus, e este, sem dar muita importância ao pecado da mulher diz a eles que aquele que não tivesse pecado poderia atirar a primeira pedra. Ora, o juiz é homem e como tal está sujeito a situações conflituosas semelhantes àquelas que julga. Carnelutti diz que o juiz é, ao mesmo tempo, parte e não parte, constituindo uma contradição. É parte porque é homem. Não é parte porque as partes estão diante dele para serem julgadas, constituindo esta contradição um drama.229 O juiz ao proferir uma sentença faz avaliações e escolhas. Conforme se examinou no capítulo 2, ao ouvir duas testemunhas, o juiz pode entender serem ambos os depoimentos verdadeiros, serem ambos os depoimentos falsos ou ainda, ser 229 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do Processo Penal, trad. José Antônio Cardinalli. São Paulo: Conan, 1995, p. 32. 139 um depoimento mais verdadeiro que o outro. Ao ler os escritos dos advogados que se dirigem ao juiz para narrarem a versão de seus respectivos clientes, o juiz avalia qual versão apresentada, na sua concepção, é mais correta que a outra, ou mais dentro da lei que a outra. Ao final, balizado num conjunto de avaliações feitas durante o processo, o juiz proferirá a sentença dizendo, com base na lei, quem tem razão naquela demanda. Se por um lado as decisões judiciais têm que guardar obediência ao positivismo jurídico – a Constituição Federal, as Leis Ordinárias, as Leis complementares, regulamentos, portarias e todas as demais normas reguladoras – por outro lado, tem o juiz suas convicções pessoais acerca do que é bom, legal e justo. Retoma-se aqui o que já se examinou no primeiro capítulo no que diz respeito ao pensamento ricoeuriano sobre ética e moral. Ricoeur nos permite pensar na ética como sabedoria prática. Reservou o termo “ética” para indicar a intenção de uma vida boa e o termo “moral” para indicar o lado obrigatório das ações (o dever). Para Ricoeur a intenção ética pode ser definida em três termos quais sejam: “intenção de vida boa”, “com e para os outros”, e, “instituições justas”. Segundo Ricoeur, a expressão “vida boa” é tipicamente aristotélica. É uma aspiração, um tipo de vida que se busca e que inclui um cuidado de si, cuidado do outro e cuidado da instituição. Para explicar este “cuidado” e sua importância para a ética, Ricoeur associa o termo “si” a “estima” no plano ético fundamental e ao “respeito” no plano moral. Para Ricoeur, as capacidades de escolha e de introduzir mudança no curso das coisas, são estimáveis em si mesmas. Para Ricoeur a estima de si é o momento reflexivo, pois na medida em que o indivíduo aprecia suas ações ele aprecia a si mesmo como agente. Os dois outros termos que compõem a intenção ética segundo Ricoeur são “com e para os outros” e “instituições justas”. Ricoeur designa para o segundo termo “com e para os outros” o nome de solicitude e, para ele, este termo está diretamente ligado ao primeiro “vida boa” na medida em que a estima de si e a solicitude dialogam. Isto porque, segundo Ricoeur si implica o outro de si. Um indivíduo só pode dizer do 140 outro se ele se estimar a si mesmo como outro. O segredo da solicitude é a reciprocidade. A solicitude é a troca entre dar e receber. No que tange às “instituições justas”, “instituição” para Ricoeur tem sentido de viver em conjunto. “Instituição” é todo agrupamento de pessoas que partilham deveres, direitos, rendimentos, patrimônios, responsabilidades e poderes. Neste diapasão, cita-se como exemplo de instituições a empresa, a família, a igreja, os poderes executivo, legislativo e judiciário, o sindicato e a universidade. E a justiça, consiste neste contexto em atribuir a cada um a sua parte, sendo o cada um o destinatário de uma partilha justa.230 Em que pese não haver dentre os três termos “intenção de vida boa”, “com e para os outros” e “instituições justas” hierarquia, ou seja, um não é mais importante que o outro, mas se complementam entre si na concepção de ética de Ricoeur, tópico se deterá na neste “intenção de vida boa”, porque interessa examinar se o juiz ao prolatar a sentença leva em conta a intenção de vida boa ou somente a aplicação da lei. Volta-se, então, para as questões inerentes à ética e à moral. Para Ricoeur, tanto a ética quanto à moral dizem respeito a uma ação intencional do sujeito que pode mudar o curso da sua história no mundo, tomando suas iniciativas, reconhecendo suas ações e se responsabilizando pelos seus atos. A vida boa corresponde ao conjunto de metas a serem alcançadas, tornando o indivíduo mais realizado ou menos realizado em seu viver na medida em que se aproxime ou não das metas. A intenção de vida boa está presente na prática cotidiana. É no dia-a-dia que cada indivíduo toma iniciativas, faz escolhas, alcança ou não suas metas. Segundo Ricoeur, a intenção de vida boa envolve o sentido de justiça como prática social. A ideia de justiça é uma virtude na via da vida boa e rege uma prática social. Para ele o predicado “justo” é atraído por um lado para o “bom” e por outro lado para o “legal” e esta dialética bom/legal reguladora atribuído à concepção de justiça. 231 230 231 RICOEUR, LI, 2005, p. 91, 163-164. RICOEUR, LI, 1995, p. 91-92. seria inerente ao papel de ideia 141 Pode-se dizer que o “bom” está relacionado à ética, à vida boa, enquanto o “legal” está relacionado à moral, às normas. Ainda que “legal” e “bom” apareçam à primeira vista como orientações opostas (porque o “bom” advém de uma concepção em que as ações são boas em função de um fim e o “legal” advém de uma concepção segundo a qual as ações decorrem de um dever), esta oposição leva a pensar se para existir um predicado não pode existir o outro ou se ambos andam juntos. Volta-se às questões: Tudo que é legal é bom? Tudo que é bom é legal? Pode algo ser legal e não ser bom? Pode algo ser bom e não ser legal? E mais: tudo que é legal e bom é necessariamente justo? As ações dos indivíduos podem ser consideradas justas e/ou boas pelo simples fato de estarem calçadas na lei? Será que a justiça instituída ao aplicar a lei promove a justiça? Seria possível se fazer justiça sem a aplicação da lei? Refletindo sobre esta relação entre o bom e o legal na prolação de uma sentença, se considerado o ensino jurídico no sentido de ser da competência do juiz “aplicar a lei ao caso concreto”, ao se proferir a sentença estaria sendo levado em conta somente o “legal”. A prolação da sentença teria uma concepção meramente deontológica. Mas persiste o questionamento: Considerando o pensamento de Ricoeur no sentido de que o justo atrai os predicados “bom” e “legal”, é a sentença prolatada uma sentença justa se levar em conta somente o legal? Seria possível a um magistrado prolatar a sentença pensando não somente no “legal”, mas também no “bom” ou é possível pensar somente no “bom” ainda que o “bom” não seja “legal”? Diante da prevalência da corrente do positivismo jurídico, não é possível se prolatar uma sentença pensando somente no “bom” se o “bom” não for “legal”. Então o “bom” deve passar pelo crivo da norma. Para Ricoeur ao primeiro componente da intenção ética, isto é, “a intenção de vida boa” corresponde, do lado da moral, à exigência de universalidade. Sendo assim a passagem pela norma somada à intenção de vida boa torna-se “sabedoria prática”. Conforme se examinou no capítulo 1, a sabedoria prática consiste na criação pelo sujeito autônomo de um comportamento apropriado à 142 singularidade de cada caso.232 De acordo com Ricoeur, esta sabedoria prática torna-se possível na medida em que se institui um debate público onde são feitas as avaliações que dão sentido às partilhas da sociedade. É no debate público que surgem as regras universais que serão respeitadas pela coletividade. Para Ricoeur, no plano ético, ou seja, da busca pela vida boa, “justo é o aspecto do bom relativo ao outro”. Em relação à moral, ou seja, no plano da obrigação, do dever, “justo se identifica com o legal”. E, no plano da sabedoria prática, onde para cada caso se aplica um julgamento, conforme a situação, o justo não é nem o bom, nem o legal. Ricouer o chama de “equitativo”, e explica como sendo “a figura assumida pela idéia de justo nas situações de incerteza e de conflito.”233 Esta equidade é o meio do caminho entre o bom e o legal. E chegar a este ponto de equilíbrio só é possível, segundo Ricoeur, através da sabedoria prática. A sabedoria prática transcende a norma e tem como referência principal o viver bem em conjunto, não se detendo somente ao que é bom para os indivíduos e nem somente ao que está na norma, ao que é legal, mas busca um ponto de equilíbrio entre estes dois aspectos, de modo que entre o legal e o bom se encontre o que é justo, próprio a uma situação determinada, tendo em vista o horizonte maior de uma vida boa para todos. Saliente-se que as decisões judiciais têm consequências para o outro, e este outro pode não ser aquele que está litigando, mas o outro da sociedade que colherá frutos (ainda que não saiba) de decisões judiciais tomadas. Há decisões proferidas em ações que interessam à coletividade e que atingem toda a sociedade de modo imediato, como, por exemplo, aquelas em que se determina que uma porcentagem de certo serviço cujos trabalhadores estejam em movimento grevista deva funcionar, aquelas em que proíbem determinada operadora de telefonia de vender produtos e serviços por um tempo, etc. Há decisões que são proferidas em causas que interessam somente às partes litigantes, mas que, paulatinamente podem servir à sociedade, na medida em 232ROSSATO, Noeli Dutra. Viver Bem, ética e Justiça. Texto encaminhado para Revista Mente, Cérebro & Filosofia, vol. 11 – Presença do outro e interpretação: Ricoeur, Gadamer - Julho 2008. Disponível em: <http://w3.ufsm.br>. Acesso em: 10 dez. 2012. 233 RICOEUR, O Justo, 2008, p. 20. 143 que as partes litigantes, tendo aprendido alguma lição da agrura processual pela qual passaram e da sentença proferida, podem vir a modificar seu comportamento na sociedade. Exemplifica-se ao trazer à baila que, um passado não muito distante, não se discutia o assédio moral na relação trabalhador/empregador, tampouco o comportamento desrespeitoso ao empregado era indenizável. Hoje, após muitas decisões judiciais determinando o pagamento de indenizações a ex-empregados que sofreram assédio moral, muitos empregadores já mudaram o comportamento com os seus empregados, formando com isso uma vida melhor: o trabalhador tratado de forma respeitosa pode trabalhar melhor, pode produzir mais, pode fazer bem aos membros de sua família, que por sua vez podem fazer o bem a outro, etc. Ricoeur explicita o modo como se opera o julgamento feito pelo juiz e o lugar que ocupa na sociedade: Neste aspecto, o caso das instituições judiciárias é peculiar, mas peculiarmente favorável a uma determinação mais rigorosa do ‘cada um’ segundo a instituição: Com a instituição do tribunal, o processo põe em confronto partes que são constituídas como “outras” pelo procedimento judiciário; ou melhor, a instituição se encarna na personagem do juiz, que, colocado como terceiro entre as partes do processo, desempenha o papel de terceiro em segundo grau; ele é o operador da justa distância que o processo institui entre as partes. O juiz, na verdade, não é o único que desempenha essa função de terceiro em segundo grau. Mesmo sem cedermos a um pendor excessivo pela simetria, poderíamos dizer que o juiz está para o jurídico assim como o mestre de justiça está para a moral e para o príncipe, ou como qualquer outra figura personalizada do poder soberano está para a política. Mas é apenas na figura do juiz que a justiça se dá a reconhecer como “primeira virtude nas instituições sociais”.234 Pode-se supor que na medida em que o juiz passar por um processo de reflexão, e avaliar suas ações em termos de boas (éticas) e obrigatórias (moral), bem como agir de forma solícita (com e para o outro) com a perspectiva de vida boa para si e para o outro, e ainda, na medida em que se puser sensível às diferenças dos seres humanos, às diferenças das circunstâncias, agindo de modo condizente com cada diferença conforme a prática social, a justiça enquanto instituição estará a caminho de ser uma instituição justa. 234 RICOEUR, O Justo, 2008, p. 9. CONCLUSÃO Esta dissertação teve por objetivo o exame das interpretações ocorridas no processo judicial até a prolação da sentença pelo juiz. De acordo com o pensamento de Paul Ricoeur, o conceito de justiça constitui uma idéia reguladora que preside uma prática social, qual seja a da justiça enquanto instituição social. À medida que na vida social existem conflitos que não se resolvem entre as partes, há a necessidade de intervenção do Estado para mediar os interesses opostos e aplicar o direito. Sendo assim, a aplicação do direito está relacionada ao aparecimento de um terceiro, que é o Estado, representado pelo juiz. No entanto, segundo Ricoeur, antes do aparelho judiciário existe uma base de discussão acerca da justiça na sociedade civil. Nas conversas, nas relações interpessoais, no debate público são ponderadas as avaliações que dão significado aos bens distribuídos na sociedade. Segundo Ricoeur, é na sociedade que se iniciam os debates e os julgamentos informais que posteriormente serão formalmente levados ao judiciário. E quando tais debates são levados ao judiciário, o são na forma de processo judicial. Quer sejam conflitos coletivos, quer sejam conflitos entre indivíduos particulares, o acionamento do Poder Judiciário se dá mediante a instauração do processo judicial. Partindo de nossa hipótese inicial de que neste processo ocorrem múltiplas interpretações e que estas são decisivas para o seu resultado final, a sentença do juiz, buscamos analisar essas interpretações ocorridas no processo judicial, recorremos à hermenêutica filosófica e parte da contribuição dada a ela por Paul Ricoeur. Como se viu, Ricoeur desenvolveu sua teoria hermenêutica levando em conta os trabalhos de Schleiermacher, Dilthey, Heidegger e Gadamer, propondo fosse a hermenêutica liberta dos preconceitos psicologizantes. Segundo Ricoeur, na interpretação o “diálogo” com o autor do texto é rompido e o texto se torna universal a quem quer que saiba ler. Pela leitura, o texto se liberta do autor e passa a ter a sua própria autonomia e abre um 145 conjunto de referências a qual ele chama “mundo do texto”. Considerando que o processo judicial é formado por textos escritos e examinando o processo judicial sob a lente ricoeuriana, tem-se que as interpretações ali feitas não se limitam a desvendar o que o autor dos textos quis dizer. O principal intérprete no processo judicial é o juiz e, no que constituiu outra dimensão de nossa hipótese inicial, consideramos que, além das dimensões técnicas, estariam presentes em suas interpretações as suas avaliações morais e sua intenção ética. Considerando que, segundo Ricoeur, um texto escrito é uma forma de discurso diferente da comunicação oral entre pessoas, procuramos examinar em que sentido é ou não o processo judicial uma forma de diálogo, considerando diálogo a comunicação entre duas pessoas em que uma fala e a outra escuta. Dessa perspectiva o juiz é um interlocutor mediador, que recebe os argumentos e pedidos das partes, interpreta seu sentido e sua validade e lhes dá a resposta cabível. Para elucidar esta estrutura, traz-se a lume que, de acordo com o Ricoeur, todo discurso, oral ou escrito, pode ser analisado como sendo formado pela dialética entre evento e significação. É evento porque algo acontece quando alguém fala; deste acontecimento Ricoeur destaca quatro características: é um realizado no presente, ligado à pessoa que fala, dirige-se a um ouvinte e diz sobre algo a alguém. E no processo judicial temos estas características do evento. A parte - através do advogado – peticiona ao juiz sobre algo ligado a si, no presente. Quanto à significação, segundo Ricoeur, é ela que se visa no falar e no escutar, é ela que permanece, para além do acontecimento da fala. No processo judicial também aparece esta característica. O que o juiz busca é a compreensão do significado do que lhe está sendo apresentado, para além da forma imediata de sua enunciação. As partes apresentam a ela suas versões e o juiz usa de sua reflexão e de seu discernimento para concordar ou não com as argumentações de uma ou de outra parte. Nesse aspecto, muito importante para a compreensão das interpretações que ocorrem no processo judicial é o exame que foi aqui feito acerca da busca da verdade, uma vez que o processo judicial tem por finalidade intermediária o encontro da 146 verdade, assim considerada a verdade como correspondência entre o que alegam as partes e o que de fato aconteceu. Para que o juiz diga o direito necessário é que ele descubra quem diz a verdade e quem tem razão. Tal descoberta é feita mediante a interpretação dos argumentos e das provas, quer orais, quer escritas. Por conta dessa busca pela verdade é que no processo judicial passado, presente e futuro se entrelaçam conflituosamente numa narrativa que pretende ser coerente, capaz de sustentar as reivindicações das partes. Com o fito de justificar e validar seu ponto de vista e seus direitos, as partes buscam narrar ao juiz os fatos do modo como se sucederam, de acordo com uma sequencia própria. As histórias contadas no processo são, como aprendemos com Ricoeur, composições narrativas passíveis de interpretação, sendo que o juiz as analisa e se deixa convencer por aquela que lhe parece mais verossímil. Mais uma vez, aqui, conclui-se que o poder de livre convencimento dado ao juiz é a chave da questão interpretativa. O juiz vai se convencer de acordo com os parâmetros da lei e de acordo com suas avaliações éticas e morais acerca das situações. Ademais, mais importante do que a narrativa feita pelas partes para o encontro da verdade, é a consideração das provas, notadamente a oitiva das testemunhas. Como o processo judicial é formado por textos escritos, os testemunhos orais se tornam textos escritos. No entanto, com base nas investigações de Ricoeur, podemos dizer que, ao passar o depoimento da fala para a escrita, o texto não coincide mais com aquilo que o locutor quis dizer. Também desaparecem os gestos, as emoções, as expressões e os sentimentos colocados na fala, elementos com os quais as testemunhas e, muitas vezes as partes, dão sentido e força ao que querem dizer. O texto escrito abre outro problema de interpretação. Sendo assim, muito embora a legislação determine que o mesmo juiz que colhe as provas é o que prolata a sentença, conclui-se que o juiz ao reler os depoimentos para fundamentar sua decisão leva muito mais em conta o que lê do que o que ouviu. É o que está registrado que é considerado para fins da prolação da sentença. Os gestos, as emoções, as expressões utilizadas no depoimento oral ficam para trás, às vezes sequer são lembrados pelo magistrado que os presenciou, e, ainda que intimamente possam ser considerados para ajudar no convencimento do juiz, se lembrados, dificilmente servirão 147 de fundamentação à sentença se não tiverem sido registradas de alguma forma. Conclui-se que nem sempre a verdade é descoberta e levada em consideração, que uma mentira pode ser tomada por verdade, seja porque a própria testemunha mentiu, seja porque a testemunha falou a verdade, mas não convenceu o juiz acerca do que estava dizendo. Por conta de todas essas situações, pode-se ver o quanto está presente a interpretação no processo judicial e quão complexa é sua participação nele. Foi por conta da tomada de consciência da problemática da interpretação no processo judicial que durante esta dissertação se examinou a hermenêutica jurídica já com a indicação conclusiva que ora se retoma de que esta disciplina, considerada uma hermenêutica específica, não é suficiente, em seus princípios técnicos, para dar conta das muitas dimensões das interpretações que ocorrem no processo judicial. Lembremos o conceito jurídico de hermenêutica dado por França, segundo o qual a hermenêutica “é o conjunto orgânico das regras de interpretação contando com três conjuntos de regras: Regras Legais, Regras Científicas e Regras de Jurisprudência.”235 As regras legais são aquelas impostas por leis, isto é, há lei que determina como interpretar e aplicar as leis. As regras científicas são as regras consolidadas por juristas, que com base em seu conceito técnico, emitem parecer sobre a forma de interpretação e as regras de jurisprudência são aquelas que embasam novas decisões levando em conta casos iguais (“onde houver a mesma razão, aplica-se o mesmo sentido”). A partir desta lembrança e de tudo quanto foi examinado neste trabalho, parece-nos evidente que a hermenêutica jurídica não dá conta das inúmeras dimensões envolvidas nas interpretações que ocorrem no processo judicial, uma vez que as interpretações realmente feitas ultrapassam as esferas legal, científica e de jurisprudência. A interpretação que ocorre no processo judicial é uma interpretação dos discursos de indivíduos e das situações em que estão inseridos em cada caso particular. O conjunto de regras que a hermenêutica jurídica apresenta acaba tendo seu alcance restrito à interpretação da lei, evidente, por exemplo, quando se trata das regras em que uma lei dita como interpretar outras leis. No entanto, no caso das regras científicas e de 235 FRANÇA, 1999, p. 10-11. 148 jurisprudência não parece tão óbvio assim, na medida em que tais regras causam a falsa impressão de que são levadas em conta situações do cotidiano para a consolidação das regras científicas e de jurisprudência. Diz-se falsa impressão porque, por mais que se imagine que as regras científicas são criadas pelos juristas a partir de casos concretos e/ou de necessidade de organização da sociedade desta ou daquela forma e que as regras de jurisprudência tenham por objeto a aplicação do mesmo sentido onde houver a mesma razão (iubi idem rario, ibi idem jus), a sociedade é dinâmica, e enquanto se consolida uma regra de interpretação novas situações já surgiram. Então, tais regras também acabam por ser limitar à interpretações de leis já postas e a respectiva utilização nos casos concretos desse ou daquele modo. Ademais, quanto às regras de jurisprudência, pela conhecida fórmula jurídica romana “onde há a mesma razão aplica-se o mesmo direito”236, a reiteração uniforme e constante de uma decisão sempre no mesmo sentido serve ao julgamento de outros casos semelhantes. Por mais que isto pareça lógico, e, por mais que na prática se estabeleça uma semelhança entre os casos práticos capaz de atribuir a um caso a mesma fundamentação dada em outro caso, não se pode olvidar que um fato não é igual ao outro, cada qual guarda suas peculiaridades. Um indivíduo não é igual ao outro e, por mais que possam praticar atos parecidos, cada um tem suas motivações, seus interesses, seu modo de ver a vida, razão pela qual, embora a jurisprudência tenha a sua serventia, a sua aplicação imoderadamente, ou seja, se não consideradas as peculiaridades de cada caso, pode fazer com que um julgamento não alcance o justo. De acordo com Miguel Reale, o sistema jurídico não pode ser percebido apenas como um sistema de proposições lógicas, mas como um processo de integração dialética que vai do fato à norma e da norma ao fato.237 E “o fato” nunca será o mesmo. Os fatos podem guardar semelhanças, mas cada fato é um fato, cada agente é um indivíduo diferenciado. No processo judicial como um todo, como nosso trabalho pretende ter mostrado, é evidente que as interpretações não estão adstritas à interpretação da lei, 236 237 FALCÃO, 1997, p. 262. REALE, 2002, p. 580. 149 como sugerem as regras da hermenêutica jurídica. Há que se ressaltar no entanto que, embora não abarquem todas as interpretações feitas no processo judicial, as regras da hermenêutica jurídica têm suma importância, fundamentando o entendimento do juiz e garantindo-lhe alguma objetividade. Por tudo que se examinou nessa dissertação e considerando a complexidade do ato de interpretar, conclui-se que não é suficiente ao juiz que ele saiba o direito, o ordenamento jurídico, a codificação pátria, a jurisprudência dominante, as Súmulas editadas pelos Tribunais e as formas procedimentais para que tenha condições suficientes para julgar. A formação pessoal do juiz também dará a ele subsídios necessários para a prolação da sentença. Tais subsídios, advindos da formação de sua identidade, somados aos seus conhecimentos técnicos, podem contribuir para que o juiz tenha uma sabedoria prática capaz de fazer com que profira uma sentença justa, dando a cada um o que é seu. Embora os Estatutos da Magistratura e o respectivo Código de Ética sejam compostos por vasta abordagem acerca do conhecimento técnico necessário ao juiz e sua postura enquanto tal, a própria lei abre caminho para que a identidade pessoal do juiz possa prevalecer, para o bem ou para o mal, no julgamento, na medida em que confere a eles os poderes do livre convencimento. O juiz é livre para fazer suas avaliações e dar mais crédito a este ou aquele argumento, a esta ou àquela prova, a este ou aquele depoimento. A sentença a ser prolatada gerará efeitos não só entre as partes, mas também para a sociedade como um todo, logo, podemos pensar que a sentença haveria que visar um bem comum. O juiz interpreta para sentenciar e vai, na prática, fazê-lo também de acordo com seus preceitos éticos e morais. As interpretações feitas pelo juiz no decorrer do processo judicial serão feitas também a partir de sua identidade pessoal, das reflexões e avaliações que ele é capaz de fazer de si mesmo e do outro. No entanto, mesmo tendo a tomada de consciência da liberdade do juiz quanto às interpretações e julgamento, permanece a questão do que é justo, do que é legal, do que é moral e do que é ético, porque é cediço que o juiz não pode julgar contra a lei. Mesmo considerando que o juiz tem o poder do livre convencimento e profere suas decisões a partir da sua identidade pessoal, refletindo sobre si e sobre o outro, em busca de um 150 bem comum, o que pode ser considerada uma decisão justa e como age para conciliar seus preceitos éticos e morais com os preceitos legais? Ricoeur nos dá subsídios para responder a este questionamento, pois para ele, o justo atrai os predicados “bom” e “legal”, de modo de que com a junção dos dois predicados chega-se à sabedoria prática, isto é, para cada caso se aplica um julgamento, conforme a situação. É o que Ricoeur chama de meio caminho entre o bom e o legal porque transcende a norma e tem como referência principal o viver bem em conjunto, não se detendo somente ao que é bom para os indivíduos e nem somente ao que está na norma, mas buscando um ponto de equilíbrio entre estes dois aspectos, de modo que entre o legal e o bom se encontre o que é justo, próprio a uma situação determinada. Todo o aprendizado jurídico pelo qual passou o Juiz não lhe garante tal sabedoria prática, tampouco a certeza de aplicação correta da justiça e nem a sensatez nas interpretações que desembocarão na sentença. Tal sabedoria não é encontrada na Lei e nem em manuais. Podemos pensar que se o juiz se valer apenas da Lei sem ter em vista o horizonte da vida boa, abstendo-se de agir de modo reflexivo, de olhar ao redor e de considerar o horizonte de uma vida boa para todos, não desempenhará bem o seu papel de distribuir corretamente a justiça, dando a cada um o que é seu e nem fará do Poder Judiciário uma instituição justa, que busca satisfazer as pessoas que se dirigem a esta instituição na busca de solução de seus conflitos interpessoais, e não estará contribuindo para uma sociedade igualmente justa e propensa a maior igualdade entre os indivíduos. BIBLIOGRAFIA ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1ª. Edição Brasileira coordenada e revista por Alfredo Bosi. Revisão da tradução e tradução dos novos textos: Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2007. ALEIXO, M. Alice Fontes. Estima de si, Solicitude e Igualdade. O Triângulo de Base da Vida Ética segundo P.Ricoeur. Colecção Artigos Lugosofia, Universidade da Beira Interior, Covilhã, 2008. Disponível em: <www.lugosofia.net>. Acesso em: 13 jun. 2011. ARISTÓTELES. Metafísica vol. II, Ensaio Introdutório. Texto grego com tradução e comentário de Giovanni Reale. Tradução Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 2002. BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de Matos. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. BERMAN. Marchall. Tudo que é sólido Desmancha no Ar. A aventura da Modernidade. Trad. Carlos Felipe Moisés e Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Schwarcz, 2008. BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico. Lições de Filosofia do Direito. Compiladas por Nello Moura. Tradução e Notas de Márcio Pugliesi, Edson Bini e Carlos E.Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995. CAMARGO. Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e Argumentação. Contribuição ao Estudo do Direito. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. CAPEZ, Fernando. Súmula Vinculante. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/7710/sumula-vinculante, Acesso em: 21 fev. 2012. elaborado em Uma 11/2005, ______. Processo Penal. 17ª ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2007. CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. CARNELUTTI, Francesco. As Misérias do Processo Penal. Trad. José Antônio Cardinalli. São Paulo: Conan, 1995. CERQUEIRA. Marconi Costa. Paul Ricouer: Postulações éticas do primado da mediação reflexiva. Disponível em <www.markanfilos.blogspot.com>. Acesso em: 15 jun. 2011. 152 CORETH, Emerich. Questões Fundamentais de Hermenêutica. Tradução de Carlos Lopes de Matos. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária Ltda (USP), 1973. DALLARI. Dalmo de Abreu. O Poder dosJjuízes. São Paulo: Saraiva, 1996. FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 1997. FRANÇA, Rubens Limongi. Hermenêutica Jurídica. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito - Técnica, Decisão, Dominação. São Paulo: Atlas, 1988. FIGUEIREDO, L.C. A invenção do Psicológico. São Paulo: Escuta/Educ, 1992. GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em Retrospectiva, volume II. Trad. Marco Antônio Casanova, Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. GOMES. Orlando. Introdução ao Direito Civil. Coordenador: Edvaldo Brito. 19ª ed. São Paulo: Forense, 2008. GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. INWOOD, Michael. Dicionário Heidegger, Trad.Márcia Sá Cavalcante Schwack. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. LAZZARINI, Álvaro. Magistratura: Deontologia, Função e Poderes do Juiz. Publicado em Caderno de Jurisprudência da Ematra XV, v.1. n.4., jul./ago. 2005. MADJAROF, Rosana. Justiça. Como Entendê-la? Disponível em: http://www.mundodosfilosofos.com.br/rosana5.htm Acesso em: 27 fev. 2012. MARCONDES, Danilo. JAPIASSU, Hilton. Dicionário Básico de Filosofia, 4ª ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia. Dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. 13ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. MARKY. Thomas. Instituições de Direito Romano, 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 153 MELLO, Cleyson de Moraes – Hermenêutica e Direito. A hermenêutica de Heidegger na Fundamentação do Pensamento Jurídico. Rio de Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2006. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – parte geral. 36ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. MOTA, Silvia. Introdução ao Estudo do Direito. Disponível em: www.silviamota.com.br/direito/artigos/metodoanalogico.htm Acesso em: 2011. 10 nov. NEGRÃO. Teotônio. GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 37ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005 NUNES, Amandino Teixeira. A pré-compreensão e a compreensão na experiência hermenêutica. Disponível em: http://jus.com.br. Acesso em: 31 jan. 2012. PALMER, Richard E. Hermenêutica. Trad. Maria Luisa Ribeiro Ferreira. Lisboa: Edições 70 LDA, 2006. PELUSO. Vinícius de Toledo Piza; GONÇALVES, José Wilson. Comentários à Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Coordenação Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. PERELMAN, Chain. OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação. A Nova Retórica. Trad. Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão (Revisão da Tradução Eduardo Brandão). 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. PETRI, M. José Constantino. Manual da Linguagem Jurídica. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. ______. Argumentação Linguística e Discurso Jurídico. São Paulo: Selinunte, 1994. PLATÃO. TEETETO CRÁTILO. Trad. de Carlos Alberto Nunes. Coordenação Benedito Nunes. 3ª ed. Belém/PA: Universitária UFPA, 2001. REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004. REIS. Flávio Azevedo.A Posição original em Rawls. Primeiros Escritos, v. I, n. 1, Fflech, USP. 2009. Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/df/site/publicacoes/primeirosescritos> Acesso em: 154 03 fev. 2013. RICOEUR, Paul. A Hermenêutica Bíblica. Trad. Paulo Meneses, São Paulo: Loyola, 2006. ______. A Memória, a História, o Esquecimento. Trad. Alain François. Campinas: Unicamp, 2010. ______. Do Texto à Acção – Ensaios de Hermenêutica II. Trad. Alcino Cartaxo e Maria José Sarabando. Portugal: RES, 1989. ______. Hermenêutica e Ideologias. Organização, Tradução e Apresentação Hilton Japiassu. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. ______. Leituras 1 – Em torno ao Político. Trad.Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 1995. ______. O Conflito das Interpretações. Ensaios de Hermenêutica. Tradução de M. F. Sá Correia, Porto-Portugal: RES, 1969. ______. O Justo 1. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2008. ______.O si mesmo como um outro. Trad. Lucy Moreira Cesar. São Paulo: Papirus, 1990. ______. Tempo e Narrativa. A intriga e a Narrativa Histórica. Tradução Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2010. ______. Teoria da Interpretação. O Discurso e o Excesso de Significação. Tradução Artur Morão. Lisboa/Portugal: Edições 70 Lda, 2009. ROSSATO, Noeli Dutra. Viver Bem, ética e Justiça. Presença do outro e interpretação: Ricoeur, Gadamer.Texto encaminhado para Revista Mente, Cérebro & Filosofia, v. 11 –Julho 2008. Disponível em: http://w3.ufsm.br Acesso em: 10 dez. 2012. SACRIOT, Juliane. Hermenêutica Jurídica, a Função Criativa do Juiz. Disponível em: <www.âmbitojurídico.com.br> Acesso em: 16 jun. 2011. SANTOS, Fausto dos. Prospecções filosóficas: Platão e Aristóteles, Estética, Hermenêutica e Teologia. Chapecó-SC: Argos, 2012. SEN, Amartya. A Idéia de Justiça. Trad. Ricardo Doninelli Mendes e Denise Bottmann – São Paulo: Companhia das Letras, 2011. TAYLOR, Charles. As fontes do Self – A construção da Identidade Moderna, Trad. Adail Ubirajara Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 2005. 155 VÁZQUEZ, A. S. Ética. São Paulo: Civilização Brasileira, 1986.
Download
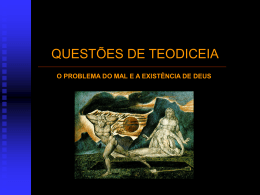
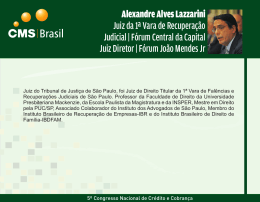
![CERTIFICADOS [Modo de Compatibilidade]](http://s1.livrozilla.com/store/data/000484584_1-69b4aba5693a96131ed43721bf6a6800-260x520.png)


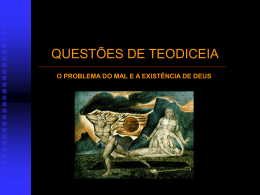
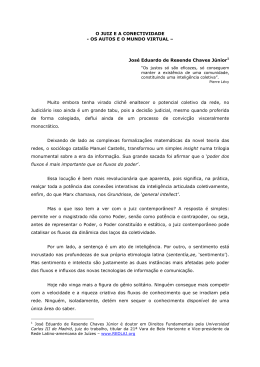
![CERTIFICADOS [Modo de Compatibilidade]](http://s1.livrozilla.com/store/data/000484583_1-53cb621dcd53c073ed81804fbcdd1706-260x520.png)