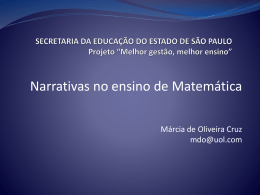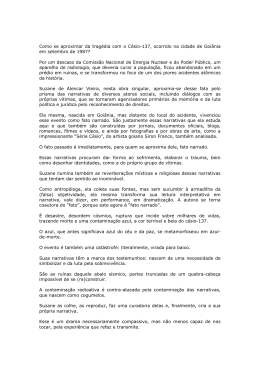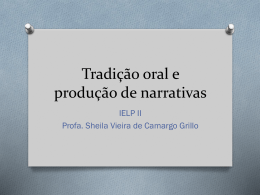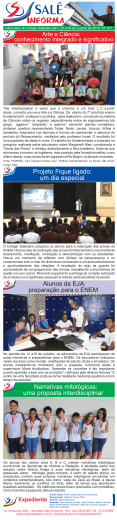0 UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI DENISE VIUNISKI DA NOVA CRUZ A POTÊNCIA DAS NARRATIVAS NO ENSINO [E NA PRÁTICA] DA CLÍNICA MÉDICA ITAJAÍ, SC 2015 1 UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura – ProPPEC Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE Doutorado em Educação DENISE VIUNISKI DA NOVA CRUZ A POTÊNCIA DAS NARRATIVAS NO ENSINO [E NA PRÁTICA] DA CLÍNICA MÉDICA Tese apresentada ao colegiado do Programa de PósGraduação em Educação da Universidade do Vale do Itajaí como requisito parcial à obtenção do grau de Doutor em Educação – área de concentração: Educação. Linha de Pesquisa: Cultura, Tecnologia e Aprendizagem. Orientadora: Prof.a Dr.a Adair de Aguiar Neitzel. ITAJAÍ, SC 2015 2 UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura – ProPPEC Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE Doutorado em Educação CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DENISE VIUNISKI DA NOVA CRUZ A POTÊNCIA DAS NARRATIVAS NO ENSINO [E NA PRÁTICA] DA CLÍNICA MÉDICA Tese avaliada e aprovada pela Comissão Examinadora e referendada pelo Colegiado do PPGE como requisito parcial à obtenção do grau de Doutor em Educação. Itajaí (SC), 5 de março de 2015. Membros da Comissão: Orientadora: _______________________________________ Prof.ª Dr.ª Adair de Aguiar Neitzel Membro Externo: _________________________________________ Prof. Dr. Celmo Celeno Porto Membro Externo: _________________________________________ Prof. Dr. Bruno Vasconcelos de Almeida Membro representante do colegiado: ________________________________________ Prof.a Dr.a Carla Carvalho Membro representante do colegiado: ________________________________________ Prof.a Dr.a Regina Célia Linhares Hostins 3 Dedico este trabalho aos pacientes e aos alunos, afinal é disso que se trata: criar afetos e não verdade. (Com Guilherme Mello Vieira). 4 AGRADECIMENTOS Agradeço a todos os encontros. À minha mãe, primeiro encontro; ao meu pai: potência de desencontro. Ao meu irmão querido. À Carolina, o encontro mágico. Ao meu sempre R3, meu amigo. Aos meus amigos, meus colegas de medicina e da educação. Aos meus alunos e pacientes que tanto têm me ensinado. A todos os meus professores, orientadores, médicos, terapeutas: tão importantes. Ainda não sabemos o que pode um encontro. 5 Escrever é uma tentativa de libertar a vida daquilo que a aprisiona, é procurar uma saída, encontrar novas possibilidades, novas potências de vida. Roberto Machado 6 RESUMO Esta tese foi pensada por aquela menina que lia livros, tornou-se médica e sempre quis ser professora. Uma tese antiga, que remonta à infância dos livros. Havia lá, naquelas páginas, naquelas tantas narrativas, alguma força, alguma coisa que, aos poucos, silenciosamente ia constituindo um caráter, polindo certas habilidades, revelando certos meandros da existência? Essas indagações duraram por muitos anos, acompanhando a formação acadêmica, a prática na medicina e na docência. O momento de investigar essas questões chegou. Esta tese teve como objetivo estabelecer a potência formadora da Medicina Narrativa na prática e no ensino de clínica médica, propondo um novo conceito: Narrativa-Afeto. O percurso do texto coloca lado a lado as bases teóricas desta nova área do conhecimento – Medicina Narrativa – e um conjunto heterogêneo de narrativas apócrifas de pacientes, médicos residentes, médicos-professores e alunos de medicina; bem como excertos de textos literários que se aproximam das narrativas trazidas [complementando-as]. As narrativas de vida e os textos literários escolhidos aparecem como objetos estéticos demonstrando suas potências afetivas. A tese divide-se em três partes: A primeira ocupa-se em delimitar o problema. Como e por que a Medicina afastou-se das Humanidades. Para apresentar a questão, foram escolhidos dois pontos de vista: o do sociólogo francês Michel Maffesoli (1998) e a teorização da norte-americana Kathryn Montgomery (1991, 2006) que, com sua formação interdisciplinar (Literatura e Medicina), dedicou sua vida acadêmica à compreensão desse fenômeno. A segunda parte propõe-se a discutir até que ponto esse afastamento existe, revelando que as narrativas sempre fizeram parte da prática e do ensino da clínica. Para comprovar essa afirmação, a pesquisa resgata diferentes narrativas: histórias, estórias e anedotas de médicos e pacientes e, seguindo a proposta de Rita Charon (2006), exemplifica o uso didático das narrativas literárias na formação de médicos residentes. A terceira parte ocupa-se das narrativas como Arte e oferece um novo argumento filosófico à teorização existente: Além da análise estrutural e linguística das narrativas, ao lado de sua aplicação didática e pedagógica, propõe-se, seguindo os passos de Gilles Deleuze (1985, 1990, 2002, 2006, 2007) – ao [re]ler Espinosa –, a potência imanente das narrativas: Narrativas como afeto, Narrativa-Afeto. Com a construção deste mosaico – de narrativas e conceitos – apresentam-se as potencialidades de aproximação de duas áreas reconhecidas como afins: Medicina e Literatura. Esta (nem tão) nova, ou renovada área do conhecimento, afigura-se como uma abordagem fértil ao ensino de medicina, especialmente no que diz respeito à prática da clínica médica. Palavras-chave: Medicina Narrativa. Clínica Médica. Ensino de Medicina. Literatura. Afeto. 7 ABSTRACT This thesis was thought by that girl who read books, became a doctor and always wanted to be a professor. It is an old thesis, dating back to a childhood of books. There in those pages, in those narratives, was there some strength, something that would silently and gradually help build a character, polishing certain skills, revealing certain intricacies of existence? These questions persisted for many years, throughout her academic training, and her practice in medicine and teaching. The opportunity to investigate these issues has now arisen. This thesis aims to establish the formative power of Narrative Medicine in the practice and teaching of clinical medicine proposing a new concept: Narrative-Affection. The text places, side by side, the theoretical foundations of this new field of knowledge – Narrative-Affective - and a heterogeneous set of apocryphal narratives of patients, medical residents, physicians, professors and medical students; as well as excerpts of literary texts that address [and complement] the narratives presented. The narratives of life and the chosen literary texts appear as aesthetic objects demonstrating their affective potentialities. The thesis is divided into three parts: The first part defines the problem; how and why medicine has moved away from the Humanities. To present this issue, we have chosen two points of view: that of French sociologist Michel Maffesoli (1998), and the theory of Kathryn Montgomery (1991, 2006) who, with her interdisciplinary background (Literature and Medicine), dedicated her academic life to understanding this phenomenon. The second part discusses the extent to which this distancing exists, revealing that narratives have always been part of clinical practice and education. To verify this statement, the research gathers different narratives: stories, stories and anecdotes from doctors and patients and, following Rita Charon’s proposal (2006), exemplifies the didactic use of literary narratives in the training of medical residents. The third part theorizes narratives as Art, and brings a new philosophical argument to the existing theory: In addition to the structural and linguistic analysis of the narratives, along with their didactic and pedagogical application, and following in Gilles Deleuze’s footsteps (1985, 1990, 2002, 2006, 2007) – on [re]reading Espinosa - the immanent power of narratives: Narratives as affection, narrative-affection. Through the construction of this mosaic of narratives and concepts, the thesis presents the potentialities of bringing together two areas recognized as related: Medicine and Literature. This (not so) new, or renewed area of knowledge, constitutes a fertile approach to medical education, especially regarding the practice of clinical medicine. Keywords: Narrative Medicine. Clinical Medicine. Medical Education. Literature. Affection. 8 LISTA DE FIGURAS Figura 1: Equação da Arte Clínica 70 Figura 2: Novas considerações para as Histórias dos Pacientes 120 Figura 3: Oximoros e Paradoxos que revelam 126 Figura 4: Deslizamento dos Planos 163 Figura 5: Keelmen Heaving in Coals - Quadro de J. M. W. Turner 164 9 SUMÁRIO I APRESENTAÇÃO 11 1.1 DA ESCOLA PARA A VIDA, DA VIDA PARA A ESCOLA: DA CRÍTICA À CLÍNICA 11 1.2 DUAS ABORDAGENS INICIAIS AO PROBLEMA 25 1.3 CRÍTICA À RAZÃO CIENTÍFICA OU O ELOGIO DO SENSÍVEL 25 1.3.1 Razão moderna e seus limites 26 1.3.2 Uma razão vital 40 1.3.3 Pensar orgânico 51 1.4 UM OLHAR NA DOBRA: [MEDICINA] ALTAMENTE SOFISTICADA E PROFUNDAMENTE PRIMITIVA 56 II NARRATIVAS E MEDICINA 67 2.1 FAZER USO DA LINGUAGEM E DE SUAS FIGURAS 67 2.1.1 Metáforas 71 2.1.2 Anedotas na clínica médica: Horas de voo, horas de bunda, horas de bar 75 2.1.3 Mensagens Paradoxais: A lição do Harry Potter 88 2.1.4 Ditos e Máximas 92 2.1.5 A questão de Estilo: “Nós estamos interessados na visão mas temos pouco interesse na cegueira”. Ou o outro Eu viável 94 2.1.6 As narrativas e o senso comum 101 2.2 O QUE MAIS PODEMOS FAZER: PROPOSTAS [NARRATIVAS] PEDAGÓGICAS 105 2.2.1 Ampliando a anamnese tradicional 106 2.2.2 Narrativas e a Residência de Clínica Médica 116 2.2.2.1 OS TEXTOS 118 2.2.2.2 AS NARRATIVAS 119 2.2.2.3 A INTUIÇÃO 121 10 2.2.2.4 OS PARADOXOS 125 2.2.2.5 MAIS METÁFORAS 129 2.3 A LITERATURA É UMA SAÚDE 142 2.3.1 De postulados de linguística à literatura menor 142 2.3.1.1 O MENOR 147 2.3.1.2 A FUGA 148 2.3.1.3 LITERATURA MUITO MAIS QUE MENOR 149 2.3.1.4 A LITERATURA MENOR DE FRANZ KAFKA 149 2.3.1.5 A LITERATURA MENOR DE JOÃO GUIMARÃES ROSA 153 2.3.1.6 153 LEITURA DE A HORA E A VEZ DE AUGUSTO MATRAGA 2.3.1.7 O DEVIR-OUTRO 156 2.3.1.8 A HORA DA ESTRELA: A LITERATURA MENOR DE CLARICE LISPECTOR 157 III NARRATIVA COMO ARTE E AFETO 161 3.1 AFETO: A ARTE PARA DELEUZE E GUATTARI 162 3.2 NARRATIVAS DOS ENFERMOS 166 3.2.1 Narrativas de restauração: “novinho em folha” 166 3.2.2 Narrativas do caos 168 3.2.3 Então... Narrativa de busca ou Narrativa-devir 172 3.3 O AFETO 174 3. 4 GÊNEROS DE CONHECIMENTO 181 3.4.1 Noções adequadas, conhecimento a partir das causas, segundo gênero 184 IV PARA TERMINAR 186 PÓS-ESCRITO 189 REFERÊNCIAS 192 APÊNDICE 199 11 I APRESENTAÇÃO If the writer is always implicated in the work, any writing may be judged to be autobiographical, depending on how we read it. Linda Anderson Venho de uma família de professores. Criança, quando questionada sobre o que queria fazer quando crescesse, eu respondia imediatamente: - Quero ser professora! Acabei estudando Medicina e sendo médica. Esta introdução expõe o caminho, um tanto tortuoso, que levou a menina a ser médica e transformou a médica em professora. Essa apresentação propõe-se a explicar como minha dissertação de Mestrado e esta tese de Doutorado acabaram enveredando nas Humanidades Médicas, mais especificamente na Medicina Narrativa. 1.1 DA ESCOLA PARA A VIDA, DA VIDA PARA A ESCOLA: DA CRÍTICA À CLÍNICA Quando iniciei os estudos na Medicina, aos 16 anos, tinha a sensação de que nem todo essencial me seria ensinado pelos manuais, pelos livros, por meio do científico. Sempre intuí que havia algo rondando os corredores escuros do Posto 1 – lugar do hospital dedicado aos alunos e aos pacientes indigentes do antigo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Havia algo que rondava a enfermaria, que andava à roda, em roda daqueles médicos e pacientes, que eu podia, talvez, entrever nas suas histórias e vislumbrar nos seus corpos. Menina ainda, eu observava com admiração – e, devo confessar, com uma sensação apavorante de quem acha que nunca vai chegar lá –, os gestos, as falas, as expressões dos meus primeiros professores. Observava, também, atentamente, os pacientes: o que eles faziam ali, deitados, padecendo de mil e uma patologias diferentes. Fragilizados, expostos, dependentes do cuidado do outro, de outros, de mim (explosão) futura médica. Eu já percebia, ali, há tantos anos, que o processo doença-do-paciente-o-que-fazer-com-isso era muito complexo, difícil, árduo; talvez fosse tanto uma questão filosófica quanto científica, pensava então. A adolescente que observava a enfermaria botou-se a estudar. Muito, como todos. Muitos livros, muitas provas, muitas teorias. Segredos descobertos e mistérios revelados a cada nova aula. Explicações fantásticas, racionais e racionalizadas eram desfiadas todos os dias. Explanações acerca do que se passava com os pacientes foram sendo desenroladas, desveladas, continuamente por anos a fio. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, novas descobertas científicas e tecnológicas procuravam explicar o porquê do adoecimento, da dor, do envelhecimento, do aparecimento de tantas entidades nosológicas bizarras. 12 O médico do século XXI persegue, a todo vapor, os ideais da Modernidade: conhecer a verdade. A verdade sobre a saúde, sobre a doença, sobre o doente em toda a sua complexidade. Conhecer a verdade para compreender as causas e controlar as consequências. Existe o pressuposto básico, profundamente entranhado dentro de cada um de nós médicos, de que se descobrirmos a causa, o mecanismo fisiopatológico, o agente etiológico; ou, se formularmos um raciocínio clínico indubitável, atenderemos melhor ao nosso paciente que sofre. Há uma citação literária do médico-escritor Axel Munthe (1956) que explica bem essa necessidade do médico de racionalizar, de classificar, de dar nome às doenças quando ele afirma que nós médicos, quando não temos a menor ideia do diagnóstico que aflige o paciente, inventamos um nome bem complicado e, ao proferi-lo para o paciente e seus familiares – e de tanto repetir para nós mesmos –, sentimos quase que tendo resolvido aquele caso. Na época de Munthe, o nome escolhido era “colite”; hoje temos muitos termos novos: fibromialgia, distúrbio bipolar, leucemia de células cabeludas! (MUNTHE, 1956). Ao chegar ao internato médico, no sexto ano, o interior do Rio Grande do Sul parecia não ser mais suficiente para formar-me médica. Queria ousar voos mais altos, conhecer a realidade, como costumava dizer: sair de casa. Tinha a impressão, alimentada pelos meus professores, de que fora de lá, no centro maior, na capital, no exterior, a Medicina era melhor, faziam-se mais coisas pelos pacientes, os resultados eram melhores, os prognósticos mais favoráveis. São Paulo, internato em São Paulo, um sonho. Um hospital enorme, uma cidade inacreditavelmente grande, grandiosa. Estranhei o tamanho, a quantidade de leitos, a luminosidade dos quartos. Parecia que os bem conhecidos pacientes do subsolo Posto 1 haviam sido tele transferidos, por ação de um gênio esculápio, para um ambiente mais claro, maior, mais novo. As camas eram mais confortáveis. Muito mais fácil era mudar o decúbito naquelas camas quase automáticas, com manivelas tão mais leves dos que as de ferro da antiga enfermaria. E os soros, cateteres, equipos, instrumentos e aparelhos tão mais avançados. Por certo, ali aprenderia muito. E aprendi. Aprendi a viver em São Paulo – o que faculta a qualquer sobrevivente viver em qualquer cidade do mundo! Aprendi que os médicos do interior são retratos em branco e preto dos médicos coloridos da capital. Todos médicos, iguais em seus termos, seus ternos, suas crenças, seus hábitos e suas narrativas. Mudam os instrumentos e as ferramentas, muito mais avançadas na capital. As doenças parecem diferentes, pois algumas não são diagnosticadas, e outras, ali no interior, entreveem um desfecho mais precoce por conta da falta de recursos. Alguns pacientes vivem mais por ter mais acesso aos confortos e aos aparelhos dos grandes centros. Poucos realmente beneficiam-se da tecnologia de ponta. Primeiro, porque na grande maioria dos casos, as doenças 13 são autolimitadas, ou seja, aparecem e vão embora independentemente da intervenção médica. Depois, porque os casos extremos, os pacientes graves, as doenças violentas e devastadoras não respeitam avanços tecnológicos. São casos selecionados aqueles em que a tecnologia faz marcada diferença para alívio dos sintomas ou para cura das doenças. Especialmente na cirurgia, a tecnologia faz diferença. Os avanços da anestesia, do instrumental e das técnicas cirúrgicas, os procedimentos por vídeo, a ajuda dos computadores e os exames de alta definição tornaram possíveis tratamentos e procedimentos que devolveram a muitos pacientes uma condição de saúde impensável há poucas décadas. Talvez por ser tão diferente a clínica da cirurgia é que, na Antiguidade, havia os médicos e os barbeiros-cirurgiões exercendo duas profissões distintas. Talvez essa separação ainda seja muito importante no ensino da medicina, com cada grande área guardando suas particularidades mas sendo capazes de interagir, aprendendo uma com a outra e possibilitando uma formação mais abrangente. A jovem médica residente que eu fui encontrava nos diferentes hospitais os mesmos pacientes. Os mesmos olhos de súplica e de agradecimento, os mesmos corpos que aguardam uma palavra da médica, os mesmos pais, filhos, queridos e amados que se sentam ao lado do leito do seu paciente e esperam pelo médico. Esperam que o médico faça-se presente, que diga alguma coisa, que faça algo para resolver a situação, ou, ao menos, que alivie a dor, a falta de ar, o desconforto. Eu continuava vendo na Residência o que via na enfermaria dos indigentes. Continuei vendo em Portugal e em Londres outros médicos e médicas falando em outros idiomas, mas na mesma linguagem, o mesmo discurso. Médicos encontrando-se diariamente com seus pacientes, um indo e vindo infinito de doentes, doenças, hipóteses, condutas, prescrições, lições, prognósticos, consequências, enfim... Médicos que vivem vidas de médicos lá no interior, aqui no hospital escola, nos grandes hospitais, nas metrópoles e nos centros de referência. Os mesmos médicos, os mesmos pacientes, as mesmas aflições, sempre novos encontros. Pacientes e médicos construindo sempre narrativas a respeito de suas vidas. Ao mesmo tempo, a menina que eu fui e a adolescente que estudou Medicina adorava Literatura. Viver e ler sempre foram verbos indissociáveis na minha existência. Muito cedo fui introduzida à biblioteca mágica da família. Havia de tudo lá, livros de todos os gêneros, tamanhos, procedências e interesses. Havia uma máxima familiar que tanto tem me causado consequências na vida: de que não havia limites de dinheiro para comprar livros! Impossível não citar o pensamento de José Mindlin, bibliófilo brasileiro responsável por um dos maiores acervos literários do país quando diz: “O desejo de ter todos os livros deste autor já é o começo 14 de uma coleção”; ou “Tenho obsessão de ler e de reunir livros. Um pouco patológica, mas mansa – porque não faz mal a ninguém e me faz sentir bem”. E, também, o que escreveu Borges: “Sempre imaginei que o paraíso será uma espécie de biblioteca” (BORGES, 1999, p. 115). Fui ensinada a escolher o que ler pela mágica da leitura, pelo gosto, pelo desejo. Fui desaprendendo aos poucos, durante a vida, a ler as orelhas e a olhar o preço dos livros. Assim, li muito, de tudo um pouco. Ainda hoje me surpreendo quando leio um autor pela primeira vez, quando algum escritor eminente recebe um grande prêmio de literatura e eu ainda não o conhecia. Questionome: Como? Como pode ser? Eu que li tanto e tanta coisa desconhecer esse autor, aquela escritora, esses gêneros diferentes, poesia, teatro... Esse é um dos grandes mistérios da humanidade que mais me atrai. Não há limite para a criação literária do homem? Como a criação artística pode ser infinita e incomensurável em estilos, formas, conteúdos? Por que o ser humano precisa criar Arte? Enfim, com essas questões todas, fui me formando uma leitora voraz e sistemática. Voraz por ler constantemente, um atrás do outro, muitos livros, desde a adolescência. Sistemática por ter o hábito de “fazer a série”; explico: ao gostar de um autor particular tenho o hábito de ler “toda” a obra escrita, ou, ao menos, os livros mais importantes, mais relevantes. Sempre tive a sensação de que se um escritor transforma-se em uma unanimidade de público e de crítica – dito um clássico – é porque, de alguma forma, ele fala (ou escreve) por nós humanos. Ler para mim, jovem (e médica em formação), significava ouvir as vozes de muitos. Ver e sentir o que outros sentiram e expressaram nos livros. Ampliar mundos, visões de mundos. Foi somente mais tarde (já médica e professora de medicina) que percebi que havia algo mais do que ler sobre o estado das coisas nos textos literários. Aprendi, como discorrerei nas páginas desta tese, que a Literatura, em especial as narrativas literárias, pode contribuir de diversas maneiras no desenvolvimento de uma ética mais “humana”. Importante definir os termos “ética” e “humano” de determinado ponto de vista conceitual. Ética, neste texto, tem o sentido de vida prática: referencial filosófico que orienta um conjunto de escolhas e de atitudes para a vida de cada um. Humano é o que nos diferencia de todos e demais que há no mundo. Somos humanos, seres e existentes como todos os outros corpos e pensamentos que possa haver no planeta. Exatamente iguais em termos de existência. Entretanto, diferenciamo-nos de tudo e de todos de uma maneira singular e complexa que torna desafiante qualquer área do conhecimento que tente compreender, classificar ou explicar o que nos faz ser humanos. Humanidade é o que nos faz coletivo. A história do conhecimento, a epistemologia ajuda a compreender como este ser humano chegou a ser o homem-modernoobjeto-de-investigação-científica da medicina moderna. A filosofia resgatada nesta tese procura 15 responder aos desafios da medicina e do ensino contemporâneo da clínica médica em aprender, talvez, uma definição mais complacente do significado de ser humano; algo que se pode adiantar como a capacidade de afetar e ser afetado. Como disse, importante definir, porque, aos poucos, vamos entrar na encruzilhada entre as diferentes formas de pensamento e, mais especificamente, em como juntar a menina que lê à médica formada que agora tenta encontrar abordagens alternativas para o ensino da clínica médica que possibilite uma ética (profissional) mais afetiva, mais humana, mais efetiva. Muitos anos se passaram desde as experiências da aluna do segundo, terceiro ano. Muito tempo passou desde os tempos de jovem médica residente, deslumbrada com o enorme tamanho do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Entretanto, algo dessas intuições, dessas percepções, dessas sensações, desses pressupostos e dessas teses duraram dentro de mim. Todas as leituras importantes, dos meus clássicos, duraram em mim. Quando me apercebo sou professora de Medicina. Recebi o bastão. O bastão do revezamento, aquele que, já na Grécia antiga, colocaram na mão do deus-médico. É hipocrática a missão de ensinar a Arte aos jovens. Acredito nessa missão, percebo a ancestralidade e o caminho afetivo que nos une nessa ideia. A Medicina é ensinada nos livros e à beira do leito, como ecoam em nossos ouvidos os discursos de Sir William Osler (1932), o pai da Clínica Médica, que afirma que medicina sem os livros é como navegar sem as cartas, sem os pacientes é como navegar sem o mar. Então, ler livros e ouvir os pacientes. Estudar arte, ciência e filosofia e examinar os corpos. Pensar com o todo, como um todo. Reconhecer a potência das três formas do pensamento. Desenvolver habilidades que reúnam essas três formas de pensar a existência. A professora de Medicina parou, pensou e refletiu sobre sua formação e a respeito do que ensinar aos seus alunos. O que ensinar e de que forma? Minha mente moderna demais, ainda se pergunta sobre o método. Qual o método? Qual o caminho? O conhecimento científico, as competências práticas e as habilidades técnicas são fundamentais. Como fundamentos que são, devem ser ensinados desde cedo, na entrada do curso, desde as disciplinas básicas. Anatomia, Fisiologia, Microbiologia, Bioquímica, sim, sim, sim. Há de conhecer a estrutura, as microestruturas, os sistemas, os órgãos, os tecidos e as células. Há de olhar dentro das células, suas organelas e seus parasitas. Bactérias, fungos, vírus, conhecê-los muito bem ajuda a exterminá-los. Dividir as especialidades da Medicina em tantas pequenas partes quantas possam contemplar as partes separadas e classificadas dos corpos e das mentes dos pacientes. Um médico para a cabeça, outro para o corpo. Na cabeça um clínico, um cirurgião e um outro que estudará os meandros da mente: um psiquiatra. Dos clínicos da cabeça, há os que se dediquem só à eletrofisiologia, outro às emoções e outro, ainda, à linguagem. Um atende crianças, outro 16 somente idosos. Médicos de mulheres, de crianças, de adolescentes. Cirurgiões para os olhos, um opera pálpebras, outro a retina, um terceiro corrige estrabismo somente, a miopia é tarefa de outra doutora. Foi essa superespecialização da Medicina que permitiu tantos avanços tecnológicos. Separados do mundo – que pulsa e bifurca – cirurgiões e clínicos, dedicados exclusivamente a uma pequena parte do corpo (ou da mente) dos pacientes, puderam compreender melhor estruturas e funcionamentos. Foi com esse método e sob a óptica moderna que a Medicina avançou tanto nos últimos dois séculos, marcadamente nas últimas décadas. E esse jeito de ver a Medicina está absolutamente certo, é eficiente e eficaz quando estudamos as evidências, os gráficos de mortalidade, de sobrevida livre de doença, e mesmo de qualidade de vida das populações em geral (MINDRUM, 2006). Entretanto, a professora de Medicina que visita as enfermarias de clínica médica do hospital do SUS com seus alunos – agora muito melhores iluminadas que no passado –, continua vendo os mesmos alunos de outrora, com seus anseios, dúvidas e temores. Continua percebendo que existe algo além da formação tradicional, ou científica, do médico que pode [deve] ser trazida à tona. Algo mais que pode algo mais. Havia algo a ser apreendido pela aluna do Posto 1 que de alguma forma deve chegar aos seus alunos agora. Então, de volta à escola. Revisar conceitos, aprender novos conceitos. Um pouco das outras formas de pensar o mundo. Ao lado da Ciência, explorar a Filosofia e a Arte. Essas duas formas do pensamento humano foram absolutamente negligenciadas na minha educação formal de aluna de medicina, de residente de clínica médica, de jovem médica. Dos dezesseis aos 28 anos de idade me formei a médica que iria praticar Medicina durante toda vida. Nesse tempo todo, muito pouco – ou nada – me foi ensinado, sistematicamente, sobre Arte e Filosofia. Como pude receber o grau de médica nunca tendo ouvido falar, na escola, de Nietzsche ou de Foucault? Sem conhecer ou ser exposta às Artes Plásticas, às obras dos mestres? Por que a Faculdade de Medicina não incluiu em seu currículo Literatura? Nem mesmo a Literatura clássica relacionada à profissão médica? Por qual caminho a razão científica precisou abandonar as dimensões estéticas e filosóficas do conhecimento para “dar conta” de desvendar os mecanismos das doenças? De que forma o resgate da formação sensível, uma aproximação dos alunos de medicina e dos jovens médicos residentes aos objetos estéticos, a consideração do caminho epistemológico que nos trouxe até onde estamos pode contribuir na construção das escolhas práticas do futuro profissional médico? Essas são questões que, insistentemente, voltavam à mente da professora de Medicina. 17 Na Educação Médica tradicional, não há espaço para nada que não seja exclusivamente “científico”. No currículo da minha faculdade de Medicina, e da maioria das antigas escolas brasileiras, não havia, praticamente, disciplinas das áreas humanas. Filosofia e Arte não eram consideradas disciplinas relevantes na formação de bons médicos. A partir da década de 1980 nos EUA e na Europa e agora no Brasil, as diretrizes para o ensino da Medicina voltam-se à área das Ciências Humanas, as chamadas Humanidades Médicas (SHAPIRO, 2006). Assim, uma série de disciplinas compõe essa nova área do conhecimento chamada de Humanidades. Desta feita, a Filosofia e a Arte aparecem ao lado das disciplinas técnicas e biologicistas tradicionais para compor o ensino da Medicina. Programas de Humanidades Médicas foram sendo criados ou reativados na maior parte das escolas de Medicina dos Estados Unidos e da Europa e disciplinas tão díspares como História da Medicina, Ética Médica, Sociologia, Antropologia, Artes Plásticas e Visuais, Literatura, Teologia e Filosofia foram sendo introduzidas nos currículos da formação do médico. O clamor por esse regate das Humanidades vem a partir da constatação da crise da medicina contemporânea. Esta encara o paradoxo de ter atingido o apogeu do conhecimento técnico e científico sem que tenha alcançado satisfação ou sensação de segurança, confiança, conforto na prática da profissão. Isso tanto do ponto de vista dos doentes e de seus familiares, quanto na visão dos profissionais da saúde envolvidos nos cuidados à saúde, especialmente os médicos. Se o paciente não se sente atendido e o médico não está satisfeito com sua atividade, se a relação médico-paciente mostra-se em crise, incapaz de atender às necessidades do paciente e aos anseios do médico, busca-se uma nova ética, uma prática diferente, um novo caminho e uma nova maneira de pensar a questão. Principalmente, busca-se – com sentimento de urgência –, outras abordagens possíveis ao ensino de medicina. Se a ciência e o método científico exclusivo ou isolado não deram conta de preencher as necessidades humanas (demasiado humanas) dos pacientes e de nós, médicos, talvez tenha chegado o momento não de grandes avanços ou saltos, mas sim de parar. Talvez, ao silenciar nossas mentes que pensam demais, possamos abrir espaço para ouvir o que nossos pacientes contam-nos, todos os dias com suas histórias, nas suas narrativas e nos seus corpos que adoecem. O Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), instituição onde tenho passado a maior parte dos meus dias, nos últimos anos, afigurou-se como a oportunidade de estudar e tornar concretas as inquietações e as intuições que a vida de médica e professora haviam criado. De repente, descortinaram-se horizontes antes 18 somente imaginados e agora colocados nas vozes, nos textos e nos conceitos de tantos pensadores, teóricos e filósofos. Como uma criança que retorna à escola, como uma adolescente que ingressa na faculdade, iniciei, encantada, os estudos de Epistemologia e de Filosofia. A cada teórico estudado, desassossego. Algumas respostas, muitas dúvidas novas. Foi com surpresa que aprendi que, desde muito cedo, antes dos Gregos, a humanidade já buscava respostas às mesmas perguntas que ainda hoje fazemos. Aprendi, com entusiasmo, a estudar os autores sempre tendo em mente o papel que desempenharam na estrada do conhecimento que nos faz sermos hoje os homens, as mulheres, os professores, os médicos, os pacientes, os doentes que somos! Epistemologia como caminho percorrido pelo pensamento humano. Sim. Muitos caminhos paralelos, estradas que se cruzaram e outras que jamais se encontrarão seguindo as mais diversas, distintas, múltiplas e apaixonantes ideias e conceitos sobre o mundo, a realidade, a existência, os indivíduos, a saúde, a morte e a vida. Como pudera eu – e tantos de meus colegas médicos e de meus alunos – aprenderem medicina sem sequer terem sido expostos a este mundo paralelo de pensamento que se chama Filosofia? E às Artes? Uma forma de pensar o mundo, a existência, a nós mesmos e aos outros, completamente diferente (e tão relevante quanto) o saber científico. Por quais meandros epistemológicos, sociais ou políticos deixamos fora das Escolas de Medicina o ensino das Humanidades, da Arte e da Filosofia? Então, o caminho para a dissertação estava traçado. Conhecer a professora Solange Puntel Mostafa1 foi o encontro que eu esperava para colocar ordem a tantas indagações, intuições e pressupostos. Inspirada pela dissertação do professor Bruno Vasconcelos de Almeida (2005), intitulada Cartografias da alegria na clínica e na literatura, e com a mediação e o carinho da orientadora, a dissertação do Mestrado em Educação, apresentada em 2009, foi construída na intercessão da Ciência (Medicina) com a Arte (Cinema) e a Filosofia (de Espinosa). Buscamos resgatar o conceito de Alegria em Espinosa. Na Ética, obra escrita no século XVII, o filósofo teoriza uma forma de, por meio da razão, tornar o homem livre para compreender a Natureza dentro de uma ordem geral e perfeita e ensina como transformar os encontros ao acaso que temos durante nossas existências com as coisas, com as ideias, com outros corpos, com outras pessoas em encontros alegres. Alegria no sentido de passar de uma 1 Atualmente, ela é professora da Universidade de São Paulo (USP) do Curso de Ciências da Informação e Documentação. Autora de publicações interessadas na intercessão da Filosofia da Diferença e a Ciência da Informação. Desde o primeiro dia, companheira de tantas viagens. 19 potência menor de vida para um grau maior de potência. Teorizamos o ensino e a prática de uma medicina alegre, potente e capaz de compreender a ordem natural da existência. Na pesquisa da dissertação2, alunos formandos de Medicina apontaram professores que estabeleciam com seus pacientes encontros alegres. Esses médicos, entrevistados, narraram tais encontros alegres. Também, eles listaram filmes de cinema que haviam marcado suas vidas de médicos em formação. Dessa cartografia dos casos, dos conceitos espinosistas contidos na Ética e dos filmes indicados pelos médicos entrevistados, construímos uma abordagem possível ao ensino da Medicina. Por certo, na dissertação de mestrado, já estava trabalhando com Medicina Narrativa, mesmo sem reconhecê-la. É nesse contexto que a Arte, agora no trabalho de doutorado, a Literatura em especial, aparece ao lado da Filosofia em uma nova intercessão visando confirmar uma força existente nas narrativas como abordagem possível para a Educação Médica. A questão volta-se ao estabelecimento da potência formadora da Medicina Narrativa na prática da clínica médica e de como utilizá-la no desafio de ensinar competências humanísticas aos jovens médicos em formação e aos estudantes de medicina. Tenho ouvido desde sempre dos meus colegas professores, e agora também de alguns alunos, que empatia e afiliação não podem ser ensinadas. Ou se tem, ou nunca se terá. Muitos afirmam que ou nascemos empáticos ao sofrimento do outro ou nunca conseguiremos compreender o que se passa na cabeça e no coração do paciente internado em uma das incontáveis enfermarias de clínica médica que há por toda a parte. Não creio que não se possa ensinar empatia. Aliás, creio que não se trata de ensinar e sim de afetar. De afetar e deixar-se afetar. Trata-se de afeto, simplesmente. Algo que difere do conhecimento científico: de um lado a ideia que representa (e que pode ser ensinada); de outro o afeto que pode ser proporcionado pela arte, pelas narrativas, como argumentado no decorrer do texto. Nas palavras de Tzvetan Todorov (2010, p. 81): “O que o romance [a literatura] nos dá não é um novo saber, mas uma nova capacidade de comunicação com seres diferentes de nós; nesse sentido, eles participam mais da moral do que da ciência”. Nós, professores de medicina, ensinamos anatomia e cirurgia, otorrino e ginecologia, cirurgia aberta e robótica. Aprendemos em nossas vidas de médicos a abrir e a suturar, a reconstruir corpos e aliviar dores. Manuseamos instrumentos grandes e minúsculos, invadimos os recônditos mais obscuros dos corpos e das mentes dos nossos pacientes. Vemos e ouvimos coisas que a maior parte das pessoas nem pode imaginar que existem. Somos inteligentes, 2 Pesquisa intitulada Medicina baseada em Afetividade: A Filosofia de Espinosa na Educação Médica. Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Denise%20Viuniski%20da%20Nova%20Cruz.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2015. 20 criativos, centrados e concentrados, estudiosos e perfeccionistas. Alguns de nós, médicos, são tão especiais que beiram a genialidade. Cada um de nossos alunos e de nossos médicos residentes traz em si tamanhas potencialidades que aprendemos a descobrir e que se revelam, com o tempo, em habilidades e capacidades clínicas e cirúrgicas que nos impressionam, nos emocionam e dão sentido à profissão de professor de medicina. Então, se podemos ensinar ou facilitar, mediar ou revelar tantas competências e habilidades, por que não podemos oferecer aos nossos jovens médicos a oportunidade de afetarem-se por meio das narrativas: poder ouvir, prestar atenção ao que o paciente revela (e àquilo que não consegue dizer com palavras)? Por que não podemos ensinar a examinar histórias e os corpos com olhares, ouvidos e mãos aguçados por novas habilidades até então desconhecidas ou adormecidas? Mediar, apresentar ou facilitar por intermédio da leitura e da escrita de narrativas. Desvendar as habilidades e as potencialidades ligadas a essas narrativas. Desvelar para nós mesmos, professores e médicos, e aproximar os alunos das características específicas das narrativas, advindas dos estudos da teoria literária, da linguística. Por que não nos deixarmos, simplesmente, afetar por narrativas? Se essas habilidades humanísticas, como a capacidade de compreender profundamente o que sente o paciente que sofre e que está aos nossos cuidados, advêm da educação estética do jovem médico ou do desenvolvimento específico de novas habilidades, aqui chamadas de habilidades narrativas, são as possibilidades levantadas nas páginas que se seguem para chegar a proposta de um novo, ou ao menos atualizado conceito: Narrativa-Afeto. A tese demonstra a potência das narrativas na prática da clínica médica trazendo os conceitos teóricos que embasam essa nova área do conhecimento. A Medicina Narrativa, com sua riqueza conceitual, com sua beleza e capacidade de afetar, mostra-se um caminho para chegar-se à prática de uma Medicina mais afetiva, mais humana, mais potente, mais alegre. Uma ética médica comprometida com o cuidado próximo e integral do homem que adoece e que expressa seu sofrimento para um médico que sabe ouvir, que consegue representar dentro de si aquilo que o paciente lhe conta. Um médico capaz de sentir empatia por seu paciente e propor uma abordagem diagnóstica e terapêutica para cada caso singular, que consiga atender às reais necessidades do paciente e aos anseios pessoais e profissionais do próprio médico. Uma prática médica alargada, ampliada, iluminada. Uma prática afetiva. A medicina, como será apresentado nas páginas que seguem, sempre lançou mão de narrativas para representar as histórias de médicos e pacientes. De uma forma ou de outra, formal ou informalmente, as narrativas fazem parte, constroem e embasam a prática da clínica. 21 Ao lado do conhecimento técnico e científico, o afeto constitui o arcabouço humano do médico responsável pelo atendimento do ser humano que padece. A medicina científica dá conta, e muito bem, de resolver problemas imediatos, agudos, cirúrgicos. Mas, especialmente nas situações de doenças crônicas, degenerativas, incuráveis, terminais, uma clínica mais atenta às vozes dos pacientes, aos ditames dos seus corpos, de seus medos, de suas necessidades mais profundas e complexas, faz-se necessária. Aliás, cabe trazer aqui a impressão de Arthur Frank (1991) que afirma novos tempos na relação que nós seres humanos estabelecemos com a doença. Em tempos remotos, prémodernos, todos padeciam, inevitavelmente, de doenças graves. Uma vez vítima de uma doença severa, quase sempre inexplicável, o destino fatal era a regra. Nada a fazer a não ser descrever os sintomas, acompanhar o paciente, conformar-se com a sina e, quase sempre, procurar uma explicação transcendental para o acontecimento doença-morte. Durante a modernidade, essa relação foi deslocada para dentro de um dos binômios hegemônicos vigentes: ou se está doente, ou saudável. Se doente, havia agora, em tempos de luzes, explicações certas, indubitáveis dos mecanismos causadores das doenças e a promessa de cura. A contemporaneidade coloca-nos a todos diante de uma nova relação com a doença. Em tempos pós-modernos, como afirma Frank (1995, p. 8-9), vivemos em suma “sociedade de remissão”. Estamos todos em remissão de uma doença qualquer que nos mantém reféns. Ou tivemos câncer ou vamos ter no futuro. Ou teremos diabete, insuficiência renal, cardíaca, respiratória. Não estamos mais saudáveis ou doentes. Estamos sempre em remissão, aguardando, de uma forma ou de outra, exames, consultas, procedimentos, screenings, preventivos. Novos tempos, esta tese argumenta, requerem ampliar os cuidados propostos pela clínica médica. Trata-se de ouvir, acompanhar, acolher, respeitar, cuidar, acompanhar pacientes que não somente são portadores de doenças graves, crônicas, incuráveis, mas são pessoas em remissão, que necessitam seguir vivendo com a doença, apesar da debilidade, com a limitação. Um artigo interessante, publicado na década de 90, aponta que, nos Estados Unidos, houve mais consultas a profissionais de medicina alternativa do que consultas aos clínicos gerais, ou médicos de família. Mais que isso, a maioria dos pacientes que procuraram métodos alternativos para tratar condições crônicas não contaram aos seus médicos que haviam recorrido a essa forma de auxílio ou atendimento (EISEMBERG et al., 1993). Entender porque a medicina atual falha em atender às necessidades mais profundas de pacientes, especialmente aqueles portadores de doenças crônicas, condições sem perspectiva de cura ou no final da vida, passa por dar voz às pessoas que procuram atendimento. É dar ouvidos a vozes que até pouco tempo calavam-se diante da procuração entregue à medicina moderna 22 para contar uma verdade universal a respeito da saúde ou da doença. Encontrar junto ao paciente novas formas possíveis de existência, novos estilos de vida é uma das possibilidades apontadas pela medicina narrativa exposta nas páginas seguintes. A tese está organizada em três partes: Parte I: O problema; Parte II: Narrativas e Medicina; Parte III: Narrativa como Arte e Afeto. A primeira parte utiliza-se da teorização de Michel Maffesoli para apresentar o estado das coisas no ensino e na prática da medicina contemporânea. Aplica-se do seu O Elogio da Razão Sensível (1998) a teorização construída inicialmente para as ciências humanas (em especial para a sociologia) para enfatizar a necessidade de agregar algo novo, construir um método alargado de pensamento que permita mostrar para a medicina uma razão ampliada, um renovado pensar científico que conjuga a dimensão estética da existência ao conhecimento científico necessário. Como afirma Kleinman (1988, p. 228), “[...] uma metodologia [narrativa] que complemente e traga equilíbrio, não substitua a abordagem biomédica tradicional de tratamento dos processos das doenças”. A seguir, o problema do afastamento da clínica médica do campo das humanidades é apresentado através das lentes de Kathryn Montgomery a partir de seus dois livros intitulados Doctor’s Stories, de 1991, e How Doctors Think, de 2006. A autora norte-americana, desde uma posição interdisciplinar singular (formação acadêmica em Literatura, professora de Medicina), afirma que a medicina, apesar de insistir em seu status de ciência, lança mão na prática de estratégias, instrumentos e mecanismos que são muito mais próximos das humanidades do que a academia gostaria de aceitar. As suas teorias e provocações indicam um caminho de pesquisa, perseguindo as narrativas, que compõe a segunda parte desta tese que começa mostrando como sempre se tem usado narrativas na medicina, especialmente na clínica médica. Essa proposição é vislumbrada resgatando narrativas literárias ao lado de narrativas de médicos e pacientes, trazendo com elas as bases teóricas de sua aplicação ao campo da clínica médica e à docência de medicina acompanhada da teorização de Rita Charon (2006) e Arthur Frank (1995), entre outros autores da medicina narrativa. Na sequência, como eco das propostas teóricas resgatadas, esta tese busca ilustrar experiências didáticas relativas aos conceitos próprios da medicina narrativa ao ensino de médicos residentes de clínica médica. Textos literários utilizados no módulo de ensino com médicos residentes são trazidos para ilustrar conceitos de literatura de Roland Barthes (2007), Gilles Deleuze (2006) e Gilles Deleuze e Félix Guattari (2007b, 2007c). A terceira parte teoriza as narrativas literárias como arte e propõe um novo conceito para a área da medicina narrativa: Narrativa-Afeto. Concluindo que as narrativas - sejam estas literárias ou da vida das pessoas envolvidas na clínica médica -, possuem, ao lado de suas 23 características estéticas (mas muito por conta destas), uma potência imanente que emerge pela sua força de afetar outras pessoas, outras narrativas, outras ideias, outros afetos. Constituindose assim, por si mesmas, um afeto puro, conforme argumentação filosófica de Espinosa (2009) sob a leitura de Gilles Deleuze (2002). Os textos literários, ao longo de todo texto, aparecem como fragmentos, uns remetendo aos outros. A ideia é que o leitor da tese, o aluno de medicina ou o jovem médico em formação possam deixar-se afetar pelos passos da pesquisa, pelas narrativas junto aos pressupostos teóricos que as sustentam. Perceber a intertextualidade e deixar-se encantar pelas narrativas semeadas no transcorrer da tese. Que o leitor possa parar, ruminar alguma poesia, seguir viagem, estacionar em um longo romance de 800 páginas, recomeçar histórias curtas há muito abandonadas pelo caminho. Ler aquele clássico nunca lido, reler coisas feitas para durar. Literatura para ampliar o universo conceitual conhecido. Literatura para ampliar o repertório de afetos possíveis. Para descobrir a “potência encantatória” da literatura (MEIRA, 2010, p. 8). Deixar-se levar, sem ordem definitiva. Como a vida. Ir e voltar, começar pelo meio, seguir e retomar. Ler como se pratica clínica médica, ler e escrever como se vive. Afinal: “Navegar é preciso, viver não é preciso” (BELLE, 2004, p. 122). Todas as narrativas registradas no decorrer do trabalho ficaram apócrifas, sem identidade determinada. Isso porque a ênfase teórica trazida como pano de fundo insiste na dissolução do sujeito que fala por si em nome de vozes que falam por muitos. Vozes como forças, como intensidades. Narrativas como potência pura, como afeto. “[...] quando uma pessoa qualquer recupera sua voz, muitas pessoas começam a falar através daquela narrativa” (FRANK, 1995, p. xiii) e “[...] como muitas distinções dos tempos pós-modernos, a primeira e a terceira pessoa parecem difíceis de serem separadas” (FRANK, 1995, p. 22). Quanto às narrativas dos pacientes, de familiares dos pacientes, dos médicos residentes e médicos docentes, sujeitos da pesquisa, bom estas... Essas narrativas que falem por si mesmas. “Mais cedo ou mais tarde, todos serão contadores de histórias enfermos (wounded storytellers). Em tempos pós-modernos esta identidade representa nosso compromisso e responsabilidade, nossa calamidade e nossa dignidade” (FRANK, 1995, p. 22). Esta tese fundamenta-se em uma abordagem pós-interpretações, ao menos ao abrir mão da identidade dos sujeitos, da análise estrutural, histórica, cultural ou psicológica de sujeitos e textos, como explica Anderson (2001, p. 6): “O pós-estruturalismo coloca linguagem e o discurso precedendo e excedendo o sujeito, retira o autor do seu lugar central como a fonte do sentido”. As narrativas coletadas durante a tese estão emolduradas para que sejam reconhecidas. Reconhecidas como os dados de pesquisa, mas, também, para serem ressaltadas, enfatizadas, 24 trazidas para a frente do texto. São as narrativas literárias: recortadas de livros e artigos e colocadas dentro de uma moldura rebuscada3; e as narrativas “reais”, coletadas em entrevistas, escritas a pedido nas salas de aula do hospital, contadas nos corredores, enviadas por e-mail e acomodadas em uma moldura mais simples4 – que conduzem a tese a sua conclusão. Que assim “se dê”, pois esta é a tese propriamente dita: Que o leitor possa ser afetado pelas narrativas. Que ao final da leitura, nada no mundo tenha mudado, mas que, para meus alunos e residentes de medicina, ao menos, o mundo da clínica seja sempre outro. Assim, o objetivo geral desta tese é estabelecer a potência imanente das narrativas – literárias e as de vida –, desenrolando uma série de narrativas apócrifas escritas ou ditadas por médicos residentes, médicos clínicos supervisores da residência de clínica médica, de pacientes, familiares, professores de medicina e textos narrativos literários ao longo do trabalho, permitindo que as próprias narrativas demonstrem sua força de afetar o leitor, assim como se teoriza que potencialmente afetam o aluno de medicina, o jovem médico residente, o experiente clínico, o paciente e seus cuidadores. Ao cumprir esse objetivo, chega-se ao conceito de Narrativa-Afeto, baseado na leitura de Espinosa sob lentes de Deleuze (2002) e Deleuze e Guattari (2007a) e de diversos autores dedicados à medicina narrativa. Um último esclarecimento aqui se faz necessário, antecipando possíveis críticas quanto à homogeneidade do pronome pessoal utilizado durante o texto. Eu, algumas vezes se torna nós, outras vezes a tese assume sua própria voz. Eu, ela, eles, nós: “[...] nós representa todo mundo, nós coloca-nos acima da sociedade e além do entendimento; portanto, este nós está, também, além do alcance de qualquer crítica teórica” (ANDERSON, 2001, p. 4). Os objetivos específicos comportam a análise de afetos presentes nos textos literários escolhidos; a investigação, o reconhecimento e a discussão da presença das narrativas no cotidiano da prática da clínica e da formação médica e a apresentação de proposta pedagógica de medicina narrativa no programa de residência em clínica médica. E, ainda, nas palavras de Meira (2010, p. 11), “[...] que o texto literário volte a ocupar o centro e não a periferia do processo educacional”. 3 A moldura utilizada nas narrativas literárias foi retirada de uma réplica do quadro Starry night over the Rhone de Van Gogh. Disponível em: <http://cdn3.opensky.com/overstockart/product/vincent-van-gogh-starry-night-overthe-rhone-framed/images/4e6e924/7312cc8/generous/vincent-van-gogh-starry-night-over-the-rhoneframed.jpg>. Acesso em: 2 dez. 2014. A escolha dessa moldura é uma homenagem para uma das residentes envolvidas com as narrativas. Sei o quanto gostas dessa pintura. 4 A moldura utilizada nas narrativas reais faz parte da moldura do quadro Sunflowers (Girassóis) de Van Gogh que se encontra na National Gallery em Londres. Van Gogh aumentou a moldura do quadro em alguns centímetros para poder encaixá-la no quadro que projetou pintar. Disponível em: <http://flowers-kid.com/sunflowers-vangogh-national-gallery.htm>. Acesso em: 2 dez. 2014. 25 1.2 DUAS ABORDAGENS INICIAIS AO PROBLEMA A medicina do século XXI ainda agarra-se ao seu status de ciência, mantendo em sua prática (e nas práticas de ensino) modelos tradicionais de pensamento objetivo, lógico e racional que, apesar de ter trazidos enormes avanços técnicos no diagnóstico e manejo de males e doenças, parece, sistematicamente, afastar-se do lado sensível, afetivo e incerto das singularidades humanas. Como argumenta Kleinman (1988, p. 5), o médico ainda tenta “[...] interpretar os problemas de saúde dentro de uma nomenclatura e taxonomia, compondo uma nosologia, criando uma nova entidade diagnóstica, tratando a doença como um objeto a ser tratado”; enquanto pacientes, especialmente os portadores de condições crônicas e incuráveis, tentam expressar suas trajetórias de vida. “Trajetórias de doenças crônicas que assimilam-se de tal maneira ao curso da existência, contribuem tão intimamente no desenrolar de uma vida particular que se tornam inseparáveis da narrativa da vida” (KLEINMAN,1988, p. 8). Essa questão é trazida a seguir pelas lentes teóricas de duas diferentes disciplinas afins às humanidades: sociologia e estudos literários. O ponto principal dessas análises é mostrar de que forma a falta de articulação entre o pensamento científico da medicina e seu potencial sensível e afetivo desabilita o médico, despotencializa, desapodera o paciente, especialmente o doente crônico. A busca, lá na frente, é alcançar uma ética mais efetiva [e afetiva] de exercerse a clínica médica e a docência em medicina. 1.3 CRÍTICA À RAZÃO CIENTÍFICA OU O ELOGIO DO SENSÍVEL Se ciência a medicina tem tentado ser, desde a Modernidade, qual o problema que se põe em termos de alcançar uma prática afetiva, próxima das necessidades profundas de médicos e pacientes? Neste capítulo, coloca-se em discussão a teoria do sociólogo Michel Maffesoli (1998) em sua confrontação da Modernidade com algo que possa vir depois, agora, na contemporaneidade. Maffesoli demonstra como os conceitos cartesianos do homem moderno tornaram-se hegemônicos e passaram a ditar, até bem próximo de nosso tempo, o estado e o estatuto do que chamamos de ciência. Esse caminho epistemológico é que será trilhado nas próximas páginas, no sentido de compreender como a medicina afastou-se do campo das humanidades. Ao ler Maffesoli (1998) explicando como as ciências humanas constituíram-se a partir do século XVIII, seguindo os rumos indicados pelo cartesianismo pensado, inicialmente, para as ciências duras, percebemos uma mesma base epistemológica que construiu a medicina como 26 a conhecemos na contemporaneidade. O estatuto, ainda vigente da ciência moderna (das humanas, das sociais e da medicina), continua baseado nos conceitos da Modernidade. Ao propor um novo olhar para o ensino e a prática da clínica médica, há de compreender-se de onde partiu e de que substratos epistemológicos a ciência nutriu-se, para, assim, poder criticar de maneira criativa tais princípios que se tornaram dogmáticos. Dessa forma, esperamos criar algo novo, algo que amplie os limites rígidos impostos pela razão instrumental do homem moderno. 1.3.1 Razão moderna e seus limites A medicina talvez sirva de ponto de comparação – ou metáfora da Modernidade -, quando se tenta expressar o paradoxo do mundo contemporâneo. A medicina é social, portanto parâmetro para pensarmos tipos de sociedades possíveis. Não obstante, a prática médica atual é científica, rigorosamente regrada e dependente do acúmulo de conhecimento adquirido através dos tempos. Ser médico significa cuidar do corpo e da mente de pessoas, de humanos, tratando-se, assim, de profissão que poderia estar dentro do campo das ciências humanas. A medicina ainda, na sua prática diária, transcende os limites do humano, da ciência e da física; trata de questões de cunho filosófico, de caráter ontológico, moral e ético, podendo ser pensada em termos de metafísica e de filosofia. Todavia, é senso comum que há algo mais na prática do médico, algo de arte, pois a profissão carrega em si certas características que não poderiam ser descritas senão como do domínio da estética. O sempre velho dilema: Medicina: Ciência, Arte ou Filosofia. Se ciência, qual ciência? Se arte, qual arte? Se filosofia, qual delas? Pois a escolha epistemológica, filosófica e estética que fazemos decide qual Medicina exercemos e, consequentemente, ensinamos às futuras gerações. Assim, diz-se que o estatuto da medicina e do ensino da medicina pode ser encarado como metáfora do tempo em que se vive. Parâmetro e ponto de partida para análise de como chegamos a ser o que somos, e, mais importante do que isso, para onde levam nossos passos como humanos que fazemos ciência, que vivemos em sociedade, que buscamos domínio e excelência em termos de técnica e que temos de encontrar um lugar e uma maneira ecologicamente saudável de coabitar o “planeta girante onde tudo se dá” 5. Em nosso momento histórico, início do século XXI, assistimos perplexos a um número inesgotável de novidades tecnológicas que fizeram diminuir as distâncias, relativizar o tempo e 5 Expressão de Fernando Pessoa no poema de Álvaro de Campos: A Tabacaria. Disponível em: <http://www.insite.com.br/art/pessoa/ficcoes/acampos/456.php>. Acesso em: 2 jun. 2013. 27 provocar movimentos cada vez mais rápidos no mundo. Assim, parece oportuna e exata a observação de Michel Maffesoli (1998, p. 11) quando afirma que “[...] talvez seja quando o sentimento de urgência se faz mais premente que convém pôr em jogo uma estratégia da lentidão”. Tempos de urgência, de velocidades estonteantes, tempo de parar e diminuir o passo. Tempos de avanços tecnológicos impressionantes, momento de parar e pensar em formação estética, em formação do sensível, em diferentes possibilidades e maneiras de ensinar e praticar medicina. Tempo dos paradoxos, das dúvidas e das incertezas. Talvez, por isso, tenhamos de aceitar que transcorre hoje uma realidade diferente dos tempos da modernidade. Os modernos buscaram, e acreditaram ser possível estabelecer, a verdade. A Modernidade contou com o método, com a razão absoluta, com a busca das certezas, a eliminação da dúvida. É característica da modernidade ter suposto uma dualidade necessária que, por julgamento moral, religioso ou científico, colocou, sistematicamente, as coisas, as ideias, as pessoas, os comportamentos, as sociedades e tudo mais em polos opostos e antagônicos. Para o homem moderno, racional e científico, ou se é positivo ou negativo. Cultura e natureza são opostas, assim como homens e mulheres, os quais se encontram em lados distintos da composição da realidade. O branco é do bem, o negro, do mal. O céu receber-nos-á para a boa vida eterna, o inferno para sofrimentos inexoráveis. Corpo e mente são estruturas e capacidades separadas e a luta pela soberania de um sobre o outro traz consequências importantes para a maneira como se compreende o ser humano, a cada um e ao outro. Somos ditos diferentes uns dos outros, e as diferenças apontadas pelo status científico hegemônico provocam desigualdades. Diferença como sinônimo de desigualdade talvez seja a marca mais pesada da Modernidade. Em termos de medicina, com o estabelecimento de uma verdade universal, foi-se estabelecendo o estatuto do que é normal. E aquilo que não é normal – fora da norma – tornouse patológico (FOUCAULT, 1987; CANGUILHEM, 2009). A saúde foi alçada a um ideal e a doença explicitada como um mal a ser evitado a qualquer custo. Da mesma forma, a vida é comemorada como bem, e a morte, como mal. A imanência da vida com início, meio e fim foi substituída pela crença transcendental de Bem e de Mal, e a doença e a morte associadas à tristeza, aos pecados e à culpa. Ao médico, então, coube a decisão de acomodar-se como um agente da vida, a serviço do bem e combater, sem sombra de dúvidas, a doença, o Mal, o fora da norma, o patológico. Paulatinamente, a partir do século XVII, culminando em nossa contemporaneidade, o médico tornou-se um cientista, um homem de ciência, preocupado em – 28 utilizando-se de um método que não deixasse dúvidas e que fosse sempre reprodutível –, controlar as doenças, os males e trazer para os pacientes a luz, a saúde e a felicidade. Fácil concluir que as promessas da Modernidade não se cumpriram e nem poderiam ter se realizado, considerando-se que, na imanência da vida, a polaridade tão cara à Modernidade não existe. A sombra, o claro-escuro e todas as cores desdizem o preto-ou-branco do moderno. As curvas insistem em contradizer as retas, as dúvidas permeiam a verdade e resistem, sempre, cada vez mais presentes e insistentes: “O bárbaro não está mais às nossas portas, ultrapassou nossos muros, está em cada um de nós” (MAFFESOLI, 1998, p. 11). Os gêneros não se contêm mais entre o feminino e o masculino. Há muitas coisas entre o normal e o patológico, talvez termos com data marcada para deixarem de existir. O que é normal? O que é aceitável, correto, digno e saudável? Como afirma Canguilhem (2009, p. 11): “A doença difere da saúde, o patológico, do normal, como uma qualidade difere da outra, quer pela presença ou ausência de um princípio definido, quer pela reestruturação da totalidade orgânica”. Apostar em um saber que relativiza, que duvida e que admite múltiplas verdades; apostar em uma medicina capaz de ouvir e trabalhar com a dúvida, com a incerteza parece ser um caminho para que as diferenças passem a ser simplesmente diferenças e não mais critério de desigualdade. Se a medicina puder ser metáfora de um outro tempo, uma prática menos centrada na verdade e mais preocupada com as sombras, com as vozes dos sentimentos e dos clamores calados por tanto tempo, talvez seja uma possibilidade para uma mudança social, onde possa haver composição entre corpo e mente, aceitação das diferenças e das singularidades de cada indivíduo. Uma existência que contemple a luz e a escuridão, a saúde e a doença, os homens, os animais e tudo que existe como coabitantes de uma vida comum. Uma prática clínica na qual o médico possa auxiliar o paciente na compreensão de suas limitações, que possa ver beleza, graça ou estilo em vidas que fogem ao padrão da maioria. Maffesoli (1998) teoriza uma “sensibilidade generosa” contra um moralismo que estabelece a lógica do deve ser, da moral e da deontologia modernos. Colocando-se dentro de uma imagem de pensamento que inclui filósofos como Espinosa, Deleuze e Nietzsche, vê-se florescer uma teorização de “um saber dionisíaco”, capaz de “integrar o caos”. Ao invés de um saber determinado, estanque, inflexível, regrado e moralista; um saber novo, que se permite dançar, sorrir, rir da Verdade e dar valor ao incerto, ao aparentemente desordeiro - como explica Espinosa (2009), na Ética quando diz que ordem e desordem com cunho moral é pura invenção humana, pois a floresta é caótica, desorganizada e assim mesmo linda, potente, da Natureza! Na floresta reina a desordem, a diferença. A Natureza tem lugar para todas as criaturas existentes. A clínica médica pode encontrar o lugar para o paciente que não fala, ou fala mal. 29 Há de encontrar-se estilo de vida para o paciente fora da norma, deformado. Pode-se ver a graça em vidas muito breves, em envelhecer, em ser diferente. Novos tempos afiguram-se quando novos ares apresentam-se ao pensamento. Na esteira da novidade, há de desistir-se ou de relativizar valores tradicionais estabelecidos. O pensamento de uma época pode evoluir e, para tanto, há de derrubar-se pressupostos constituídos e considerados verdadeiros por tantas gerações. O espírito pode passar por transformações, como propõe Nietzsche nas Três Transformações (NIETZSCHE, 2007). O espírito abandona sua condição de Camelo que tudo carrega nas costas, que não pensa por si, que se contenta em carregar a carga do que lhe é imposto como necessário. O Camelo acredita que deve ser assim. Sair dessa condição e poder rugir como um Leão. O Leão reclama, ruge alto, proclama verdades, duvida e tenta impor-se. Entretanto, o que o espírito do leão traz em si ainda são verdades de outros. O Leão não cria. Não há liberdade, ou criação no espírito do leão. Quem cria é a Criança que sabe dançar, que brinca, que tem o espírito livre, que não aceita nem repete verdades impostas. A Criança, para Nietzsche, é o espírito livre. Quanta ironia, na forma e no conteúdo. Nietzsche brinca com as dualidades estabelecidas pela Modernidade, porque, para o estatuto kantiano, a liberdade tratava de passar de uma situação de menoridade para a maioridade. O homem, para Kant, em seu lugar de indivíduo, deveria ser capaz de defender aquilo que considerava verdadeiro. Nietzsche brinca com o homem adulto de Kant e o coloca para dançar. A criança e não o adulto, para Nietzsche, é livre. Novos ventos, o martelo de Nietzsche estabeleceu para o pensamento. Novos tempos paradoxais, marca do que vem depois da Modernidade. Contudo, lembra Maffesoli (1998), usando as palavras de Roland Barthes, que é próprio do senso comum ser paradoxal. É humano ser paradoxal, não saber para onde ir, querer e não querer ao mesmo tempo. Estar saudável e sentir-se mal. Estar doente e sentir-se bem. Como a ciência moderna poderia dar conta desses oximoros? Como um médico pode examinar o corpo de um doente sem lhe considerar as emoções? Como pode um cirurgião operar com maestria seus pacientes se não empatizar ou não lhes conhecer os afetos, sua família, o lugar de onde veio e para onde irá quando sair do hospital? Talvez a resposta esteja no espírito da criança que ouve e conta histórias, que sabe rir, dançar, criar o novo, mudar. Não se pode deixar de dizer que um saber assim, de criança, generoso, “um saber erótico que ama o mundo que descreve” (MAFFESOLI, 1998, p. 14) trata de um saber propriamente dito. Não se está, em tempos pós-modernos, abrindo mão da racionalidade, de um saber sistemático ou científico. Ao contrário, a proposta destes pensadores, de Espinosa a Nietzsche, 30 de Maffesoli na Sociologia a Deleuze na Filosofia, e das abordagens alternativas à Educação e à Educação Médica consideram a razão como o mais poderoso dos afetos. Trata-se de explorar a potência da razão, fazer uso da racionalidade para compreender as possibilidades de ultrapassar o pensamento moderno, ir além da herança cartesiana, superar as dualidades, diminuir as desigualdades, aceitar os paradoxos humanos, habitar o paradoxo, existir na imanência da Natureza. Explorar a potência das coisas, das pessoas e das ideias. Ser capaz de enxergar as forças que existem por dentro dos corpos, nas linhas dos discursos, nas entrelinhas das narrativas. Trata-se, talvez, de ver forças e potência onde antes se buscava verdade. Essa abordagem alternativa às Ciências Sociais, Humanas e da Saúde deixa de lado, por princípio, a preocupação causal; abre mão de compreender, ao menos como essencial, as condições de produção das desigualdades e as explicações materiais ou históricas que provocaram a crise da Modernidade. Talvez seja este desistir, por total cansaço, das grandes explicações ideológicas centradas no sujeito – ao lado de assumir o caráter paradoxal da existência –; este abrir mão das chamadas metanarrativas – dogmas religiosos, ideologia marxista, explicações científicas ou psicanalíticas para a existência –, a principal característica da pós-modernidade. Ao invés de tentar explicar como o sujeito conhece o mundo ou como são suas relações com diferentes objetos, a novidade é focar a racionalidade na potência de tudo o que existe, uma razão alargada. A potência que a doença pode trazer ao paciente, a energia do afeto que pode advir da relação médico-paciente, a “energia social” (MAFFESOLI, 1998, p. 15) que pode mover o mundo, a potência social da multidão. Para a clínica médica, para o ensino da medicina, para a Educação Médica, procura-se explorar a razão sensível, o desenvolvimento da sensibilidade, de ampliação de um senso estético ou o treinamento de habilidades narrativas como propõe esta tese. Em sua novela de estreia Still Alice6 (GENOVA, 2007), a autora e neurocientista Lisa Genova narra com incrível profundidade e beleza a vida de sua protagonista, professora de psicologia cognitiva em Harvard que se vê diante de um diagnóstico sombrio de Doença de Alzheimer aos cinquenta anos de idade. O livro permite perceber, de forma muito sensível, os dois universos paralelos que permeiam a existência humana. De um lado a brilhante acadêmica que sempre viu o mundo, as pessoas, a saúde e a doença de um ponto de vista da razão pura, instrumental, conhecendo causas e prevendo consequências. De outro, a mulher doente, perdendo suas capacidades cognitivas de uma forma galopante e, ao mesmo tempo, revelando 6 No Brasil, publicada com o título Para sempre Alice pela editora Nova Fronteira. 31 uma potência até então desconhecida de afetar (e de deixar-se afetar) pelos que a cercam. Esta tese busca compreender de que forma as narrativas podem ensinar habilidades afetivas aos médicos e aos estudantes de medicina. Esse livro, como outros trazidos ao longo destas páginas, ilustra a ambiguidade, o paradoxo, as intuições que compõem as existências humanas, descrevendo de forma sensível e estética (literária) como a demência foi capaz de revelar potencialidades na personagem até então desconhecidas. A extraordinária professora não conseguia aproximar-se de uma de suas filhas, por mais que não lhes faltasse amor. A portadora de demência precoce consegue entender as opções da filha que pensa diferente da mente racional, objetiva, dura, sistemática da mãe. A mulher frágil, sem memória, incapaz de realizar suas atividades diárias habituais, pode dar colo para seus netos recém-nascidos que, ao serem acolhidos pela avó, sentem-se confortados, tranquilos, param de chorar. Como afirma Kleinman (1988, p. xiv), “[...] a doença tem sentido; e compreender como faz sentido é entender algo fundamental sobre as doenças, sobre o cuidar e talvez sobre a vida de uma forma global”. Esta é, enfatiza-se, a proposição final desta tese: estabelecer a potência das narrativas em si, uma força imanente às narrativas que teorizaremos no conceito de Narrativa-Afeto. Assim, ao lado das verdades e das suas possibilidades, considerar o falso, o duvidoso, o organizado em outras lógicas, o obtuso, o tortuoso e o caótico como potentes (como teoriza Deleuze sob o conceito de Potências do Falso (1985) a partir de Nietzsche/Zaratustra (2007)). Isso porque a profissão médica trata de encontros entre humanos. Entre homens e mulheres, médicos e pacientes, doentes e profissionais que cuidam, familiares e equipes de cuidado. Encontros entre humanos e desses humanos com as coisas, os pensamentos e com tudo que existe. Encontros que se dão dentro de um plano muito menos organizado e regrado que admitido pelo saber tradicional moderno. Encontros que se dão em um determinado lugar, em certo momento, e que se expressam por meio da narrativa, da linguagem. Linguagem que admite várias materialidades, várias linguagens que se entremeiam na expressão de tudo que se passa nesses encontros. Saber ler nas entrelinhas, no escuro, no som abafado emitido pelos corpos doentes, nas palavras de ordem dos médicos que ainda creem serem detentores da verdade, saber ouvir nos sibilos e estertores de nossos pacientes as doenças e os temores, os males e as potências de vida, o saber cognoscível e o sensível. Deixar para trás um método que separa o corporal do mental, a razão da emoção e que divide nas menores partes o todo para poder conhecê-lo. Pensar novos métodos, métodos alternativos nos quais “[...] a aparência, o senso comum ou a vivência retomam uma importância que a modernidade lhes havia negado” (MAFFESOLI, 1998, p. 16). 32 Essa atenção ao sensível – ao lado do caráter paradoxal e da desilusão com as metanarrativas –, poderia ser bem a marca da contemporaneidade que alguns arriscam chamar de pós-modernidade. De qualquer maneira, independentemente de conceito nominal, a contemporaneidade, o declínio das promessas modernas e a situação atual da prática da medicina e da educação como um todo, permitem que se pense em uma abordagem alternativa ao pensamento tradicional que enriqueça o saber constituído. E que, por outro lado, permita desenhos de metodologias de pesquisa e de ações que não exijam a comprovação quantitativa ou mesmo qualitativa do que se propõe a observar ou analisar. Maneiras alternativas de utilizar a razão, distintas maneiras de apresentar a realidade, outras abordagens de pesquisa, uma educação aberta ao novo, educação de novos médicos que sabem ouvir, que possam conviver com a dúvida, com o embaçado, complexo e tortuoso significado de corpos e mentes. Não abrir mão da razão, nem desistir dos caminhos do conhecimento, mas sim “devolver ao pensamento a amplidão que é sua” (MAFFESOLI, 1998, p. 17). Saber utilizar-se das diversas formas de pensar, deixar a ciência beber filosofia e o pensamento filosófico, encher-se de arte. Ao invés de saber científico ou conhecimento sensível - aliás, além de sistemáticos ou, ou, ou -, a pós-modernidade (quarta característica) prima pela conjunção e, e, e: saber científico e conhecimento sensível (DELEUZE, 2007). É certo que a medicina está confortável e, por muitos ângulos, vitoriosa em suas verdades modernas. Médicos e pacientes encontram conforto e cura em grandes hospitais e clínicas muito bem planejadas e equipadas. Principalmente a cirurgia tem revelado resultados impressionantes, lançando mão de técnicas e de instrumentos de altíssima precisão e desenvolvimento tecnológico. Muitos ainda trazem a confiança ou a crença de que se pode vencer o envelhecimento e a doença (quiçá a morte) com o auxílio do saber científico. Ainda se é moderno. Lentear, parar e ocupar-se do sensível, do menos tecnológico, do antigo; ouvir, contemplar, preocupar-se com o afeto pode parecer para muitos um caminho inseguro e perigoso. Difícil, indubitavelmente, pois não há promessas de grandes progressos a serem alcançados, de mais saúde ou de clara luz no final do percurso. Afinal, “Viver é negócio muito perigoso”, repete várias vezes Guimarães Rosa (1994, p. 7) no seu Grande Sertão: Veredas. Ainda, outra consideração importante a ser feita a respeito do caráter pós-moderno do plano epistemológico que foi utilizado nesta tese – tanto no aporte teórico, quanto na escolha da metodologia de pesquisa (quinta característica da pós-modernidade) –, é a escolha pela apresentação do que existe no lugar das tentativas de representação da realidade. Os métodos tradicionais de pesquisa e de legitimação consagrada do conhecimento baseiam-se na interpretação da realidade (LYOTARD, 2011). Nas pesquisas sociais, especialmente nas de 33 cunho qualitativo, a premência em representar e dar significado à realidade torna a vida sempre passível de interpretação. Agora, na imagem inovadora de pensadores ditos pós-modernos, há o pressuposto de que nada há a ser interpretado. A vida não se presta aos conformismos do par significadosignificante. A vida ultrapassa qualquer possibilidade de interpretação. Mas, então, fora do método interpretativo, seja psicanalítico, material-histórico ou fenomenológico, há possibilidade de se legitimar esta tese? A teorização proposta e as narrativas apresentadas baseiam-se na apresentação do que vive, do que fala, do que existe ao invés de procurar representações que permitam interpretar a realidade. Não há nada a interpretar e a conclusão passa a ser o objetivo da tese: deixar transparecer a força, a potência formadora das narrativas no ensino e na prática da clínica médica. Narrativas como puro afeto. Nada a interpretar ou a concluir, exceto alimentar-se da “simples” apresentação dos dados, das narrativas que foram escritas, ouvidas e lidas. Entrever a potência das narrativas, do que acontece, ou é produzido, pode ser significativo para promover uma outra forma de ver a ciência, de clinicar e de ensinar medicina. Provavelmente o resultado dessa teorização só possa ser definido em outro tempo – ficarão talvez fora do tempo, ou em um entretempo –, mas, como o novo sempre foi algo até então impensado para o pensamento, há, dessa forma, que se apostar na força, nas virtudes (virtus), na potência dessas novas abordagens metodológicas de pesquisa, de ensino, de praticar a medicina, de viver. Um método desafiador às regras cartesianas, sem dúvida, porque [...] não revela conteúdo preciso algum, mas contenta-se em descrever um continente, uma forma, de pensar [é] um saber que, ao mesmo tempo, revela e oculta a própria coisa descrita por ele; um saber que encerra, para os espíritos finos, verdades múltiplas sob os arabescos das metáforas; um saber que deixa a cada um o cuidado de desvelar, isto é, de compreender por si mesmo e para si mesmo o que convém descobrir; um saber, de certa forma, iniciático. (MAFFESOLI, 1998, p. 21). Então o referencial escolhido, a imagem do pensamento, o método e as considerações desta tese afiguram-se dentro de um cenário pós-moderno, que, recapitulando – 1. Foge das tentativas de explicar ou de interpretar a realidade; 2. Convive muito bem com a incerteza, a dúvida e as diferenças; 3. Não confia em metanarrativas que totalizam as causas dos problemas e propõem saídas uni direcionadas para as questões; 4. Utiliza-se das metáforas e de diversas linguagens para apresentar (ao invés de representar) a existência; 5. Deixa entradas e saídas múltiplas para diferentes utilizações do que foi apreendido nas pesquisas ou apresentados nas obras de arte ou nos conceitos filosóficos criados; 6. Desiste das dualidades e polarizações maniqueístas tradicionais e aposta na gagueira das línguas e no uso da conjunção “e”; 7. Não 34 acredita em soluções transcendentais e sim na potência imanente a tudo que coexiste na natureza; e, 8. Declara que a vida é inocente e, portanto, não passível de interpretação ou julgamento; que o branco e o negro, assim como a saúde e a doença, o bom e o mau, o inverno e o verão são manifestações imanentes da Natureza; 9. Encontra nas narrativas a potência do afeto. Esta afirmação de que a clínica médica está convivendo em novos tempos não é estranha à teorização do campo da medicina narrativa. Frank (1995) determina três momentos distintos da relação das pessoas, por meio das suas narrativas e da medicina. Talvez como as epistemes de Foucault, o autor estabelece momentos definidos nos quais as histórias dos pacientes passaram a ser apresentadas epistemologicamente de maneiras diferentes. Em tempos pré-modernos, argumenta Arthur Frank, citando os estudos antropológicos de Pierre Bordieu na África, o doente não compreendia a doença. A linguagem utilizada para expressar sintomas, sofrimentos, enfermidades não davam conta de propor ou tentar alcançar significados fisiopatológicos, até porque os meandros do corpo humano e as descobertas científicas ainda não tinham acontecido. As narrativas, então, desse período histórico, eram carregadas de descrições de sintomas, mas careciam de respostas objetivas e de verdades propostas. A primeira ruptura epistemológica indicada por Frank (1995) deixa-se perceber quando as mesmas doenças e os mesmos doentes oferecem à medicina suas histórias para serem interpretadas, recontadas e registradas, agora como casos generalizáveis, categorizados, resolvidos e passíveis de serem explicados. Toda uma linguagem de especialidade foi produzida para dar conta desta tarefa assumida pela medicina: diagnosticar, nomear, classificar e resolver os problemas de saúde de uma população que não mais expressa – diretamente – seus padecimentos, suas dores, suas loucuras, suas doenças. A narrativa do paciente transforma-se, de forma definitiva, em caso clínico. Preciso, exato, objetivo. Os corpos que sofrem, agora sofrem calados. As vozes que falam são as vozes da ciência, do cientista, do médico. Dessa maneira, como argumentado anteriormente com Maffesoli (1998), novos tempos afiguram-se nas portas da contemporaneidade. Frank (1995) chama estas vozes de póscoloniais, estabelecendo uma “[...] experiência pós-moderna que começa quando as pessoas enfermas compreendem que há algo mais relacionado a suas experiências do que a narrativa da medicina é capaz de expressar” (FRANK, 1995, p. 6). Em tempos pós-modernos, o paciente tem acesso completo à linguagem médica, é capaz de dialogar e criticar certas asserções antes nunca postas em dúvida. Aliás, conforme enfatizado anteriormente, a dúvida é marca desses novos tempos. O indivíduo doente duvida da verdade 35 proposta pelo médico, até porque, muitas vezes, essa certeza não vem ao encontro das convicções, das crenças, das ideias ou dos afetos que povoam a experiência da doença para cada pessoa singular. Ademais, nesta nova era epistemológica (pós-colonial, pós-moderna ou contemporaneidade), o doente reencontra sua voz. As minorias, os doentes, os pacientes querem e podem falar. E, cada voz reencontrada dá voz a muitos, esta é a constatação da responsabilidade atual da medicina narrativa, para Arthur Frank (1995): reencontrar um caminho abandonado durante a modernidade, aprender a viver com histórias, reaprender a árdua tarefa de ouvir os pacientes. Assim, construir uma clínica médica ampliada por habilidades narrativas; um ensino a jovens médicos potencializado que, ao lado do saber científico e racional, considere a força do conhecimento sensível, afetados pelos perceptos e afetos da Literatura e pelos movimentos do pensamento provocados pela Filosofia. Uma nova socialidade [uma nova medicina e educação médica] que permita encontrar, como propõe Maffesoli (1998), um “equilíbrio entre o intelecto e o afeto” ou talvez como já propusessem Espinosa, Nietzsche e Deleuze: transformar a razão no mais potente dos afetos! “Um pensamento que se tenha reconciliado com a vida” (MAFFESOLI, 1998, p. 23). É preciso que se diga que não se trata de afastar-se do que é objetivo – embora não crendo em verdade absoluta. Nietzsche (2010) já afirmava, em sua Genealogia da Moral, que se chega mais perto da compreensão das coisas quantos mais olhos se puserem nelas. Quanto mais afetos tenhamos sobre o objeto a ser conhecido, mais nos aproximamos dele e de sua objetividade. A vida, a experiência da vida, escapa às durezas da razão que não pode apreender a fantasia, a metáfora, o falseado, o blefe, os múltiplos possíveis significados do simbólico. A razão pura estabelece seu duplo-falso – o não-racional. A razão sensível completa a razão abstrata e permite compreender melhor a existência. O sensível sacode a razão, amplia e supera o racional objetivo. Assim como a regra e a lei precedem e não prescindem da transgressão, a razão abstrata prevê a necessidade do sensível. Por utilizar-se de um método sistemático e pré-definido, o sistema racional tradicional e cartesiano designa uma maneira de pensar o mundo e a realidade de forma reducionista. Ao analisar a existência, a razão tende a reduzi-la; limpar a existência daquilo que parece opaco, sombrio, duvidoso ou ubíquo. A metáfora do leito de Procusto que corta, ou estica os corpos para acomodá-los ao tamanho fixo da cama traz bem a ideia de formatação; de parâmetros préestabelecidos que subtraem a experiência, a riqueza e a singularidade dos corpos (pensamentos e ideias) que compõem o vivido. 36 Encaixar o objeto de pesquisa, o sujeito a ser educado, o paciente que tenta contar sua narrativa a fôrmas pré-fabricadas, marcas da Modernidade, é um procedimento diametralmente oposto ao alargamento pensado a partir de um sistema mais aberto, que prevê sentimentos, gostos, desejos e emoções – afetos que não se prestam ao rigor classificatório determinado pela ciência tradicional. Afinal, como ironiza Maffesoli, [...] essa estranha quimera que quer que tudo entre num molde pré-formado, desbastando ou acrescentando [...] sem verdadeira preocupação com o homem vivo, que sofre, que é feliz, que tem emoções e sentimentos, e do qual, em suma, nada aprende etiquetando-o de um modo ou de outro. Eu disse mania, quimera, coisas que, curiosamente, são totalmente opostas às próprias pretensões da razão sã. (MAFFESOLI, 1998, p. 31). O paciente, retrato do homem fragilizado que sofre, que se encontra frente ao médico em uma situação de intensidade afetiva máxima – que, no acontecimento-doença-ou- morte, se percebe e é percebido na imanência da vida. Entre sua vida e sua morte, há um momento que não é mais do que aquele de uma vida jogando com a morte. A vida do indivíduo deu lugar a uma vida impessoal, e entretanto singular, que despreende um puro acontecimento, liberado dos acidentes da vida interior e da vida exterior, isto é, da subjetividade e da objetividade daquilo que acontece. “Homo tantum” do qual todo mundo se compadece e que atinge uma espécie de beatitude. Trata-se de uma hecceidade, que não é mais de individuação, mas de singularização: vida de pura imanência, neutra, para além do bem e do mal, uma vez que apenas o sujeito que a encarnava no meio das coisas a fazia boa ou má. A vida de tal individualidade se apaga em favor da vida singular imanente a um homem que não tem mais nome, embora ele não se confunda com nenhum outro. (DELEUZE, 1990). Esse é um indivíduo que dificilmente será compreendido – somente – dentro da lógica classificatória do racionalismo clássico. É claro que a eficiência e a eficácia do método científico e biologicista aplicado à medicina trouxe avanços inegáveis a essa área do conhecimento. O que se teoriza aqui é que há a necessidade de ampliar a razão, abrir espaço para a razão sensível como alternativa de compreender melhor o indivíduo que sofre e poder atender suas necessidades afetivas nos momentos de maior carência e sofrimento: durante as doenças e próximo à morte. Assim, aliar à razão abstrata o exercício da razão sensível traz o desafio de “[...] desenvolver um pensamento audacioso que seja capaz de ultrapassar os limites do racionalismo moderno” (MAFFESOLI, 1998, p. 37). Onde buscar – epistemologicamente – uma teoria que aproxime a razão abstrata (moderna) de uma co-irmã mais aberta a germes de criação sensível? A proposta trazida por Maffesoli (1998) é voltar, cronologicamente, ao período anterior à Modernidade. No Barroco, buscar um estilo [de viver] que permita colocar luz e cor entre o claro e o escuro, onde [nas artes] os contornos sejam menos definidos, apagados e as sombras tenham valor na composição. 37 Usando a metáfora da arte, chega-se à vida. Das obras literárias escritas em linguagem complicada, rebuscada e dúbia – leitura ao mesmo tempo rica e ubíqua –, passando pelas pinturas que dependem tanto da luz quanto das sombras e que se livrando dos ângulos retos e das linhas rígidas apresentam obras arquitetônicas curvas, tortuosas, voluptuosas, ambíguas, maravilhosas. De um lado a Modernidade com suas linhas contínuas, suas polaridades necessárias, o obrigatório julgamento científico [e moral] que separa para compreender e classifica determinadamente o que deve ficar em um lado (positivo) ou de outro (negativo). Antes dela [Modernidade], e, talvez, servindo de possibilidade epistemológica (e filosófica, artística e científica), o Barroco com a convivência pacífica e interdependente entre os opostos. No lugar da linha, a curva; ao invés de luz ou escuridão, o esmaecimento dos tons; onde se via contornos nítidos, sombras; sagrado e profano indistintos, corpo e espírito reconciliados, dogmas e intolerâncias abandonados, aproximação ao sensível, ao orgânico, ao ecológico, uma forma de pensar que agrega ao pensamento abstrato uma dimensão estética. A possibilidade teórica trazida por Frank (1995) e reiterada por Maffesoli (1998) é de que a pré-modernidade possa servir de germe renascido para uma pós-modernidade incipiente que apareça nas três formas do Pensamento (Arte, Ciência e Filosofia) quando possa abandonar o método moderno tão intrincado em nossa cultura e instituições sociais. O homem moderno apartou-se sistematicamente da natureza e colocou o saber, o conhecimento em lado oposto à sensibilidade e à contemplação. Seguindo o determinismo da razão moderna, a ciência e a medicina, em particular, abandonaram as possibilidades livres da imaginação, da criação, da fantasia. O que se abandonou, segundo Maffesoli (1998), citando Adorno, foi a possibilidade de “fruição intelectual” (MAFFESOLI, 1998, p. 42). Ao separar Arte e Ciência em dois domínios opostos, a razão moderna foi capaz de colocar em diferentes dimensões, mesmo que artificialmente, o conceito e a intuição. Ao extrapolar do método científico matemático para as novas ciências sociais que emergiram durante a Modernidade, a razão científica contaminou todas as áreas do conhecimento e a medicina não ficou de fora da sanha racionalista. Para aproveitar os efeitos multiplicadores do método cartesiano, a medicina separou, definitivamente, o corpo do espírito, dividiu esse corpo em mínimas partes e para cada uma delas desenvolveu especialistas míopes. Com seus potentes óculos para ver bem de perto, os cientistas foram capazes de descobrir e aprender detalhes e superar limites que, de outra forma, talvez, não pudessem ter sido alcançados. Mas o que se perdeu foi a visão do orgânico, dos afetos presentes no indivíduo que transita pela vida com um corpo que não se separa de seu 38 espírito, de um corpo que sente e se emociona, que quer aproveitar as vantagens que lhe traz a tecnologia, mas que não abre mão (não consegue desistir) de sentir, de se emocionar, ter desejos conflitantes e ideias paradoxais e complexas sobre si próprio, sobre os outros e a respeito da realidade que o cerca. O método cartesiano aplicado à matemática, à química, à física e à astrologia foi importado para as ciências sociais e humanas. A ideia de que a ordem traria progresso certo e garantido permeou o nascer da Sociologia e reverberou nos corredores das escolas, academias e hospitais. Ordem e progresso. Análise, classificação, método reprodutível, certo e objetivo. Sujeitos de um lado (individuais ou em grupos sociais), objetos de outro: doenças, avanços científicos, novas tecnologias. Um método racional, científico, político e social que não é capaz de captar a complexidade “irracional” [ou sensível] dos indivíduos, dos grupos sociais, dos corpos que padecem, dos indivíduos que vivem. “[...] uma razão abstrata que não consegue, não sabe, perceber a afinidade profundas, as sutis e complexas correspondências que constituem a existência natural e social.” (MAFFESOLI, 1998, p. 43). Assim, explica-se a aversão tão frequente de cientistas [e médicos] a tudo que trata de senso comum, de aparências, de intuição, de fantasia, imaginação, dúvida ou coisas sensíveis. Não há como reduzir essa instância natural, da dimensão sensível à intelectualidade pura. Há um limite da razão abstrata moderna que não é capaz de intuir qualquer dimensão que escape ao ordeiro, ao organizado, ao calculável e ao teleológico. Inclusive, é notório o medo e a sensação de perigo iminente que a menção de filosofia e de arte, de emoção e de afeto traz para o cientista moderno. Terreno não explorado, perigo à vista. Do lado oposto à ordem está o caos estabelecido e com este o cientista moderno não sabe lidar, por mais armas e recursos que seu método o tenha aparelhado. “Tudo o que tende a relativizar essa ordem é, potencialmente, suspeito.” (MAFFESOLI, 1998, p. 44). Aliás, suspeição é um termo que foge ao domínio da Modernidade. Dúvida e suspeição não fazem parte do vocabulário do cientista moderno. Verdade e certeza são o contrário absoluto da dúvida e da suspeita. Quem acredita na dúvida, quem não conta com a conclusão certa e verdadeira não pode aproximar-se da verdade, não pode ser cientista, intelectual ou médico no ponto de vista da Modernidade. O pensamento racional moderno abandonou o pensamento orgânico, amoroso ou erótico. Deixou a vida para trás e a substituiu por uma idealização intelectual e ordeira que trouxe avanços indubitáveis em relação ao controle da Natureza, mas que, paradoxalmente, afastou os seres humanos daquilo que tanto queriam conquistar. A vida real, a realidade passa a ser um construto do intelecto e os objetivos de fruição, contemplação, afeto e sensibilidade 39 tornam-se objetivos sempre distantes, idealizados, desejos difíceis de serem alcançados. Esta é a crítica a uma razão abstrata, separada da razão sensível: a razão que tanto descobre e alcança não consegue perceber a potência criadora da vida em si. Um racionalismo que nega o potencial criativo vital imanente à natureza dos seres existentes. Talvez ainda mais uma característica da pós-modernidade possa ser situada neste ponto da exposição teórica. A pós-modernidade pode representar uma “ruptura epistemológica” na medida em que quebra a tendência hegemônica de racionalização, de buscar uma razão, uma verdade, certeza e conclusão. Na medicina, como na vida, buscar uma razão além da vida, além do que é visto, dado e percebido pelos sentidos pode auxiliar em muitas situações do cotidiano da prática, da vida de médico. Saber qual a doença de nosso paciente, qual mal que o aflige, suas causas e agentes etiológicos nos permite acertar o tratamento e indicar procedimentos que podem curar as doenças. Entretanto, ao lado dessa razão científica, especialmente quando a doença ultrapassa os limites da razão instrumental, é que o médico pode fazer uso de seu intelecto sensível, intuindo a melhor palavra, o gesto certo e com sua presença afetiva satisfazer a necessidade daquele que sofre (e as suas próprias), utilizando-se de sua razão ampliada que vai muito além da simples razão abstrata moderna. “Mais do que uma razão a priori, convém pôr em ação uma compreensão a posteriori, que se apoie sobre uma descrição rigorosa feita de conivência e de empatia” (MAFFESOLI, 1998, p. 47). É de empatia que esta tese alimenta-se. Como ensinar, ou desenvolver a capacidade, a habilidade de empatizar com o paciente que sofre? A razão instrumental é bem ensinada nos currículos dos cursos de medicina. A introdução das disciplinas de humanidades médicas vem tentar suprir o currículo de conteúdos e oportunidades de aproximar os futuros médicos da dimensão estética ou sensível da vida. Vida que pulsa e que insiste, que certamente não se inscreve em linhas retas e duras. Vida que é ubíqua, complexa, tortuosa, clara e escura ao mesmo tempo, radiante e sombria, cheia de dúvidas, de certezas fugazes e de emoções fortes e dinâmicas. Vida que insiste em nos provar que, ao lado de um método matemático e rígido de encarar os eventos cotidianos, precisamos de outro que nos permita ultrapassar a inflexibilidade de uma ordem imposta e alcançar a dimensão pulsante e potente da existência. A explicação de como a rigidez da necessidade conceitual “assassina” as possibilidades potenciais do vivido é muito oportuna para a prática da clínica médica. “Ao nomear, com excessiva precisão, aquilo que se apreende, mata-se aquilo que é nomeado” (MAFFESOLI, 1998, p. 47). Em nome de um raciocínio lógico bem feito, de um diagnóstico bonito e preciso, de uma conduta adequada e correta, muitas vezes, nós médicos, “matamos” a possibilidade de entender ou compartilhar aquilo que o paciente necessita, deseja ou projeta. Para organizar o 40 raciocínio e resolver o problema, corremos o risco de ignorar as necessidades afetivas e emocionais dos pacientes e, assim, ao invés de objetivar a situação e alcançar o objetivo proposto pela equipe que cuida, afastamo-nos daquilo que é mais premente e necessário para o paciente sob nossos cuidados. Razão instrumental ativada, empatia e conivência perdidas. Razão aberta ativada: todo o potencial da razão abstrata acrescida da dimensão movente da vida. Em suma, nas ciências ditas duras, matemáticas, o racionalismo moderno alcança seus objetivos certeiros. Tudo o que é feito no laboratório, que está estático e é reprodutível infinitas vezes, pode ser tratado como objeto apartado das intuições. O domínio da vida, seja do indivíduo ou do organismo social - e, portanto, objeto das ciências humanas, da saúde e das ciências sociais -, é o domínio do que pulsa, da dimensão do sensível. O conhecimento como teorização moderna é ignorante das coisas cambiantes da vida; talvez, então precisemos abandonar um pouco a razão instrumental, ou praticar uma “douta ignorância” (MAFFESOLI, 1998, p. 48) para darmos conta do “vitalismo que transpira por todos os poros da pele social”. Apropriamo-nos disso e reescrevemos: o médico contemporâneo talvez precise esvaziar-se de tanto conhecimento científico, ou, ao menos, colocar ao lado dessa razão instrumental a razão sensível para poder dar conta de todo o vitalismo que insiste em transpirar por todos os poros da pele humana! 1.3.2 Uma razão vital O que se está teorizando é a conjunção da razão positivista a uma dimensão mais aberta, mais orgânica do pensamento. Uma “sinergia da razão e do sensível” (MAFFESOLI, 1998, p. 53). Utilizar-se de tudo aquilo que é da instância dos afetos (emoção, sensibilidade, paixão), que funcionam como “alavancas metodológicas”, instrumentos de ruptura e de escolha epistemológica e “plenamente operatórias”, auxiliando a compreensão dos fenômenos sociais (preocupação do autor sociólogo) e das questões singulares dos indivíduos (aliada à preocupação social, aos interesses do médico). Aproveitar-se da potência dos afetos. Ultrapassar a razão abstrata. Ampliar as capacidades intelectuais dos médicos. Para Maffesoli (1998, p. 54), “[...] o projeto é ambicioso, mas realizável. Contudo, requer que se saiba superar as categorias de análise que foram elaboradas ao longo da modernidade”. Se de uma forma generalizada o projeto é complexo e custoso, do ponto de vista da medicina torna-se um tour de force, uma verdadeira batalha. Isso porque, justamente por não saber, com segurança, em que área do conhecimento encontra-se, a medicina optou por colocar- 41 se ao lado das ciências duras. O método científico foi por demais sedutor e polarizou o interesse e a energia de médicos que, nos últimos séculos, tornaram-se verdadeiros cientistas. A intuição e o afeto sempre incomodaram os cientistas modernos e não é diferente com os médicoscientistas. Há sempre, por suposto, um incômodo sentimento de incompletude que ronda as enfermarias, especialmente as de clínica médica, de doentes crônicos ou daqueles em cuidados paliativos ou de final de vida. Em situações como essas, de limite impreciso entre a vida e a morte, quando a possibilidade de vida apesar da doença faz-se necessária é que a razão intelectual prática e pura do médico tende a perceber a falta que lhe faz a razão sensível. Habilidades afetivas que ultrapassem os limites da razão instrumental. O que teorizou-se, anteriormente, agora nas palavras do paciente em trechos da narrativa gravados em áudio e, posteriormente, transcritos: 42 Bom, há cinco anos eu sofri um acidente e fraturei a coluna cervical na quarta e quinta vértebras. E dali pra frente começou uma grande experiência com todas as áreas de medicina, da urologia, da neurologia, clínica geral, tudo... [...] E a minha experiência é assim, hoje, eu fico muito ansioso com o avanço da pesquisa da medicina na área de neurologia, para que achem uma cura, ou uma regeneração da medula espinhal. Passei alguns momentos na UTI. E ali eu tive toda a atenção de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, de médicos... Eu fiquei 30, 40 dias na UTI; depois acho que eu fiquei mais uns 30 dias no quarto, né? Ao trigésimo sétimo dia de UTI, eu consegui retomar... Voltar a respirar sozinho... porque até então eu estava ligado nos aparelhos... Bom, toda a internação é horrível, né... Assim por estar sóbrio dentro da UTI, consciente, desde o momento do acidente, com exceção do momento que eu fiquei no coma induzido... Mas, toda a minha experiência na internação... Foi assim que (como é que eu poderia dizer), eu acho que o atendimento foi muito bom, e tal, né... Mas eu mudaria uma coisa só assim... Que eu acho que é importante, a questão da humanidade. Eu sei que o técnico, o enfermeiro, o médico, em alguns momentos (senão todos) eles têm que estar meio frios à situação, neutros à situação, para não se deixar levar pelas emoções, né? Mas, às vezes, o paciente está ali, e o paciente necessita de uma troca de emoção, sabe? Não sei se com terapeutas da alegria, ou se alguma coisa assim. Então, eu tinha um relacionamento com os técnicos, por exemplo, dentro da UTI, que era de muita graça, né? Eu chamava eles, e aí eles vinham e eu dizia não, só porque eu tô com saudade. [Risos] Ou, então quando eles mexiam nas minhas pernas, pra lá, pra cá, e viravam para dar banho de leito, aquela coisa... eu dizia ai ai ai ai... dizia que tava doendo... aí... o que é? Tá sentindo? Eles perguntavam... e eu dizia: não, não... ai, que saudade que eu tenho das minhas pernas... Eu via pessoas que estavam piores do que eu, outras que melhores, enfim, outras nem sóbrias estavam, estavam em um coma que talvez não sairiam nunca. Mas essa coisa de quem está lá acordado, vendo tudo que está acontecendo... Realmente a pessoa... Eu sinto, (no meu caso eu falo, né) que eu sentia necessidade de ter gente ali conversando, E eu tinha! Muitas vezes eu precisava e não tinha... Eu lembro que um dia eu falei pra fisioterapeuta assim: (ela veio fazer a movimentação passiva nos meus braços), e eu falei pra fisio: -Pô, podia fazer um carinho na minha cabeça, porque eu já tava tanto tempo ali né, na carência, e daí eu falei isso pra ela. Bom, passados dois anos do acidente que me deixou tetraplégico, em uma cadeira de rodas, não havia mais nenhuma esperança de voltar a mexer. Porque, teoricamente, todos falavam que era uma lesão completa, inclusive no Sara Kubitscheck, em um hospital em Belo Horizonte, que é um hospital especializado ... E passado dois anos eu fui me aventurar em fazer uma aplicação de células tronco na China. Então, em 2009 sofri o acidente, 2010 lutei, 2011 lutei, e 2011 mesmo inventei de ir para a China. Fiz a aplicação de células tronco. Tive algumas melhoras na minha imunidade, equilíbrio de tronco, o meu pulso da mão direita, voltou o meu movimento do meu pulso. Eu atribuo todas essas melhoras à aplicação das células tronco, porque segundo a medicina aqui no Brasil, fala que uma lesão medular (inclusive no Sara Kubitscheck) ela é muito particular, muito pessoal de cada um. E aí eu atribuo essa melhora à aplicação das células tronco porque o que era me dito era que em dois anos podia melhorar. O que não melhorasse em dois anos, não melhorava mais. Então, foi por isso que eu fui pra China em 2011, retornei à China em 2012, que daí eu já tive um pouco menos de melhoras. [...] E agora eu decidi esperar, e ver o que vai acontecer com a medicina, espero que a medicina avance e que as pesquisas avancem, e que a gente possa ser contemplado aí pela sociedade médica com grandes pesquisas na área de neurologia, lesão medular, lesão cerebral, tudo isso que envolve a neurologia e a neurociência. Então é isso, minha experiência com a medicina e com os médicos é essa. Há o que interpretar nessa narrativa? Há de se saber quem é o paciente, sua idade? Se é homem ou mulher? Se é adulto jovem ou idoso? É necessário saber as condições em que vive hoje, ou de que forma levantou os recursos necessários para atravessar o planeta em busca de alguma melhora? A narrativa não é suficientemente forte para apresentar o afeto contido no relato do acontecimento e, como teorizado anteriormente pelos linguistas, não faz o leitor instalar-se no acontecimento UTI-paraplegia-ciência-afeto? A narrativa do paciente, a narrativa em si tem a capacidade, a potência imanente de provocar diferença na prática e no ensino da 43 clínica médica, sem que haja a necessidade (científica, ou moderna, ou metodológica) de interpretação ou do conhecimento da subjetividade, do inconsciente, das condições materiais ou históricas da construção da narrativa. O paciente precisa de ciência e anseia pelas descobertas da Medicina. Contudo, ele quer atenção, ser ouvido, poder falar, ser tocado pela equipe responsável pelos seus cuidados, mesmo que esteja em ambiente de cuidado intensivo, ele está “sóbrio”, consciente, sente-se carente e anseia por companhia, por proximidade, por compreensão, por toque. Sua situação é grave, crítica como ele próprio admite, mas ele é capaz de fazer graça, de achar graça, de aliviar seu sofrimento rindo de si próprio, achando um estilo para viver tetraplégico. Afinal, a diferença entre uma pessoa que caminha e outra que usa a cadeira de rodas passa, fundamentalmente, por maneiras diferentes de se viver. Andar sobre rodas, urinar com auxílio de cateteres, fazer cocô mesmo sem ter a sensação de evacuação. Enfim, viver fora da norma, encontrar uma maneira, um estilo para viver. Como afirma Frank (1995), quando uma pessoa doente conta sua história, ela passa a ser cuidadora de outras pessoas. As suas dores, as suas limitações e os seus padecimentos passam a ser exatamente a potência de suas narrativas. E essas narrativas falam por muitas pessoas. Narrativas que dizem muito, para muitas pessoas. Narrativas com potência própria, com potencialidade de alivio, de conforto, de compartilhamento. Assim, ao lado da razão científica, precisaria o médico de um intelecto alargado, não somente lógico ou não puramente racional (sem incorrer no deslize de chamar essa dimensão da razão de irracional!). Uma lógica que considera a vida naquilo que ela apresenta e que não busca uma interpretação clara e distinta por meio de representações lógicas que a tentam enquadrar no que poderia ou deveria ser. Tratase de um intelecto alargado, de um conhecimento emancipado e emancipador, capaz de criação, de pensar o impensável para o pensamento moderno e estático. Uma medicina que sabe dançar, que cria e recria, uma ciência intuitiva, criativa e potente. Uma razão ou intelectualidade que esteja atenta ao acontecimento, ao mágico, ao lúdico, ao que se passa na vida que se experimenta acordado ou em sonho, que ultrapassa as categorias possíveis do racional abstrato. Onde antes buscávamos a Verdade, agora entrevemos verdades múltiplas. Onde a linha reta indicava uma entrada e uma saída, agora o método apresenta múltiplas entradas, saídas por todos os lados, linhas de fuga, vários eixos e planos e curvas que se encontram em tempos e espaços que não podem mais ser delimitados por regras inflexíveis. Um novo olhar para o mundo, para a realidade que passa a ser fruto de nossa valoração, para o outro, para o terceiro possível, para o indivíduo dentro de nós, para o paciente que nos procura para ser ajudado. Um novo programa educacional para a criança que agora se vê com 44 múltiplas potencialidades e caminhos diversos a serem escolhidos. Valores múltiplos e multiplicáveis ao infinito. Verdades cambiantes, múltiplas possíveis verdades. Diante de um paciente que recebe o diagnóstico de câncer e cujas evidências mostram que a conduta “racional” indicada seria cirurgia mutiladora seguida de quimioterapia ou radioterapia, saber mostrar possibilidades outras. E se o paciente não quiser ser operado? E se o paciente pensar em uma cirurgia menor, menos incapacitante, apesar do menor índice de cura em comparação com o que foi proposto pelo médico? Que tal uma autonomia compartilhada entre o paciente, sua família e o médico que o assiste? Ficar ao lado do paciente como um companheiro de viagem que planejando ir a um destino vê-se, de súbito, em outro lugar. Emily Perl Kingsley, em 1987, publicou uma pequena narrativa metafórica: Frequentemente sou solicitada a descrever a experiência de criar um filho portador de deficiência, para tentar ajudar as pessoas que nunca compartilharam dessa experiência única a entender, a imaginar como deve ser. É mais ou menos assim... Quando você vai ter um bebê, é como planejar uma fabulosa viagem de férias - para a Itália. Você compra uma penca de guias de viagem e faz planos maravilhosos. O Coliseu. Davi, de Michelangelo. As gôndolas de Veneza. Você pode aprender algumas frases convenientes em italiano. É tudo muito empolgante. Após meses de ansiosa expectativa, finalmente chega o dia. Você arruma suas malas e vai embora. Várias horas depois, o avião aterrissa. A comissária de bordo chega e diz: “Bem-vindos à Holanda”. “Holanda?!?”. Você diz, “Como assim, Holanda? Eu escolhi a Itália. Toda a minha vida eu tenho sonhado em ir para a Itália.” Mas houve uma mudança no plano de vôo. Eles aterrissaram na Holanda e é lá que você deve ficar. O mais importante é que eles não te levaram para um lugar horrível, repulsivo, imundo, cheio de pestilências, inanição e doenças. É apenas um lugar diferente. Então você deve sair e comprar novos guias de viagem. E você deve aprender todo um novo idioma. E você vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que você nunca teria conhecido. É apenas um lugar diferente. Tem um ritmo mais lento do que a Itália, é menos vistoso que a Itália. Mas depois de você estar lá por um tempo e respirar fundo, você olha ao redor e começa a perceber que a Holanda tem moinhos de vento, a Holanda tem tulipas, a Holanda tem até Rembrandts. Mas todo mundo que você conhece está ocupado indo e voltando da Itália, e todos se gabam de quão maravilhosos foram os momentos que eles tiveram lá. E toda sua vida você vai dizer: “Sim, era para onde eu deveria ter ido. É o que eu tinha planejado.” E a dor que isso causa não irá embora nunca, jamais, porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. No entanto, se você passar sua vida de luto pelo fato de não ter chegado à Itália, você nunca estará livre para aproveitar as coisas muito especiais e absolutamente fascinantes da Holanda. 45 Uma tese tão simples quanto esta narrativa. Nada a interpretar. Muito a aprender. Novos planos requerem novos guias de viagem, talvez em um duplo sentido: guias livros, manuais e guias pessoas, companheiros de viagem. Sim, à vida pode ser aplicada a metáfora da viagem, como a narrativa anterior expõe. Aceitar mudanças nos planos de viagem pode necessitar uma força, uma potência de quem acompanha o viajante. Afinal, a doença crônica, a síndrome cromossômica, as limitações físicas ou mentais não precisam, necessariamente, ser encaradas como uma das estações do inferno de Dante, como povoa o imaginário das pessoas “[...] um lugar horrível, repulsivo, imundo, cheio de pestilências, inanição e doenças e como alguns médicos parecem fazer questão de afirmar” (DEBAGGIO, 2002, p. 38-39). Ele [o médico] nos convidou a sentar em duas cadeiras altas e retas colocadas em frente a sua mesa. Sentou-se do lado oposto a nós segurando um maço de documentos com ambas as mãos. Ele parecia desconfortável, quase como escondendo-se atrás dos papeis, criando uma separação muito clara entre nós. Parecia quase como se ele estivesse tentando inventar uma máscara antes de decretar um veredito desagradável, uma rotina que ele pode ter desenvolvido para proteger sua própria humanidade ao longo de muitos anos lidando com dar más notícias. Ele olhou para nós dois desconfortavelmente, então fixou o olhar em mim. Calmo e controlado. -Você recebeu os relatórios dos testes? Perguntei. - Você tem Alzheimer. Ele disse sem mais demora. O veredito explodiu na minha cabeça, fui invadido por emoções, tive que fazer um esforço sobre-humano para esconder meus sentimentos. Antes que eu pudesse retomar o fôlego ele começou a falar sobre remédios as serem prescritos. Neste momento, Joyce [esposa] entrou na conversa. Ela estava chocada com a maneira pela qual o neurologista havia anunciado o que para ela significava uma sentença de morte. Ela ansiava por detalhes, compreensão, alguma base de onde tirar forças. – Como você sabe? Então ela perguntou. [...] O neurologista não conseguiu esconder sua raiva em ser questionado. Joyce queria respostas e o médico queria seguir escrevendo as prescrições e se livrar de mim. [...] ele nos deu um olhar exasperado e nos levou até a porta. Naquele momento, eu percebi o que todos havíamos compreendido: precisávamos um médico diferente. Mais tarde eu pensei sobre o incidente e me dei conta de como deve ser difícil para um médico trabalhar com pacientes cujas doenças são essencialmente incuráveis [...] cada novo paciente com uma doença destas é um sinal da imperfeição da ciência médica. Os melhores médicos que conheci têm um toque gentil e habilidades para contar histórias que lhes ajudam a ganhar a confiança dos pacientes. Com uma doença como Alzheimer, gentileza e habilidades que afirmem a vida são essenciais. (DEBAGGIO, 2002, p. 36-38). 46 A metáfora da viagem é muito comum nas narrativas de pacientes e de médicos. Ironicamente, Susan Sontag (2007, p. 4) que, apesar de admitir que não podemos nos expressar sem o uso de metáforas, utiliza-se de uma quando afirma que somos habitantes com dupla cidadania, transitando entre os reinos da saúde e da doença. Pensar em uma medicina intelectualizada e racional que leve em consideração a dúvida, que saiba andar para frente e retroceder, mudar os planos de viagem. Pensar e repensar junto ao paciente as escolhas múltiplas que se afiguram, possibilidades, diferentes estilos. Afinal, é a razão científica e impositiva que acredita que há somente uma conduta a ser tomada na maioria dos casos. A razão ampliada, sensível, sabe considerar múltiplas possibilidades, caminhos tortuosos, idas e vindas e, até mesmo, aceitar a possibilidade de não utilizar qualquer tratamento curativo e atender o paciente dentro de sua escolha, de cuidados de conforto ou de suporte para situações que, no olhar daquele indivíduo, não comporta atitudes preconizadas pelo médico cientista. Respeitar a autonomia do paciente é uma simplificação aligeirada do que estamos teorizando. Pelo princípio raso da autonomia, como expresso pelo código de ética médico, o paciente é livre para decidir tratamento ou procedimentos que quer que lhe sejam ministrados. Essa determinação do código de ética vem ao encontro de uma lógica racional fria e impositiva, pois coloca, sem querer, médico e pacientes em lados opostos das escolhas ou das decisões. Colocando de outra maneira: o médico, considerando as evidências de uma condição clínica dada, indica que o melhor tratamento seria este, ponto. Diagnóstico feito, classificação determinada, guidelines seguidos e prescritos. Entretanto, o paciente é quem sabe, pois tem a seu lado o princípio da autonomia e, portanto, se não quiserem seguir as recomendações propostas, pode procurar outro médico, ou, na melhor das hipóteses, contando com a bondade e a complacência (racionais), o primeiro médico poderia continuar atendendo o doente, apesar deste não ter aceitado suas proposições terapêuticas. Um médico com intelectualidade orgânica, sensível, aberta ou erótica, seguidor de uma razão ampliada, cientista criativo e afetivo poderia, quiçá, comportar-se de outra maneira, afirmando estarem ambos (médico e paciente) juntos, diante de uma situação complexa. A situação exige uma decisão conjunta, o que fazer com essa questão, com esse problema comum. Antes de dizer quais as opções possíveis de tratamento e o que dizem os manuais técnicos, o médico poderia ouvir o que o doente e seus familiares pensam sobre o que está acontecendo e sobre o que gostariam que fosse feito em relação ao diagnóstico e ao tratamento. Após ter honrado a narrativa de seu paciente, ouvido com atenção suas expectativas, anseios, medos, esse médico sensível às narrativas dos pacientes (CHARON, 2006, p. 203-218) poderia explicar 47 o que prescrevem os guidelines. Juntos, médico e paciente poderiam, assim, ver múltiplas possíveis abordagens ao mesmo problema e, mais importante de tudo, tomar uma decisão autônoma, entretanto não mais do paciente sozinho e sim uma decisão da dupla (paciente e médico) que, assim, encontram-se do mesmo lado, aliados no embate que terão entre a vida saudável que não mais é possível e a vida com a doença que se afigura no horizonte de ambos. Essa outra ética é o que nos proporciona uma racionalidade aberta, múltipla, de contornos esmaecidos. Uma ética barroca (uma prática que considera curvas, claro-escuro, o duvidoso, o incerto, o paradoxal), que entra em conjunção às possibilidades técnicas modernas para alargar as potencialidades da prática médica (e da educação médica, objeto desta tese). Inside every patient there’s a poet trying to get out.1 Broyard O meu médico ideal seria capaz de “ler” minha poesia, minha literatura. Ele veria como minha doença me purificou, enfraquecendo minhas partes piores e fortalecendo as melhores. Eu não vejo qualquer razão pela qual médicos não devam ler um pouco de poesia como parte de sua formação. Morrer e adoecer é um tipo de poesia. É como um desarranjo. Na crítica literária se fala sobre um desarranjo dos sentidos. Isto é o que acontece ao homem que adoece. Então, me parece que os médicos poderiam estudar poesia para entender estas dissociações, estes desarranjos, isto traria uma maior aproximação (more total embracing) à condição do paciente. [...] Eu queria que meu médico entendesse que debaixo da superfície alegre, eu sinto o que Ernest Becker chamou de “pânico inerente à criação” e a “sucção do infinito”. [...] Meu médico ideal lembraria Oliver Sacks. Eu posso imaginar Dr. Sacks entrando na minha condição, olhando em volta como o proprietário de uma casa, com o locatário, tentando ver como ele transformou o imóvel em um lugar mais habitável. Ele andaria em volta, me segurando pela mão, e ele iria imaginar como seria ser eu. E então, ele iria tentar encontrar alguma vantagem nesta situação. Ele consegue transformar desvantagens em vantagens. Dr. Sacks veria a genialidade da minha doença. Ele iria compor seu daemo com o meu. E nós iriamos encarar meu destino juntos [...]. Para o médico típico, minha doença trata-se de um incidente rotineiro em um de seus rounds, enquanto que para mim é a crise da minha vida. Eu me sentiria melhor se eu tivesse um médico que ao menos percebesse essa incongruência. Eu não peço que ele me ame – de fato, e até acho que o papo do amor é muito exagerado por muitos que escrevem sobre doença [...]. O doente chegou a um ponto onde o que ele mais quer das pessoas não é amor mas uma compreensão crítica da sua situação, o que é conhecido na literatura como “testemunha empática” [...]. Não vejo razão ou necessidade que o meu médico me ame – nem eu espero que ele sofra comigo. Eu não exigiria muito tempo do meu médico: eu somente desejo que ele se instale (breed) na minha situação por talvez cinco minutos, que ele me entregue completamente seu pensamento uma só vez, que ele fique colado a mim por um breve instante, examine minha alma e minha carne, alcance minha doença, por que cada homem é doente de sua própria maneira. Eu penso que o médico pode manter sua postura técnica e ainda assim se movimentar na arena humana. O médico pode usar sua ciência como um tipo de vocabulário poético ao invés de usá-lo como uma peça de maquinaria, de forma que o jargão possa se tornar jargão de uma espécie de poesia. Eu não vejo porque ele tenha que deixar de ser médico e se tornar um ser humano leigo. Muitos médicos sistematicamente evitam contato. Eu não espero que meu médico soe como Dr. Oliver Sacks, mas eu espero alguma vontade de fazer contato, alguma sugestão de disponibilidade. 1 “Dentro de cada paciente há um poeta tentando insurgir” (BROYARD, 1992, p. 41, tradução nossa). 48 Nessa narrativa, o paciente sabe expressar muito bem o que sente. Um paciente literato, um crítico de literatura. Um homem doente que, apesar e com toda sua racionalidade, clama por poesia. Pede por companhia, por atenção, por um olhar sensível. A doença e a morte são como poesia, insiste Broyard. Teorizamos que as narrativas, a literatura, as artes, são puro afeto e é esse afeto que o paciente busca no seu médico. Algo que o faça passar de uma intensidade dada de vida para uma intensidade maior de poder viver, mesmo doente, mesmo próximo à morte. E, então, a ex-residente, jovem médica completa com sua narrativa: Funcionava da seguinte maneira: os pacientes internavam, cada residente ficava responsável por certo número de pacientes. Todos os dias, examinar, prescrever, conversar com os pacientes e familiares várias vezes ao dia, correr atrás e tentar agilizar resultados de exames, tomografias, biópsias e nos intervalos um café ... Ou uma emergência. Quando recebiam alta, os pacientes eram encaminhados para nosso ambulatório, nota de alta, receitas e orientações...tudo certinho (não podíamos perdêlos...), e a Dra. sempre completava: Escreve o número do seu celular na nota de alta, disponibilize-se, o paciente pode precisar de você. Quando contava isso para as pessoas elas achavam uma loucura, e se todos os pacientes resolvem ligar pra você? Sua vida vai ser um inferno! Por um tempo pensei assim também, tive medo, não do paciente... Talvez da responsabilidade. E um dia, a Dra. sentiu que eu estava desconfortável com a situação e disse: - Renata, muitos pacientes passarão pelas suas mãos, de alguns você vai lembrar, outros nem tanto, mas poucos criarão um laço de confiança contigo... Para esses você precisará estar lá, sempre... Lembra? És eternamente responsável por quem cativas. Hoje, alguns anos depois, percebo a importância daquele pequeno ato. De muitos pacientes que tinham meu número, apenas três pacientes ainda me ligam, e para minha surpresa, ligam para me dar parabéns no meu aniversário, para perguntar como eu estou... E eu me sinto tão bem... Tão leve... Feliz...Querida... O que a professora de clínica, médica mais experiente quis ensinar (ou facilitar) para sua jovem colega? Afeto. Identificamos as pessoas não por sua essência, mas pela capacidade de afetar e de ser afetado (DELEUZE, 2002). A citação literária, recorrente na clínica médica, tão didática quanto pedagógica é: 49 “- Não – disse o príncipe”. – Eu procuro amigos. Que quer dizer “cativar”? - É algo quase sempre esquecido – disse a raposa. – Significa “criar laços”... - Criar laços? - Exatamente – disse a raposa. – Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Será para mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo... ... Minha vida é monótona. Eu caço galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens também. E isso me incomoda um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fosse música. E, depois, olha! Vês, lá longe, os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste! Mas tu tens cabelos dourados. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo... A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe: - Por favor... Cativa-me! – disse ela. - Eu até que gostaria – disse o principezinho -, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. - A gente só conhece bem as coisas que cativou - disse a raposa. – Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. - Que é preciso fazer: - perguntou o pequeno príncipe. - É preciso ser paciente – respondeu a raposa. – Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas, cada dia, te sentarás um pouco mais perto... – Adeus - disse a raposa. – Eis o meu segredo. É muito simples: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos” (SAINT-EXUPÉRY, 2006, p. 68-72). Ainda, ser eternamente responsável por quem se cativa, na materialidade da anedota contada pelo gastroenterologista que atende tantos pacientes portadores de doença hepática crônica incurável e fatal: 50 Lembro sempre aquela da paciente com cirrose que engravidou e depois apareceu na enfermaria com o bebê no colo chamando pelo Dr. Jorge Pereira-Lima (Chefe da Enfermaria de Gastro-Hepatologia da Santa Casa de Porto Alegre), que havia garantido à paciente que jamais ela iria engravidar, pois tinha cirrose! Enfim, ela foi lá exigindo que ele ajudasse a criar o piá! Literatura para ampliar as possibilidades afetivas da clínica. Como resume Todorov: Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam; a literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela permite que cada um responda melhor a sua vocação de ser humano. (TODOROV, 2010, p. 23). O que nomeamos aqui, por apropriação de ética barroca, é o que Ortega y Gasset chamou de raciovitalismo ou razão vital, trazida por Maffesoli (1998, p. 58), “[...] que sabe unir os opostos: operar conhecimento, e, ao mesmo tempo, perceber as pulsões vitais, saber e poder compreender a existência”. Repetimos: saber e poder compreender a existência. Saber o que é melhor para o paciente e compreender que o que é melhor para o paciente pode não ser o que o paciente considera melhor para si. Saber o nome da doença, sua Classificação Internacional de Doenças, seu CID, e compreender o impacto dessa doença sobre o paciente. Saber nomes, técnicas, procedimentos, infinitas prescrições e compreender a singularidade de cada indivíduo que procura cuidado médico. Reverter a máxima de saber-poder para uma mínima de sabercompreender, talvez seja esse o passo que a razão moderna pode dar em direção à razão sensível. “É este o interesse do ‘raciovitalismo’: não negligenciar nada naquilo que nos cerca, neste mundo, no qual estamos e que é, ao mesmo tempo, sentimento e razão.” (MAFFESOLI, 1998, p. 59, grifos do autor). Em nossa contextualização: É essa a intenção da ética barroca, da ciência orgânica ou criativa, da razão sensível aliada à razão moderna, da medicina narrativa ou sensível: não deixar de lado nada, naquilo que tange nossa relação com o paciente, pois tudo é, ao mesmo tempo, razão e afeto, porque a razão pode vir a ser o mais poderoso dos afetos! 51 1.3.3 PENSAR ORGÂNICO Por que implementar um “pensamento orgânico” (MAFFESOLI, 1998, p. 65), enfatizando a razão sensível, torna-se uma tarefa difícil? Justamente porque a razão moderna e os padrões estabelecidos pela ciência fazem com que tudo o que não seja calculável e instrumental passe a ser visto como obscurantismo, charlatanismo ou senso comum, sem valor científico. O pensamento orgânico, quando remete ao barroco, quer trazer de lá uma nova racionalidade que possa aglutinar ou aglomerar, ou manter juntos elementos contrários (incompossíveis até), sem, no entanto, buscar homogeneização. Trazer juntos os contrários, admitir as diferenças, sem transformá-las em uma coisa só. Manter as diferenças visíveis na composição - seja literária, artística, social ou privada. “As fronteiras entre os diferentes elementos são mantidas, não obstante, resulta uma singular organicidade.” (MAFFESOLI, 1998, p. 70). A metáfora do corpo humano, e sua homeostase, prestam-se bem a essa teorização. Só há vida enquanto as diferenças presentes no meio interno permanecem. Sódio fora das células, potássio dentro, diferença de potencial possível e, portanto, vida! Quando para a bomba que incansavelmente coloca sódio para fora das células, para manter a diferença, cessa a vida. Um bom conceito de morte é quando o intra e o extracelular encontram-se em igualdade. Só há vida na diferença, e essa organicidade é que representa a força vital da natureza e que a razão sensível quer resgatar para a medicina, para as ciências humanas e sociais. Voltar-se-á às metáforas ainda com mais vagar na sequência do texto. “Eis o interessante em jogo: é possível pensar-se o incompossível sem reduzi-lo ou mutilá-lo.” (MAFFESOLI, 1998, p. 71). Assim, então, faz-se possível aliar ao conhecimento a sensibilidade, dar possibilidade de existência compartilhada entre a razão abstrata e a razão sensível, sem que qualquer uma delas seja mutilada ou que ambas se reduzam a outra coisa qualquer. Razão aberta, compossibilidade de razão moderna em conjunção com razão sensível. “Aliar posições teóricas reputadas incompatíveis [...] em função de uma pretensão, de uma ambição epistemológica aventurosa e audaciosa, que tenha por objetivo fazer entrar em sinergia perspectivas opostas, senão contraditórias” (MAFFESOLI, 1998, p. 75). Nada menos científico, do ponto de vista moderno, do que falar em compossibilidade, em sinergia de forças contraditórias em um mundo que se acostumou com a polarização maniqueísta do certo e do errado. Algo pode agora ser considerado, compossivelmente, certo e errado, algo novo e antigo, claro e escuro, ao mesmo tempo, sim e não, sim ou não, sem que 52 um seja considerado válido, sempre, a qualquer custo e o outro indigno de ser pensado, ou usado, ou ousado... Como argumenta Kleinman (1988, p. 228): “A incerteza deve ser central na experiência do médico, assim como é na do paciente”. Trazer essa fundamentação teórica para a medicina requer cautela. Há, no nosso meio, como no meio científico em geral, alertado por Maffesoli (1998), certo medo daquilo que é novo e estranho (misoneísmo), aquilo que não foi pensado dentro das regras inflexíveis do pensamento moderno. Não obstante, o mundo que nos rodeia é múltiplo. O ser humano é multiplicidade pura. A vida constrói-se na diferença harmônica que é imanente à natureza. Pensar de maneira aberta é pensar conteúdo e forma, é dar ouvidos às vozes e permitir olhar o que a existência apresenta, sem necessidade de classificação, categorização, generalização ou conclusão. No lugar da unidade, própria do racionalismo, propõe-se o conceito de univocidade, manter próximos, reunidos, elementos díspares. De que maneira? Nas palavras de Maffesoli (1998, p. 86): “O princípio é simples: ater-se a própria coisa, não ficar procurando indefinidamente aquilo para o qual poderia remeter tal fato, tal fenômeno, tal situação. Ficar nos limites da forma é fazer com que ela diga tudo o que tem a dizer”. O que nos permite extrapolar para a relação médico-paciente, para a prática da medicina e para o que ensinamos aos nossos alunos e jovens médicos: Ouvir o que o paciente conta-nos, ver em seus corpos, ao examiná-los, exatamente o que eles procuram apresentar-nos. Determonos na forma, no que se apresenta, falado ou expresso pelos corpos. Fugir à tentação racional e científica de interpretar os fenômenos fisiopatológicos unicamente ou de maneira mais importante. Estar atento à organicidade dos corpos e das palavras; daquilo que é dito ou que cala. Insistir, sistematicamente, em enxergar o que a experiência apresenta-nos. Fazer uso de nossos sentidos, abandonar o método procústeo estabelecido tradicionalmente e desenvolver uma prática mais aberta, mais sensível, mais próxima da pulsação vital da natureza humana. Distinguir a forma – o que nos é apresentado –, das fórmulas, dos métodos e dos sistemas que vêm prontos e que oferecem procedimentos ou soluções que servem a todos, de maneira geral, indistinta. O formismo, como proposto por Maffesoli (1998, p. 87, grifo do autor), “[...] contenta-se em levantar problemas, fornecendo ‘condições de possibilidade’ para responder a eles caso a caso e não de maneira abstrata”. Eis como a dúvida, permitida pela razão ampliada, demonstra sua força no caminho do conhecimento. Dessa maneira, o que aproxima a teorização da racionalidade da forma, da descrição a esta tese é, justamente, o poder (a potência), as potencialidades de aproximação do real e do vivido proporcionados pela descrição, propriamente dita. No caso dos pacientes, e da relação entre médicos e pacientes, as narrativas. A aproximação do vivido pelo paciente, de suas dores, 53 de seus padecimentos e de suas necessidades através do que ele ou ela podem narrar de suas vidas associadas à capacidade do médico de ouvir (e de construir suas próprias) narrativas. Um “pensamento da forma” ou “raciovitalismo” (MAFFESOLI, 1998, p. 115) ou razão sensível, medicina humana, medicina narrativa (CHARON, 2004) - todos termos que aproximam a prática da clínica médica a uma ausculta mais direta ao que o paciente conta com suas histórias, suas palavras, seu silêncio, seu corpo. Aprender a ouvir anamneses mais descritivas e menos estruturadas. Mais interessada na narrativa, propriamente dita, na apresentação livre e direta do que o paciente (e seus familiares) pensa ser relevante para explicar o que sente, o que tem, o que teme e o que deseja em relação aos cuidados com sua saúde e suas doenças. Da mesma forma, médicos e médicas que possam expressar, também, com habilidades sensíveis e narrativas o que pensam, o que temem, o que desejam e o que esperam da relação com o paciente, seus corpos e suas mentes, nos encontros que sistematicamente terão durante a vida com doentes, doenças, alegrias e tristezas. Não podemos esquecer que a vida tem uma importante dimensão estética na qual temos de reconhecer os sentimentos, as emoções, os desejos, os temores, as crenças e as expectativas e que essa dimensão pode ser incluída na formação curricular, dos estudantes de medicina e dos jovens médicos em treinamento. Professores com sensibilidade estética formarão alunos com essas percepções. Médicos com habilidades narrativas praticarão uma ausculta mais honesta das queixas dos seus pacientes. Leitores e escritores de (boas) narrativas serão afetados por elas, pois reconhece-se aqui, nesta tese, a potência afetiva imanente às narrativas. Argumenta-se em favor de uma “estetização da existência”, de uma estetização da medicina, dentro de uma tendência da contemporaneidade, dentro de uma perspectiva mais humana, menos regrada ou científica. Ao lado dos ditames e das qualidades da razão prática e lógica, considerar a dimensão estética, a necessidade das considerações afetivas para apreender melhor a realidade que nos cerca. Maffesoli reflete durante a última década do século XX, “[...] um estilo de análise que esteja em congruência com o estilo, propriamente, de que está impregnada a sociedade neste fim de século” (MAFFESOLI, 1998, p. 180). Sim, trata-se de dialogar com o tempo em que vivemos. Como alerta Agamben (2009), o fato de pensar-se com ideias e conceitos que se localizam fora do tempo, buscadas em um passado longínquo ou projetadas para um futuro distante, não nos exime de vivermos em nosso próprio tempo. Agamben retorna ao conceito nietzschiano de Inatual. Nas suas “Considerações intempestivas”, Nietzsche afirma que há de se acertar contas com o seu tempo. A “cultura histórica” foi considerada por Nietzsche como algo vergonhoso, um “inconveniente e um 54 defeito” (NIETZSCHE, 2005). Para o filósofo alemão, como esclarece Agamben, pertencer a seu tempo é conseguir dissociar-se deste tempo; não coincidir com adequação perfeita ao seu tempo, ser inatual! Nas palavras de Agamben (2009, p. 59): “[...] exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo”. Deleuze e Guattari resgatam esses conceitos para teorizar sobre Acontecimento: E não é algo de semelhante que um pensador [...] tinha designado pelo nome Intempestivo ou Inatual: a névoa não-histórica que nada tem a ver com o eterno, o devir sem qual nada se faria na história, mas não se confunde com ela [...] Agir contra o passado, e assim sobre o presente, em favor (eu espero) de um porvir – mas o porvir não é um futuro da história, mesmo utópico, é o infinito Agora,, o Nûn que Platão já distinguia de todo presente, o Intensivo ou o Intempestivo, não um instante, mas um devir. Não é ainda o que Foucault chamava de Atual? (DELEUZE; GUATTARI, 2007, p. 144, grifos dos autores). Agamben (2009) discute sobre o que significa ser contemporâneo, afirmando que é não coincidir com seu tempo e não adequar-se às pretensões da cultura histórica do seu tempo. Permanecer em discronia para ser capaz de perceber o que é dado e apreender o novo. Entretanto, Agamben ressalva que não há como fugir do seu próprio tempo – e não se trata disso. Contemporaneidade é alcançar esta relação singular com seu próprio tempo. Outra consideração de Agamben impressionante por sua riqueza conceitual e poética é a de que o contemporâneo é aquele capaz de abstrair as luzes de seu tempo e enxergar na escuridão aquilo que poucos veem. A imagem utilizada para explicar esta propriedade do contemporâneo é a do céu estrelado dentro da noite escura. O que os olhos vêm são as estrelas. Luzes que viajando por muitos anos chegam até o presente. E a escuridão? O que esconde? Astros que estão a tal distância que suas luzes não nos alcançam, nunca! Assim, “[...] neutralizar as luzes que provêm da época para descobrir as suas trevas, o seu escuro especial, que não é, no entanto, separável daquelas luzes” (AGAMBEN, 2009, p. 63). Não se deixar cegar pelas luzes; “[ser] capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente”. Esse contemporâneo existe no tempo presente. Ele urge e tem a capacidade de transformar. Paradoxalmente, o contemporâneo está em um tempo fora do tempo. Nas palavras de Agamben (2009, p. 68), “[...] um ‘muito cedo’ que é, também, um ‘muito tarde’ de um ‘já’ que é, também, um ‘ainda não’”. Segundo Deleuze e Guattari (2007a), poderia ser algo que está colocado em um entretempo – intermezzo. A imagem trazida por Agamben é saborosa e muito didática. A moda. Em que tempo a moda se coloca? Não era moda e logo não será moda, mas neste ainda não e já foi, a moda instaura-se. 55 Cabe fazer referência a Steve Jobs (que, por ter mudado a forma de ser do mundo, aparece duas vezes nas páginas desta tese), o gênio milionário da Apple. “Sua regra básica de ação é não gastar milhões em pesquisa para saber o que os consumidores querem, pois o que conta é inovar radicalmente – tão radicalmente que o consumidor só vai descobrir que deseja o produto depois de conhecê-lo”. Interessante a moda! Agamben (2009) aponta que o tempo em que a moda está é na mesma medida “adiantado a si mesmo” e “também sempre atrasado”. Nessa contemporaneidade, nesse tempo fora do tempo, existe a possibilidade de reatualizar (do todo-aberto-possível-virtual, atualizar) momentos do passado. Mesmo trazer de volta o que já não tinha vida, o que não era mais evocado. Então, estamos em contato próximo com o arcaico (próximo da arché: origem)? “Mas a origem não está situada apenas num passado cronológico: ela é contemporânea ao devir histórico” (AGAMBEN, 2009, p. 69). Assim, o contemporâneo é estar em desacordo com a cronologia de seu tempo, fugir da tentação das luzes e buscar a potência da escuridão (do falso, como diria Deleuze (1985) sob inspiração de Nietzsche - Imagem -Tempo). Ser contemporâneo para encontrar algo, alguma coisa que urge e que se coloca no devir histórico. Não no passado, não no presente, nem no futuro. No devir. Aquilo que é contemporâneo está ali, neste tempo inatual e no escuro e não “cessa de operar” no ponto que “pulsa com maior força” que é o presente. “A chave do moderno está escondida no imemorial e no pré-histórico” (AGAMBEN, 2009, p. 70). Com essa sentença, Agamben deixa aquela sensação de eterno retorno no ar. Há algo que no presente não foi vivido e que retorna, atualizase, tem a potência de atualizar-se (é virtual, diria Deleuze). Nas palavras de Agamben: “A atenção dirigida a esse não-vivido é a vida do contemporâneo. E ser contemporâneo significa, nesse sentido, voltar a um presente em que jamais estivemos” (AGAMBEN, 2009, p. 72). Então, contemporâneo é aquele que, mesmo consciente de que vive o presente, se dissocia de seu próprio tempo, abstrai as luzes, enxerga na escuridão, visita as muitas origens e de lá vem com “a capacidade de responder às trevas do agora” (AGAMBEN, 2009, p. 72). E os tempos são de cansaço em relação às explicações e às soluções puramente racionais, lógicas e alheias ao sensível. Afinal, percebemos que a vida que vivemos possui dores e delícias, cores, odores, sabores, afetos potentes e tristes que extrapolam qualquer limite pensável pela razão! 56 1.4 UM OLHAR NA DOBRA: [MEDICINA] PROFUNDAMENTE PRIMITIVA ALTAMENTE SOFISTICADA E Kathryn Montgomery (1991) havia mostrado em seu primeiro livro - Doctor’s stories: the narrative structure of medical knowledge -, de que maneira as narrativas têm estado presentes na maneira de pensar dos médicos, especialmente de clínicos envolvidos com a educação médica, em enfermarias de grandes hospitais-escola, ensinando internos e supervisionando atividades dos residentes de clínica médica. Mais de uma década depois, a autora retoma a questão do raciocínio e do julgamento clínico no livro How doctors think, de 2006, teorizando o pensamento do clínico em suas bases filosóficas e práticas. É exatamente no mesmo contexto “geográfico” da enfermaria de clínica médica de Montgomery que a pesquisa desta tese foi realizada. Há de considerar-se que existem peculiaridades muito próprias à clínica médica que a diferencia do restante da prática médica, mas que, não obstante, são exatamente as que contribuem em termos de raciocínio e julgamento clínico para a ideia de medicina como a conhecemos na contemporaneidade. Enquanto o cirurgião é reconhecido por suas capacidades técnicas expressivas (e exclusivas), enquanto o superespecialista é identificado com um saber extremo sobre uma determinada (e restrita) área do conhecimento; o clínico é considerado o médico por excelência, aquele médico capaz de diagnosticar e tratar o maior número de diferentes condições patológicas. É o clínico o médico responsável pelo cuidado do paciente como um todo: diagnosticar e tratar suas doenças, compreender os fatores pessoais, familiares e sociais de suas condições, acompanhar o paciente durante seus períodos de sofrimento nos ambulatórios e internações hospitalares, comunicar boas e más notícias, estar presente no momento de perda, de dor, de morte. É, ainda, do médico clínico que se espera um raciocínio diagnóstico célere, incisivo, correto e eficaz tanto nas condições clínicas corriqueiras do ambulatório, quanto nos casos difíceis das enfermarias dos hospitais-escola. No Brasil, chamamos este médico de clínico geral ou internista e é esta figura de médico-professor que é ainda hoje responsável, na grande maioria das escolas de medicina, pela árdua (gratificante) tarefa de ensinar ao estudante de medicina e ao residente de clínica médica várias habilidades diferentes e interligadas, a ressaltar: habilidades de comunicar-se com o paciente (ouvir e ser ouvido), de representar dentro de si o que o paciente tenta expressar; traduzir essa representação em diferentes narrativas (registros nos prontuários, notas de internação e de alta hospitalar, evoluções ambulatoriais, cartas, casos e relatos clínicos), chegar a um diagnóstico correto, propor o tratamento adequado, acompanhar o desfecho do caso, 57 tolerar a incerteza, suportar limites e limitações, acostumar-se com o sucesso e a derrota frente às adversidades da existência. Sim, enquanto o aluno e o residente de medicina buscam nos cirurgiões e nos especialistas as habilidades técnicas que lhes serão tão preciosas no exercício da profissão, o professor de clínica médica tem a responsabilidade pedagógica de aliar também os conhecimentos teóricos (imensos, infinitos) com habilidades tão complexas e subjetivas quanto as citadas anteriormente. O desafio do ensino de tais habilidades é, em si, contraditório. Por um lado, parece impossível de ser definido, explicado, sistematizado; por outro, é realizado em cada enfermaria de clínica médica, de cada hospital-escola, diariamente, no mundo inteiro. Uma maneira de compreender essa difícil, paradoxal e encantadora tarefa de ensinar clínica médica aos estudantes e residentes de medicina é deter a observação sobre como é formado e como “funciona” o raciocínio, o julgamento clínico e a prática da clínica médica e como essas habilidades são passadas no dia-a-dia de clínicos experientes para jovens médicos em formação. O principal argumento de Montgomery (2006) é que o médico (e o professor de medicina) ignora o quanto de sua formação e da sua habilidade prática de diagnosticar e tratar pacientes advém de outra fonte que não a condição científica da medicina. Para a autora, há como que uma pesada insistência, uma quase obsessão, em manter a identificação da medicina como ciência, em uma tentativa de assegurar para os pacientes (e para os próprios médicos) uma certeza, uma segurança, que a vida prática não cansa de negar. Embora, como sempre afirmado, o caráter cientifico e biologicista da medicina seja inquestionável e tenha trazido avanços na clínica que até mesmo “[...] alterou o sentido de possibilidades humanas” (MONTGOMERY, 2006, p. 3), ainda assim, para Montgomery, é vital que se reafirme que a medicina não é uma ciência. O médico, especialmente o clínico, não pode escapar da incerteza, o que já, por princípio, o aparta da ciência propriamente dita. Como Maffesoli tão bem colocou, insistimos trazendo a definição de Lewis Thomas, novamente o paradoxo da medicina: “ao mesmo tempo altamente sofisticada e profundamente primitiva” (THOMAS, 1971, p. 1367). Filosoficamente, Montgomery busca em Aristóteles (2004), mais precisamente no livro VI da Ética a Nicômano, o conceito de fronese. Para Aristóteles, uma ciência do homem faz-se impossível, justamente pelas particularidades inerentes a cada indivíduo. O conhecimento dividir-se-ia então em três formas: o científico, responsável pela demonstração, dos pontos de partida até as convicções, tem a ver com a certeza, com o universal; a arte (τέχνη), por sua vez, trata do conhecimento de como fazer as coisas, explicitando a capacidade de produzir, utilizando “o reto raciocínio”; e, por último, a fronese, ou sabedoria prática que é, para 58 Aristóteles (1991, p. 127), o “[...] poder de deliberar bem sobre o que é bom e conveniente para ele [homem] [..] e aquelas coisas que contribuem para a vida boa em geral.” A sabedoria prática, ou fronese, então, trata sobre deliberação e, como insiste Aristóteles, não se pode deliberar sobre coisas que não são contingentes como os objetos da ciência, ou na arte “[...] porque o agir e o produzir são duas espécies diferentes de coisa” (ARISTÓTELES, 1991, p. 128). Dessa forma, a sabedoria prática, aquela que Montgomery atribui como central para a vida do médico não é nem ciência, nem arte. É “[...] uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir com respeito às coisas que são boas ou más para o homem.” (ARISTÓTELES, 1991, p. 127). Então, o raciocínio clínico, o julgamento clínico, a maneira de pensar do clínico não trata de ciência, nem de arte e sim de fronese! De sabedoria prática, de como decidir inúmeras vezes por dia, todos os dias, o que é melhor para determinado paciente, em um determinado lugar, em um certo momento, diante de uma situação específica. Se fosse ciência pura, exata, a clínica médica poderia fazer uso mais disseminado das evidências, dos algoritmos, dos guidelines. Aliás, essa tem sido uma tendência das últimas décadas na clínica médica, mas continua sendo ponto pacífico reiterado sempre em cada round da enfermaria de clínica médica de que nenhum guideline será capaz, nunca, de superar o julgamento clínico de um médico experiente diante de seu paciente, em uma situação clínica de difícil decisão. Por essa razão, insiste Montgomery (2006, p. 4), “[...] a educação médica é tanto moral quanto intelectual” Ao mesmo tempo em que treinamos os alunos e os residentes nas regras baseadas nas evidências e insistimos que sem conhecimento teórico não se chega a diagnóstico algum, o que caracteriza o cuidado dos pacientes, do diagnóstico ao tratamento, é a incerteza, o inconstante, a contingência e, portanto, a necessidade contínua de decidir, de deliberar o que é melhor para cada paciente, diante de cada situação específica: fronese. Independentemente dos avanços científicos e tecnológicos, a prática da clínica médica, depende, ainda, inteiramente do raciocínio clínico, da capacidade do médico em interpretar todas as informações pertinentes e acessíveis. “Não é nem uma ciência, nem uma habilidade prática (embora faça uso de ambas) mas a habilidade de deliberar como regras gerais – princípios científicos, guidelines clínicos – se aplicam a um paciente em particular.” (MONTGOMERY, 2006, p. 5). De certa forma, o caráter deliberativo, moral e decisório do julgamento clínico lembra a jurisprudência do direito. O médico combina certas habilidades particulares com o conhecimento coletivo referente a certas situações clínicas para com essa jurisprudência disponível, tomar decisões morais (idealmente) acertadas. 59 O pressuposto de que medicina é uma ciência e a insistência em manter esse caráter intocável vem, na análise de Montgomery, da necessidade de pacientes e da comunidade de assegurar-se com a menor margem de dúvida possível da infalibilidade do médico e da medicina como um todo. Necessidade esta que também é do próprio médico, uma vez que acreditando na profissão como ciência fica-lhe mais fácil controlar e responsabilizar decisões e juízos creditáveis a protocolos, regras e receitas corretas. Aliás, de um pressuposto também científico que pressupõe controle a partir do conhecimento! “Não temos controle. Nem é provável que o alcancemos”, o que na verdade temos é “uma ilusão de certeza” (MONTGOMERY, 2006, p. 22). Afirmando com certa acidez advinda da permissão de falar de dentro da profissão – como médica e educadora –, Rita Charon (2006, p. 30) escreve: “[...] a mente categorizadora do médico treinada para ser arrogante e temer o caos”. Difícil tarefa incutir a dúvida na formação dos jovens médicos. É certo que a dúvida e a incerteza fariam seus próprios caminhos dentro das vidas dos futuros médicos, não poderia ser diferente. No entanto, a escola, o hospital e a enfermaria de clínica médica são os primeiros (ou os mais marcantes) lugares onde a imprecisão da medicina faz-se aparente. É na enfermaria de clínica médica que a medicina como ciência desmorona. Nem ciência, nem arte, uma prática, uma lida, uma profissão humana repleta de dúvidas, de inconsistências, de idas e vindas, acertos e erros memoráveis que devem ser trazidos à tona para compor o repertório de afetos que, como vamos concluir, ajudam a compor a prática do futuro médico. Aliás, afirmação ouvida em palestra do professor Celmo Celeno Porto7, aqui citado: “Medicina nem arte, nem ciência, uma prática, uma profissão”. Outra asserção sobre o caráter da medicina que Montgomery ataca é a sua relação com a arte. Especialmente por conta do clichê muito usado ao se referir à profissão de que medicina é ciência e arte. Como já salientado, arte para os gregos tratava de produção, de colocar a mão na massa, de fabricação. Nos discursos da medicina-arte, como ressalta Montgomery (2006, p. 30-31), a arte da profissão médica é confundida com “[...] intuição, talento, sabedoria. [...] ‘arte’ se refere às habilidades relativamente subjetivas do exame clínico ou, mais precisamente, ao conhecimento tácito, os pressentimentos (hunches) que os médicos experientes demonstram sem exatamente saber como lhes ocorrem”. Se, curiosa e enfaticamente, esses sentimentos, intuições, pressentimentos, know-how não tratam de ciência, devem, portanto, ser arte, explica com perspicácia Montgomery! 7 Médico cardiologista. Foi Presidente Regional de Goiás da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Atualmente, é Professor Voluntário da Universidade Federal de Goiás. 60 Entretanto, o ponto mais importante a ser considerado quando se argumenta contra um caráter de ciência ou arte para a medicina é aqueles que as reconhecem colocam-nas em lados opostos da prática clínica. Ou seja, quanto mais de arte houver na medicina, menos científica será sua prática. Ou, para ser segura e confiável, correta e indubitável, a clínica deve abandonar seu caráter de “arte”. O problema é que, na observação de como os médicos constroem e ensinam raciocínio e julgamento clínico para seus alunos, a subjetividade está sempre presente, como será exposto a seguir. A questão, então, é reconhecer o caráter de conhecimento prático, de sabedoria clínica, com suas implicações morais e éticas do exercício da medicina. Nem arte, nem ciência, um pouco de cada: conhecimento científico, habilidades práticas e muito de fronese, eis o argumento de Kathryn Montgomery. Como relata a jovem médica, recém formada: Hoje, com 3 anos de formada, aprendi que não basta querer ser médico, tu tens que ter coragem e o coração forte! Tudo estava indo bem no plantão e todos sabemos que em um plantão, a tua única certeza, é a hora que tu sais... [...]. Tivemos uma cesariana de urgência de uma moça de 33 anos. Foi muito difícil a cirurgia da paciente, mas controlou-se o sangramento no transoperatório. Duas horas após, recomeçou a sangrar e logo chamamos suporte clínico e banco de sangue. Graças ao meu esforço, da minha colega e de grandes mestres, na minha ingenuidade, meu coração ficou calmo, só precisava de transporte. Liguei para a médica reguladora e, depois de cinco minutos - pouco para quem está estável -, mas não quando tu tens alguém entre a vida e morte. [...]. Na ambulância um bilhão de coisas passaram pela minha cabeça, às duas horas da manhã, de um sábado, naqueles longos 20 minutos. Peguei minha frequência no momento do transporte, estava 137. Ainda lembro bem dos olhos claros da paciente implorando por vida... [...]. Fui ver o bebê, muito emocionante esse reencontro... Então, como vocês podem ver, na minha história de vida, não é mais um bebê que colocamos no mundo, graças ao esforço de todos nós, ele vai poder ter uma mãe, assim como a irmã dele, e o marido, a esposa. Transparece nas reticências utilizadas a hesitação, o medo, a incerteza. A única certeza, no plantão, é a hora da saída. Jovem ainda, ela vai perceber mais tarde na vida que nem a hora de sair do plantão é certa. Quantos plantões já duraram muito mais do que o previsto? Conviver com a incerteza e, mesmo assim, ter de tomar decisões. Rápidas, certeiras, com consequências drásticas como a narrativa anterior ilustra tão bem. Transferir a paciente agora ou aguardar melhores condições de transporte? Transferir para um centro mais aparelhado ou realizar a histerectomia imediatamente? Retirar o útero da paciente ainda jovem ou aguardar as medidas conservadoras? Aguardar a autorização da família ou realizar o procedimento em caráter emergencial? Como explicar a situação para a própria paciente? Para o esposo que aguarda na 61 sala de espera? Para a família toda? Como decidir em uma fração de tempo? Tempo, aliás, que se mostra tão relativo nessa situação crítica. O que são cinco minutos para quem aguarda a resposta sobre a ambulância que levará a paciente para outro centro maior, seguindo uma decisão tomada por uma médica-menina? Nem ciência, nem arte. Sabedoria prática, prática profissional. Medicina uma profissão! Esta tese propõe aproximar a clínica médica de uma dimensão estética ampliadora. Não um retorno à arte da medicina, como alerta Montgomery, mas uma prática de medicina-arte, na medida em que arte seja entendida como a forma de pensar por meio de perceptos e afetos. Como explica Kleinman (1988), “[...] assim como os etnógrafos, os clínicos compartilham uma sensibilidade. Ambos acreditam na primazia da experiência. Eles são mais como poetas e pintores, fortemente afetados pelos detalhes da percepção” (KLEINMAN, 1988, p. 231). Conhecimento em medicina que é de mão dupla, não somente no seu caráter tecnológico e primitivo mas também no que concerne o caminho do particular ao universal. Ao mesmo tempo em que o médico deve aplicar regras generalizáveis para atender cada caso em particular, é do caso, do paciente individual, que parte o raciocínio, em busca de um diagnóstico específico que pode ser encontrado dentro de um compêndio existente de possíveis diagnósticos. Ciência diz respeito ao universal, ao replicável, ao generalizável. Clínica médica refere-se ao paciente, ao caso particular, à pessoa, ao encontro entre o médico e o paciente. O exemplo extremo trazido por Montgomery (2006) para ilustrar essa característica que distancia a clínica da ciência é o emblemático e terrível caso Tuskegee no qual centenas de negros pobres e analfabetos foram estudados, sem consentimento ou informação, para conhecer-se a história natural da sífilis. Durante quarenta anos, essa população ignorante do estado do Alabama, nos Estados Unidos, foi acompanhada por “médicos” que documentaram o aparecimento dos diversos estágios da doença, tendo – para horror da medicina – negado o uso de tratamento específico para essas pessoas, mesmo depois da descoberta e ampla utilização clínica da Penicilina. Esse acontecimento inesquecível da história da medicina provocou o aparecimento de uma nova área do conhecimento, conhecida atualmente como Bioética. Eram os médicos de Tuskegee clínicos? Praticavam medicina? Definitivamente não. Apesar de mesmo como cientistas sua conduta ser considerada antiética e desumana, o acontecimento passa longe de poder ser considerado uma prática clínica. Não houve fronese, não houve o uso do conhecimento científico aliado à experiência prática para tomar uma decisão moral do que seria melhor para o paciente, para a comunidade, para o médico e para a medicina. Nada do que possa ter sido aprendido nos quarenta anos do estudo de Tuskegee tem qualquer valor clínico, porque a prática 62 da clínica perpassa o cuidado com cada paciente em particular e do encontro deste com seu médico. De onde depreende-se um argumento muitas vezes repetido na enfermaria de clínica médica e trazido por um dos professores, quando questionado sobre máximas que ouviu de seus professores e repete para seus alunos e residentes em incontáveis oportunidades: O melhor médico para o seu paciente é você. Eu sempre digo, com convicção para os meus pacientes: - Eu sou a melhor médica para você. A melhor médica do mundo, para você! Os meus alunos e residentes me olham surpresos pela aparente falta de modéstia e eu sigo: - Certamente existem médicos mais experientes, com maiores conhecimentos e recursos em São Paulo, no Einstein, nos Estados Unidos, em Boston. Mas, aqui, para a D. Maria que sofre, eu sou a melhor médica. Sou eu que estou aqui com ela, que me preocupo com sua condição, que não medirei esforços para aliviar seu sofrimento, para chegar a um diagnóstico preciso e tratála. Fiquem seguros, não há no mundo, melhor médico do que você para atender o seu paciente. Haveria melhor médico em algum lugar do mundo, algum médico mais experiente ou com maior conhecimento que substituísse o doutor Sassal na seguinte narrativa? 63 Um deles gritou tentando chamar sua atenção, mas era tarde. As folhas lhe derrubaram quase delicadamente. Os galhos mais finos lhe prenderam. E, então, a árvore e morro inteiro lhe esmagaram. Um homem resfolegante veio dizer que um lenhador estava preso debaixo de uma árvore. O médico pediu a sua auxiliar que descobrisse exatamente o local do acidente: então, de repente, tomou o telefone, interrompendo-a e falou ele mesmo. Ele tinha que saber exatamente onde. Qual era o portão mais perto, qual a clareira mais próxima? Em qual campo? Ele iria precisar de uma maca. A sua própria maca havia ficado no hospital no dia anterior. Ele orientou a auxiliar a chamar uma ambulância e recomendar que esta esperasse perto da ponte que era o local mais próximo da estrada. Em casa, na garagem, havia uma porta velha. Plasma da geladeira, porta da garagem. Enquanto ele dirigia pelas estradinhas, ele mantinha o dedo na buzina o tempo todo, em parte para alertar os carros que vinham em direção contrária, em parte para que o homem preso embaixo da árvore pudesse ouvi-lo e soubesse que o médico estava a caminho. Depois de cinco minutos, ele saiu da estrada e subiu o morro, dentro da neblina. Como frequentemente acontece, lá para cima do rio, havia uma névoa branca, uma neblina que parecia negar qualquer peso ou solidez. Ele teve de parar duas vezes para abrir porteiras. O terceiro portão estava entreaberto e ele passou sem diminuir a marcha. O portão voltou e bateu na traseira do Land Rover. Algumas ovelhas, assustadas, apareceram e logo sumiram na neblina. O tempo todo ele mantinha o dedo na buzina para que o lenhador ouvisse. Depois de mais uma clareira ele viu uma figura acenando por detrás da neblina – como se estivesse tentando limpar um enorme para-brisas. Quando o médico alcançou-o ele disse: “Ele está gritando sem parar. Ele está num sofrimento terrível, doutor”. O homem contaria aquela história muitas vezes, e a primeira vez seria naquela noite, no vilarejo. Mas, ainda não era uma história. A chegada do médico trouxe um final muito mais precoce, mas o acidente ainda não havia terminado: o homem ferido estava ainda gritando para os dois outros trabalhadores que faziam cunhas e alavancas para levantar a árvore. “Jesus me ajude”. Quando ele disse “me ajude” o médico estava ao seu lado. O homem ferido reconheceu o médico e seus olhos focaram. Para ele também o final da história estava mais próximo e isto lhe deu coragem para aquietar-se. De repente, se fez silêncio. Os homens pararam de bater mas mantiveram-se ajoelhados no chão. Eles permaneciam ajoelhados e olhavam para o médico. As mãos do médico sentem-se em casa sobre um corpo. Mesmo estas feridas novas que não existiam há vinte minutos eram familiares a ele. Dentro de segundos, estando ao lado do homem, ele injetou morfina. Os três homens que contemplavam a cena sentiram-se aliviados pela presença do médico. Agora a própria assertividade do médico lhes fez parecer que ele era parte do acidente: quase como um cúmplice. [...] “Ele perdeu a perna”, disse um dos homens, “Ele perdeu a perna”. “Não, ele não vai perder a perna”, disse o médico. (BERGER; MOHR, 1967). 3 3 Em inglês, no original. Tradução nossa. 64 O melhor médico no mundo não poderia substituir o Dr. Sassal naquele dia, na floresta. A melhor médica do mundo para a minha paciente sou eu, uma boa lição narrativa, uma boa mensagem afetiva. O que fica subestimado quando se teoriza a medicina como arte ou ciência é exatamente o que transparece na narrativa anterior, o seu caráter de prática, de profissão, de trabalho. É certo que essa profissão requer um casamento ideal entre um vasto repertório de conhecimentos teóricos e habilidades técnicas precisas. Entretanto, há algo mais aí que Montgomery insiste em chamar de julgamento clínico e que se teoriza aqui, passa pelo desenvolvimento de habilidades afetivas, de deixar afetar-se pelos conhecimentos e pelas habilidades necessárias e afetar outros por essa nova habilidade conquistada. Julgamento, juízo, decisão e raciocínio clínico é o que praticamos todos os dias nas enfermarias do hospital e nos ambulatórios da comunidade. É o que ensinamos para nossos alunos e residentes na clínica médica. Uma colega define assim a tarefa de ensinar o residente a atender no ambulatório de clínica médica: Trata-se de ensiná-los como pôr o paciente para dentro do consultório e depois como fazê-lo sair. Tão simples quanto isso. O médico residente quando chega nos primeiros dias para o ambulatório não sabe como conduzir uma consulta. Como deixar o paciente entrar e levar a consulta a uma conclusão satisfatória. Nossa tarefa é simples, mostrar como se faz: Chega-se na porta, cumprimenta-se o paciente, dirige-se um gesto para que ele se sente confortavelmente em frente a nossa mesa, ouve-se o paciente, compreendem-se suas queixas, examina-se sistematicamente cada paciente. O tempo todo, todo o tempo pensando em um diagnóstico, em uma explicação para aquilo tudo. De forma que em 15 ou 20 minutos se possa ter definido o que fazer. Quais exames pedir, se é que eles se fazem necessários, o que prescrever, recomendar, marcar o retorno. Se fazer próximo, ocupado com o problema do paciente. Disponível. Feito isso, fica fácil conduzi-lo até a porta, desejando melhoras e um bom dia. Simples. Hora de chamar o próximo paciente e ver nos olhos do residente aquela surpresa, aquele brilhozinho no olhar que diz: - Hmmmm, nem é tão difícil assim! Uma das características importantes, do ponto de vista linguístico, no estudo das narrativas, é sua relação com o tempo. É importante notar o que foi estudado amplamente pelos estruturalistas (ABBOT, 2008; BARTHES, 2011). Sobre a narrativa como um fenômeno constituinte de nossa humanidade ou algo aprendido culturalmente, a questão que se coloca é: Para que servem as narrativas? O que elas fazem por nós? Para Abbot (2008, p. 3), a melhor resposta seria: “[...] narrativa é a melhor maneira em que nossa espécie organiza sua compreensão sobre o tempo”. O argumento é de que, se somos a única espécie viva consciente 65 da passagem do tempo e capazes de linguagem, as narrativas serviriam como um mecanismo para expressão dessa consciência. De maneira inversa aos mecanismos de registro temporais, tais como os relógios ou as fases da lua que colocam os acontecimentos dentro de intervalos regulares de tempo, as narrativas permitem que os eventos, os acontecimentos em si próprios deem conta do registro do tempo. Como afirma Ricoeur (2010, 27), “[...] o tempo se torna humano quando organizado de forma narrativa; por sua vez, a narrativa somente tem sentido porque retrata a existência temporal”. Então, segundo Ricoeur (2010), o tempo humano é o tempo narrado. Os gregos já reconheciam diversos conceitos de tempo. Kronos, como o pai que devora todos seus filhos, representa o tempo contado no relógio, imparcial e implacável, marcando a passagem do tempo em relação a espaços percorridos. Dessa forma, o tempo será sempre objeto de paradoxos insolúveis como já reconheciam os pré-socráticos nas suas argumentações em relação ao tema. Se o tempo corresponde a divisões ou a intervalos demarcados no espaço, então Aquiles, por mais rápido que corra, nunca alcançará a tartaruga que, ao ter dado largada segundos na frente do herói, sempre terá já saído do lugar quando Aquiles alcançar aquele ponto no tempo/espaço. O segundo termo utilizado pelos gregos para referirem-se ao tempo é Aion - tempo intensivo, o tempo de duração variável que se modifica caso estejamos padecendo de saudades (uma eternidade até a volta do ser amado) ou curtindo uma paixão desenfreada (horas que se transformam em segundos nos braços dos amantes). Por último, os gregos utilizam-se do termo Kayros para conceituar o tempo da oportunidade, fugidio e fugaz, como nas palavras de Hipócrates em relação à prática médica: a arte é longa, a vida curta, o julgamento difícil e a ocasião fugidia (kayros). Todos esses conceitos são tão caros à humanidade e tão importantes na prática da medicina. Contudo, de volta a Ricoeur e às narrativas, o tempo só será humano quando narrado, ou dito de outra forma, a narrativa que torna acessível a experiência humana do tempo: tempo enquadrado pelos acontecimentos em uma sequência que dá significado ao acontecimento narrado. Tempo cronológico refere-se a intervalos regulares, a frações e a números. Tempo narrativo refere-se a incidentes, a acontecimentos, a eventos. O romance constituiria, para Ricoeur (2010, 137), “[...] o grande laboratório no qual o homem experimenta relações possíveis com o tempo”. Quantos acontecimentos podem caber em um dado intervalo de tempo? Quantos pensamentos, encadeamentos de ideias, invenções ou afetos cabem em uma hora, em um dia, em um segundo? A literatura traz bons exemplos dessas características do tempo narrado. Ricouer (2010) debruçou-se sobre três obras literárias para teorizar sobre o tempo e a narrativa: 66 A montanha mágica, de Thomas Mann; Em Busca do tempo perdido, de Proust; e Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Esses três clássicos da Literatura têm relevância para a formação de jovens médicos. Os dois primeiros tratam-se de obras grandiosas, grandes em tamanho e difíceis de serem acomodadas em um currículo básico de literatura e medicina para alunos da graduação ou médicos residentes. Conforme teorizado nesta tese, preferiu-se a leitura de textos mais curtos, contos e novelas para serem apresentados aos médicos residentes, como será exposto na parte seguinte do texto. O tempo narrativo é fluido, ou seja, em algumas sentenças pode-se saltar grandes espaços de tempo. Ou, por outro lado, um intervalo pequeno de tempo pode abrigar enormes quantidades (ou intensidades) de acontecimentos. Os acontecimentos modulam o tempo. Um exemplo literário de tal característica do tempo narrativo é a novela contemporânea de Ian McEwan8 que, certamente, interessaria aos alunos de medicina por contar um dia da vida do neurocirurgião Henry Perowne, vivendo em Londres no ano de 2003. Submetido às pressões e aos desafios do mundo ao seu redor, a personagem descreve nas cerca de 200 páginas da novela as vidas, os sentimentos, as ideias, as apreensões, os sonhos, os medos e as conquistas de si próprio, de sua família, de seus conterrâneos, de toda uma nação, de todos nós. Da mesma forma como Virginia Woolf (2012) acompanha os passos de Clarissa pelas ruas de Westminster desde a manhã em que ela resolveu comprar as flores para o jantar, descrevendo os sentimentos e narrando as existências dos personagens com quem ela se encontra no caminho; McEwan discorre com cada um de seus personagens as angústias e as alegrias de se reconhecer humano. Esse controle humano sobre o tempo pode ser, conforme afirma Abbot (2008), o encantamento do leitor quanto ao desafio do autor que com um certo sentimento de onipotência é capaz de dobrar ou desdobrar o tempo que passa a ser relativo aos acontecimentos narrados. Assim, essa relação do texto com o tempo, constitui uma das características formais das narrativas que podem ser apreciadas, analisadas ou simplesmente percebidas nas histórias presentes nas páginas desta tese. 8 MCEWAN, I. Saturday. London: Vintage, 2006. 67 II NARRATIVAS E MEDICINA Penso no que faço, com fé. Faço o que devo fazer, com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Cora Coralina Como as narrativas participam da construção desta habilidade tão específica da clínica médica? Onde as narrativas aparecem no dia-a-dia da prática da clínica médica? Este capítulo traz, entre outras, as observações feitas por uma intelectual das línguas, da literatura, da linguística, observando de dentro, de perto a enfermaria de clínica médica de um hospitalescola, uma enfermaria dedicada a cuidados terciários9, clínica médica de ponta – como costumamos dizer. Onde tudo acontece: casos simples, casos raros, casos escabrosos. O lugar ideal para ensinar-se clínica médica, para aprender a ser clínico. A fazer diagnósticos várias vezes por dia, a tomar decisões acertadas, a julgar casos, deliberar condutas, atender pacientes. A habilidade prática - a sabedoria prática, o conhecimento prático, a fronese de Aristóteles – traz em si muito de narrativa, desde sempre, ainda hoje. Lá em Rochester 10, aqui na nossa enfermaria. 2.1 FAZER USO DA LINGUAGEM E DE SUAS FIGURAS O que pode haver de menos previsível do que o homem que adoece e procura o médico? O que pode ser menos programado e menos ordenado do que um paciente que narra ao seu médico algo que ele não compreende, algo que ele terminantemente não quer que esteja acontecendo? O homem que adoece e procura auxílio médico não quer estar doente, não sabe, exatamente, o que há de errado consigo (ao menos, na maioria das vezes). Contudo, sabe que padece, que algo acontece dentro de si, seja no corpo, seja na mente e de uma forma muito pouco ordenada, tenta descrever para o médico que lhe ouve, o que está acontecendo. “Nomear 9 Os serviços de saúde dividem-se em setores diferentes, hierarquicamente cuidando de condições mais complexas, que exigem cada vez mais acesso à tecnologia, às especialidades, a procedimentos de maior complexidade. Assim, o setor primário ocupa-se da promoção da saúde, por exemplo, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O setor secundário comporta hospitais de baixa complexidade, pronto-atendimentos, pequenas cirurgias. Os cuidados terciários dão-se nos hospitais de referência que contam com equipes especializadas, recursos diagnósticos, tecnologia, procedimentos de alta complexidade. 10 Onde fica a Clínica Mayo, nos Estados Unidos, um dos melhores centros de Medicina do mundo. 68 exatamente é uma capacidade que exige uma grande imaginação e o uso de uma engenhosa intuição” (MAFFESOLI, 1998, p. 157). Diríamos mais, nomear exatamente o que se sente, sem saber do que se trata, com medo de que possa representar o fim da vida saudável (que nem foi ainda usufruída) requer, além da imaginação, uma coragem extrema - aliada à intuição e o que ela carrega de sentimentos, emoção e afeto. Ao médico, que é o interlocutor desse instante tão significativo da vida do outro, cabe abrir suas portas de intuição, demonstrar sensibilidade, apreciar o que há de trágico e de potente em tudo que o paciente puder lhe expressar. Assim, fica clara a potencialidade de utilizarem-se metáforas na tentativa de compreender os fenômenos humanos. O paciente expressa-se pela linguagem, sendo a metáfora uma figura inerente à linguagem. É por meio da metáfora que podemos dizer isto ou aquilo sobre as coisas; que utilizamos de sentimentos para associar diferenças possíveis entre as palavras. Não que a metáfora explique o que se diz, não. A ferramenta metafórica produz significado ao que é dito, furtando-se da necessidade de explicação. É isso, metáfora como ferramenta de significado e não como arsenal de interpretação, “[...] uma maneira de dizer que não enclausura aquilo que entende descrever” (MAFFESOLI, 1998, p. 148). Se o que o paciente precisa contar desesperadamente não pode ser dito de maneira clara, objetiva, racional – ou porque o paciente não compreende com clareza o que lhe acontece, ou porque terminantemente não quer que algo lhe esteja sucedendo –, a narrativa conterá, inevitavelmente, metáforas, comparações, analogias. Maffesoli (1998) busca em Gabriel Tarde a inspiração conceitual que associa as analogias (e as metáforas) ao pensamento intuitivo. Um método que se utiliza da metáfora para compreender o que se passa com os indivíduos e seus grupos sociais. Um pensamento intuitivo que dá valor intelectual e científico ao que é dito, da maneira como pode ser expresso, preocupando-se em ouvir, em dar atenção às comparações e às associações que podem ser feitas como expressão do que deve ser compreendido. Quando, nós médicos, durante nossas formações, fomos estimulados a ouvir (anotar, considerar) a metáfora incluída nas narrativas de nossos pacientes? Susan Sontag (2007) escreveu um texto muito vigoroso no qual discorre sobre as metáforas que usamos – todos: médicos e pacientes – quando nos referimos a doenças tão graves e impactantes como sífilis, tuberculose, câncer e AIDS. Sim, há um valor muito importante na consideração das metáforas como apresentação (forma) do que os pacientes tentam nos dizer nos ambulatórios e nas enfermarias de clínica médica. Dar valor às metáforas escolhidas pelos pacientes quando nos contam seus padecimentos, temores e expectativas, é aproximar a clínica médica (ciência) de sua dimensão 69 estética e entrar em sintonia com o proposto por Nietzsche, transformando a vida em uma obra de arte. Partindo do princípio de que a vida é trágica e que a doença faz parte da vida, então não há nada de errado com as doenças e os doentes. Para poder olhar para a vida comportando o seu elemento de tragicidade, resta-nos considerar a dimensão estética da existência. Ouvir as vozes vivas de nossos pacientes tentando narrar aquilo que podem, lançando mão das analogias possíveis no processo de colocar para o outro aquilo que se passa em algum lugar recôndito de seus corpos ou mentes. Uma abordagem alternativa às entrevistas em clínica médica que possa, de forma enfática e bondosa, honrar as histórias de nossos pacientes. Para tanto há, nas palavras de Maffesoli, uma lição a ser aprendida com método de julgamento de uma obra pictórica: [...] a necessidade do olhar novo, que não se embarace em idéias preconcebidas ou preconceitos normativos, um processo de análise que vem “de baixo”, que se apóia na empiria e progride, “passo a passo”, a partir de induções, e, por fim, a utilização de metáforas, que, como peças de um quebra-cabeça, se ajustem, por vezes com dificuldade, até constituir, in fine, uma figura significante (MAFFESOLI, 1998, p. 150-151, grifos do autor). Assim, como quem busca compreender uma obra de arte, nós médicos (e os pesquisadores sociais) buscamos compreender o que se passa com nossos pacientes. Não com sentidos pré-estabelecidos, mas sim pela significação possível do encontro estabelecido na consulta, entre o paciente-obra-de-arte e o médico-ouvinte-vidente-privilegiado. Valorizar a medicina como obra de arte, o paciente [e o médico] como obra de arte, a vida como obra de arte. A disciplina tradicional do currículo de graduação de medicina que trata da relação médico-paciente é a Semiologia Médica, também conhecida como Propedêutica Médica ou Disciplina da Relação Médico-Paciente. Carinhosamente chamada por todos de Semio, no Brasil, é sinônimo de Celmo Porto. Se houvesse uma entrada no dicionário de educação médica para definir Semiologia Médica no Brasil, constaria Porto (em referência ao livro texto Semiologia Médica) ou Portinho (para se referir à edição reduzida chamada Exame Clínico: Bases para a Prática Médica). Não seria exagero considerar o Professor Celmo Porto como o pai da Semiologia brasileira. Por meio dos seus livros, de suas palestras e de suas conferências e, sobretudo, pelos seus anos dedicados à prática e ao ensino de Clínica Médica, seus conceitos e ensinamentos perpassam gerações de médicos brasileiros que, tradicionalmente, aprenderam o método de exame clínico por intermédio de suas lições. 70 Na introdução e nos prefácios de seu livro Exame Clínico (PORTO, 2008), o professor Porto brinda-nos com o resgate da Medicina Arte teorizando que o ensino (e a prática) do exame clínico é “[...] o elo entre a ciência (médica) e a arte (médica), o que poderia ser sintetizado na Expressão ‘Arte Clínica’” (PORTO, 2008, prefácios). O professor Celmo Porto traduz essa necessária conjunção de ciência e arte para a prática da clínica médica em uma equação que resume bem a importância que o autor dá à relação médico-paciente. Assim: Figura 1- Equação da Arte Clínica AC = E [MBE + (MBV)2] Lê-se que a Arte Clínica (AC) é o resultado de uma equação que multiplica Ética (E) à soma da Medicina Baseada em Evidências (MBE) com o quadrado do que há de Medicina Baseada em Vivências (MBV). Fonte: Elaborada pela autora com base em Porto (2008). Eis o professor de tantos anos, de tanta vivência própria, de tantos encontros intuindo que o método tradicional de ouvir as histórias dos pacientes e de realizar o exame físico tem de, obrigatoriamente, dar peso dobrado ao encontro em si. Elevar ao quadrado a narrativa singular do paciente (àquilo que é captado pelo ouvido atento do médico) para somar-se às evidências científicas da medicina contemporânea e assim elevar as escolhas éticas a um patamar de Arte! É emocionante compreender que o professor Porto antecipou os tempos pós-modernos, vivendo em pleno tempo de Modernidade. Como vamos voltar a ressaltar no próximo capítulo, encontramos nas páginas de seus livros didáticos de Semiologia ensinamentos e direções que vislumbraram os pressupostos teóricos que estamos apreendendo nesta tese. No conceito de MBV, está a ênfase ao encontro singular entre médico e paciente, “[...] um com o outro (eu-tu). Tudo isso está no âmago de um exame clínico bem feito, única oportunidade para colocar em prática qualidades como integridade, respeito e compaixão pelo paciente, em sua singularidade e individualidade” (PORTO, 2008, prefácio da sexta edição). Integridade, respeito e compaixão pelo paciente, afetos humanos! Justamente o que teorizamos conseguir por meio da Medicina Narrativa e com o elogio à razão sensível. Humanizar a Medicina: existe paradoxo maior que esse? Humanizar a vida. Humanizar a existência humana. Somos seres muito paradoxais, mesmo. Pois, onde, quando e como desvalorizamos a humanidade em nossas vidas de médicos? 71 Na modernidade o que prevaleceu em termos de estudo da linguagem foi o estruturalismo, a análise da estrutura e as normas de decifração dos textos. Assim, a entrevista médica, os prontuários e o discurso de todos nós, médicos e pacientes, foram sendo construídos dentro de uma lógica também estruturada. Agora, buscamos deixar o paciente-texto falar, sem amarras, analisando o que está aí, no próprio texto-narrativa, nada a ser construído, mas algo dado, vivido, móvel, vivente e cambiante. 2.1.1 Metáforas Os sintomas da doença nada mais são do que uma disfarçada manifestação do poder do amor; toda doença é uma paixão transformada. (MANN, 2000, p. 177). O termo metáfora foi conceituado já por Aristóteles (1991, p. 273): “A metáfora consiste no transportar para uma coisa o nome de outra, ou do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou da espécie de uma para a espécie de outra, ou por analogia”. É a figura de linguagem que substitui um termo por outro por conta de uma suposta analogia entre ambos. Um dos principais textos contemporâneos a respeito das metáforas na clínica médica foi escrito em duas partes pela intelectual norte-americana Susan Sontag (1991). Separadas por uma década, a primeira parte trata das diferentes metáforas utilizadas por médicos, por pacientes e pela literatura para duas aflitivas situações clínicas: câncer e tuberculose. A segunda parte é dedicada às metáforas escolhidas para acompanhar a nova doença recém vislumbrada pela medicina: AIDS. O argumento principal de Sontag é que as doenças não são metáforas e que o uso impensado dessa figura de linguagem pode trazer em si mais sofrimento, ou sofrimentos desnecessários, para a pessoa que está diante do desafio existencial imposto pela doença, seja câncer, tuberculose ou AIDS. Para Susan Sontag, encarar as doenças como elas são, diretamente, “[...] de uma forma mais pura, mais resistente ao pensamento metafórico” seria uma forma mais “saudável” de lidar com a doença (SONTAG, 1991, p. 3). Apesar disso, a própria autora admite que “[...] nós não podemos pensar sem metáforas” (SONTAG, 1991, p. 91) o que, ironicamente, explica o parágrafo de abertura de seu primeiro ensaio: 72 A DOENÇA é o lado sombrio da vida, uma espécie de cidadania mais onerosa. Todas as pessoas vivas têm dupla cidadania, uma no reino da saúde e outra no reino da doença. Embora todos prefiram usar somente o bom passaporte, mais cedo ou mais tarde cada um de nós será obrigado, pelo menos por um curto período, a identificar-se como cidadão do outro país. (SONTAG, 1991, p. 3). Sontag (1991) discorre como metáforas utilizadas social e historicamente, repetidas na literatura e utilizadas por médicos para seus pacientes fragilizados detêm o poder de estigmatizar ou piorar a situação delicada em que o paciente encontra-se. Por exemplo, as metáforas bélicas tão utilizadas para significar câncer, tanto do ponto de vista causal quanto terapêutico: guerra contra o câncer, quimioterapia como arma poderosa para combater inimigo violento; inimigos, invasores, batalhões e seus canhões. Ela lembra como as metáforas construíram, histórica e literariamente, o estigma de leveza, de poesia, de paixão e de romantismo para as vítimas da tuberculose – consumption – (SONTAG, 1991, p. 31), enquanto, no extremo contrário, doentes portadores de hanseníase – aliás agentes etiológicos muito parecidos –, carregam até hoje o estigma de pestilência, ojeriza, repulsão, muito, argumenta Sontag, por conta das metáforas utilizadas para representar as doenças. A metáfora do poeta tuberculoso, a face de Keats jovem, apaixonado, consumido pela doença, tossindo e escarrando sangue e... compondo versos tão lindos! As metáforas da Tuberculose construíram ideias de inspiração, de criatividade. Metáforas que criaram o mito da boemia, inventaram a premência de viajar a lugares longínquos e exóticos (SONTAG, 1991). O que bem demonstra o poder de tais metáforas. O lado ruim do uso de metáforas na clínica médica é trazido por Sontag quando ela demonstra o caráter “punitivo” que algumas metáforas carregam quando buscam explicações psicológicas ou outras transcendentais para explicar a causalidade de doenças graves como o câncer (SONTAG, 1991). Já não basta para o doente ter câncer, ainda precisa carregar consigo a culpa. Com o aparecimento da AIDS, a partir da década de 1980, as metáforas já existentes para a sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis, ao lado de valores sociais e morais vigentes, ajudaram a criar o estigma que persegue os portadores do vírus da imunodeficiência e os doentes de AIDS. “Praga é a principal metáfora pela qual a epidemia de AIDS é conhecida” (SONTAG, 1991, p. 130) e traz em si o caráter de ser infligido a alguém como forma de 73 punição. Muito do sofrimento desses pacientes advém do julgamento moral que acompanha a criação e a afirmação das metáforas aplicadas. Como afirma Sontag, “[...] nada é mais punitivo do que dar um sentido à doença” (SONTAG, 1991, p. 59). Contraditoriamente, Broyard (1992, p. 20) – o paciente – afirma: “[...] contar uma estória parece ser uma reação natural à doença. As pessoas sangram estórias, e eu me tornei um banco de sangue cheio delas”. “Talvez”, insiste Broyard (1992, p. 18), “[...] somente as metáforas possam expressar a perplexidade, o pânico combinado com beatitude, da pessoa ameaçada”. Não pensamos sem usar metáforas, não podemos pensar sem usar metáforas, especialmente quando doentes, como alerta Broyard (1992, p. 18). Para ele, existem sim as metáforas ruins, talvez como as apontadas por Sontag, mas existem as “aspirinas literárias” como Anatole Broyard literariamente refere-se às metáforas às quais pacientes agarram-se para enfrentar suas doenças e seus maiores temores. O paciente tetraplégico sente-se como... Depois do acidente em 2009 no dia 23 de junho eu passei aí pra condição de tetraplegia, né, e eu acabei que fiquei dependente de todo mundo, né, o que não é nada bom. Mas, por outro lado, algumas coisas também aconteceram como a família estar mais próxima, todas as pessoas estarem mais atentas e tal. A gente se sente um pouco, um pouco peso, um pouco pedra no meio do caminho, mas, enfim, o que não mata deixa a gente mais forte, né? Uma pedra no meio do caminho, uma metáfora, uma metáfora importante, poderosa, poética: 74 No meio do caminho No meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade (2005). Talvez o par Sontag-Broyard e narrativa-do-paciente-poesia-do-Drummond tragam em si a dupla potência da metáfora. O fato é que, como reconhecido por Sontag e Broyard, não há pensamento sem metáfora, como expressa DeBaggio (2002) diante da impotência e da inexorabilidade de uma doença como Mal de Alzheimer: A combinação de remédios e vitaminas é tudo o que a ciência médica pode fazer por mim quase 100 anos após a descrição científica da doença. Me parece uma armada fraca para defender contra estes destroyers vorazes por memória que trabalham em meu cérebro. (DEBAGGIO 2002, p. 9). O argumento que se quer fazer incisivo é que se deve estar atento ao uso das metáforas na clínica. Não usá-las sem pensar. Não permitir que metáforas construam mitos punitivos, preconceitos e estigmas que causam, talvez, mais dor ao paciente do que sua própria condição clínica. Como resume Frank (1995, p. 136): “Metáforas podem ser meios poderosos de levar à 75 cura. Mas, metáforas generalizadas, oferecidas como modelos de estórias para as narrativas de outras pessoas, são perigosas”. Reconhecer nas narrativas a presença das metáforas, tanto nas dos próprios médicos, especialmente nas decorrentes do encontro com o paciente. Ensinar aos alunos e aos médicos residentes o poder da metáfora e a potência da narrativa parece ser a lição alcançada por essa teorização. Como afirma Sontag (1991, p. 99), citando Nietzsche11, “[...] o [meu] objetivo era evitar sofrimento desnecessário [...] acalmar a imaginação”. “Considerar câncer como se fosse apenas uma doença – uma doença muito grave, mas somente uma doença. Não uma maldição, não uma punição, não um constrangimento. Sem significado” (SONTAG, 1991, p. 100). Já fazendo uso de uma metáfora quando extrapolamos os conceitos da Sociologia para a relação médico-paciente e para a clínica médica, concordamos com Maffesoli quando este reconhece nessa figura de linguagem a potencialidade de “[...] perceber o aspecto matizado de um mundo marginal cujos desdobramentos ainda são imprevisíveis” (MAFFESOLI, 1998, p. 147). 2.1.2 Anedotas na clínica médica: Horas de voo, horas de bunda, horas de bar Anedota pode ser definida a partir de duas de suas características, ambas de extrema relevância para a medicina narrativa. Primeiro, anedota considerada como o caso isolado, não generalizável, sem valor estatístico, não representativo: caso anedótico. Aquele que mesmo sem valor científico fica grudado na memória, pronto para ser utilizado na resolução de problemas clínicos futuros. Segundo, como caso engraçado, como piada. Ambos significados carregando em si um valor ético, uma potência clínica, uma sabedoria prática. O caso anedótico – aquele sem valor epidemiológico, racional ou científico –, nunca é deixado de fora, nunca, em uma boa discussão clínica. Sempre, em um determinado momento da reunião clínica, um professor experiente vai levantar e dizer: “Na minha experiência”, ou “Eu vi um caso, uma vez”; ou ainda: “Isso me lembra aquele paciente que...”. Mesmo em artigos “super científicos” ou em conferências formais, médicos lançam mão de suas anedotas particulares, observações pessoais e clínicas que dão sentido e peso ao que estão relatando, ensinando, teorizando (LEES; HARDY; REVESZ, 2009). “As idéias sobre a doença - Tranqüilizar a imaginação do doente para que não tenha mais que sofrer com idéias que tem de sua doença, mais que com a própria doença — acho que já é alguma coisa! E não é mesmo pouco! Compreendem agora nossa tarefa?” (NIETZSCHE, 1986, p. 62). 11 76 Como ressalta Montgomery (1991), casos esperados, resultados invariáveis e números estatísticos não se prestam às narrativas, muito menos às anedotas. Como relata a professora de clínica médica: Uma situação que eu vivi de muito perto me vem à mente quando penso em casos anedóticos. Primeiro, os primeiros casos de AIDS. Na década de 80, durante a residência em clínica médica, começamos a ler e a ouvir relatos de casos inusitados, bizarros que pareciam justificar o aparecimento de uma nova doença. Demoramos para perceber que esses casos estavam ocorrendo entre nós, no nosso hospital, na enfermaria de clínica médica. Simplesmente não fazíamos o diagnóstico de AIDS porque desconhecíamos essa entidade. Paciente jovens com tumores de pele nunca antes vistos – logo aprendemos que se tratava de Sarcoma de Kaposi, apresentando sinais e sintomas estranhos. Uma doença consuntiva, muitas vezes acompanhada de encefalopatia grave, perde de peso importante, diarreia, mau estado geral e, invariavelmente, óbito. Não sabíamos bem o que fazer. Aguardávamos, impacientes, publicações que esclarecessem a fisiopatologia, a causa, possíveis tratamentos. Engraçado lembrar, como, em 1987 ainda tentávamos estabelecer a cadeia de transmissão do vírus. Tão logo descobriu-se a etiologia viral e a transmissão sexual da doença, procurávamos traçar, em um fluxograma desenhado na parede da enfermaria, os contatos sexuais de pacientes internados com AIDS. Na ingênua assunção de que assim poderíamos conter a epidemia. Hoje nem perguntamos mais ao paciente recém diagnosticado qual o fator de risco presente em sua vida. Não é muito relevante saber até porque é muito difícil conter doenças relacionadas aos hábitos e às crenças tão pessoais como comportamento sexual e uso de drogas injetáveis. A médica refere-se aos primeiros relatos sobre as evidências de que uma nova doença que estava sendo diagnosticada ao redor do mundo desde o início da década de 1980 (FDA, 1981). Esse episódio também faz referência a um dos pontos críticos da história recente da medicina quando a comunidade científica demorou a recomendar precauções vitais na prevenção da epidemia de AIDS quando considerou as publicações e os relatos de casos inusitados como casos anedóticos. Somente com pressão popular e de grupos organizados, especialmente na costa oeste dos Estados Unidos, é que o governo norte-americano tomou as precauções necessárias para evitar a transmissão do vírus da AIDS por transfusão sanguínea (FEORINO et al., 1985). A descoberta do agente etiológico da síndrome rendeu o controverso prêmio Nobel de Medicina de 2008 a Françoise Barré-Sinoussi e Luc Montagnier que deixou 77 fora da honraria o norte-americano Robert Gallo, que é reconhecido por muitos como codescobridor do HIV (GALLO; MONTAGNIER, 2003). O uso pedagógico desse episódio da história da medicina foi objeto de pesquisa e da tese de doutorado do professor brasileiro Ricardo Pereira (2005) que argumenta o uso didático de filmes (outra materialidade narrativa e outra forma de Arte) como um meio de ensinar “traços humanísticos” aos estudantes de medicina. A pesquisa de Pereira conclui: O filme [And the band played on] pode ser usado instrucionalmente com vistas à abordagem educacional de objetivos humanísticos. Esses objetivos são pertinentes a diversas áreas do conhecimento, entre as quais citam-se os Domínio Afetivo e Emocional, os Campos Ético e Sinoético, e as Competências Adaptativa, Contextual, de Identidade Profissional e Motivação para Aprendizagem Continuada. Esses objetivos abordam áreas de conteúdo relevantes, como a relação médico-paciente, a vocação médica, o contar notícias ruins, a persona médica, o arquétipo do médico ferido, a comunicação humana e a identidade profissional médica, entre outras. (PEREIRA, 2005, p. 201-202). Newman (2003), por sua vez, pondera em seu artigo a força que um caso isolado pode ter na construção de uma deliberação clínica ou mesmo diante de uma decisão política a ser tomada. Ele exemplifica o contraste entre os números trazidos pela estatística de quantas crianças morrem em acidentes de avião, em um determinado espaço de tempo e o impacto que um caso específico conhecido ou veiculado na mídia. A polêmica referida nesse artigo gira em torno da prevenção de acidentes fatais envolvendo crianças de colo, viajando em aviões. Apesar das evidências (científicas) apontarem que seria mais seguro crianças viajarem nos colos dos pais do que em cadeirinhas especiais, a veiculação de um caso específico (anedótico) de como uma criança pequena morreu quando sua mãe não conseguiu segurá-la durante o impacto em um acidente aéreo levou a medidas prescritivas, obrigando as companhias aéreas a utilizarem equipamentos especiais para transporte das crianças (cadeirinhas próprias com cintos de segurança). O artigo ilustra, com o apelo do assunto em questão, como uma narrativa com abrangência coletiva pode influenciar com maior peso decisões e regras a serem determinadas do que as evidências estatísticas. O argumento final do artigo é: “Idealmente, políticas públicas e escolhas de tratamentos médicos deviam ser baseadas nas melhores evidências disponíveis. Entretanto, estas políticas e escolhas são feitas por pessoas e pessoas respondem fortemente a estórias” (NEWMAN, 2003, p. 1.427). Talvez, idealmente, as decisões clínicas devam levar em consideração as melhores evidências, bem como as melhores narrativas disponíveis. A anedota em clínica médica tem alta narratividade, como explica Macnaughton (1998, p. 201-202): “[...] uma história curta ilustrando um fato de uma maneira mais dramática do que simplesmente contá-lo” embora possa carecer de “interesse científico”. Sem valor estatístico, 78 epidemiológico ou científico, a anedota guarda em si todo o valor fronético, a sabedoria prática e mais: como se quer teorizar uma enorme potência afetiva. Narratividade é uma das características linguísticas das narrativas e refere-se a à força que uma dada narrativa tem de contar acontecimentos em complexidade crescente. A narratividade de um relato relaciona-se diretamente com a quantidade de acontecimentos narrados, bem como às inferências de causa e consequência engendradas no relato (ABBOT, 2008, p. 31). Dessa forma, uma sentença como “Eu acordei cedo esta manhã” contém muito menos narratividade do que outra como “Esta manhã acordei cedo, desperto pelo som das urgentes sirenes lá fora”. A análise das narrativas podem levar em consideração a narratividade envolvida no texto. Dessa mesma forma, recursos como narrativas dentro de narrativas contribuem para a maior ou menor narratividade dos textos. Narrativas maiores podem conter inúmeras narrativas subjacentes que se interrelacionam trazendo sentido e aumentando a narratividade de um texto. Exemplos literários como a narrativa principal do dia descrito por Virginia Woolf no passeio de Clarissa (WOOLF, 2012) intercalado com as diversas micro-narrativas de todas as personagens satélites que contribuem em suas relações para a narratividade do texto inteiro. Das relações entre macro e micro narrativas, o sentido desejado é alcançado pela autora. Interessante também notar a ocorrência dos chamados paratextos na construção de sentido de uma narrativa. Novelas ou romances podem ser enfatizados, significados ou arruinados por uma orelha ou comentário contido em prefácios ou notas de edição. Da mesma forma, trailers de filmes, capas ou material publicitário de filmes de cinema ou DVD podem contribuir (ou arruinar) sentidos dos textos narrativos muito embora não pertençam à narrativa propriamente dita. Um bom exemplo de paratexto comprometendo (para bem ou mal) o sentido de uma narrativa seria a colocação de uma frase como “Baseado em uma história real” no início de uma narrativa. Por conta das observações anteriores, Abbot (2008, p. 31) ressalta que “[...] é na mente o lugar onde as narrativas realmente acontecem”. O que nos leva a questão, o que é vida e o que é narrativa? Então, como as narrativas a seguir irão ilustrar, a clínica médica é palco de intermináveis narrativas anedóticas. Sejam casos clínicos isolados (sem valor científico), sejam as anedotas contadas e recontadas diariamente por médicos e alunos nos diversos cenários de prática. Como explica a médica preceptora dos residentes: 79 Eu costumo me referir às anedotas como “causos”. Sim, porque há os casos e “causos”. Os casos referem-se aos casos clínicos com sua objetividade, lógica, racionalidade científica – podem ser apresentados em reuniões formais e publicados em revistas médicas. Os “causos” carecem de comprovação acadêmica. São histórias e estórias que ouvimos e contamos todos os dias no hospital, na enfermaria, nos ambulatórios. Dizem respeito mais ao que sentimos e aprendemos e que queremos ensinar para nossos alunos do que observações científicas. Todo médico experiente, todo professor de medicina tem seu “arsenal de causos” para ilustrar uma ou outra situação do dia-a-dia da clínica. Interessante a observação da médica experiente. Casos e causos. Casos clínicos e casos anedóticos, informação científica e algo diferente, narrativas acadêmicas e narrativas da vida. Montgomery (1991, p. 76) afirma que “[...] anedotas são como uma extensão informal, embora não reconhecida, do caso clínico”. Linhas e curvas, claro e escuro, uma lógica alargada, um ensino de clínica médica alargado, mais orgânico, vital, barroco, sensível, estético, afetivo. Interessante também notar a metáfora da guerra. Um arsenal próprio de casos anedóticos, de anedotas para lutar contra o quê? Para engrossar as fileiras de seu batalhão que combate o quê? A doença? A falta de condições ideais de trabalho? Os afetos tristes inerentes à prática da medicina? Uma questão a ser deixada aberta. Também, no sentido anedota-piada, há sempre uma lição a ser ensinada/aprendida. Essas anedotas estão carregadas de ensinamentos práticos, de lições morais, de conteúdo fronético, de potência afetiva. E essa lição, na grande maioria das vezes, não pode ser ensinada nos bancos das salas de aulas, nem nas páginas dos livros científicos. 80 Notícia de Morte O Dr. Nelson é um colega que se caracteriza por uma elogiável capacidade de “entender” os seus pacientes e familiares em relação às reações, angústias, sofrimentos e medos. Também, por ser um médico experiente, pratica a semiologia médica, especialmente no campo do ensino, de forma a causar “surpresas” nos colegas e alunos como por exemplo “adivinhar” a presença de um paciente com cetoacidose na enfermaria por sentir cheiro de cetona no ambiente, ou “achar por acaso” doces nos pertences de um diabético que estava com controle “difícil”. Seu comportamento com os paciente e alunos é informal, empático e frequentemente engraçado não sendo incomum por exemplo “aceitar” uma fruta ou biscoito de um paciente em meio ao round com os alunos e residentes. A história que se segue ocorreu com esse colega e é sempre repetida quando o assunto é “como dar notícias ruins”... Fui testemunha do ocorrido porque receberia o plantão do Dr. Nelson. Quando cheguei na CTI, ao final da tarde, notei na pequena sala de espera duas senhoras. Uma mais idosa, frágil e que me pareceu triste o que não estranhei, dado o local. A segunda mais robusta, mais jovem parecia confortável, mas atenta a tudo que se passava. Ao entrar na CTI, o Dr. Nelson me falou que um paciente de 94 anos havia falecido há pouco. O paciente já estava em choque desde a manhã daquele dia e não respondera às medidas de ressuscitação. “- A família já está esperando” disse ele, “mas eu mesmo vou dar a notícia porque a esposa é muito idosa e, bem, sabe como é...”. A seguir chamou alguns alunos que sempre o acompanhavam nos plantões e disse: “nesse momento temos que escolher alguém da família que julguemos ser o mais preparado, porque as reações à notícia de morte são muito variadas de pessoa para pessoa e mesmo a notícia de uma morte esperada pode ser chocante”. Seguiu com ar professoral (o que tornou a sequência do relato mais inusitada e engraçada). “É óbvio que nesse caso vou dar a notícia primeiro para a filha e depois, com o apoio desta, comunicaremos a esposa, mais frágil e idosa”. Seguiu-se então uma cena que ninguém esperava. A filha (“mais robusta, jovem e atenta”) ao ouvir a notícia da morte do pai teve uma crise histérica com gritos que se podiam ouvir por todo o corredor do hospital, jogou-se no chão, ameaçou agredir o Dr. Nelson que, surpreso com a reação, parecia não entender nada. “Calma”, repetia ele inutilmente, enquanto a crise desencadeada pela notícia tão cuidadosamente planejada evoluía para uma situação incontornável, ridícula de certa forma (se não fosse situação de morte). Os alunos do experiente professor apavorados também pela reação não sabiam o que fazer...Então, em meio a todo esse barulho e confusão, surge do nada, abrindo apenas parte da porta que separava a CTI da sala de espera, uma senhora “frágil e idosa”, a esposa que o Dr. Nelson tanto tentara poupar. Com uma postura tranquila, uma voz baixa, mas segura ela disse: “Chega minha filha, venha para cá”. Como por milagre a filha histérica do falecido calou-se, baixou a cabeça e saiu da sala obediente, deixando todos surpresos de novo. A senhora idosa e frágil, esposa do falecido e mãe da histérica, disse então: “Dr. Nelson, ele morreu não é?” ao que ele respondeu com um aceno com a cabeça e um aperto nos lábios (sem palavras) e senhora então seguiu: “Minha filha é muito nervosa, doutor, não foi por mal...”. Essa anedota ilustra o que Macnaughton (1998, p. 203) sumariza em relação às características dessa forma de narrativa: a. tratam-se de estórias curtas com um tema único e com um argumento definido; b. podem ser reais, fictícias, ou “embelezadas” para acrescentar interesse ou ênfase; c. quase sempre trazem algo dramático ou divertido para ilustrar algo pedagógico ou moral; d. o objetivo de contar uma anedota é quase sempre proporcionar à audiência a compreensão ou a memorização de um argumento importante; e. o entendimento depende do conhecimento da audiência sobre o contexto do argumento exposto. 81 Sempre que médicos reúnem-se, seja em ambientes formais, seja nos intervalos para o café, as anedotas clínicas multiplicam-se. Talvez a maior riqueza das anedotas seja na formação de um repertório de afetos, como teorizado mais adiante. Assume-se que médicos recém formados, médicos residentes tenham muito mais informação cientifica, dados, números e evidências que seus professores mais velhos, mas eles têm dificuldade em tomar decisões clínicas. Como ressalta Montgomery (1991, p. 70), “[...] as anedotas fazem parte da educação médica, nas pesquisas clínicas e no cuidado diário dos pacientes. Entretanto, afirma a autora, essa forma de narrativa oral ainda é negligenciada como um meio intersticial para a transmissão de conhecimento médico”. A narrativa a seguir reflete exatamente o caráter pedagógico singular das narrativas no ensino de clínica médica: Costumo dizer para meus alunos que existem três formas de se chegar a um diagnóstico: Horas de voo, horas de bunda e horas de bar! Horas de voo: sabem aquele piloto que aterrissou o avião em pane em pleno Houdson River em Nova Iorque? Pois bem, quando perguntado onde tinha aprendido a manobra incrível que havia salvado tantas vidas, ele respondeu. Horas de voo. No simulador, em aviões pequenos, em jatos como este. - A gente nunca sabe em que momento da formação aprendemos esta ou aquela coisa, habilidade, destreza ou conhecimento que pode salvar a vida de um paciente anos depois, não canso de repetir para os alunos. Desde o primeiro dia lá na anatomia, estamos acumulando horas de voo, aprendendo sempre. Tem um discurso do Steve Jobs que ilustra muito bem o que penso. Se não fossem as aulas de caligrafia que ele seguiu na universidade (no pouco tempo que dedicou aos estudos) não teríamos as “fontes” tão interessantes nos processadores de texto, aliás onde ele aprendeu as coisas que o levaram a ajudar na criação dos PCs? Horas de voo, estamos sempre aprendendo. Nunca se sabe onde está aquele detalhe, aquela peça única que desenrola todo o quebra-cabeça, mata o diagnóstico. Por isso me irrito quando um aluno se queixa de uma aula chata de Dermatologia ou do professor esquisito que faz comentários aparentemente sem sentido nas reuniões clínicas. Estamos sempre aprendendo, acumulando horas. Acredito que são preciso 10.000 horas de voo – como para um piloto de jatos comerciais – para formar um residente de clínica médica. Horas de bunda: Horas de estudo. Sentar e estudar. Disciplina. Método. Cada um tem o seu, mas não há bom médico que não estude, diariamente. Meu método sempre foi estudar o caso do dia. Cada dia tem o seu caso especial. Vemos muitos pacientes num mesmo dia, mas alguns são mais marcantes. Ou porque se trata de algo raro, diferente; ou pelo contrário, por se tratar de algo comum, algo que tenha que ser completamente dominado. Escolho um caso por dia e estudo. São 365 casos por ano, 3650 casos em 10 anos, milhares de casos estudados na vida. E a terceira forma de se chegar a um diagnóstico trata-se das horas de bar. Ninguém pode, em sã consciência, fazer clínica médica sozinho. Impossível. Há de discutir os casos, trabalhar em equipe, multiplicar a experiência e o conhecimento. É discutindo os casos que temos mais chance de chegar a um diagnóstico correto ou tomar a decisão mais adequada para cada caso, para cada paciente. Horas de voo, horas de bunda e horas de bar. As três maneiras de se chegar a um diagnóstico. Ou você já viu um caso parecido, ou você já leu a respeito, ou um colega mostra o caminho. 82 Uma metáfora implícita na narrativa da professora e repetida inúmeras vezes nas enfermarias e nos ambulatórios de clínica médica: “matar o diagnóstico”. Mais uma vez a batalha, a guerra, o ágon entre o médico e sua realidade. Para matar o inimigo mais forte, a doença, faz-se necessário, primeiro, combater e matar o pelotão avançado, o diagnóstico! Como afirma Montgomery (1991, p. 70), “[...] o conhecimento em medicina está focado em primeira e última instância no diagnóstico do paciente”. Chegar a um diagnóstico acurado é um exercício que leva em consideração o conhecimento amplo das evidências comuns a muitos pacientes, apresentações clínicas clássicas, informações contidas nos livros textos e artigos científicos cada vez mais interessados em critérios diagnósticos bem definidos. Por outro lado, acertar o diagnóstico de um paciente específico tem muito de deixar-se afetar pela apresentação singular, naquele paciente, de uma doença qualquer conhecida. Ampliar as capacidades diagnósticas por meio da percepção do caso particular parece ser um dos interesses didáticos de compreenderse as anedotas (e as narrativas de uma maneira geral); afinal, as estórias tratam exatamente disto, de casos pontuais, específicos, singulares. Ainda, para não deixar passar a menção ao discurso do Steve Jobs, em Stanford, muito relevante ao argumento narrativo e afetivo da construção do conhecimento: 83 É preciso encontrar o que você ama. Estou honrado por estar aqui com vocês em sua formatura por uma das melhores universidades do mundo. Eu mesmo não concluí a faculdade. Para ser franco, jamais havia estado tão perto de uma formatura, até hoje. Pretendo lhes contar três histórias sobre a minha vida, agora. Só isso. Nada demais. Apenas três histórias. A primeira é sobre ligar os pontos. Eu larguei o Reed College depois de um semestre, mas continuei assistindo a algumas aulas por mais 18 meses, antes de desistir de vez. Por que eu desisti? Tudo começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era jovem e não era casada; estava fazendo o doutorado, e decidiu que me ofereceria para adoção. Ela estava determinada a encontrar pais adotivos que tivessem educação superior, e, por isso, quando nasci, as coisas estavam armadas de forma a que eu fosse adotado por um advogado e sua mulher. Mas eles terminaram por decidir que preferiam uma menina. Assim, meus pais, que estavam em uma lista de espera, receberam um telefonema em plena madrugada: “Temos um menino inesperado aqui; vocês o querem?”. Os dois responderam “claro que sim”. Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe adotiva não tinha diploma universitário e que meu pai nem mesmo tinha diploma de segundo grau. Por isso, se recusou a assinar o documento final de adoção durante alguns meses, e só mudou de ideia quando eles prometeram que eu faria um curso superior. Assim, 17 anos mais tarde, foi o que fiz. Mas, ingenuamente, escolhi uma faculdade quase tão cara quanto Stanford, e, por isso, todas as economias dos meus pais, que não eram ricos, foram gastas para pagar meus estudos. Passados seis meses, eu não via valor em nada do que aprendia. Não sabia o que queria fazer da minha vida e não entendia como uma faculdade poderia me ajudar quanto a isso. E lá estava eu, gastando as economias de uma vida inteira. Por isso decidi desistir, confiando em que as coisas se ajeitariam. Admito que fiquei assustado, mas em retrospecto foi uma de minhas melhores decisões. Bastou largar o curso para que eu parasse de assistir às aulas chatas e só assistisse às que me interessavam. Nem tudo era romântico. Eu não era aluno, e portanto não tinha quarto; dormia no chão dos quartos dos colegas; vendia garrafas vazias de refrigerante para conseguir dinheiro; e caminhava 11 quilômetros a cada noite de domingo porque um templo Hare Krishna oferecia uma refeição gratuita. Eu adorava minha vida, então. E boa parte daquilo em que tropecei seguindo minha curiosidade e intuição se provou valioso mais tarde. Vou oferecer um exemplo. ... 84 ... Na época, o Reed College talvez tivesse o melhor curso de caligrafia do país. Todos os cartazes e etiquetas do campus eram escritos em letra belíssima. Porque eu não tinha de assistir às aulas normais, decidi aprender caligrafia. Aprendi sobre tipos com e sem serifa, sobre as variações no espaço entre diferentes combinações de letras, sobre as características que definem a qualidade de uma tipografia. Era belo, histórico e sutilmente artístico de uma maneira inacessível à ciência. Fiquei fascinado. Mas não havia nem esperança de aplicar aquilo em minha vida. No entanto, dez anos mais tarde, quando estávamos projetando o primeiro Macintosh, me lembrei de tudo aquilo. E o projeto do Mac incluía esse aprendizado. Foi o primeiro computador com uma bela tipografia. Sem aquele curso, o Mac não teria múltiplas fontes. E, porque o Windows era só uma cópia do Mac, talvez nenhum computador viesse a oferecê-las, sem aquele curso. É claro que conectar os pontos era impossível, na minha era de faculdade. Mas em retrospecto, dez anos mais tarde, tudo ficava bem claro. Repito: os pontos só se conectam em retrospecto. Por isso, é preciso confiar em que estarão conectados, no futuro. É preciso confiar em algo - seu instinto, o destino, o karma. Não importa. Essa abordagem jamais me decepcionou, e mudou minha vida. A segunda história é sobre amor e perda. Tive sorte. Descobri o que amava bem cedo na vida. Woz e eu criamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhávamos muito, e em dez anos a empresa tinha crescido de duas pessoas e uma garagem a quatro mil pessoas e US$ 2 bilhões. Havíamos lançado nossa melhor criação - o Macintosh - um ano antes, e eu mal completara 30 anos. Foi então que terminei despedido. Como alguém pode ser despedido da empresa que criou? Bem, à medida que a empresa crescia contratamos alguém supostamente muito talentoso para dirigir a Apple comigo, e por um ano as coisas foram bem. Mas nossas visões sobre o futuro começaram a divergir, e terminamos rompendo - mas o conselho ficou com ele. Por isso, aos 30 anos, eu estava desempregado. E de modo muito público. O foco de minha vida adulta havia desaparecido, e a dor foi devastadora. Por alguns meses, eu não sabia o que fazer. Sentia que havia desapontado a geração anterior de empresários, derrubado o bastão que havia recebido. Desculpei-me diante de pessoas como David Packard e Rob Noyce. Meu fracasso foi muito divulgado, e pensei em sair do Vale do Silício. Mas logo percebi que eu amava o que fazia. O que acontecera na Apple não mudou esse amor. Apesar da rejeição, o amor permanecia, e, por isso, decidi recomeçar. Não percebi, na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. O peso do sucesso foi substituído pela leveza do recomeço. Isso me libertou para um dos mais criativos períodos de minha vida. Nos cinco anos seguintes, criei duas empresas, a NeXT e a Pixar, e me apaixonei por uma pessoa maravilhosa, que veio a ser minha mulher. A Pixar criou o primeiro filme animado por computador, Toy Story, e é hoje o estúdio de animação mais bem sucedido do mundo. E, estranhamente, a Apple comprou a NeXT, eu voltei à empresa e a tecnologia desenvolvida na NeXT é o cerne do atual renascimento da Apple. E eu e Laurene temos uma família maravilhosa. Estou certo de que nada disso teria acontecido sem a demissão. O sabor do remédio era amargo, mas creio que o paciente precisava dele. Quando a vida jogar pedras, não se deixem abalar. Estou certo de que meu amor pelo que fazia é que me manteve ativo. É preciso encontrar aquilo que vocês amam - e isso se aplica ao trabalho tanto quanto à vida afetiva. Seu trabalho terá parte importante em sua vida, e a única maneira de sentir satisfação completa é amar o que vocês fazem. Caso ainda não tenham encontrado, continuem procurando. Não se acomodem. Como é comum nos assuntos do coração, quando encontrarem, vocês saberão. Tudo vai melhorar, com o tempo. Continuem procurando. Não se acomodem. ... 85 ... Minha terceira história é sobre morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que dizia algo como “se você viver cada dia como se fosse o último, um dia terá razão”. Isso me impressionou, e nos 33 anos transcorridos sempre me olho no espelho pela manhã e pergunto, se hoje fosse o último dia de minha vida, eu desejaria mesmo estar fazendo o que faço? E se a resposta for “não” por muitos dias consecutivos, é preciso mudar alguma coisa. Lembrar de que em breve estarei morto é a melhor ferramenta que encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Porque quase tudo - expectativas externas, orgulho, medo do fracasso - desaparece diante da morte, que só deixa aquilo que é importante. Lembrar de que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar armadilha de temer por aquilo que temos a perder. Não há motivo para não fazer o que dita o coração. Há cerca de um ano, um exame revelou que eu tinha câncer. Uma ressonância às 7 h 30 min mostrou claramente um tumor no meu pâncreas - e eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que era uma forma de câncer quase certamente incurável, e que minha expectativa de vida era de três a seis meses. O médico me aconselhou a ir para casa e organizar meus negócios, o que é jargão médico para “prepare-se, você vai morrer”. Significa tentar dizer aos seus filhos em alguns meses tudo que você imaginava que teria anos para lhes ensinar. Significa garantir que tudo esteja organizado para que sua família sofra o mínimo possível. Significa se despedir. Eu passei o dia todo vivendo com aquele diagnóstico. Na mesma noite, uma biópsia permitiu a retirada de algumas células do tumor. Eu estava anestesiado, mas minha mulher, que estava lá, contou que quando os médicos viram as células ao microscópio começaram a chorar, porque se tratava de uma forma muito rara de câncer pancreático, tratável por cirurgia. Fiz a cirurgia, e agora estou bem. Nunca havia chegado tão perto da morte, e espero que mais algumas décadas passem sem que a situação se repita. Tendo vivido a situação, posso lhes dizer o que direi com um pouco mais de certeza do que quando a morte era um conceito útil mas puramente intelectual. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que desejam ir para o céu prefeririam não morrer para fazê-lo. Mas a morte é o destino comum a todos. Ninguém conseguiu escapar a ela. E é certo que seja assim, porque a morte talvez seja a maior invenção da vida. É o agente de mudanças da vida. Remove o velho e abre caminho para o novo. Hoje, vocês são o novo, mas com o tempo envelhecerão e serão removidos. Não quero ser dramático, mas é uma verdade. O tempo de que vocês dispõem é limitado, e, por isso, não deveriam desperdiçá-lo vivendo a vida de outra pessoa. Não se deixem aprisionar por dogmas - isso significa viver sob os ditames do pensamento alheio. Não permitam que o ruído das outras vozes supere o sussurro de sua voz interior. E, acima de tudo, tenham a coragem de seguir seu coração e suas intuições, porque eles de alguma maneira já sabem o que vocês realmente desejam se tornar. Tudo mais é secundário. Quando eu era jovem, havia uma publicação maravilhosa chamada The Whole Earth Catalog, uma das bíblias de minha geração. Foi criada por um sujeito chamado Stewart Brand, não longe daqui, em Menlo Park, e ele deu vida ao livro com um toque de poesia. Era o final dos anos 60, antes dos computadores pessoais e da editoração eletrônica, e, por isso, a produção era toda feita com máquinas de escrever, Polaroids e tesouras. Era como um Google em papel, 35 anos antes do Google - um projeto idealista e repleto de ferramentas e ideias magníficas. ... 86 ... Stewart e sua equipe publicaram diversas edições do The Whole Earth Catalog, e quando a ideia havia esgotado suas possibilidades, lançaram uma edição final. Estávamos na metade dos anos 70, e eu tinha a idade de vocês. Na quarta capa da edição final, havia uma foto de uma estrada rural em uma manhã, o tipo de estrada em que alguém gostaria de pegar carona. Abaixo da foto, estava escrito “Permaneçam famintos. Permaneçam tolos”. Era a mensagem de despedida deles. Permaneçam famintos. Permaneçam tolos. Foi o que eu sempre desejei para mim mesmo. E é o que desejo a vocês em sua formatura e em seu novo começo. Mantenham-se famintos. Mantenham-se tolos. Muito obrigado a todos.* *Tradução de Paulo Migliacci. Disponível em: <http://tecnologia.terra.com.br/internet/leia-o-discurso-de-jobs-aosformandos-de-stanford,bc38d882519ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 12 mar. 2014. As anedotas, assim como todas as narrativas não científicas contadas diariamente na clínica, servem para dar conta das singularidades, das variantes e das surpresas da prática da medicina. Algumas vezes, casos (aparentemente) isolados passam, com o tempo, a fazer sentido. Provavelmente o exemplo mais retumbante dessa afirmação seja o caso Talidomida. Talidomida era um remédio comumente prescrito sob evidências científicas por médicos ao redor do mundo como droga antiemética no final da década de 1950. A partir dos anos de 1960, diversos relatos isolados de malformações congênitas em bebês nascidos de grávidas que haviam tomado o medicamento Talidomida começaram a aparecer nos periódicos de medicina. O que inicialmente parecia tratar-se de casos isolados, anedóticos, passou a ser reconhecido mais tarde como um dos maiores desastres da indústria farmacêutica, responsável pelo nascimento de milhares de crianças portadoras de focomegalia, mal-formação congênita severa dos membros (MELLIN; KATZENSTEIN, 1962). O caso Talidomida ilustra bem como o evento anedótico pode (ou deve, tem a potência para) ser encarado não como caso isolado, sem valor; mas sim como possível caso exemplar, primeiro caso, caso excepcional. Como argumentaram a professora de medicina e Steve Jobs, trazidos anteriormente: nunca se sabe em que momento estas informações (estes afetos) podem significar a resolução de um problema na clínica médica. Uma outra função didática dessa forma de narrativa oral, muito significativa na formação de jovens médicos, é o uso que se faz de anedotas para compartilhar erros cometidos no passado no sentido de alertar ou confortar os que iniciam na profissão. Um bom exemplo dessa função narrativa da anedota foi publicada por Sandeep Jauhar no New England Journal of Medicine (2006). Esse relato dá relevância e voz àqueles eventos singulares que marcam a 87 formação acadêmica e afetiva do estudante de medicina. Jauhar, renomado médico e eminente professor, relata que, quando jovem, estudante ainda, durante o atendimento de um paciente com dor torácica, atendido como provável síndrome coronariana aguda, em uma unidade de emergência, lhe foi solicitado pelo médico residente que aferisse a pressão arterial do paciente. Nada mais simples e correto, pedir ao doutorando que acompanha o atendimento de emergência que meça a pressão do paciente. Nervoso e sem prática, o acadêmico não conseguiu medir a pressão em um dos braços do paciente. Inseguro, temendo críticas e ignorante do sentido clínico da ausência de pressão em um braço na presença de dor torácica, o aluno respondeu 12 por 8, ou algo assim. Mais tarde, após uma demora irreversível em se fazer o diagnóstico correto, o estudante aprendeu que a dificuldade em constatar a pressão arterial em um dos membros de pacientes com dor torácica trata-se de valiosa evidência clínica de aneurisma da aorta, diagnóstico diferencial de doença cardíaca isquêmica e com conduta diametralmente oposta à hipótese de infarto. Infelizmente, para o futuro médico, jovem ainda, esse aprendizado custou a vida do paciente. Reconhecendo a importância da anedota, do achado estranho, da valorização da dúvida, da confiança em coisas inusitadas, atenção ao inesperado, às variações, às anomalias, o professor de medicina faz uso da melhor revista de clínica médica para expor esse caso anedótico, sua narrativa singular, um acontecimento isolado na sua formação de jovem médico, com altíssima narratividade e potência formadora, como argumentado nesta tese. Outros exemplos de narrativas com o intuito de dar suporte e aconselhamento a médicos residentes encontram-se no livro de Atul Gawande (2002), especialmente na primeira parte (Faliability) dos capítulos narrativos intitulados: Education of a knife, When doctors make mistakes e When good doctors go bad12. Assim, como afirma Montgomery (1991, p. 70), apesar de ainda serem consideradas pelos médicos de uma maneira pejorativa, as anedotas permitem aos médicos – na prática – “[...] ultrapassarem a distância epistemológica entre as regras gerais das doenças (disease) e os fatos particulares do estar doente (illness). Aliás, os três diferentes termos existentes no inglês para referir-se às doenças – disease, illness e sickness – serão retomados mais adiante no capítulo dedicado a teorizar que é o afeto, propriamente, imanente às narrativas e às experiências estéticas que detém a potência formadora tão relevante à educação médica. 12 No Brasil, publicado pela editora Lua de papel com o título Ser bom não chega, reflexões de um cirurgião sobre diligência, competência e engenho. 88 2.1.3 Mensagens Paradoxais: A lição do Harry Potter - Por que Harry Potter é o mágico mais poderoso? Pergunta a preceptora do internato de clínica médica para o grupo formado por cinco ou seis alunos do quinto ano, mais um ou dois neófitos da semio, mais as duas R1. – Hmmm, responde um doutorando mais afoito: - Por que ele sabe mais magia! - Não, retruca a professora. Porque ele sabe quebrar as regras com sabedoria! Eis o resumo da ópera. Julgamento clínico trata de saber a regra, muitas regras, e quebrálas com sabedoria. Diante de cada paciente, de um paciente específico, usar a vastidão dos conhecimentos científicos, lançar mão dos protocolos, seguir os guidelines, mas abandoná-los e seguir a intuição, a vontade do paciente, um caminho alternativo, na hora certa, para cada paciente em questão. Como ensinar essa conduta, aparentemente, tão paradoxal? Como afirma Montgomery (2006, p. 85): “Porque as regras em medicina não são quase nunca absolutas, interpretação diagnóstica e decisão requer julgamento clínico”. Um dos instrumentos utilizados pelos médicos experientes para ensinar seus alunos a particularizarem conhecimentos científicos gerais e aplicá-los a um caso particular é lançar mão, muitas vezes quase inconscientemente, de ditos, de aforismos e de máximas que escolhidas da maneira correta, na situação adequada, instrumentalizam, aos poucos, os jovens médicos na habilidade de raciocínio, de julgamento e de decisões clínicas. Dessa forma, alguns apresentam-se em pares contraditórios e escolhe-se um deles, diferente a cada vez, para resolver o impasse clínico em questão. Habilidade esta que é demonstrada por clínicos experientes, não consta nos livros textos de medicina e é essencial para o julgamento clínico diário. Assim, por exemplo: “Conhecer as regras para quebrá-las com sabedoria” vem em par com “siga sempre os guidelines, os protocolos existem para serem seguidos”. Como ressalta a médica preceptora: 89 Um paciente de 52 anos, nunca fumou, investigação completa para hematúria não mostrou nada, deve-se pedir cistoscopia? Sim? Não? Duas possibilidades: segue-se um protocolo, uma recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, ou o Consenso de Hematúria da Associação Americana de Urologia, ou qualquer guideline... Ou, decide junto com o paciente, para cada paciente uma decisão única, individual. Não penso que sempre se deve seguir o protocolo. Cada caso é um caso. Difícil explicar como decido neste caso da hematúria. O certo é que, às vezes, solicito a cistoscopia, muitas vezes não. Existe uma máxima que é muito lembrada na clínica médica de que sempre se encontra um protocolo ou um artigo científico que justifica uma decisão que foi tomada muito antes, por intuição, ou sabedoria prática, instinto ou julgamento clínico. Especialmente na oncologia clínica, nas decisões terapêuticas que envolvem tantos protocolos, tantos números, tantas taxas de sobrevida livre de tumor, tantos estágios, classificações, detalhes. Como decidir? Tratamento suportivo ou mais um ciclo de quimioterapia? Segunda linha, terceira linha, protocolos clínicos, pesquisas? Para cada paciente, a cada hora, uma decisão. “Um bom clínico diagnostica 75% dos seus casos somente com anamnese” com o intuito de ensinar aos jovens médicos a confiar nas suas habilidades clínicas, ao mesmo tempo em que economizam tempo e recursos não pedindo exames custosos e desnecessários. Máxima que, muitas vezes, é substituída por: “Os bons clínicos é que devem gastar muito”; significando que um “bom médico”, aquele que quer chegar a um “bom diagnóstico”, vai precisar despender uma certa quantidade de recursos, muitas vezes, rara, mas justificado pela decisão clínica de alcançar o diagnóstico. Outra máxima que parece ser universal e contém, em si, os dois lados de uma moeda é a repetida pelos colegas da enfermaria: Temos entre nós aquele que ao ouvir um tropel de cascos ao longe, aproximando-se aos poucos – pocotó, pocotó, pocotó – pensa: - Tropel, cascos? Certamente deve ser uma manada de unicórnios azuis! Não, alunos! Não, residentes! Um tropel de cascos ao longe é muito mais provável que sejam cavalos! Cavalos! Não unicórnios azuis! 90 Montgomery (2006, p. 121-128) refere essa máxima como: “Don’t think Zebras!” O interessante é como ela discute o paradoxo [narrativo] contido nessa máxima. Ao mesmo tempo em que ensinamos aos jovens médicos que não devem pensar em zebras, muito menos em unicórnios azuis quando ouvem cascos ao longe; os alunos são lembrados que tais criaturas existem! Pelo menos as zebras, em um plano real. Existem cavalos e estes são muito mais comuns do que zebras. Entretanto, haverá zebras [e unicórnios] nos caminhos desses médicos. Árdua tarefa essa de ensinar a pensar em cavalos, sem esquecer-se das raras zebras e dos improváveis unicórnios a serem considerados nos diagnósticos das condições que afligem os pacientes de uma vida. Dito de outra maneira, por outro colega, inúmeras vezes, durante as reuniões clínicas: As coisas raras acontecem raramente. Pausa. Mas acontecem! Assim, ensinam-se os residentes a pensarem reto, por linhas tortas. Uma das maiores preocupações dos residentes de primeiro ano é em relação à confusa orientação advinda de diferentes supervisores. Como explicar a inconstância de opiniões, a diversidade de raciocínios, a heterogeneidade de condutas perante um mesmo caso às quais os atônitos R1 são submetidos em suas primeiras semanas de trabalho na enfermaria de clínica. Como explicar que, justamente, nos aparentes paradoxos dessas máximas, é que reside o encantamento da clínica médica. É justamente a incerteza que dá graça à vida do clínico. Uma das colegas de enfermaria relata: Uma das minhas maiores aflições, quando jovem [residente, médica] era a incerteza, a insegurança que eu sentia cada vez que me aproximava da porta do consultório, da sala de emergência, do quarto do hospital. O que haveria lá, esperando por mim? Me sentia, como dizer... Como os portugueses devem ter se sentindo partindo com aquelas caravelas frágeis em direção ao desconhecido, enfrentando o tenebroso mar! Mais tarde, muito depois, compreendi que a beleza do mar está em ser desconhecido, mágico, sempre novo. A porta do consultório deixou de ser uma caixa de pandora. Passou a ser sempre uma aventura em mares nunca antes navegados! 91 Duas citações muito férteis, com alta narratividade, ambas. Primeiro a referência ao Mar Português que deveria ser conteúdo obrigatório das Humanidades em qualquer programa brasileiro, porque tanto das nossas origens ligam-se a este sentimento lusitano em relação ao mar, ao longínquo, ao desconhecido, ao monstrengo. O poema mostra que há narrativa, ou como já dito, narratividade, mesmo em um gênero como a poesia tão pouco reconhecido por essa característica literária. IV. O mostrengo X. Mar Português O mostrengo que está no fim do mar Na noite de breu ergueu-se a voar; À roda da nau voou três vezes, Voou três vezes a chiar, E disse, “Quem é que ousou entrar Nas minhas cavernas que não desvendo, Meus tectos negros do fim do mundo?” E o homem do leme disse, tremendo: “El-Rei D. João Segundo!” Ó mar salgado, quanto do teu sal São lágrimas de Portugal! Por te cruzarmos, quantas mães choraram, Quantos filhos em vão rezaram! Quantas noivas ficaram por casar Para que fosses nosso, ó mar! “De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço?” Disse o mostrengo, e rodou três vezes, Três vezes rodou imundo e grosso. “Quem vem poder o que só eu posso, Que moro onde nunca ninguém me visse E escorro os medos do mar sem fundo?” E o homem do leme tremeu, e disse: “El-Rei D. João Segundo!” Três vezes do leme as mãos ergueu, Três vezes ao leme as reprendeu, E disse no fim de tremer três vezes: “Aqui ao leme sou mais do que eu: Sou um povo que quer o mar que é teu; E mais que o mostrengo, que me a alma teme E roda nas trevas do fim do mundo, Manda a vontade, que me ata ao leme, De El-Rei D. João Segundo!” Valeu a pena? Tudo vale a pena Se a alma não é pequena. Quem quer passar além do Bojador Tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, Mas nele é que espelhou o céu. XII. Prece Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade! Restam-nos hoje, no silêncio hostil, O mar universal e a saudade. Mas a chama, que a vida em nós criou, Se ainda há vida ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou: A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem — ou desgraça ou ânsia — Com que a chama do esforço se remoça, E outra vez conquistaremos a Distância — Do mar ou outra, mas que seja nossa!* *Trechos do poema Mensagem de Fernando Pessoa. Disponível em: <http://www.citador.pt/poemas/mensagemmar-portugues-fernando-pessoa>. Acesso em: 20 out. 2014. 92 Já a referência à Pandora é imperdível, em suas duplas mensagens, especialmente vindo de uma médica mulher, de uma mulher médica. Consta na mitologia grega (BULFINCH, 2006, p. 29-37) que Zeus ordenou a Hefesto que fabricasse uma mulher para presentear aos humanos (todos homens) como vingança por Prometeu ter alcançado o fogo para a humanidade. Cada divindade do Olimpo ofereceu à Pandora um predicado: Afrodite lhe deu beleza, Hermes a capacidade de falar e Apolo o dom da música. Entretanto, cada deus imortal depositou na caixa levada por Pandora um malefício, uma inequidade, uma maldade. Tão logo Pandora chega a seu destino ela abre o jarro, ou a caixa que carregava, liberando então todos os males que perseguem a humanidade desde então. Contudo, Pandora consegue manter presa dentro da caixa a esperança. E, assim, também é a entidade capaz de disseminar frutos, flores, maravilhas, curiosidade e memória. Trouxe, ao lado das maldades, a sabedoria, a justiça, a coragem, a força e a persistência. Pandora é a deusa que doa talentos divinos ou carrega em si todos os males da humanidade. Sempre a moeda de dupla face, desde a mitologia. Sempre narrativas. 2.1.4 Ditos e Máximas Outra maneira pela qual as narrativas sempre se fizeram presentes, tanto na educação médica quanto na atenção ao paciente, é pela utilização corriqueira de ditos, de máximas, de ditados e de expressões populares. Como as figuras de linguagem, o senso comum e a intuição detêm, além de competências linguísticas, muito de características narrativas, enfatizando, nesta tese, suas potencialidades afetivas e formadoras. Uma coisa que sempre faço com meus alunos e residentes é desafiá-los com perguntas como: “E se não for este o diagnóstico?”; “E se fosse um jovem de 17 anos ao invés de um senhorzinho de 78?”, “E se?”; “E se?”. 93 Por exemplo: o doutorando me conta a história de uma senhora de 60 anos que procurou assistência médica porque vinha apresentando episódios de hematoquezia (fezes misturadas com sangue) nos últimos meses e havia percebido um emagrecimento de 12 kg neste período. No toque retal, o médico assistente havia percebido uma massa no reto da paciente. Eu, então, pergunto ao aluno: - O que lhe parece este caso? Ao que ele prontamente responde: - Certamente trata-se de um caso de câncer de intestino. E eu insisto: - Certo, possivelmente. Mas se não for? O que pode ser? Ainda instigo: - Me dê duas razões para eu pensar que pode não ser câncer de cólon? Normalmente os alunos titubeiam em responder. Então eu continuo: - Primeiro porque sempre há de se considerar o diagnóstico diferencial; segundo, mais importante que tudo, porque eu torço, pelo bem da paciente, que não seja câncer, que seja qualquer outra coisa mais amena, mais fácil de ser tratada. Em medicina, nem sempre, nem nunca! Imagine quantas vezes essa professora repetiu esse exercício com seus alunos. Um exercício que é ao mesmo tempo informativo e formador. Uma abordagem à apresentação de caso, típica do encontro entre aluno e professor que foi aberta, ampliada, alargada por uma habilidade narrativa demonstrada pela professora. E se não for? é a máxima repetida um cem número de vezes pela professora experiente que se propõe a ensinar que, na clínica médica, há sempre de pensar-se em mais de uma possibilidade diagnóstica, que múltiplas causas podem estar relacionadas aos sintomas do paciente. No entanto, mais do que tudo, a professora enfatizou que torce pela sua paciente, que se importa com o diagnóstico que está prestes a ser feito, que considera os desafios, os sofrimentos que um ou outro diagnóstico vai infligir à vida da paciente, ao seu corpo, à sua família, às suas expectativas... Certamente lições como essa não estão presentes nas páginas do capítulo de câncer de cólon dos livros-textos de medicina interna. Eis um exemplo de narrativa sensível, de elevar a narrativa a sua condição de objeto estético, poder reconhecer a arte da narrativa, a narrativa como arte e entender que os perceptos e afetos imanentes às narrativas é que explicam a sua potência formadora para os profissionais da medicina. 94 A Noite da Sabedoria Talvez de todas os ditos que repito inúmeras vezes para os meus alunos da medicina – e que ouvi de um dos meus professores mais queridos – a noite da sabedoria é o que mais fica marcado na mente dos meninos. Talvez porque tenha um sentido duplo, contraditório. Por um lado ansiogênico, por outro, consolador. Ouvi tantas vezes, durante meus estágios na nefro, na clínica médica do hospital escola, durante a faculdade. Repito tantas vezes para meus alunos agora: – Para que esperar pela noite da sabedoria? Sabem o que é a noite da sabedoria? Não? É aquela na qual vocês dormem doutorandos, acadêmicos de medicina, cheios de dúvidas e questões não respondidas e acordam médicos, com CRM, prontos para prescrever, operar, atender, medicar. E insisto: – Vão esperar pela noite da sabedoria ou vamos começar a estudar desde agora? Como eu disse, acho que essa historinha fica tão marcada na cabeça dos meninos porque, por um lado, põe pilha na vontade de estudar e justifica o esforço decorrente de memorizar tanto conteúdo que se afigura durante os anos de graduação. Por outro lado, deixa no ar que algo mágico, algo transcendental e hipocrático vai acontecer quando a hora chegar. 2.1.5 A questão de Estilo: “Nós estamos interessados na visão mas temos pouco interesse na cegueira”. Ou o outro Eu viável No Congresso de Humanidades Médicas em Londres, em 2013, um dos palestrantes contou a história deste pacientezinho, um menino novinho vítima de queimaduras graves e deformantes. Após meses de internação, dor e sofrimento, finalmente o menino estava em condições de ser mandado para casa. Ele deveria usar um daqueles trajes especiais para tratamento em longo prazo de queimados e, no seu caso, as queimaduras – e o traje – cobririam boa parte do seu corpo miúdo. Acontece que o menino negava-se a sair do quarto, vestido daquela maneira e inventava sempre um novo motivo para não receber alta hospitalar. Então, seu médico teve uma ideia brilhante. Mandou adaptar o traje-curativo para parecer a roupa do Homem-Aranha. E, assim, como que em um passe de mágica, o menino deformado e constrangido havia se tornado um super-herói!13 13 Mais recentemente, houve o caso de um menino inglês que, para lidar com um tratamento contra um tipo raro de câncer, vestiu uma roupa de tartaruga ninja para que ele pudesse sentir-se mais forte. Diário Catarinense. Disponível em: <http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2014/12/menino-usa-mascara-de-tartaruganinja-para-ter-coragem-de-enfrentar-quimioterapia-4656718.html>. Acesso em: 5 dez. 2014. 95 O médico foi capaz de encontrar, junto ao pacientezinho, para o menino uma nova realidade suportável, aprazível até! O médico criou, construiu junto (e para) o menino uma narrativa fantástica em que houvesse a possibilidade de viver na nova condição imposta pela queimadura grave. O médico buscou um novo estilo para a nova vida do pacientezinho. O médico construiu uma narrativa, permitindo o aparecimento de uma nova identidade, uma identidade que proporcionou um estilo de existir mesmo privado da vida conhecida antes do trauma ou da doença. Encontrar um estilo para se estar doente. Encontrar um estilo para viver, apesar da doença. Encontrar um estilo para viver com a doença, com a condição limitante, com a dor, com sequelas, com cicatrizes. Auxiliar o paciente a encontrar um estilo novo, original e potente é uma das possibilidades da medicina narrativa. Isso porque somente será possível ao médico ajudar o paciente nesta [re]descoberta se ele ou ela forem capazes de instalar-se no acontecimento-paciente. Cada história é uma história singular. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Para que se possa compreender e facilitar a revelação desta força que pode estar adormecida dentro de cada paciente é preciso ouvir e dar voz aos sentimentos do paciente. O médico, então, passa a ser um veículo, um facilitador, um mediador entre a antiga vida saudável do paciente e sua nova realidade que pode, sempre, trazer novas intensidades existenciais, mesmo na presença de sofrimento, de doença; mesmo na proximidade do fim. Desde a mitologia grega reconhece-se a relação entre limitação física e potência criativa. Hefesto, o deus do fogo, da forja, da metalurgia, responsável pela confecção dos escudos, das asas, das armas dos deuses do olimpo, manufaturador de Pandora, traz a potência de criar muito relacionada ao fato de ser manco. Tiresias, o profeta que desvenda o segredo a Édipo, tem o dom de prever o futuro por causa de sua cegueira. Encontrar um estilo de viver ferido, limitado, doente é encontrar a potência criadora da vida e um caminho possível para esses encontros é por meio das narrativas (escutar, contar, recontar; ler e escrever) literárias e de vida (de médicos e de pacientes). As narrativas guardam em si a coleção de estilos possíveis de se viver. As narrativas contêm em si as potencialidades de dar voz e materialidade para tais estilos. Oliver Sacks e Anatole Broyard estabelecem um diálogo frutífero em relação à criação conjunta (médico e paciente) de um estilo para viver com a doença. Como trazido anteriormente, Broyard (1992) afirma que Sacks é o tipo de médico que sabe ver graça, utilidade, estilo e até mesmo vantagens nas vidas de seus pacientes. Basta lembrar aqui alguns exemplos da literatura de Sacks que criou um gênero próprio ao acrescentar narratividade às histórias de seus pacientes. Algumas das suas narrativas foram levadas ao cinema como é o 96 caso de Tempo de Despertar14 que narra a experiência autobiográfica do autor nos seus primeiros anos de clínica neurológica, impressionado com o destino de seus pacientes catatônicos internados em um hospital nos Estados Unidos. Oliver Sacks conta, nessa narrativa, o desassossego do jovem médico quando confrontado com as limitações de uma medicina científica que ainda não dispunha de arsenal terapêutico para tratar uma condição reconhecida mais tarde como parkinsonismo. Já, nesse relato, Sacks procura desenterrar, descobrir, revelar, trazer à tona alguma forma possível de se viver, mesmo em condições tão limitadas quanto daqueles pacientes retratados. Apesar de, certamente, desenvolver um estilo literário que glamoriza as condições de seus pacientes, é o olhar empático, a simpatia, o instalar-se junto à condição do paciente que faz com que Broyard reconheça nos escritos de Oliver Sacks um médico que consegue ver “o valor terapêutico do estilo”; afinal, como afirma o paciente-escritor, [...] me parece que uma pessoa gravemente enferma precisa desenvolver um estilo para sua doença. Eu penso é somente insistindo no seu estilo é que você pode evitar de deixar de gostar de você próprio. Por vezes sua vaidade é a única coisa que lhe mantém vivo, e seu estilo é o instrumento de sua vaidade. Talvez não seja a morte o que tanto temos medo, mas a perda do self. (BROYARD, 1992, p. 25). Um médico capaz de enxergar estilos possíveis para seus pacientes. Um médico que conhece diferentes estilos, um médico capaz de criar narrativas possíveis, ou de acrescentar narratividade às histórias de seus pacientes. Novamente, Oliver Sacks (2011) oferece-nos um bom exemplo literário quando narra a história de Temple Grandin portadora de autismo que foi capaz, criando para si vários mecanismos narrativos, de chegar à universidade e ter uma vida produtiva e criativa. Ou, ainda, o caso do rapaz cego que ganhava a vida trabalhando como massoterapeuta. Levava uma vida independente, alegre e creditava boa parte de sua sensibilidade e sucesso profissional ao fato de não enxergar. Ocorre que o rapaz encontra, durante uma sessão de massagens, uma moça encantadora que se apaixona pelo toque especial do massagista cego. Entretanto, a moça, agora esposa do rapaz, não se conforma com as “limitações” que a deficiência visual impinge sobre seu companheiro e não sossega, embora ele relute, em conseguir uma cirurgia que lhe restabeleceria parte da visão. Já podemos entrever o desfecho da narrativa construída por Sacks uma vez que desde o princípio do relato as vantagens e o estilo inerente à cegueira do protagonista ficam evidentes. Ao recobrar parte da visão, o rapaz torna-se inseguro, incapaz de realizar as tarefas do dia-a-dia de forma independente, não consegue mais concentrar-se no 14 Tempo de Despertar - publicado por Companhia das Letras. Título original: Awakenings. 97 trabalho ou fazer as massagens com o grau de intensidade que a cegueira lhe proporcionava. Ansioso e infeliz, seu casamento perde o brilho inicial e a conclusão é simples: Havia mais estilo, mais força e mais alegria, para esse indivíduo, na sua condição de deficiente. Como temos argumentado, os médicos preocupados em sustentar seu status de cientistas, apartados das necessidades mais simples dos pacientes, muito por não dedicar tempo a ouvir as narrativas (e as necessidades) dos seus pacientes são incapazes de auxiliá-los na adaptação de um novo estilo de viver com necessidades especiais. Um artigo importante, tanto por sua alta narratividade quanto pela potência inerente a um artigo publicado na New England Journal of Medicine, talvez a revista de maior relevância mundial na clínica médica, ilustra muito bem a questão do quanto o científico deixa de fora a questão do estilo, tão cara ao paciente. O médico Stetten De Witt Junior (1981) conta, com objetividade, como foi atendido por anos a fio por vários oftalmologistas consagrados, expoentes da especialidade nos Estados Unidos, sem que qualquer um deles tenha sugerido ou comentado ou lhe ensinado mecanismos, instrumentos, maneiras práticas de [con]viver com a progressiva cegueira consequente da degeneração macular. Para um médico, como para a maioria dos pacientes, não deve ser fácil admitir: Minhas atividades tornaram-se profundamente restritas na medida em que meu medo encolhia à uma esfera com raio do tamanho do meu braço. Tarefas simples como encontrar a tampa da pasta de dente ou garfar um pedaço de frango no jantar tornaram-se tarefas formidáveis e atravessar a rua sem auxílio uma experiência assustadora. [...] Em todos estes anos, a despeito de muitos contatos com profissionais habilidosos e experientes, nenhum oftalmologista em nenhuma ocasião sugeriu qualquer equipamento que pudesse me auxiliar. Nenhum oftalmologista mencionou uma das muitas maneiras pelas quais eu poderia evitar a deterioração da minha qualidade de vida. Felizmente, eu descobri uma série de maneiras pelas quais eu posso me ajudar, e o objetivo deste artigo é chamar atenção ao mundo oftalmológico para alguns destes equipamentos e, com cortesia porém firmeza, reclamar do que parece ser uma atitude dos oftalmologistas: “Nós estamos interessados na visão mas temos pouco interesse na cegueira”. O doutor DeWitt está falando sobre coisas simples. Sobre mandar confeccionar um traje de super-homem, ou de homem-aranha para que ele possa enfrentar a vida. Relógios que ditam a hora, áudio-livros, programas de computador. Ferramentas, instrumentos, estratégias, maquiagens, próteses, tatuagens. São tantos os exemplos simples que podem fazer tanta 98 diferença na vida dos pacientes. No entanto, os oftalmologistas, os médicos superespecialistas, muitas vezes não querem admitir a doença, a deficiência, a limitação. Talvez, como sugere DeWitt (1981, p. 459): “Cegueira representa uma derrota para o oftalmologista.” Entretanto, se após ter dedicado tanto esforço tentando prevenir, diagnosticar e tratar condições tão complexas, cegueira é inevitável “o oftalmologista perde uma oportunidade extraordinária se ele ou ela não encaminharem o paciente a um dos mecanismos existentes dedicados a melhorar a qualidade de vida de deficientes visuais. Se os oftalmologistas gastarem a pequena quantidade de tempo necessária para estes encaminhamentos, eles certamente serão recompensados pela gratidão e afeto dos seus pacientes. Há muitas sugestões que podem transformar a vida de um cego de um inferno em vida em um viver em um inferno moderado ou, talvez, ocasionalmente, no paraíso. O oftalmologista que consiga alcançar tal transição estará alcançando um dos mais altos objetivos da profissão. Gratidão e afeto. Oliver Sacks parece ser um médico interessado tanto na cegueira quanto na visão. Medicina narrativa, uma prática da clínica médica alargada pelas habilidades advindas das narrativas. Essa é a força por trás das narrativas. A capacidade de afetar a relação do médico com o paciente e a percepção de que essa relação modificada é capaz de significar decisões clínicas compartilhadas, descoberta de novos mundos possíveis para pacientes [sobre]viverem com suas doenças, deficiências e limitações. Como trazido na primeira parte da tese, Maffesoli (1998) não só faz a crítica à razão abstrata, mas também aponta seus limites, sua fragilidade e seus pontos de exaustão. Entretanto, o sociólogo vai mais longe, propõe uma abordagem alternativa para a pesquisa (e compreensão) da realidade social. A medicina narrativa propõe, ao lado da razão instrumental, a observação de categorias de ausculta atenta ao paciente e aos dados coletados a partir dessa perspectiva, possibilidade que foi deixada de lado e não obteve legitimação de status científico na medicina tradicional. Como podemos alcançar essa razão ampliada? Quais as habilidades metodológicas (ou categorias) que, conforme Maffesoli (1998), podem “fazer sobressair aquilo que já está aí”, a forma, a descrição, a narrativa? Ao lado do senso comum, a intuição. Ah, nada menos científico do que a intuição. Intuição como “inconsciente coletivo” jungiano, ou “experiência ancestral”, ou como “forma de antecipação”, de qualquer maneira uma “sensibilidade intelectual”, que 99 pertence ao plano de pensamento da filosofia trágica de Nietzsche com sua afirmação da vida, que percebe e considera a beleza imanente à vida (amor fati). Poder-se-ia teorizar, ainda com Nietzsche, que a intuição que percebe e aproxima-se do aí vivido, da apresentação das coisas, da descrição e da narrativa do acontecido não aceita julgamentos ou formatações (ou estruturas) a priori. Trata-se de dar voz e vazão a uma “emoção afirmativa” ou de “sentimento do sim”, como traz Maffesoli (1998, p. 196), ou de utilizar-se da conjunção e, e, e insistida por Deleuze (2007). Em oposição ao “sim absoluto” ou às categorias estruturadas tão caras à Modernidade que representaram para o pensamento humano, em geral, e para as ciências humanas e sociais, em particular, um flexível talvez sim, talvez não. Se tomarmos o argumento de Osler (pai da Clínica Médica) de que o médico não deve jamais demonstrar temor, dúvida ou emoção, compreenderemos melhor a afirmação de que a ciência moderna [e a Medicina] recusa tudo o que não for objetivo ou o que de qualquer forma mostrar dúvida, fraqueza ou incerteza. Ouçamos Sir William Osler (1849-1919) discursando aos seus alunos no auge da medicina moderna: Eu poderia ter a lembrança de poupar-vos [...] tão “infelizes e pálidos e de olhos pesados de estudos”; e a piedade que sinto leva-me a considerar senão dois dentre os muitos elementos capazes de construir ou arruinar nossas vidas – capazes de contribuir para o vosso êxito ou de vos sustentar nos dias de insucesso. Em primeiro lugar, nenhuma qualidade se equipara no médico ou no cirurgião à da imperturbabilidade, e por alguns momentos me proponho a chamar vossa atenção sobre esta virtude primordial do homem. [...] Imperturbabilidade significa serenidade e presença de espírito em todas as ocasiões, calma na tragédia, clareza de julgamento em situações graves, imobilidade, impassibilidade, ou ainda, para empregar um termo desusado e expressivo, fleugma; [...] e o médico que tem o infortúnio de não a possuir, que demonstra indecisão e cuidado, e que se mostra excitado e se agita em circunstâncias ordinárias, perde rapidamente a confiança de seus doentes. (OSLER, 1932, p. 3-4, grifos do autor). São famosos e emblemáticos os longos discursos proferidos por Osler aos alunos de medicina. Célebres são, também, suas contribuições científicas para a clínica médica, sendo um dos autores mais famosos, especialmente no que tange às capacidades de raciocínio clínico. Osler fala-nos desde o final do século XIX, e seu discurso deixa clara a vocação positiva e 100 científica da prática médica. Era vedado ao médico, nos tempos modernos, demonstrar fraqueza, insegurança ou indecisão. Tais adjetivos são errados, incompatíveis com a boa prática da medicina. Em outros trechos de seus longos discursos, Osler insiste com o caráter impassível do bom médico. Para a relação médico-paciente, regras claras e objetivas; para as atitudes e decisões do médico, precisão e linha reta. Restava ao paciente responder (com objetividade) às perguntas que lhe eram dirigidas e não duvidar (jamais) do escrutínio de seu médico. Nada de sóbrio, embaçado, escuro, duvidoso ou intuitivo. Entretanto, a intuição é inseparável do humano. Querer compreender a existência, a vida, o social ou o individual tornase vazio se desconsiderarmos a intuição. E aqui se configura a aproximação entre o conhecimento intelectual e o estético propriamente dito, porque a experiência estética é aquela que “sabe aderir àquilo que é, viver e fruir daquilo que é” (MAFFESOLI, 1998, p. 133). Ao lado da objetividade moderna, associar intuição poética, dimensão estética, ênfase na forma, na apresentação, na multiplicidade do vivido. A elevação da intuição a um patamar científico, se assim podemos afirmar, traz consigo a elevação da subjetividade como um todo ao nível do academicismo, do científico e do metodológico em direção à produção de conhecimento. Aliás, eis aqui uma das grandes potencialidades desta teorização: acabar com mais uma das polaridades da Modernidade. O subjetivo como algo não científico, irracional e inútil na produção do conhecimento e o mérito inquestionável do que é frio, calculista e objetivo. Agora, falamos em compreender o mundo, o social e o singular nas ciências humanas e sociais e essa dicotomia não se faz mais necessária. A razão sensível admite (e faz uso) da intuição, do senso comum, do afeto na compreensão dos fenômenos humanos e sociais. Aliás, vem bem ao encontro da perda da necessidade de outras polarizações tão caras à ciência moderna: “A natureza não mais como algo a dominar, conhecer com maestria, esgotar, mas, muito pelo contrário, como uma parceira com a qual convém estabelecer uma reversibilidade. [...] Natureza que pode ser abordada diretamente sem passar pela mediação da cultura” (MAFFESOLI, 1998, p. 134). Falamos de ultrapassar a necessidade moderna de unidade, de unificar explicações, causas e efeitos. Fazer uso da intuição que pode instrumentar melhor a compreensão de múltiplas explicações, de diferentes, de específicas (às vezes, opostas) abordagens ao real. Em poucas palavras, relevantes para os pressupostos desta tese, compreender a realidade humana, produzir conhecimento acadêmico nas ciências humanas e sociais na contemporaneidade, provoca a urgência de uma intelectualidade mais orgânica, dinâmica e global. E como a intuição constitui e permeia a razão sensível, a dimensão estética e a afetiva tornam-se aliadas na construção de um método que, ao invés de tentar explicar (da ordem da representação) os 101 fenômenos humanos e sociais, ocupe-se em compreender (limitando-se à apresentação das coisas) a “significação interna dos fenômenos observados”. Uma intelectualidade tão bem descrita por Kay Redfield Jamison (1998) em sua autobiografia incisiva e comovente que descreve sua vida como portadora de doença bipolar (por muito tempo conhecida como psicose maníaco-depressiva). A doença bipolar é uma condição muito própria para discutir-se a questão do estilo. A possibilidade de encontrar vida potente e prazerosa convivendo com a montanha russa de afetos que passam, ao longo da vida, de depressões profundas a estados maníacos fantásticos. Acompanhar a intelectual, psicóloga célebre em sua trajetória de vida, convivendo com os sintomas da doença e suas repercussões sociais e afetivas traz ao leitor uma noção próxima do que é ter que reinventar-se a cada dia, constrangido por limites ou por alçado a horizontes longínquos ditados não por vontade autônoma, mas sim pela condição da doença. Escolhemos um recorte da biografia intitulada Uma mente inquieta (JAMISON, 1998) que reflete a sensibilidade de um médico-professor em reconhecer o estilo (ou o próximo eu viável) de sua nova colega de trabalho: Por isso, era com certa apreensão que eu esperava pela sua reação ao meu relato de que estava recebendo tratamento para a doença maníaco-depressiva bem como a minha afirmação de que precisava conversar com ele sobre a questão da minha licença para clinicar no hospital. Eu observava seu rosto à procura de algum indício de como ele se sentia. De repente, ele estendeu a mão por cima da mesa, segurou a minha e sorriu. “Kay, querida, eu sei que você é maníaco-depressiva.” Ele fez uma pausa e deu uma risada. “Se fôssemos nos livrar de todos os maníacos-depressivos no corpo docente da escola de medicina, não só teríamos um corpo docente muito menor, mas também muito mais entediante.” (JAMISON, 1998, p. 249). 2.1.6 As narrativas e o senso comum A primeira noção que ouvimos ao adentrar o mundo acadêmico é a distinção necessária (explosão) entre o que é científico e o que é senso comum. Nos textos médicos técnicos e científicos, a linguagem é sempre de especialidade, prima-se por evitar e subtrair termos leigos, 102 quaisquer expressões que se refiram às crenças ou às explicações de entidades patológicas provenientes do senso comum. A modernidade e o corte epistemológico encarregaram-se em classificar o senso comum como débil, fraco, inútil e destituído de valor significativo. A intuição e a metáfora compõem o que conhecemos como senso comum e, portanto, desnecessário seria repetir sua vitalidade e sua capacidade potencial de apresentar o que é significativo nos fenômenos humanos. Talvez possamos ousar e abrir mão da comodidade do método regido e estruturado de conversar com nossos pacientes e procurar uma anamnese mais acariciante, mais orgânica, mais aberta à expressão propriamente dita do que o paciente tem ou consegue narrar. Em um artigo alarmante publicado no Annals of Internal Medicine, Beckmann e Frankel (1984) acompanharam 74 consultas médicas e registraram que em somente 23% delas foi dado ao paciente a oportunidade de completar sua narrativa inicial, explicando o problema que o teria feito procurar assistência médica. Em 51 consultas, correspondendo a 69%, o médico interrompeu a narrativa do paciente e dirigiu perguntas para problemas específicos. Somente em uma destas 51 consultas foi permitido ao paciente completar o motivo de sua visita. A conclusão dos autores é que a postura do médico interrompendo a narrativa do paciente traz consequências sobre a qualidade das informações coletadas. A isso, adicione-se a potência afetiva negativa que tal atitude traz à relação médico-paciente. Está se teorizando aqui que um corpo que padece requer ter sua voz ouvida, de forma ampla, respeitosa, irrestrita, sem as interrupções tão caras à coleta da anamnese tradicional. Talvez, como explica Kleinman (1988, p. 233), devíamos dar mais crédito às primeiras anamneses que os alunos costumam fazer nos primeiros momentos da clínica médica, nos primeiros anos do curso de medicina. Waitzkin (1991, p. 28) propõe-se a explicar porque médicos interrompem as narrativas dos seus pacientes: 1. A crença de que a história contada pelo paciente não ajuda no processo lógico do raciocínio clínico do médico; 2. A versão do paciente pode ser confusa ou inconsistente; 3. Escutar a narrativa do paciente pode tomar mais tempo do que o médico tem disponível para a consulta; 4. Partes da história podem conter sentimentos que são, de uma maneira ou outra, desconfortáveis para o médico. Se abrirmos completamente a anamnese, desistindo do modelo clássico rigoroso que, tradicionalmente, utilizamos, certamente aparecerá em toda sua potência e sua complexidade o senso comum, as metáforas e a intuição própria das narrativas humanas. Essa humanidade tanta, de uma forma paradoxal, parece deixar desconfortável o médico tradicional, científico, moderno. 103 Talvez, de todos, o argumento mais utilizado por médicos para justificar a interrupção precoce das narrativas dos seus pacientes seja a questão do pouco tempo disponível para as consultas. Entretanto, Kleinman desmonta esse argumento quando explica que no curso das doenças crônicas o médico terá inúmeras oportunidades de ouvir a narrativa completa de seu paciente. Desde que não desista do paciente: “Se não esta semana, na próxima ou no próximo mês, o método [narrativo] pode ser acomodado na rotina do cuidado – desde que o médico permaneça com o paciente (física e existencialmente) durante o longo curso” (KLEINMAN, 1988, p. 229). Permanecer com o paciente ao longo do tempo, apesar da falta de perspectiva de cura – nos casos de doenças crônicas ou terminais– parece ser uma conclusão tão senso comum, tão primária, tão essencial. E é! Entretanto, o que a prática da clínica demonstra é que os médicos, pelas razões apontadas anteriormente, não toleram a continuidade física e existencial dos pacientes sem perspectivas de cura e costumam, inadvertidamente, encaminhar a outros médicos pacientes que poderiam – deveriam – permanecer aos cuidados do “seu” médico. Para compreender essa dimensão de cuidado, é que o estudo das narrativas se impõe, também, como formador de habilidades afetivas tão necessárias ao trabalho do médico clínico. De maneira alguma, propõe-se aqui abrir mão do rigor científico ou das conquistas da razão abstrata moderna. O que se teoriza é um método racional ampliado, uma razão sensível. As possibilidades da medicina e da clínica médica alargadas e enriquecidas por esta dimensão estética (ou narrativa) de ouvir o paciente e de compreender, profundamente, o que se passa na existência do indivíduo singular que, por meio de um encontro profissional, passou a ser nosso paciente. A valorização do senso comum e de seus componentes – intuição e metáfora prestamse muito bem para a clínica médica, especialmente no cuidado de pacientes gravemente enfermos, portadores de doenças crônicas ou incuráveis acompanhados em unidades de tratamento paliativo. Gostaríamos de teorizar que esses homens e essas mulheres, nossos pacientes, quando nessas situações, encontram-se em altos graus de intensidade afetiva. A vida revelou-lhes toda sua tragicidade. Nada mais há de ser feito do ponto de vista estritamente científico, técnico ou racional. Tudo o que conta para esses pacientes é a qualidade de vida, é a vida que lhes resta, vida que insiste, pulsa e se expressa com nuances e sentimentos que escapam aos limites da razão abstrata. Como salienta o Professor Celmo Porto (2008): A afirmativa de que cuidar dos pacientes é o que há de mais importante na profissão médica poderá ser comprovada com muita nitidez (e com algum sofrimento) ao lado de um paciente em fase terminal. O que você deve fazer em tais circunstâncias? Isso não posso resumir em poucas palavras. Descubra você mesmo. Mas, de uma coisa eu 104 sei: esta é a hora em que o lado humano da Medicina ocupa todo o tempo e o espaço que se vai dedicar ao paciente. Aqui o valor da semiotécnica é zero. Então, o que vai valer? Seria uma palavra de conforto? Um gesto de apoio? Ou apenas uma presença silenciosa? (PORTO, 2008, prefácio da quarta edição). Que longo caminho desde Osler até nós. Quanto de medicina baseada em vivência o professor Celmo Porto aprendeu (e ensinou) durante sua vida de médico (e de professor de medicina)! Sei, porque tive o privilégio de lhe perguntar, que o professor Porto leu Tolstoi e sua narrativa da morte de Ivan Ilitch. Eis a Literatura ensinando ao médico, eis o professor de medicina intuindo sua função no cuidado do paciente que está morrendo. Literatura e Medicina, intuição e técnica, Arte e Ciência. Os pacientes graves e cronicamente doentes sonham. Os pacientes sob cuidados paliativos e de final de vida fantasiam, contam histórias e estórias, confabulam, incluem paradoxos e metáforas nos seus discursos diários, nas suas tentativas de expressar (e compreender) a existência. Importante enfatizar que esses recursos de linguagem são comuns aos médicos que também não podem contar com seus arsenais tecnológicos quando se trata de atender pacientes sem perspectivas de cura, pessoas que necessitam de cuidados paliativos ou de cuidados de final de vida. É nessas situações em que podemos compreender melhor o papel a ser desempenhado pelo senso comum na significação do que se passa com o paciente (e com o médico), na compreensão do acontecimento doença, no conhecimento profundo do paciente sob nossos cuidados, no suporte às decisões que teremos de tomar na qualidade de médicos e que deverão ser decididas pelos pacientes e pelos seus familiares. Talvez o artista, o literato, o poeta saiba expressar mais o que acima tentamos teorizar: com a palavra Jorge Luis Borges: “A velhice pode ser o nosso tempo de ventura. O animal está morto, ou quase morto. Restam o homem e a alma” (BORGES, 1999, p. 42). Esse é o argumento mais forte do rigor epistemológico e científico de inclusão do senso comum, onírico, coletivo, intuitivo, arcaico, primordial, natural, humano (demasiado humano) no arsenal do médico (ou do cientista social) para diagnóstico das profundas questões existenciais com as quais nos deparamos continuamente no exercício de nossa profissão. O homem vive, sonha, imagina, fantasia, acredita, adoece, quer ficar bem. Tem medo e esperança, deseja, padece, recupera-se, segue em frente, conquista, recai, vive e morre. O cientista humano (médico) ou social será tão mais objetivo (rigor científico e metodológico) quanto mais olhos colocar sobre seu objeto de pesquisa. Se essa afirmação procede, então não há mais, em tempos de pós-modernidade, como evitar a inclusão do senso comum no processo de significação da existência. 105 Não há método estruturado ou pré-concebido que dê conta da complexidade, da tortuosidade e da beleza da vida, ainda que admitamos seu caráter trágico; aliás, justamente pela dimensão estética que potencializa essa tragicidade. Talvez Fernando Pessoa pudesse resumir este capítulo: “Há um cansaço da inteligência abstracta, e é o mais horroroso dos cansaços. Não pesa como o cansaço do corpo, nem inquieta como o cansaço do conhecimento e da emoção. É um peso da consciência do mundo, um não poder respirar da alma” (PESSOA, 2011, p. 74). 2.2 O QUE MAIS PODEMOS FAZER: PROPOSTAS [NARRATIVAS] PEDAGÓGICAS To tell a story is to try to understand it. H. Porter Abbot. Certamente, a principal iniciativa didática a respeito das narrativas em medicina está formulada no livro de Rita Charon intitulado Narrative Medicine: Honouring the stories of illness, de 2006. A propósito, o próprio termo Medicina Narrativa foi, muito recentemente, cunhado pela professora Rita Charon na Columbia University para designar, conforme sua teorização, uma forma de praticar a Medicina, especialmente a clínica médica com maior competência para reconhecer e representar as histórias das doenças dos pacientes (CHARON, 2006). Uma forma de medicina que auxilia a aproximação do médico e seu paciente, permitindo que as ações provenientes dessa interação sejam mais humanas, no sentido de proporcionar conforto, segurança e alcance de desejos recíprocos e individuais de ambos, médico e paciente. Para tanto, teoriza-se que as competências que passaram a ser chamadas de narrativas, permitem ao médico aproximar-se, ou melhor, seria dizer, afetar-se pelas histórias narradas por seus pacientes e, assim, praticar uma clínica médica mais humanizada. Para Charon (2006, p. 30), um professor de literatura e medicina “[...] quer educar estudantes de medicina a desenterrar sentidos da linguagem, incluindo no termo linguagem tudo que vai desde a gramática e as metáforas até os estigmas e cicatrizes dos pacientes”. Launer (2012) afirma que é por meio das narrativas que a humanidade tem contado todas as histórias que perduram e que permanecem relevantes através dos tempos. Como enfatiza esse autor, desde a Odisseia de Homero, as narrativas têm sido construídas com uma sucessão de voltas ao passado – flashbacks – e é com essa estrutura textual composta de alguém que conta algo para um ouvinte atento é que tem sido possível ouvir o clamor, as alegrias e as dores daqueles que viveram o acontecimento narrado. 106 Colher a história das doenças dos pacientes é, definitivamente, o pilar da clínica médica. Ensinamos os alunos do segundo ou do terceiro ano da graduação a sentar e a ouvir, atentamente, as queixas, os sintomas; os antecedentes pessoais e familiares – fisiológicos e mórbidos – dos pacientes. Tradicionalmente, ensina-se uma abordagem de realizar a anamnese (o contrário de amnésia) de uma forma estruturada e objetiva (PORTO, 2001). 2.2.1 Ampliando a anamnese tradicional No método clínico convencional, utilizado atualmente de forma hegemônica em toda a Medicina ocidental (BICKLEY, 2013), cabe ao médico, ouvinte atento, transformar uma narrativa, na maioria das vezes interrompida e objetivada, em uma representação redigida de forma técnica e com linguagem científica que pretende representar a famosa HDA, ou seja, a história da doença atual do paciente. Os passos a serem registrados nessa anamnese dirigida serão sumarizados a seguir, com uma explicação compreensiva (e compreensível) de suas normas, regras e técnica semiológica. Contudo, antes que sejam descritos os passos da anamnese convencional e a estrutura rígida da entrevista clínica, é preciso que se resgate a forma intuitiva que o Professor Celmo Celeno Porto utilizou para introduzir o tema da entrevista clínica em seu consagrado “manual de Semiologia Médica”, conhecido carinhosamente por todos os estudantes de Medicina do Brasil como Portinho. Por pura intuição e, certamente baseado nas vivências que sua experiência de médico (e de professor) lhe proporcionou, o Professor Celmo Porto inicia a exposição sobre a entrevista clínica narrando os momentos que precederam o encontro entre o paciente vindo do interior do Amazonas com seu futuro (até então desconhecido) médico da capital. É comovente notar que, antes de explicar a estrutura da anamnese tradicional, o Professor Porto insista em singularizar esse encontro por meio da narrativa (fictícia) da vida de ambos (paciente e médico). Sim, poderíamos ter aprendido antes, no livro texto de Semio, que há algo mais nesses encontros que a técnica tradicional de entrevista clínica não consegue captar. Como temos dito: a vida escapa à estrutura! 107 Médico: Bom dia, seu José (o médico sabia o nome porque estava no prontuário). Paciente: Bom dia, Doutor. (O paciente não sabia o nome do médico. Era apenas o “doutor”). Médico: O que o senhor sente? (Era sua maneira de iniciar a anamnese.) Paciente: O que eu sinto, Doutor, é muita saudade da minha mulher e de meus meninos! Deixei eles ontem de madrugada. Minha mulher toma conta direitinho deles. Eu sei... mas estou preocupado com eles. Médico: (pensando: “o paciente não entendeu “o significado” de minha pergunta. Vou modificá-la”): Seu José, o que o senhor tem? Paciente: Ah! Doutor, não tenho quase nada. Só tenho muitas galinhas, um porquinho engordando no chiqueiro, uma rocinha de mandioca, pouca coisa, Doutor. Médico: (pensando: “Fiz a pergunta de maneira errada, outra vez!”). No mundo interior do paciente naquele momento “sentir” e “ter” não estava relacionado com sua doença. (PORTO, 2008, p. 22-23). E por aí seguem as entrevistas estruturadas pelo médico para tentar compreender o que o paciente precisa expressar. Sim, o Professor Porto intuiu que faltava alguma coisa à anamnese e, para resolver o impasse linguístico estabelecido entre o médico e o paciente, ele se utiliza do nosso arsenal técnico-científico e passa a examinar o paciente enquanto interroga sobre os diversos sintomas que o paciente possa relatar. Sim, essa técnica de anamnese funciona. Sim, a entrevista clínica tradicional tem resolvido a maior parte dos diagnósticos simples ou complicados que temos encontrado ao longo de nossas práticas. Entretanto, como teorizamos nesta tese, a Medicina Narrativa e a consideração da razão sensível (e a consideração estética do encontro médico-paciente) pode ser um alargamento ou ampliação das nossas competências como médicos-artistas que praticam a Arte Clínica. A anamnese tradicional inicia-se pela queixa principal (QP) que significa, objetivamente e nas palavras do paciente, aquilo que o trouxe ao médico, ou ao pronto atendimento naquele momento específico. Registra-se exatamente o que o paciente diz, nas suas próprias palavras, quando perguntado sobre o evento ou a queixa que o fez procurar assistência médica. Assim, o médico registra, por exemplo: QP: dor no pé há três dias. Ou, falta de ar quando caminha, e assim por diante. Logo em seguida à QP vem o corpo principal da anamnese, a história da doença atual (HDA). É nessa seção da anamnese que o médico deverá organizar cada um dos sintomas referidos pelo paciente em ordem cronológica, registrando, cuidadosamente, todas as características semiológicas de cada uma das queixas relatadas. Por exemplo, se a queixa se refere a uma dor abdominal, cabe ao médico perguntar, especificamente, quando essa dor 108 começou e como ela se comporta no tempo: é contínua, intermitente, vai e vem em que intervalos, o que o paciente fez em relação a essa dor: tomou remédios, foi a outros médicos, realizou exames ou procedimentos? A dor se relaciona com o quê? Dói quando come ou quando evacua? Notou algum sintoma associado à dor? Se sim, caracterizam-se cada um dos sintomas referidos, por exemplo: houve alteração do hábito intestinal que passou de fezes bem formadas uma vez ao dia para três ou quatro evacuações diárias. Cabe ao médico investigar, perguntar e anotar o aspecto das fezes, seu volume, se há muco, ou pus, ou sangue. Ainda na HDA, o sistema acometido, ou seja, aquela parte do corpo humano que parece estar com algum problema e que, de alguma forma, relaciona-se às queixas atuais do paciente deve ser, sistematicamente, revisada. No corpo da HDA, portanto, serão afirmados ou negados todos os sintomas do sistema acometido. Nesse último acima, por se tratar de dor abdominal, o médico deverá questionar o paciente a respeito de queixas relacionadas à boca e à deglutição (odinofagia); ao esôfago (disfagia); ao estômago (náuseas, vômitos, pirose, azia); aos intestinos (melena, hematoquezia, enterorragia, etc.); ao ânus (sangramento anal, tenesmo) e às vias biliares (acolia e icterícia). Assim mesmo, cada sintoma perguntado ao paciente, mais ou menos diretamente, deverá ser devidamente traduzido para o vocabulário médico específico. Na HDA, não podem ser utilizados termos referidos espontaneamente pelo paciente, em sua linguagem coloquial. Se o paciente refere sensação de gases no abdome, escreve-se flatulência; vômito com sangue tornase hematêmese, e se o sangue vier dos pulmões, tratar-se-á de hemoptise. Felizmente, para algum alívio (ou graça) das regras inflexíveis da anamnese tradicional, permite-se o uso eventual da expressão sic que, em latim, significa isto, exatamente isto (PORTO, 2008). Essa expressão fez a alegria de muitas de minhas anamneses durante toda minha vida de médica. Como traduzir, por exemplo, a tal bola que sobe e desce, tão referida pelos pacientes angustiados, mas que nunca aparece. É certo que existem expressões do jargão técnico que podem representar tais queixas singulares e individuais, mas como deixar de escrever na HDA que a paciente refere sua dor como “uma dor doída na cabeça”, ou “uma dor cansada na perna”. Quando se quer resguardar uma expressão dita pelo paciente e de tradução impossível ou desnecessária, usa-se, entre parênteses, a expressão sic. Outra grande utilidade dessa ferramenta da escrita da anamnese é quando o paciente refere um diagnóstico específico cuja veracidade ou acuidade não pode ser verificada (por meio do prontuário ou de laudos de exames). Dessa forma, se o paciente referir, por exemplo, que sua dor seguiu-se a realização de uma endoscopia digestiva que revelou uma úlcera no estômago, essa informação deve ser 109 registrada da seguinte maneira: paciente refere ter realizado uma endoscopia que mostrou úlcera gástrica (sic). Isso porque, apesar da informação ser relevante, se o paciente fez uma endoscopia alta ou uma colangiopancreatografia retrógada é algo a ser desvendado. Os pacientes, assim nós médicos julgamos, confundem com frequência procedimentos, nomes de remédios, de exames e de doenças. Se a úlcera referida era “de verdade” uma úlcera ou tratavase de uma gastrite; ou, ainda, se a úlcera era gástrica ou duodenal não pode ser afirmado. Úlcera é úlcera para o paciente, mas o médico “sabe” quantas entidades diferentes o termo úlcera pode representar: úlceras benignas, malignas, cânceres diversos, tratáveis, intratáveis... A anamnese tradicional tem como pressuposto que a objetivação da história e a anotação sistemática de cada sintoma bem caracterizado é a melhor forma de organizar o raciocínio clínico, de criar uma lista de problemas e de formular hipóteses diagnósticas que orientem a conduta adequada a ser tomada. Exames devem ser solicitados e prescrições têm de ser pensadas. Desse ponto de vista, quanto mais objetiva for a anamnese, melhor orientado será o exame físico e mais acertada e sábia será a conduta adotada pelo médico. Após a HDA, procede-se à Revisão dos Sistemas, também conhecida como Investigação sobre diversos aparelhos e sistemas (ISDAS). Essa etapa da anamnese objetiva não deixar de fora nenhum sintoma que, por ventura, o paciente apresente e que não tenha, espontaneamente, sido relatado durante a HDA. Assim, como em um verdadeiro interrogatório, metralhamos o paciente com perguntas e questões a respeito de seu peso, seus hábitos de sono, sobre dor de cabeça, tonturas, sudorese, etc. Pergunta-se e registra-se como está funcionando cada órgão e sistema do corpo: o neurológico (tonturas, convulsões, cefaleias); o respiratório (tosse, expectoração, dispneia, chiado); o cardiovascular (dor no peito, angina, edema); o digestório como já foi citado; o gênito-urinário (polaciúria, poliúria; disúria, noctúria, leucorreias e dispareunia); aparelho locomotor e pele - cada um com seus sintomas e características devidamente questionadas e registradas sistematicamente. A última parte do método clínico convencional que antecede a realização do exame físico do paciente contém o registro dos antecedentes pessoais e familiares com a anotação de alergias, doenças próprias da infância, internações, cirurgias, partos, menarca e menopausa. Investigam-se doenças na família, tais como diabete, hipertensão arterial sistêmica e câncer. Se os pais ou irmãos são falecidos, cabe registrar com que idade e de que faleceram esses familiares. Também resta a anotação dos hábitos e das condições de moradia onde se pergunta e se registra se o paciente fuma (quantos cigarros, há quanto tempo) ou tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, quantas doses por dia, se destilados ou cerveja. 110 A objetivação da história dos pacientes em representações técnicas e sistemáticas, como a que vem sendo usada tradicionalmente na maioria das escolas de Medicina do ocidente, reflete, claramente, o tipo de Medicina que vem sendo ensinada e, consequentemente, praticada por quase todos os médicos ao redor do mundo. Por certo não é assim, dessa forma sistemática e organizada, que os pacientes expõem suas histórias. Não é dessa forma objetiva e regrada que as pessoas contam seus padecimentos, suas queixas ou os acontecimentos relevantes de suas existências. Os pacientes procuram contar o que sentem. Muitas vezes nem sabem como expressar seus sofrimentos e sintomas (CHARON, 2006). Um ouvinte atento percebe que por trás do relato de sintomas e queixas mais ou menos específicas encontram-se afetos, muitas vezes, desconhecidos pelo próprio paciente. Suas certezas e dúvidas, suas crenças e medos, verdades e mentiras que se entrelaçam em uma narrativa interrompida pelo médico-técnico que aprendeu e procura colher a anamnese ideal, objetiva e prática. Muito cedo, ensinamos aos alunos da Medicina que existe uma forma correta de realizar a anamnese, inclusive corrigimos e avaliamos sistematicamente as anamneses realizadas por nossos alunos ao longo do tempo de formação. Nada de digressões ou termos não técnicos, de preferência textos curtos e rápidos com expressões padrões tais como: paciente refere isto e aquilo há tanto tempo; tudo traduzido para o jargão médico que não deixa qualquer dúvida: melena é melena e este sangramento deve vir de algum lugar acima do ângulo de Treitz, ponto final. Se o fato de evacuar sangue traz para o paciente um medo sobrenatural por causa de lembranças que traz da infância ou de medos que ele prefere nem proferir, ou ainda de hábitos dos quais ele se envergonha ou não relaciona com a queixa apresentada, a anamnese tradicional não consegue alcançar. Para resolver o dilema do médico amazonense e seu paciente ribeirinho, a Medicina Narrativa sugere que se inicie a anamnese com a seguinte proposição: Seu José, conte-me tudo que eu preciso saber sobre o senhor! E aí, como nos ensina a Professora Rita Charon (2006), há de sentar-se sobre as mãos em um esforço hercúleo para deixar o paciente falar. Deixar que ele ou ela conte o que se passa no seu interior (como diz o Professor Porto na narrativa do seu paciente fictício). O médico há de conter-se, em um esforço intelectual e afetivo (fazer uso de sua razão instrumental e sensível), para deixar fluir a narrativa. Certamente, então, o paciente poderia expressar, e o médico compreender, profundamente o que o motivou a procurar assistência médica. Teoriza-se, assim, que um médico que aprendeu e desenvolveu competências narrativas fará anamneses muito diferentes. Terá uma escuta diferente, mais paciente, mais demorada. 111 A D. Nina, como vou chamar esta minha paciente de 85 anos, foi transferida aos nossos cuidados – na clínica médica – após uma internação prolongada na equipe de cirurgia geral. Constava no prontuário que ela havia procurado o serviço de pronto atendimento de outro hospital há mais de 20 dias por queixar-se de dor abdominal difusa, de forte intensidade que se iniciara aproximadamente dois dias antes da consulta. A dor, em cólica, no princípio, originava-se na região lombar direita, irradiando-se para o flanco e fossa ilíaca direita. Nas últimas horas era sentida difusamente em todo abdome, sem fatores de alívio, de forte intensidade. A paciente, ansiosa e com fácies de dor negava alterações do hábito intestinal (sempre fora constipada), sangramentos digestivos, náuseas, vômitos, icterícia ou queixas urinárias. A revisão dos sintomas dos diversos aparelhos e sistemas não evidenciou queixas relevantes. Os antecedentes mórbidos incluíam tratamento clínico para cardiopatia isquêmica – sem sintomas nos últimos meses e artroplastias prévias no joelho direito e no quadril esquerdo, além de uso crônico de analgésicos e anti-inflamatórios para alívio de dor lombar e dores articulares causadas por osteoartrose severa. Referia uma gravidez – parto normal há 52 anos, sem outras intervenções cirúrgicas abdominais. Exame ginecológico preventivo e mamografia realizados há mais de 10 anos. A conduta do colega do pronto socorro foi padrão. Exame físico completo que evidenciou dor abdominal de forte intensidade, sem sinais de irritação peritoneal e sem outros achados específicos. Após a realização de exames laboratoriais e de um ultrassom de abdome que foi tecnicamente difícil por conta do desconforto da paciente, decidiu-se pela realização de uma tomografia computadorizada. O radiologista de plantão, após a análise das imagens, sugeriu a hipótese de isquemia mesentérica. Imediatamente a paciente foi transferida para nosso hospital, avaliada pela equipe da cirurgia e operada. A laparotomia foi branca. Nada foi encontrado. Não havia isquemia, sinais de inflamação, tumores, enfim – nada que justificasse o quadro de dor abdominal apresentado pela D. Nina. O pós operatório transcorreu sem intercorrências, exceto pelo fato de que a paciente se queixava cada dia de dor abdominal mais intensa, mudando o padrão, a localização, o tipo de dor, cada vez que questionada. Às vezes, doía em queimação na boca do estômago (sic), outras em faixa com irradiação para as costas. As características dos sintomas fizeram a equipe cirúrgica pensar em pedras na vesícula, cálculos renais, úlcera perfurada, pancreatite aguda... “E o pulso ainda pulsa”*. Talvez complicações da cirurgia recente. Todas as hipóteses foram consideradas e, sistematicamente, afastadas. Novos exames, ultrassom, nova tomografia. Nada. Nada também era capaz de diminuir a dor de D. Nina que após tantos dias de internação já se mostrava uma velinha irritadiça, que exigia da equipe médica uma solução para seu problema. Costumava dizer: o doutor fulano prometeu que iria me operar e me livrar dessa dor. Agora estou aqui, com a barriga aberta e com a dor pior do que antes. Muitos dias de internação, muitas drogas analgésicas potentes e... nada. A dor era constante, forte, insistente, sem alívio. Passaram-se dias, os pontos cirúrgicos foram retirados, exames laboratoriais e de imagem normais, dor e dor, os colegas da cirurgia pediram que a nossa equipe assumisse o caso. Assim conheci D. Nina. Cheguei cedo para a visita diária. Sete horas da manhã, revisei o prontuário e pensei: - O que pode justificar uma dor abdominal tão importante em uma senhora nesta idade que não tenha sido diagnosticado pela diligente equipe de cirurgia geral em mais de vinte dias de internação? Intrigada, entrei no quarto de D. Nina com atenção redobrada. Em 25 anos de medicina, aprendi a conhecer os casos nos quais a atenção aos detalhes clínicos se faz mais necessária. Quando pressinto essa necessidade, sei que devo sentar ao lado do leito do paciente, pegar sua mão e ouvir sua história. Eis a história de D. Nina. ... ... 112 ... A paciente, agora com 85 anos, era natural de uma cidade do Rio Grande do Sul, estado vizinho a Santa Catarina onde trabalho na enfermaria de clínica médica de um hospital de cerca de 300 leitos, conveniado ao SUS. Enfim, D. Nina havia chegado a nossa cidade somente três ou quatro dias antes de sua internação. Tinha vindo morar com sua nora. – Com seu filho? – perguntei porque havia lido a referência de uma gestação e um parto há 52 anos. – Não, respondeu a paciente. Meu filho morreu há dois anos. – Ah, retruquei, jovem! – Sim, foi sua resposta lacônica. Jovem demais. Não tinha qualquer doença. Foram deitar, ele e minha nora e no meio da noite ela notou que ele estava frio. Chamou e percebeu que ele estava morto. Meu único filho. Nem pudemos nos despedir. A narrativa da morte do filho me foi feita com tranquilidade. Percebi a emoção da velha senhora ao contar a morte do filho, mas a sensação que tive foi de que estava resignada, conformada com o acontecimento. Então perguntei: – E a senhora morava onde, antes de vir para nossa cidade? – Morava na minha casa, respondeu rapidamente. Na casa onde sempre morei. Na casa que construímos e onde nasceu meu filho. Mais de 50 anos, 60 anos quase. Notei que ao falar da casa, uma emoção diferente, uma comoção, uma tristeza se notava em sua voz. Então retornei: – Mas não dava mais para morar sozinha, não é mesmo D. Nina? – Não, disse a velhinha. Desde que meu marido morreu, sabia que mais cedo ou mais tarde teria que deixar nossa casa. Ele morreu há dez anos, sabe doutora, mas com setenta e poucos anos eu dava conta de tudo: cozinhava, limpava, cuidava da horta e das galinhas. Tudo sozinha. Já imaginando a cena, perguntei: galinhas? – Sim, doutora, tivemos chiqueiro, galinheiro, vaca leiteira e uma horta que dava de tudo. Isso que eu ainda trabalhava nas peças da frente da casa como cabeleireira. Cinquenta anos cortando cabelos. Meu velho trabalhava na fábrica de sapatos. E eu, cuidava da casa, do filho e cortava cabelos. Juntamos um dinheirinho que deu para construir a casa, dar estudo ao filho e levar uma vida confortável. Mas eu sabia que um dia não daria mais para morar sozinha. De vez em quando meu filho vinha e me trazia para sua casa. Gosto muito do meu neto que já é um homem e me dou bem com minha nora, mas a casa da gente é outra coisa, não é doutora? – É verdade, D. Nina, assenti. E como foi a decisão de vir morar na casa da nora? – Decisão, de verdade, não houve. Foi “precisão”, disse ela. Eu queria ir para o asilo das irmãs de caridade, na minha cidade. Já havia ficado lá por alguns meses, quando quebrei a perna, e me sentia bem. A comida era boa, os cuidados eram bons e eu me sentia bem por não depender da atenção do meu filho. Mas, agora que ele se foi, a nora e o neto não podem mais pagar a prestação do asilo e acham que eu devo morar aqui, com eles. – Hmmm, comentei. – E a senhora o que pensa, insisti. – Eu não penso nada, doutora. Eu só sinto essa dor na minha barriga que me impede de sair do hospital. E uma coisa eu lhe digo, enquanto essa dor não desaparecer de mim, eu não posso ir a lugar algum. O tom de D. Nina foi peremptório. Imediatamente percebi que não havia ultrassom, tomografia ou ressonância magnética que diagnosticariam a causa dessa dor. Nem mil cirurgias abertas, fechadas, por vídeo, robóticas ou transnacionais seriam capazes de curar essa ferida. Não era caso de quimioterapia. Não havia analgésico com potência suficiente para erradicar essa dor. A D. Nina não tinha para onde ir. A casa da nora não era uma opção. A dor lhe garantia um lugar no hospital, asilada, acolhida em lugar nenhum, em algum lugar. Um bom exemplo de competências narrativas é imaginar dois amigos em uma sala de cinema, assistindo a um filme francês, vagaroso, delicado, complexo em sua forma e de enredo complicado. Um dos amigos é um leitor voraz, tem o hábito de ler grossos romances, já leu, por exemplo, Ulisses, de James Joyce; A Montanha Mágica, de Thomas Mann; e adora O Sonho mais Doce, de Doris Lessing. O outro amigo nunca teve paciência (ou oportunidade) para as leituras literárias. Nem história em quadrinhos ou o jornal dominical ele dá conta de ler. Já, nas primeiras cenas, o 113 sujeito leitor está ligado ao filme, à trilha sonora, à expressão dos atores e aos lances de direção. Ele consegue imaginar várias possibilidades para o desenrolar da história que está sendo mostrada. Por ter desenvolvido certas competências de leitor, ele aprendeu a esperar pelo desenvolvimento da narrativa. Ele consegue perceber e envolver-se (comoção) com as diversas personagens diferentes que entram e saem de cena, cumprindo um papel complexo e gracioso na tessitura do que está sendo contado na tela. O outro amigo perde facilmente o fio da meada. Ele não consegue esperar, não sabe esperar, não tem esperado – em termos de narrativas – por nada que não seja imediato ou objetivo quando vindo de fora porque não desenvolveu certas habilidades e competências advindas do hábito sistemático da leitura. A clínica médica é uma sucessão infinita de histórias, de enredos complexos e complicados, apresentados por pacientes tão diferentes entre si que mal cabe imaginar uma fôrma que possa enquadrar diversos pacientes ou um método de registrar suas histórias que seja objetivo e válido para tal complexidade. Aliás, toda a prática médica está perpassada pela capacidade de ouvir, de compreender, de relatar e de criar narrativas. Assim, teoriza-se, agora, uma aproximação entre a Literatura e a vida, entre as narrativas literárias e a medicina, entre as competências narrativas adquiridas pelo leitor cuidadoso e tais competências ensinadas aos estudantes de medicina e aos jovens médicos em formação no sentido de enriquecer suas práticas clínicas, a começar pela capacidade de honrar as histórias de seus pacientes. Como salienta Charon (2006), quando fazemos um esforço de narrar fatos existenciais, quando tentamos entender e comunicar aos outros porque as coisas acontecem, sistematicamente colocamos os eventos em ordem temporal, organizando o começo, meio e fim, procurando relacionar as causas e os efeitos, dando corpo e criando um enredo para os acontecimentos. Muitas vezes, fazemos isso com a pretensão de expressar com acurácia o que estamos vivendo e com a expectativa de que nosso interlocutor, se ouvinte atento, possa captar, compreender e (no caso do médico que cuida, quiçá) colocar-se ao nosso lado diante dos desafios que a vida impõe. O campo do conhecimento agora chamado de Medicina Narrativa representa uma confluência de tentativas diversas de aproximar a medicina às ciências humanas, no caso a Literatura e as narrativas das disciplinas preocupadas com a relação médico-paciente. Como explicado pela professora Rita Charon (2006, p. viii): “[Medicina Narrativa] é uma prima clínica da literatura-e-medicina e uma prima literária dos cuidados centrados na relação médicopaciente”. Ao mesmo tempo em que alarga a percepção do médico em relação ao que o paciente relata, permite ao próprio médico compreender o que se passa consigo mesmo quando se envolve no cuidado das pessoas que sofrem. 114 Dessa forma, uma adequada definição de Medicina Narrativa foi proposta em 2006, por Charon, e pode ser traduzida da seguinte maneira: uma prática clínica informada pela teoria e prática do ato de ler, escrever, contar e receber histórias. A ênfase está no fato de ser uma prática médica, baseada em conceitos teóricos definidos, capaz de propor uma solução efetiva para uma nova abordagem prática da medicina com consequências imediatas sobre a educação médica, os paradigmas dos profissionais da saúde, políticas públicas para a saúde, inclusive para os grandes desafios de saúde em nível global (CHARON, 2006). Fortalecer as capacidades narrativas de médicos e de outros profissionais ligados à saúde pode vir a ser, como se propõe esta tese, uma maneira de singularizar o cuidado dos pacientes, aproximando médicos e pacientes de uma ética mais próxima dos anseios dos envolvidos no processo de saúde-doença. Entretanto, então, se passamos a existência contando e ouvindo histórias, por que o desenvolvimento dessas competências narrativas não parece ser um objetivo fácil de ser alcançado? Porque, como nos explica Charon (2006), a teoria narrativa não é fácil de ser ensinada ou aprendida. Ser um leitor treinado e cuidadoso leva tempo e exige prática e longa experiência com diversos textos. Não se constrói um hábito de leitura da noite para o dia, assim como os conhecimentos técnicos e científicos ligados à medicina, como qualquer outra área do conhecimento, demanda dedicação e tempo, da mesma maneira a formação de um praticante de medicina narrativa pode ser conseguido com estudo disciplinado e rigoroso ao longo do tempo, pois demanda a apreensão de novos conceitos, linguagens e prática em um processo longitudinal e contínuo (CHARON, 2006). Por outro lado, ler e escrever pode tornar-se uma atividade produtiva que pode trazer consigo dividendos, como criatividade, autoconhecimento, compreensão sobre o mundo. Eis as habilidades que a Medicina Narrativa pretende desenvolver nos estudantes de medicina (e nos médicos residentes, por apropriação): Saber ouvir as narrativas dos pacientes, representá-las dentro de si, compreender profundamente o que o paciente está passando, afetarse por essa compreensão (empatia), estabelecer vínculo com o paciente (afiliação) e, então, estabelecer um plano (ação). Nesta tese, estabelece-se a potência formadora dessas habilidades por meio da variação de intensidades e de forças que as narrativas, por si mesmas, podem provocar em quem as lê, escreve, ouve e reconta. Potência afetiva. Os obstáculos a essa profunda compreensão e ao estabelecimento de uma ética baseada em autonomia compartilhada, termo criado a partir de Charon (2006), são os chamados “divides” ou abismos que podem ser discutidos a partir de crenças distintas e distantes que médicos e pacientes alimentam a respeito de: a) noções de mortalidade; b) diferentes contextos 115 de doença; c) crenças sobre as causas das doenças; e) sentimentos de medo, vergonha ou culpa em relação às fraquezas e às impotências diante das doenças. Para Kleinman (1988, p. 5), esse abismo que separa pacientes e médicos reflete-se nos dois termos usados em inglês para denominar doença, ou sejam, disease e illness. Para o médico, aquilo que o paciente conta, por intermédio da expressão dos seus sintomas trata-se de doença - disease: o médico é treinado para reconfigurar a narrativa do paciente em um assunto técnico nomeado doença com suas características clínicas, epidemiológicas e seus mecanismos fisiopatológicos. Entretanto, o paciente está falando sobre doença - illness: a experiência humana singular e única de se estar enfermo, experimentando sintomas, sofrendo. A distância e o abismo existentes entre disease e illness somente podem ser ultrapassados pelo compartilhamento das narrativas do paciente e do médico. Para alcançar as competências narrativas e ultrapassar o possível abismo existente entre o que o paciente realmente sente e necessita e aquilo que nós médicos costumamos ouvir e compreender, é o que a Medicina Narrativa propõe-se a ensinar. Utilizando-se das narrativas literárias, da leitura de textos literários e do desenvolvimento de habilidades em escrever, em expressar em linguagem escrita aquilo que se vive nas práticas diárias da clínica médica é o que se quer explorar com as narrativas trazidas nesta tese. Um pensamento [método] acariciante, que pouco se importa com a ilusão da verdade, que não propõe um sentido definitivo das coisas e das pessoas, mas que se empenha sempre em manter-se a caminho. No sentido estrito, trata-se de um “método erótico”, enamorado pela vida e que se empenha em mostrar sua fecundidade. (MAFFESOLI, 1998, p. 113). O reconhecimento das narrativas como arte e Arte como a forma do pensamento que funciona através de afetos e perceptos (DELEUZE; GUATTARI, 2007a), vai-se argumentar nos capítulos finais deste texto. 116 2.2.2 Narrativas e a Residência de Clínica Médica Para esta parte da tese foram convidados os seis médicos residentes do Programa de Residência Médica em Clínica Médica dos anos de 2013, no hospital local. Todos foram informados sobre a pesquisa e concordaram em participar das atividades propostas durante um ano, de março de 2013 a março de 201415. Uma ideia simples e frutífera: O grupo formado pela pesquisadora e pelos seis médicos residentes teve a oportunidade de ler, durante os seis primeiros meses da pesquisa diversos textos literários. O grupo reuniu-se em encontros semanais, nas manhãs das quartas-feiras, por uma hora, para ler trechos dos livros escolhidos, conversar sobre as leituras e experiências na enfermaria e nos ambulatórios de clínica médica. Os livros escolhidos, contos e novelas foram lidos e discutidos por todos nesta sequência: A Morte de Ivan Ilitch - Leon Tolstoi O Alienista – Machado de Assis Bartleby – O escrivão – Herman Melville A metamorfose – Franz Kafka A hora da estrela - Clarice Lispector A Hora e a Vez de Augusto Matraga - João Guimarães Rosa A Revolução dos Bichos - George Orwell Alguns dos textos escolhidos, como é o caso de A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstoi, têm sido amplamente citados nas referências de textos sobre literatura e medicina ou medicina narrativa (SCLIAR, 2005, p. 9). Charon (2006) descreve passos metodológicos para ensinar habilidades narrativas para estudantes de medicina. A autora refere-se a esse método didático como close reading, o que poder-se-ia traduzir por leitura cuidadosa, ou, talvez, leitura reflexiva, como sugerem Grossman e Cardoso (2006). Para leitura de textos literários, Charon (2006, p. 118-125) solicita aos alunos que identifiquem cinco características linguísticas ou literárias: a) (frame) enquadramento: esta etapa consistiria em contextualizar o texto a partir de sua procedência tanto analisando onde está publicado (em uma revista científica ou um livro de contos, por exemplo) quanto à autoria. 15 No Apêndice A desta tese, encontra-se o Termo de consentimento livre e esclarecido utilizado nesta pesquisa, o qual foi assinado por cada um dos sujeitos participantes. 117 Quem escreveu? De qual ponto de vista? Em que contexto e com que olhar?; b) forma: análise do gênero do texto (poesia, drama, autobiografias, novelas, etc.), bem como a estrutura em si do texto (divisão em partes, capítulos), atenção a quem é o narrador e às figuras de linguagem utilizadas, tais como metáforas, alusões e ainda à dicção (registro linguístico: formal, casual) existentes; c) tempo: a percepção, conforme teorizado em outra parte desta tese, de que o tempo narrativo é diferente do tempo cronológico, possivelmente mais análogo ao tempo intensivo das doenças presentes na clínica; d) enredo: como a narrativa é construída, em relação ao conteúdo expresso mas também à ordem narrativa; e, por último, e) desejo: qual o desejo, o impulso, a vontade implícita (ou explícita) pelo narrador (ou pela narrativa) analisada? “Qual apetite fica satisfeito em virtude da leitura do texto? Qual fome foi satisfeita no autor ao cumprir o ato da escrita?” (CHARON, 2006, p. 124). Embora, didático e interessante para aproximar os jovens à leitura de textos literários e de facilitar-lhes, conforme teoriza Charon, a compreensão e o desenvolvimento das habilidades narrativas; nesta tese, busca-se resgatar a potência imanente das narrativas em si. Talvez o quinto passo - deter-se em analisar o desejo que emana do texto -, seja o que mais se aproxima de identificar a potência narrativa. Assim, mais adiante, cada um dos textos lidos pelo grupo da pesquisa será trazido de forma a pontuar ou salientar as intensidades afetivas que emanam do próprio texto, como objeto estético-literário, como afeto. Paralelamente às leituras dos textos, em uma plataforma wiki, criada na internet com auxílio do software pbworks® free for Education, o grupo foi instado a escrever, livremente, uma narrativa coletiva formada de múltiplos fragmentos individuais que, junto aos textos literários clássicos lidos, aparecem em vários pontos da tese. A proposta da leitura dos textos literários e da oportunidade de escrever narrativas referentes a essas leituras e às vivências da rotina da clínica médica incluiu afetar e deixar-se afetar pelos momentos de fruição estética junto a esses meninos e essas meninas, jovens médicos sob nossa orientação, colegas de profissão. Acompanhá-los dia-a-dia nos rounds da enfermaria, observar seus olhos brilhando, lágrimas, muitas vezes, incontidas, emoções fortes, alegrias e tristezas em intensidades pouco imaginadas por quem não se aproxima da realidade vivida por esses jovens corajosos que decidiram, muito cedo, que iriam dedicar a maior parte de suas vidas à Medicina. “Metodologicamente, sabe-se que a descrição é uma boa maneira de perceber, em profundidade, aquilo que constitui a especificidade de um grupo social”, teoriza o sociólogo Maffesoli (1998, p. 123). Apropriamo-nos: a medicina narrativa, a educação do sensível, o reconhecimento da dimensão estética da prática da clínica médica pode nos ajudar a perceber, 118 em profundidade, aquilo que constitui a especificidade de cada um de nossos pacientes e de nosso lugar como médicos e médicas que cuidam. Nada além de ouvir e contar histórias, ler e compor narrativas. Os recortes da narrativa coletiva desta parte da tese representam ecos de sete vozes (seis médicos residentes e a pesquisadora), de sete colegas médicos que se encontram em um hospital geral para realizar um processo de ensino e aprendizagem em treinamento que vai compor, para os seis jovens médicos, o período mais marcante de sua formação profissional. Tudo o que aprenderem nos próximos dois ou três anos, durante a residência, será tudo – ou ao menos a sólida base estruturante –, que terão aprendido de Medicina e que será a reserva de conhecimento que levarão pelos longos anos em que exercerão a profissão de médicos e médicas. 2.2.2.1 OS TEXTOS Para que o leitor não morra como leitor, a arte poética e ficcional deve ser apresentada em primeiro lugar em seu estranho poder imprevisto, encantador, emocionante, de forma a criar raízes profundas o suficiente para que nenhum corte analítico ou metodológico venha a podar sua presença criadora, para que nenhuma de suas partes essenciais seja amputada antes que ela aprenda a se mover e nos acompanhe pelos sentidos que damos à vida à medida que vivemos. Caio Meira. “Todos estes objetos do conhecimento (semiótica, pragmática, retórica, poética) são construções abstratas, conceitos forjados pela análise literária, a fim de abordar as obras; nenhuma diz respeito ao que falam as obras em si, seu sentido o mundo que elas evocam” (TODOROV, 2010, p. 28) Foram escolhidos para esta parte da pesquisa histórias curtas, contos ou novelas para serem lidos pelos médicos residentes em um período de seis meses. A opção por textos curtos, como notam Hawkins e McEntyre (2000, p. 188) é óbvia, “[...] eles permitem que o instrutor introduza questões narratológicas e questões de ponto de vista, estratégia literária, caracterização e tom, ao mesmo tempo oferecendo várias situações para análise e comparação”. Além disso, teoriza-se, agora, neste espaço de tempo (duração de um semestre letivo se aplicado ao currículo da graduação), que os contos e as novelas curtas permitem material estético satisfatório para afetar os estudantes e para lhes ensinar a importância de deixarem-se afetar pelas narrativas. 119 2.2.2.2 AS NARRATIVAS Dois jovens rapazes e quatro lindas meninas, médicos e médicas. Inteligentes, espirituosos, brilhantes. Ouvindo histórias tristes, algumas muito tristes, bizarras, grotescas, violentas, alegres. Histórias de superação e de desespero. Examinando corpos edemaciados, que sangram, que secretam, sibilam e estertoram. Realizando procedimentos complexos e complicados: passando sondas, cateteres, realizando punções nos peitos, nos abdomes, nas veias e nas artérias. Entubando e tentando ressuscitar, segurar a vida, afastar a morte. Meninos e meninas que suportam as queixas e as revoltas de alguns pacientes e de seus familiares; aguentam firme a frustração de não poder fazer muito por este ou por aquele paciente. Relevam e alimentam-se das dificuldades inerentes a uma enfermaria dependente dos recursos do Sistema Único de Saúde: nem sempre temos disponível tudo aquilo que queríamos oferecer para os pacientes. Sabem divertir-se com o convívio diário nos corredores do hospital. Sabem curtir os momentos de descontração compartilhados com os colegas e os preceptores. E, por conta desta tese de doutorado, puderam conhecer um universo até então desconhecido por eles, a dimensão estética da Literatura. O que pode representar uma dimensão narrativa para esses médicos jovens iniciando o longo caminho de prática médica? Esperamos que esta pesquisa responda-nos a essa pergunta. Para começar, uma narrativa breve de um round na Enfermaria: Numa sexta feira qualquer, um encontro ao acaso. Entro no quarto com, talvez, 12 ou 13 jovens: três ou quatro residentes e os demais doutorandos. Um elegante doutorando do 10º período começa a relatar a história da paciente: Dona Dulcinéia, 54 anos, internada por dispneia aos mínimos esforços e outras queixas muito sugestivas de insuficiência cardíaca congestiva. Internada há cinco dias, muito melhor com o tratamento instituído, aguarda ecocardiograma para alta. A paciente sorri. Eu comento: “Muito bem, meus alunos queridos. Se a senhora é a Dulcinéia, quem seria nosso garboso doutorando?”. Nada. Silêncio. Eu insisto: “Queridos, quem de vocês sabe quem foi Dulcinéia nos clássicos da literatura universal?” Ninguém. Eu, surpresa, espero atônita que alguém se lembre de uma leitura obrigatória da escola, para o vestibular... Nesse momento, meu telefone celular toca e eu peço que enquanto saio para atender a chamada, os meninos procurem nos seus iPhones de quem se trata Dulcinéia que parecia ser tão importante – para mim, ao menos – durante aquele round na enfermaria de clínica médica. Quando eu volto para o quarto, os jovens estão rindo. Pergunto: “Então, descobriram o mistério? Acharam na internet?” E eles, sorrindo, respondem: “A paciente sabia quem era Dulcinéia: a amada idealizada de Dom Quixote!”. Incrível, a paciente humilde, com poucos dentes sobreviventes na boca, com seu coração insuficiente e em suas roupas de paciente internada SABIA QUEM ERA DULCINÉIA! A camponesa idolatrada pelo Cavaleiro da Triste Figura. Que momento mágico! 120 A ideia de participar da pesquisa de doutorado em educação da preceptora da residência foi exposta já no primeiro dia de atividade dos novos R1. O primeiro dia da residência foi festivo, alegre, como tentamos reproduzir durante os dois anos de convivência nos quais jovens médicos transformam-se em gabaritados especialistas em clínica médica, aptos para assumirem, sob seus cuidados, pacientes adultos com a maior diversidade pensável de problemas de saúde. É dito comum, reiterando o que foi dito na apresentação da tese, que o clínico geral – o especialista em Medicina Interna –, é capaz de diagnosticar as doenças mais complicadas e obscuras e de tratar pacientes com múltiplos problemas e complicações. Foi, com essa expectativa, que recebemos, no primeiro dia, três novas médicas residentes, mostramos o hospital e a enfermaria em particular, explicamos as rotinas do dia-a-dia, a burocracia da instituição, horários, regras, normas e... saímos para almoçar. E, assim, no vivido, na vida, no experimentado e no experienciado, construiu-se esta parte da pesquisa. Ler os textos escolhidos junto aos residentes, conversar sobre os textos, sobre eles, sobre nós, nossos pacientes, nosso dia-a-dia, atentos agora à outra dimensão da existência. A dimensão estética, ou sensível, ou narrativa da vida de médicos e médicas. Com esta possibilidade de potencializar a prática médica de todos, estar atentos e fazer uso de figuras de linguagem e de categorias da expressão humana que foram deixadas de lado pela razão positivista moderna. Prestar atenção ao que vem do senso comum, da intuição. Ouvir nas metáforas e nos paradoxos algo que de outra forma ficaria para sempre calado na história de nossos pacientes e de cada um de nós (ver Figura 2). Figura 2 - Novas considerações para as Histórias dos Pacientes Intuição Paradoxo Metáfora Narrativa Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 121 Conhecer personagens vívidos das narrativas clássicas e poder afetar-se, ficar íntimos de Olímpicos e Macabeias; de Bartlebys, de Gregors e de Matragas que sentem, sofrem, adoecem, amam, abandonam, voltam, vivem e morrem nas páginas dos livros; assim como as personagens que desfilam, diariamente, a frente dos olhos destes jovens nas enfermarias do hospital e nos ambulatórios de clínica médica. 2.2.2.3 A INTUIÇÃO Talvez, com ouvidos atentos às narrativas dos pacientes, exatamente como eles são capazes de expressá-las, se possa, também, dar ouvidos a percepções, a sensações, a afetos e a intuições que permitam ampliar o conhecimento sobre os processos de saúde, de doença e de vida de nossos pacientes (e de nós mesmos). Este ano as três novas R1 foram mulheres. Pela primeira vez, no serviço, tivemos três jovens médicas trabalhando juntas na enfermaria. As três não se conheciam, uma delas fez o curso de Medicina conosco, mas as outras duas vieram de outras faculdades do estado de Santa Catarina. As três recém-formadas. É explícita nas narrativas diárias dessas meninas a insegurança, o temor de não dar conta das expectativas que todos (e cada um deles [de nós], a eles [nós] mesmos) colocam[os] sobre esses jovens médicos. 122 Sexta-feira, esta sim, com cara de sexta-feira já que será meu final de semana de folga. Parecia que seria outro dia comum na enfermaria. Técnicas de enfermagem correndo de um lado a outro. Enfermeira repassando o plantão noturno. Doutorandos e residentes entrando e saindo dos quartos, checando como foi a noite, os sinais vitais, exames, soros, oxigênio... Até a chegada da preceptora do dia. Vamos passando quem está pronto. Ok. Paciente G. B., 48 anos, hígido previamente, deu entrada no HMMKB em franco quadro de hematêmese, mais de 20 dias na UTI, mais de 15 bolsas de concentrado de hemácias, ainda sem diagnóstico. Estabilizado, havia recebido alta da UTI há 2 dias. Para a residente acordar, novo quadro de hematêmese na madrugada do dia anterior. Ok. Solicitar novamente à direção a liberação da escleroterapia que não é feita em Itajaí. Aqui entra a experiência e o conhecimento de como funciona o sistema. Os olhos azuis da preceptora contavam com o auxílio da tecnologia (smartphone com a lista dos telefones), conhecimento dos atalhos e claro, a sabedoria para comunicar quem está do outro lado da linha, do outro lado do papel sobre a necessidade da liberação do exame, sem se esquecer de ensinar, além da Medicina, a linguagem, a atitude, a dinâmica, a organização, a experiência aos alunos e residentes [...]. Ok. Vamos a Blumenau. E agora?? Será que consigo? Procuro enxergar além da escuridão...Comunico ao paciente, reservo bolsas de CHADS, separado soro, seringa, agulhas, equipo, torpedo de O2, esfigmomanômetro, bomba de infusão, medicação, agendar com a ambulância... Esqueci alguma coisa? [...] Será que chegaremos a tempo? E se perdermos o exame? Meus preceptores acabam comigo!! Depois de tanto esforço para agendar!! Desce o paciente, tranquilo, a residente torcendo pra que esteja tudo certo. Cadê o motorista? Depois de longos e intermináveis minutos, vamos lá. Primeiro conhecendo a ambulância. Prendendo o que precisava. Localizando o que havia nos milhares de compartimentos. Ok. Trânsito. Preocupada com o horário e conforto do paciente. O motorista vira para a residente. Paciente instável ou estável?? Entendi o pedido. Não titubeei. Sirene a todo vapor. Sensação estranha. Eu podia fazer isso? Difícil o amadurecimento de acadêmica para médica. Tantas dúvidas e incertezas. Parece que sempre preciso de uma confirmação ou uma checada. Essa insegurança nos faz ficar mais atentos. Viajo conversando com o paciente, checando os fundamentais acessos (pérvios!!). Tudo bem. Lógico, sempre pode ser mais emocionante. Chuva cai (e forte) para refrescar os ânimos. Durante a viagem, ligações de minha preceptora. Ou vigiando se estava acontecendo como planejado, ou preocupada em amenizar a minha aflição de estar sozinha (fisicamente) e reafirmar que havia com quem pudesse contar caso houvesse alguma intercorrência. Fico com a segunda opção. A chegada à clínica acontece normalmente. Estavam a nossa espera apesar de que também ficamos esperando por mais de 1 h. No final, compensou. Fomos muito bem tratados pela equipe da clínica e pelo endoscopista. Organizados. Aprendi e discutimos sobre as possíveis causas do quadro. Médico muito estudioso e bem sucedido ficou interessado e solicitou retorno quanto ao diagnóstico, caso tivermos. Não perdeu a oportunidade de comentar que o paciente está muito bem manejado e que a médica (sim, a de olhos azuis) deve ser muito entendida, pois passou o caso com muita convicção. Ponto, doutora!! É muito gratificante ouvir de outros profissionais (especialista na área) que a equipe está cuidando bem do paciente. É interessante notar a pontuação do texto da jovem médica. Duplos pontos de interrogação, duplos pontos de exclamação. É visível o senso de responsabilidade, o reconhecimento do seu papel como médica residente. Preocupada em cumprir (bem) esse papel, transborda por todos os lados os sentimentos de insegurança, de não ter certeza de que está à altura de cuidar (bem) daquele paciente que sangra e insiste em não parar de sangrar. O mais notável, na narrativa coletiva, é que esses afetos tão intensos e formadores aparecem ao longo de longas vidas dedicadas à Medicina: 123 Dia de viajar para apresentar o trabalho no Congresso. Será que não aprendi, nestes anos todos, a deixar a ansiedade de lado e confiar no trabalho feito, na diligência, na qualidade? Temos esta coisa de que nunca nos parece bem feito suficiente, que sempre pode ser melhor. Talvez tenha a ver com a formação lá de trás, de berço. Afirmada pela Medicina feita fora do grande centro. Por que sempre me parecia que em Porto Alegre, ou na USP, ou em Londres, em Boston havia alguém mais hábil, mais competente, mais capaz de fazer aquilo que eu (e o paciente/o professor/ o preceptor) esperavam de mim? Anos depois, agora, preceptora e professora leio nas linhas da tese do doutorado: - A melhor médica para a minha paciente sou eu! Há alguém mais nobre, mais dotado ou qualificado algures? Certamente, mas eu - e ninguém mais - estou aqui com a minha paciente, com o sofrimento e as alegrias compartilhadas entre nós. Como o Dr. Sassal do interior da Inglaterra conta na sua biografia, como eu professora de clínica ouço do meu colega professor, como a nova médica residente aprende a cada dia: Sim, o Tejo é grande e leva para o Oceano e para tantas coisas, mas o rio da minha aldeia, o médico da minha aldeia não faz pensar, ele está! Vai lá Pessoa: 124 O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios E navega nele ainda, Para aqueles que veem em tudo o que lá não está, A memória das naus. O Tejo desce de (da) Espanha E o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia E para onde ele vai E donde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, É mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o Mundo. Para além do Tejo há a América E a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há (está) para além Do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ao pé dele. Fernando Pessoa (2012, p. 104). Sim, sei e explico a vocês. Mas a ansiedade (estes sentimentos todos) permanece no meu peito enquanto arrumo a mala e copio (em três pendrives) a apresentação para o Congresso. São Paulo, aí vou eu, again... A menina-médica dá-se conta desse sentimento comum, desse sentimento coletivo, de tribo, de médicas[os]. Talvez essa seja a intuição a qual se fez referência no capítulo dedicado ao elogio da razão sensível. Trazemos em nós as marcas do bastão? É desde a Mitologia Grega que se aprende a fazer parte de uma sucessão de médicos descendentes do Deus Esculápio. Trazemos em nós sentimentos, emoções, afetos (e habilidades, saberes, técnicas) ancestrais, que compõem uma possível memória-arcaica-arquetípica do ser médico? É possível e relevante pensar assim, principalmente quando se trata de educação médica global: técnica e afetiva; científica e estética porque a percepção de fazer parte de um coletivo de médicos posiciona-nos 125 (sem que tenhamos de perder nossas singularidades) dentro de um sentido coletivo de ser médicos e médicas, aproxima-nos de uma potência comum, de um devir-médico. Potência esta que inclui, além das características meritosas e glamorosas de exercer a medicina, outros afetos e emoções menos charmosas, mas, apesar de inquietantes (trágicas, às vezes), não menos potentes. Devir-médico este que é reconhecido pelos jovens médicos residentes. 2.2.2.4 OS PARADOXOS As histórias dos pacientes, a História, as vidas e as narrativas são repletas de paradoxos. Nossos sentimentos e nossas vidas não são - como supõe o método clínico tradicional, reto, correto, claro e seguro. Deixar as figuras de linguagem, novamente, virem à tona passa a afigurar-se como um recurso de compreensão do que acontece ao redor dos corredores e das enfermarias do hospital. É engraçado ou estranho pensar que já compartilhei ou compartilho do mesmo sentimento de um dos meus novos tutores. Por mais que minha experiência seja ínfima, nós, iniciantes, dessa ciência médica - e por que não da vida - percebo como as experiências se repetem diariamente. Parecem nossas vidas misturadas, um déjà vu. Sentimentos comuns como conversamos em um dos nossos encontros. Certezas incertas. Sim, já passei e passarei por essa angústia diversas vezes ao longo do tempo. A insegurança de pisar em solos desconhecidos ou duvidar da própria capacidade. Ainda me pergunto, será que estou qualificada para estar aqui? Será que alcançarei mais uma etapa? [...] Creio que faz parte de nosso aprimoramento. São as dificuldades, os desafios que transformam a vida complexa em simples. Será possível? Tão controverso quanto claro. Quantos paradoxos em um parágrafo curto. Por que a escolha dos oximoros, figura de linguagem tão distante do discurso técnico e do jargão profissional ao qual os médicos (e outros cientistas) acostumaram-se a utilizar? Quantos sentimentos paradoxais (ver Figura 3). 126 Figura 3 - Oximoros e Paradoxos que revelam Certezas incertas Vida complexa simples Controverso claro Fonte: Elaborada pela autora com base nas narrativas. Que escolha maravilhosa de palavras. Como é bom escrever! E agora ter a oportunidade de ler [e reler] o que esses meninos sentem. Sim, a vida de médicos é cheia, repleta desses paradoxos. E a vida dos pacientes também. Eis o grande aprendizado por trás dessas palavras. A vida pode sim, a vida é, ao mesmo tempo, complexa e simples. Os casos de nossos pacientes são, paradoxalmente, complexos e simples. Por mais complexa que seja a fisiopatologia da doença apresentada pelos pacientes, por mais grave e intratável que seja o crescimento tumoral, a replicação viral ou os mecanismos impenetráveis da imunologia humana, é tudo muito simples: a vida é assim, adoece-se, interna-se no hospital, o médico cuida, tenta, trabalha, muitos melhoram, outros não, alguns morrem hoje, outros mais tarde: muito simples. A jovem residente resumiu em três maravilhosos oximoros toda sua vida de médica: complexa e simples; controversamente clara; certeiramente incerta (ou incertamente certa). Nietzsche iria orgulhar-se muito dessa médica residente, de nossa vivência estética, deste sentido trágico e potente que estamos registrando neste período tão relevante de formação dos médicos da futura geração, de tempos pós-modernos. Melhor que isso, ou ao lado do que foi dito, somente o poema em oximoros com o que nos brindou Luís de Camões e que por sermos todos “tão jovens”, cantamos na voz de Renato Russo16: 16 Poema de Luis Vaz de Camões. Disponível em: <http://users.isr.ist.utl.pt/~cfb/VdS/v301.txt>. Poema musicado e cantado por Renato Russo na canção Montecastelo. Disponível em: <http://letras.mus.br/legiao-urbana/22490/>. Acesso em: 15 maio 2013. 127 Amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É um não querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É nunca contentar-se de contente É cuidar que se ganha em se perder É querer estar preso por vontade É servir a quem vence, o vencedor É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor Nos corações humanos amizade, Se tão contrário a si é o mesmo Amor? Será que os médicos residentes percebem a intensidade do que sentem em relação aos seus pacientes, seus preceptores, ao hospital e a si mesmos como médicos e médicas? Reafirmamos aqui, junto aos pensadores que escolhemos para embasar esta pesquisa, que esses afetos são constituintes, que os afetos alegres (potentes) e tristes (paralisantes) que incidem sobre esses jovens médicos serão a base (afetiva) do resto de suas vidas como médicos e médicas e darão o rumo, a direção de seus encontros com seus pacientes ao longo de sua carreira profissional. É com sentimentos paradoxais que os jovens médicos residentes expressam suas primeiras experiências na enfermaria, na equipe de clínica médica, com pacientes aos seus cuidados. Precisamos salientar a dificuldade expressa pelos meninos em escrever suas narrativas. Apesar de serem geniais, cognitivamente brilhantes, eles afirmam que têm dificuldade em expressar o que sentem. Por que moças e rapazes tão inteligentes, com capacidade cognitiva reconhecidamente acima da média têm tanta dificuldade em escrever, em narrar, em descrever o que veem, o que sentem, o que pensam sobre seus pacientes? Será que esses jovens médicos têm dificuldades em escrever quando se trata do método de descrição técnico-científica que estão acostumados a utilizar nos prontuários, relatórios e passagens de plantão? Se não escrevemos, não fazemos. Se não escrevemos sobre sentimentos, afetos ou emoções próprias ou de nossos pacientes, não fazemos uso dessa parte de nossa razão. Desse temor fala a jovem R2 quando escreve: 128 Pronto. Solo firme. Inicio, então, minha participação. Difícil começar, escrever é uma tarefa um tanto assustadora. Tentamos expressar o que sentimos e pensamos com palavras, o que pode ser mal interpretado, por vezes, perigoso. Nunca me comuniquei muito por emails, chats, enfim, por meios eletrônicos. Prefiro sentar e ter uma boa conversa, olho no olho. Porém, acredito que, parando para escrever, principalmente para uma pessoa como eu - que gosta de saber onde está pisando - será um desafio que trará um crescimento pessoal valioso. Por que o solo da escritura não é, naturalmente (intuitivamente), firme? Por quais caminhos da educação [médica] levamos esses jovens a perder a capacidade de expressar na escrita seus sentimentos. Sim, porque tecnicamente escrevem com maestria, objetividade, clareza e precisão. Mas quando a precisão [do verbo precisar, ter necessidade de] é outra, o que temer? Justamente, teorizamos, a perda do solo firme. A perda do status de ciência, o temor de estar fazendo algo fora da medicina, fora do seu papel como médica. Sim, porque os discursos de Osler ainda estão muito presentes na memória coletiva dos médicos. Por isso a fruição de textos literários, a formação de um senso estético, possibilitou que esses jovens escrevessem de forma mais livre, mais solta e também mais concreta sobre seus sentimentos e emoções como médicos e médicas da enfermaria. Quando estimulado o R2 escreve: Despedida. Foi a sensação que tive quando cheguei na enfermaria e vi aquele leito vazio. 207.1. Muitas vezes os pacientes e familiares só conseguem ressaltar os defeitos do atendimento, do período que passam na enfermaria, apesar de todo o esforço da equipe em atender os pacientes em condições precárias. Não foi uma destas situações. Mas esse paciente, especialmente, me marcou. Saber que o paciente evolui de uma forma que é possível prever o dia de sua morte é algo triste. Especialmente quando este mesmo paciente disse em um dos rounds que me considerava como um de seus filhos. E ainda mais difícil, quando você conheceu os filhos deste paciente e percebeu que são pessoas maravilhosas, de bem, e que sofrem a doença incurável do pai. Mas foi como deveria ser. Com luta. Com tempo. Com preparação. E, acima de tudo, com conforto. É na morte que você aprende como é viver. “Because the world is gonna try to break you in many ways, and you need to have a silver lining.” 129 Talvez a resposta para a dificuldade dos jovens residentes em escrever venha da Filosofia. Como teorizam Gilles Deleuze e Félix Guattari, em Mil Platôs (2007b, 2007c), para expressar certas emoções (afetos) é preciso devir-outro. Devir-outro, “outrar”, como gostamos de dizer. Assim como Clarice Lispector (1998) necessitou um devir-homem para escrever A Hora da Estrela, nossos médicos residentes precisam devir-outros para poder escrever suas narrativas. Esses devires é que esperamos poder aflorar durante esta oportunidade acadêmica e afetiva. 2.2.2.5 MAIS METÁFORAS Talvez mais do que os paradoxos e oximoros, as metáforas podem revelar detalhes importantes e singulares das narrativas com sua capacidade linguística de fazer analogias e de dizer o indizível de uma maneira possível. Vejamos o que os residentes escreveram a respeito da paciente E. H. na passagem de plantão - a riqueza dos detalhes técnicos, a seriedade, o comprometimento, o esforço demonstrado: 210-2: E.H., 68 anos, DI: 03/04, DICM: 07/04 # HAS # DM # Ca de pele em acompanhamento # ICC # Hipotireoidismo # FA crônica Há 5 dias iniciou com dor abdominal de localização epigástrica, intensa, em queimação, que piora ao se alimentar, alivia com o jejum, associada a vômitos de conteúdo alimentar. Sem evacuar desde o início do quadro, eliminação de gases presente. Refere astenia e inapetência. Nega queixas genitourinárias ou cardioplulmonares. HMP: hipotireoidismo em uso de Pran 100mcg, HAS em tto com captopril 25 mg (1-1-1), DM em tto com metformina 850mg (1-1-1) e insulina, ICC em uso de digoxina e furosemide, dislipidemia em uso de sinvastatina 20mh (00-1). Ca de pele em acompanhamento. Uma internação prévia por ITU. Exame físico: REG, depletada, corada, eupnêica. Pele: lesões nodulares ulceradas em membros superiores e inferiores. ACP: BNF, ACFA, 2T, SS, MV + sem RA. Abdome: RHA: +, distendido, timpânico à percussão, doloroso à palpação de hipocôndrio direito e epigástrio. MMII: sem edema. Rx abdome agudo: níveis hidroaéreos em delgado. Exames de laboratório (04/04): Hb: 15,5; Ht: 45,9. Leuc: 5980 (meta 1%, Bt: 33%), Palquetas 397.000; Cr: 1,26; Gli: 222; K: 5,3; Na: 140; amilase <30; lípase: 21; EQU: esterase ++; proteinúria+, leuc > 180.000. Hipótese diagnóstica: Úlcera péptica? Isquemia mesentérica? Suboclusão intestinal? 130 A evolução da paciente, dia-a-dia, registrada no prontuário segue: Dia 1: Permanece com dor abdominal intermitente, diarreia (paradoxal?). Nega vômitos ou febre. ECG: FA. Enzimas cardíacas normais. Abdome RHA+, distendido, doloroso difusamente à palpação. Plano: TC abdome e pelve. Início Ceftriaxone +Metronidazol. Dia 3: Permanece com dor abdominal, diarreia líquida, sem vômitos. Toque retal: paredes lisas, sem tumor palpável. TC (contraste retal e VO): dilatação de alças de delgado e cólon. Áreas de estenose em retossigmóide, porém sem massa evidente (peristalse?). Plano: sonda nasogástrica, parecer da procto: colite isquêmica? Não podendo descartar tumor ou diverticulite – contra-indica colonoscopia neste momento. Tratamento clínico da suboclusão, sugerido trocar antibiótico para ciprofloxacin. O prontuário da paciente segue descrevendo sua piora clínica, a necessidade de alimentá-la por sonda, a complicação com a constatação de fístula entre o intestino e a bexiga, a indicação cirúrgica, o peso da decisão da equipe entre a necessidade de operar e o risco inerente a sua situação clínica: Dia 10: Paciente refere que não consegue urinar desde ontem, refere dor em hipogástrio. Solicito passagem sonda vesical de alívio: fecalúria. Deixo sonda vesical dedemora, dicuto com a infecto: ampicilina + amicacina. Proctologia suspende a colonoscopia agendada e solicita TC abdome e pelve. Dia 11: Refere melhora da dor e da disúria, nega febre. Fecalúria e boa diurese. Estável, clinicamente. Deixar em NVO para cirurgia agendada para amanhã após avaliação da anestesia. Dia 12: Pós operatório na UTI. Cirurgia ocorreu sem intercorrências. Dia 15: Paciente na UTI 1. Irá descer hoje para enfermaria. Aguardando limpeza do leito. Afebril, nega queixas álgicas, colostomia funcionante, diurese em SVD com bom débito, dreno túbulo-laminar com pouca secreção serosa. Abdome flácido. Albumina: 1,7. Mantida sonda nasoenteral, avaliação da nutrição. Solicito novo laboratório. Dia 18: Paciente evoluiu a óbito às 8h20m. Anatomopatológico: doença diverticular, diverticulite crônica e aguda com área de fistulização. Não fosse esta tese de doutorado, todo o registro existente sobre o sofrimento desta paciente e a maneira como a médica residente foi afetada seria uma versão aumentada do que 131 foi transcrito. Nenhuma referência às afecções causadas pelo encontro doença-doente-médicopaciente. A preocupação com o bem estar da paciente é nítida e as capacidades técnicas da equipe da enfermaria patente. O sofrimento de Dona E. H. pode ser, talvez, vislumbrado nas entrelinhas – mas não nas linhas escritas! Em que momento histórico (ou epistemológico) os relatos médicos passaram a ser escritos desta maneira técnica, racional, estruturada, lógica e distante do que os pacientes vivem? Desde a Grécia antiga, os médicos tiveram necessidade de narrar, de descrever, de relatar os casos dos seus pacientes (HURWITZ, 2006). As anamneses, os prontuários médicos, as notas de internação, as evoluções diárias, as descrições feitas em reuniões clínicas são feitas de forma estruturada, sistemática, regrada e com linguagem técnica, repleta de jargões e expressões que são herméticas, incompreensíveis para leigos ou não iniciados. Além disso, não exprimem, não honram, como insiste Charon (2006), as narrativas e as histórias dos pacientes. Não há lugar no prontuário – que, diga-se de passagem, é do paciente (explosão) –, para dúvidas, temores, anseios, expectativas, alegrias, emoções. Nem de parte do paciente, muito menos dos médicos da equipe. Falamos com entusiasmo sobre o que queremos, esperamos e sentimos a respeito de nossa função como médicos e sobre os sentimentos dos pacientes – em maior ou menor intensidade, dependendo da situação –, mas nos impedimos de escrever sobre esses afetos ou sentimentos. Não há lugar nos formulários médicos para o afeto, essa é a constatação. Assim, não treinamos a organização racional dessa dimensão de nossas vidas de médicos e médicas. E, como é expressão usada por nós professores de medicina, se não escrevemos, não fizemos. A seguir, o que a jovem médica residente escreveu a respeito dessa mesma paciente na nossa plataforma wiki quando ocupada em registrar a dimensão sensível do acontecimento Dona E. H.: 132 Ontem entrei no quarto da enfermaria buscando visitar minha paciente e ela não estava mais lá. - A senhora fulana mudou de quarto? Perguntei aos presentes. - Sim, levaram ela lá para o nove! Na porta do “9” lia-se em uma folha sulfite, bem grande: ISOLAMENTO DE CONTATO. Entrei, calcei as luvas e me aproximei. Ela estava encolhida na cama, com uma expressão triste e sozinha, simplesmente sozinha. “Eu preciso que me troquem...Ui, estou toda suja.” Peguei na mão dela, bem em cima de uma das muitas nodulações que brotam da pele, de seu corpo e a acalmei. Examinei, conversei e chamei ajuda para trocá-la. Não pude evitar em pensar no sentimento de repulsa que a minha paciente causou em todos que entraram no quarto. O verdadeiro inseto da Metamorfose do Kafka. E quando a paciente, depois de ter suportado a cirurgia, de ter passado três ou quatro dias estáveis na CTI, simplesmente, sem aviso prévio, morreu na enfermaria: Hoje eu levei um susto. Fui ver minha paciente, aquela de quem antes falei: triste, sozinha e sem vida. Sem vida? Sim, literalmente sem vida! “Há quanto tempo ela estava assim, alguém a viu morrer?”. “Meu Deus! Eu estava conversando com a mulher há meia hora”, disse incrédula a outra senhora do quarto. “Ela passou a noite inteira pedindo para sair desse sofrimento, a filha dela foi embora à meia-noite reclamando de que a mãe não estava se ajudando.” Hum, pelo jeito a despedida entre mãe e filha não foi carinhosa, e isso me preocupou. Fez-me pensar na culpa que ela sentiria ao receber a notícia. Precisamos chamá-la ao hospital. Colocamos o corpo de sua mãe na sala de emergência. A filha veio vestida de preto e com olhos chorosos. Lacrimejou timidamente ao lado da mãe e nos agradeceu por tudo o que foi feito por ela. Minutos depois ela se despediu da equipe, e o corpo foi deixado de lado. “Não sentiste o alívio da filha por trás disso tudo?”, perguntou-me uma voz experiente. Triste, mas que bom que é assim. Imagina se o mundo parasse toda vez que perdêssemos alguém! Acabou, hora de seguir em frente. As referências ao inseto da Metamorfose de Kafka foram explícitas. Não tinha como não ser. Estar lendo, em casa, a narrativa do padecimento de Gregor Samsa e, ao mesmo tempo, no hospital, atendendo à Dona E. H. torna inevitável a analogia. A Dona E. H. estava muito mal, muito feia, com tumores de pele daquele tipo que causa ojeriza (explosão) inevitável na maior parte das pessoas. Nós, médicas e médicos, vemos de tudo. Costumamos dizer que nada 133 pode nos surpreender ou espantar. Entretanto, de tempos em tempos, encontramos pacientes com deformidades, manifestações grotescas de doenças ou achados que, simplesmente, nos causam aversão (ou medo), ou nojo. A Dona E. H. tinha, além de seu quadro grave de abdome agudo, um aspecto físico muito significativo: magra, muito magra, com lindos olhos verdeacinzentados suplicantes e fundos, cabelos ralos, ensebados e mal pintados, sempre encolhida no canto da cama (que parecia enorme ao redor de seu corpo esquálido que ameaçava querer sumir a qualquer momento) incapaz de esconder as feias feridas crostosas que insistiam em insinuar-se no seu rosto, nos seus braços, no seu corpo. Uma história familiar comum a tantos pacientes. Incapaz de cuidar-se por si própria, os filhos assumem os cuidados. Irmãos que raramente concordam em relação ao que deve ser feito com seus pais e mães que adoecem. Enfim, a filha que mora em nossa cidade trouxe a mãe para cuidá-la e, assim, tivemos a oportunidade de interná-la na enfermaria. O relato clínico já foi descrito anteriormente e o desfecho também. Complexo e simples. Dona E. H. sofreu por muitos dias de muitos padecimentos: dor abdominal de difícil controle, diarreia líquida e profusa, vômitos incoercíveis, sondas, cateteres, punções, incontáveis exames de sangue, raios X, tomografias, toques, palpações, exposição, humilhação e constrangimento. Com seu corpo pequeno e indefeso e doente, ela enfrentou como pôde sua afecção. Concordou, sistematicamente, com as condutas decididas pela nossa equipe em comum acordo com a filha mais próxima; afinal, quais outras alternativas ela teria? Como a barata gigante de Kafka foi tolerada no quarto isolado do mundo. Abrimos a porta diariamente e entregamos dieta, remédios, auxílio para higiene. Vimos, e o olhar da jovem médica residente registrou, a resignação crescente da paciente diante de seu destino inexorável: ter se transformado em um ser repugnante e doente, dependente dos cuidados da família – no caso de Gregor Samsa, personagem kafkaniano –, dependente de nossos cuidados no “caso clínico” da Dona E. H., internada na nossa enfermaria. Conhecemos a vida de Gregor Samsa antes de acordar estranho, em uma manhã qualquer. Ele era independente, bem sucedido, esteio de sua família. Também Kafka dá-nos a conhecer a dinâmica familiar de Samsa, os papéis desempenhados pelos pais, pela irmã enquanto ele é o provedor de sua família. Sabemos pouco da vida pregressa de Dona E. H. Conhecemos, superficialmente, seus antecedentes mórbidos: diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial crônica. Entretanto, quanto ao seu papel na família, sua vida afetiva, seus amores, suas expectativas, seus sonhos e suas realizações. Pouco sabemos, exceto o que seu corpo doente conta-nos a cada visita da enfermaria. 134 Por uma destas coincidências da vida, o que Jung (2005) usava chamar de sincronicidade, eu cheguei à enfermaria no exato momento da morte da nossa paciente. Ao aproximar-me do balcão de prescrição onde estavam duas das jovens R1, pude perceber o sentimento de tristeza (Decepção? Derrota? Frustração?) estampado no olhar de ambas. Logo, apressaram-se em dizer: “Aconteceu algo ruim”. Quando a doutoranda foi conversar com a Dona E. H., ela não respondeu, estava morta. Nada a fazer, simplesmente morreu. Os meninos comentaram comigo durante nossas reuniões sobre A Metamorfose do Kafka que, lá pela metade da novela, eles imaginaram finais emocionantes para o pobre inseto infeliz. Assim, imaginamos desfechos favoráveis para a diverticulite complicada da Dona E. H. Entretanto, quis o autor e imita a vida que ambos simplesmente morressem, na calada da noite, calados, sem maiores explicações, sem razão de ser e sem que nada ou ninguém pudesse mudar seus destinos. A empregada varre o inseto e abre as janelas do quarto para ventilar. As técnicas de enfermagem tiveram que ser interrompidas – para que a filha visse o corpo morto de sua mãe ainda no leito; afinal, havia pressa de preparar o corpo, tomar as providências e tirar a paciente morta da enfermaria. Presenciamos, lado a lado, eu e a jovem médica residente que está ali para aprender a profissão, e que leu Kafka, a maca passar com o corpo ensacado de Dona E. H., no meio do grupo de estudantes e médicos durante o round da manhã de sexta-feira que continuou sendo realizado como em todas as sextas-feiras do ano. De analogias compomos nosso repertório de emoções e de nossas emoções e afetos (ao lado do que o conhecimento técnico proporciona-nos) e constituímo-nos médicos e médicas. Um texto literário clássico é aquele que nos acompanha por toda a vida e mesmo quando não lembramos exatamente onde foi que lemos esta ou aquela citação ou narrativa elas nos constituem e nos confortam, suportam ou desassossegam pela vida afora (CALVINO, 2007). Se podemos afirmar isso aqui, então não podemos deixar de transcrever Borges em O Aleph e Guimarães Rosa em Darandina, dois textos que servem de metáfora ou analogia à despedida de Dona E. H. da nossa enfermaria e de sua existência. Jorge Luis Borges (2008), no início de seu famoso conto O Aleph: 135 Na candente manhã de fevereiro em que Beatriz Viterbo morreu, depois de uma imperiosa agonia que não cedeu um só instante nem ao sentimentalismo nem ao medo, observei que os painéis de ferro da praça Constitución tinham renovado não sei que anúncio de cigarros; o fato me desgostou, pois compreendi que o incessante e vasto universo já se afastava dela e que essa mudança era a primeira de uma série infinita. (BORGES, 2008, p. 136). O médico-escritor Guimarães Rosa no final de Darandina, depois de narrar um acontecimento fantástico, um verdadeiro caso clínico do louco que se abriga no alto de uma palmeira imperial, diz: Visto que, no sonho geral, permanecera insolúvel. Dava-me um frio animal, retrospectado. Disse nada. Ou talvez disse, na pauta, e eis tudo. E foi para a cidade, comer camarões. (ROSA, 2005, p. 184). Assim como Beatriz Viterbo de Borges e o louco e a praça de Darandina de Guimarães Rosa acompanham-me nos rounds, nas aulas, nas preleções para os alunos e os residentes, estou convencida de que Gregor Samsa e Kafka farão companhia à Dona E. H. na vida de médica da jovem R1. A razão sensível, a dimensão estética da medicina (e da existência) estão, sistematicamente, fora dos nossos currículos de formação, de nossos prontuários, de nossa prática diária, de nossa ética e de nossas vidas de médicos. Consequentemente, a afetividade está negligenciada no tratamento que oferecemos, de forma tradicional, aos pacientes sob nossos cuidados. Como compreender o que o paciente tenta contar, sem considerar a dimensão estética da existência? Como explica Maffesoli (1998), utilizando-se da metáfora do caçador ou do pescador, para ter sucesso em suas empresas, estes devem “conhecer com precisão os hábitos do animal visado” (MAFFESOLI, 1998, p. 124). Colocar-se no lugar de quem se quer conhecer, 136 de quem observamos. Colocar-se no lugar, empatizar, ser conivente, formar uma dupla, um encontro potente com o paciente. De que maneira, sem considerar a dimensão estética, ouvir cuidadosamente o que os pacientes contam-nos, introjetar suas histórias, alargar, ampliar as anamneses estruturadas e honrar as histórias apresentadas pelos pacientes. Deixar que suas histórias afetem nossos sentidos. Instalar-se no acontecimento-paciente, sair desse encontro sentindo-se um ouvinte privilegiado, afetado, conivente, empático ao que o paciente contou. Daí sim, então, as narrativas das histórias dos pacientes, escritas pelos médicos seria fluida, solta, relevante e expressiva do que “realmente” se passa com o paciente. Só para então, agora “afiliado” ao paciente, como propõe Rita Charon (2006), o médico possa, finalmente, tomar uma decisão adequada sobre o que fazer com o problema que agora passou a ser comum, entre o médico e seu paciente. Essa maneira de se pensar a prática médica e a relação médico-paciente é diametralmente oposta ao que propunha a doutrina da profissão quando do aparecimento da Clínica Médica (ou Medicina Interna) como especialidade em si, na virada do século XIX para o XX. Como bem atestam os célebres discursos de William Osler (1932) a respeito da objetividade e da distância que os médicos deveriam ter dos sentimentos e dos sofrimentos dos pacientes, como por exemplo, nunca demonstrar seus próprios sentimentos em público, jamais chorar ou se emocionar na frente dos pacientes. Por isso, falamos aqui em ampliação das capacidades da razão de jovens médicos em formação. Trata-se de uma ruptura epistemológica, repensar os ditames inflexíveis da medicina moderna, da anamnese clássica, dos relatórios e prontuários tradicionais e abrir espaço para a dúvida, para os sentimentos e os afetos tão mais próximos da experiência vivida por doentes e médicos nas enfermarias dos hospitais ou nas salas dos ambulatórios mundo afora. Sem necessidade de abandono completo ao que a modernidade proporcionou-nos em temos de compreensão dos processos de saúde-doença – especialmente na medida dos mecanismos fisiopatológicos das doenças (que tanto vão ainda avançar). Ampliar esses conhecimentos com a consideração da dimensão sensível, estética de nossas práticas. 137 Olá, me chamo A., mas todos me chamam de J., por um acaso do destino sofri um acidente de trânsito que me deixou tetraplégico, mas, até eu tomar ciência de como eu ficaria realmente, foram muitos altos e baixos. Por ser recente a minha condição, a maioria deles foram no hospital, passei por várias situações que jamais pensei que iria passar, uma delas foi quando acordei do coma,17 dias após o acidente na UTI. Não sabia onde eu estava e nem o que tinha acontecido, só percebia que não senti minhas pernas, meus braços, como se tivesse algo me pressionando, abria os olhos e via que só tinha um lençol sobre mim, e aquele monte de fio conectado a mim, queria falar, chamar e perguntar o que estava acontecendo mas minha voz não saia, com a garganta obstruída por uma mangueira que me levava o ar até meus pulmões. Fiquei muito agitado, e a minha agitação acusou no aparelho que monitorava meus batimentos cardíacos. Aí foi que consegui chamar a atenção do médico que estava de plantão, foi aí que viram que eu estava acordado, me fizeram várias perguntas, mas na real quem queria perguntar era eu, mas a voz parecia que tinha sumido, queria saber de várias coisas das mais simples, como que dia era, a mais complicada, como eu via o meu corpo e não o sentia, naquele mesmo dia mais tarde foi quando minha esposa, D., chegou no horário da visita, foi que realmente o médico explicou detalhes do que aconteceu comigo e como eu iria ficar realmente. Minha esposa ficou em choque quando o médico disse que eu iria mexer só com os olhos. Na minha frente, ela deixou a emoção de lado para me dar força, mas depois que sai da UTI, ela me contou que todas as vezes que ela ia embora ficava em prantos, mas, na minha frente, sempre me dando força para que eu não perdesse a esperança. Muito ouvi, muito vi, dentro daquele lugar, cada zíper que se fechava eu achava que eu seria o próximo, e, em 2 meses, foram muitos zíperes. Cada um que fechavam eu gelava, porque eu sabia que ali era o fim para alguém. Às vezes, o fim do sofrimento e, às vezes, o fim da esperança, o que me restava era fechar os olhos, orar a Deus por aquelas pessoas que partiam e que a hora do meu “zíper” não chegasse, não naquele lugar, pedia a Deus força para sair de lá e com vida. Com o passar dos dias, fui retomando o controle da minha respiração e cada dia menos precisando daquela máquina que me mantinha vivo, e também parte de movimentos dos braços e pescoço, com ajuda das Fisioterapeutas. Outra coisa também que me lembro de lá, são das pessoas que cuidavam de mim, não fisicamente, mas verbalmente. Tinha umas técnicas de enfermagem que me passavam uma paz, pena é que elas falavam falavam e diziam “né, A.”, e eu não conseguia responder mais do que um aceno de cabeça, minha vontade naquela hora era expor minha opinião com muitos detalhes, mas só conseguia o aceno. Essa fase foi muito difícil, como hoje em dia também está sendo, parece que não vou me adaptar nunca nessa condição de tetra, tudo é muito difícil tanto para mim como para D., que renunciou a sua vida para cuidar da minha. Não é fácil, mas todos os dias luto para me adaptar nessa condição, tenho fé que um dia vou tirar de letra, mas tem dias que peço pela morte, de tão difícil que é. A minha sorte é que no meio da tempestade que estou passando Deus envia Anjos em forma de Médicos, Enfermeiros Técnicos em enfermagem, que se eu for citar um por um vai demorar muito. Às vezes, só deles cederem um pouquinho de seu tempo para nos ouvir já é o suficiente para saber que tem gente que se importa em saber como estamos nos sentindo. Agradeço a cada um que fez, ou ainda faz parte dessa minha jornada, se Deus quiser vai ser bem longa! Como afirma Frank (1995, p. xii), “[...] pessoas seriamente enfermas estão feridas não somente no corpo, mas também na voz”. Contar uma história não é uma tarefa fácil, requer coragem. A coragem de A. para narrar a sua experiência assustadora ao se perceber subitamente paralisado, internado em uma CTI, dependente do respirador para sobreviver. A coragem para contar, para dar voz aos seus sentimentos mais profundos. Essa relação entre o corpo e a voz: “No silêncio entre as palavras, os tecidos falam” (FRANK, 1995, p. xii). 138 A situação clínica, a doença, a limitação passa a ser minimamente compreensível e passível de ser encarada quando é traduzida pelo médico. Eis aqui mais uma das potências clínicas das narrativas. Quanto mais habilidades narrativas o médico dispuser, maior será a capacidade de construir uma nova história representativa do que o paciente lhe contou. Ao devolver essa narrativa “traduzida” para o paciente, o médico dá sentido, coloca limites, aponta caminhos causais e caminhos terapêuticos. Oferece ordem ao caos de um corpo que sofre. Indica saídas, auxilia a percepção de novos estilos de existência, acompanha o paciente em sua narrativa tão singular. É por isso que teorizamos que um médico com habilidades narrativas pode estabelecer um encontro alegre com o paciente – independente (e por conta) da gravidade ou do prognóstico sombrio da enfermidade – proporcionando conforto, apoio, acolhimento, respeito e potencializando o esforço de viver de cada indivíduo em sua singularidade. Se pudermos nos apropriar da teorização contextualizada à Sociologia: Isso requer que se faça uso prudente dos objetos sociais, que não se lhes imponha uma explicação a priori, que não se decrete, sem precauções, qual é o sentido que devem ter, mas, ao contrário, que saiba escutá-los, não esquecendo que a subjetividade do observador desempenha na análise um papel que não pode ser negligenciado. (MAFFESOLI, 1998, p. 125). Novamente a metáfora da arte, do Barroco, faz-se pertinente. Há uma riqueza no claroescuro do barroco, no esmaecimento dos contornos, na maneira de olhar e de expressar os objetos, na arte. Em contraste com o artista renascentista que tinha a pretensão de representar o ideal do humano, a correção das formas, a retidão dos modelos. Assim, a razão rígida dos sistemas (e da medicina) moderna contrasta com o estilo fluido e cambiante, nômade e incerto do tempo e estilo em que vivemos que parece ter desistido da verdade universal. Hawkins e McEntyre (2000) organizaram um livro chamado Teaching Literature and Medicine com uma coleção de diferentes experiências didáticas e pedagógicas utilizando textos literários como ferramenta de ensino da medicina. Existem inúmeros artigos a respeito, inclusive diversas revistas especialmente dedicadas a essa nova área do conhecimento: Configurations: A Journal of Literature, Science, and Technology (Baltimore, EUA); Literature and Medicine (Baltimore, EUA); Medical Humanities Review (Galveston, EUA); Journal of Medical Humanites (Ohio, EUA). Entretanto, talvez a ferramenta didática de maior utilidade para programas de literatura e medicina é o compreensivo banco de dados intitulado Literature, Arts, and Medicine Database da New York University School of Medicine17. 17 Disponível no endereço: <http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/medhum.html>. 139 Hawkins e McEntyre (2000, p. 1) ressaltam a “longa história de polinização cruzada” existente entre a medicina e a literatura que percorre os textos desde a bíblia, citando os clássicos relacionados a este entrecruzamento tais como o sempre citado A Montanha Mágica, de Thomas Mann, e célebres autores médicos como Chekhov e William Carlos William. Muitos outros devem ser citados, alguns foram trazidos nesta tese, outros merecem relevância como é o caso do brasileiro Moacyr Scliar com extensa obra literária em português sempre transitando na linha tênue que divide a vida de médico e a vida de literato. Aliás, a reciprocidade entre a medicina e a literatura é exatamente a mesma da analogia entre a vida e a literatura. Virginia Woolf colocou bem essa relação em uma das raras ocasiões em que escreveu sobre sua obra: “Pois não existe nada mais fascinante do que se enxergar a verdade por trás daquelas imensas fachadas de ficção - isso se a vida for de fato verdadeira e se a ficção for de fato fictícia. E provavelmente a ligação entre ambas é de extrema complexidade” (WOOLF, 2012, p. 4). Também, o brasileiro Érico Veríssimo (2006, p. 17) afirma: “[...] um livro para a gente pegar e ler quando quisesse esquecer a vida...Eu entendo a Arte como sendo uma errata da vida”. Talvez esta seja a questão maior por trás das considerações desta tese. As narrativas como errata da vida, como analogia e contraposição, como um espelho que reflete e refrata, como um lago que espelha e afoga. “Mas não se preocupe meu amigo, com os horrores que eu lhe digo, isso é somente uma canção, a vida realmente é diferente, quer dizer, a vida é muito pior18. Por isso afirmamos o caráter estético de todas as narrativas e sua potência de afetar e de ensinar o que podem os afetos na formação de profissionais dedicados à medicina. Uma outra iniciativa interessante no campo da medicina narrativa é o aparecimento de cartoons dentro da literatura médica. Green e Myers (2010) ressaltam o importante papel que essa materialidade narrativa pode acrescentar à educação médica, ao cuidado com pacientes e mesmo na crítica social necessária à prática médica. Cabe salientar três exemplos de narrativas em forma de quadrinhos (cartoons) que podem ser utilizados em programas de medicina narrativa com grande apelo para jovens estudantes de medicina. O primeiro livro (SMALL, 2009) trata de uma narrativa comovente, profunda, um tanto pesada a respeito da relação complexa e traumatizante de um adolescente com seu pai médico. Stitches: a memoir19 (SMALL, 2009), assim como os dois outros livros trazidos aqui, é uma verdadeira obra de arte que combina com sensibilidade palavras e imagens para constituir narrativas comoventes a respeito desta relação tão complicada entre vida, saúde, doença; entre ganhos e perdas 18 19 Menção à canção Apenas um rapaz latino-americano de Belchior. Publicado no Brasil pela editora Leya com o título Cicatrizes. 140 existenciais difíceis de serem compreendidos sem considerar a face sensível, estética da questão. Em Cancer vixen (MARCHETTO, 2006), há uma identificação imediata com o tom alegre, extrovertido, contemporâneo e despojado com o qual a autora narra sua experiência tendo sido diagnosticada aos quarenta anos, dias antes de seu casamento, com câncer de mama. Instrumento de muita utilidade didática para desvelar a pacientes jovens o que significam experiências como biopsias, exames, resultados, consultas, cirurgias, quimio e radioterapia. Além do aspecto instrumental da novela gráfica, fica evidente a capacidade de afetar do texto, como objeto de arte, na medida em que é possível instalar-se com a autora nas ruas de Nova Iorque, percorrendo os caminhos e os sentimentos que a levam durante o período delicado entre o diagnóstico e o tratamento doloroso. Sem deixar de dar ênfase ao estilo que a autora consegue desenvolver para seus quadrinhos (e para si própria) como bem demonstra o título da novela. A personagem autobiográfica não deixa de apreciar sapatos, roupas, festas, restaurantes da moda “somente” porque está tratando câncer de mama. Ao contrário, utiliza-se desta questão de estilo para, inclusive, escolher a médica que melhor compõe seu estilo para que a acompanhe durante a doença. A terceira novela gráfica, Mom’s cancer (FIES, 2006), trata de uma narrativa de um filho diante do diagnóstico e tratamento de sua mãe, fumante por muitos anos, diagnosticada com câncer avançado (metástases no sistema nervoso central). Com criatividade e recursos gráficos especiais, o autor transmite a complexidade da relação de culpabilidade entre o hábito de uma vida inteira (tabagismo) e suas consequências dolorosas. Importante para discutir-se afetos tristes tais como culpa, arrependimento, julgamento moral, responsabilidade familiar, cuidados terapêuticos, especialmente cuidados paliativos e de final de vida. Reafirmando a teoria já descrita de Kathryn Montgomery a respeito de como se dá o raciocínio e o julgamento clínicos, Hawkins e McEntyre conjugaram várias outras experiências didáticas provenientes do casamento da literatura com o ensino de medicina. A ênfase pedagógica é nas habilidades promovidas por esta abordagem: intuição, capacidade de interpretação do que se observa, capacidade de empatizar com o paciente. Habilidades essenciais para o caminho do diagnóstico e decisões terapêuticas, tão importantes quanto os dados científicos ou a dedução lógica (HAWKINS; MCENTYRE, 2000, p. 3). As autoras citam três motivos para explicar a crescente inclusão de programas de literatura nos currículos dos cursos de medicina, seja nos primeiros anos da graduação (pre-med, nos Estados Unidos) seja nos programas de internato e de residência médica. Primeiro, afirmam Hawkins e McEntyre (2000), por causa dos pacientes: estas disciplinas ensinam os futuros médicos a ouvirem melhor 141 as histórias de seus pacientes, ajudam a criar empatia entre o médico, a família e o paciente, auxiliam no desenvolvimento de habilidades de comunicação. Como explicamos anteriormente, “[...] reconhecer que um texto pode conter múltiplos sentidos ajuda aos médicos tolerarem melhor as múltiplas respostas, muitas vezes contraditórias, que pacientes e familiares possam ter diante da experiência de doença” (HAWKINS; MCENTYRE, 2000, p. 5). Sim, este parece ser, de acordo com a teorização desta tese, um dos aspectos mais importantes do efeito das narrativas na formação de médicos. As narrativas provocam nos leitores-escritores afetos que se multiplicam na prática da clínica médica de forma exponencial. Ler e escrever narrativas ampliam as capacidades afetivas de todos, especialmente dos jovens em formação. Isso porque, como será concluído a seguir, as narrativas carregam em si, seja na sua estrutura, na forma, seja na expressão, a potência de afetar (afecção) e de ensinar o quanto o “eu” pode afetar-se e ser afetado no encontro com o outro. Em segundo lugar, Hawkins e McEntyre (2000, p. 5) apontam as razões pelas quais se deve estudar literatura na medicina, no que concerne aos médicos: “[...] ler, discutir e refletir sobre literatura inevitavelmente faz com que cada um se depare com suas crenças, vieses, preconcepções e alerta em que extensão esses sentimentos podem determinar como um texto ou uma história de um paciente pode ser interpretada”. Charon (2006) é dura ao afirmar que os médicos mais antigos, que não desenvolveram essas habilidades narrativas durante suas formações acadêmicas têm infligido sofrimento desnecessário aos pacientes. Na medida em que estes não conseguiriam seguir o fio de uma narrativa, não conseguiriam olhar pela perspectiva do outro, tornar-se-iam, assim, maus narradores das histórias das outras pessoas. Estes seriam surdos às vozes e às imagens do outro e nem sempre seriam capazes de incluir no cuidado ao outro sentimentos humanos, clamores, símbolos e empatia trazidos de uma linguagem comum por eles não reconhecida. Por último, Hawkins e McEntyre (2000) lembram os motivos éticos implicados na intersecção da literatura com a medicina, afirmando que as habilidades literárias permitem aos médicos pensar com mais crítica e com empatia nas questões morais da profissão. No Brasil, as professoras Grossman e Cardoso, em 2006, publicaram um levantamento bibliográfico na Revista Brasileira de Educação Médica discutindo o papel das narrativas na prática e no ensino da medicina. As autoras dividiram suas análises em três partes. Na primeira classificam a presença das narrativas na clínica médica em diversas linguagens como: a) casos construídos com propostas educativas; b) narrativas de pacientes; c) narrativas disponíveis em materiais informativos; d) anamneses sistematizadas em prontuários; e) relatos de casos em sessões clínicas e revistas médicas. Na segunda parte do artigo, Grossman e Cardoso 142 apresentam a inter-relação da medicina e da literatura como “[...] ferramentas fundamentais para garantir competência narrativa tão necessária ao soerguimento das hipóteses diagnósticas a partir da história da doença contada pelo paciente” (GROSSMAN; CARDOSO, 2006, p. 10). As autoras finalizam apontando o papel das narrativas na construção de uma ética médica atualizada. Porém, nesse artigo, ficaram faltando dois pontos importantes que esta tese busca resgatar, ou seja, narrativas, propriamente ditas, e a demonstração teórico-literária-afetiva de como essas narrativas, de fato, funcionam na clínica médica. E este é justamente o objetivo das seções que seguem. 2.3 A LITERATURA É UMA SAÚDE No sertão, o homem é o eu que ainda não encontrou um tu; por ali os anjos e o diabo ainda manuseiam a língua. João Guimarães Rosa É no prólogo do seu livro de ensaios chamado Crítica e Clínica que Gilles Deleuze (2006) resgata nas características de um escritor o problema de escrever. Na epígrafe, encontramos a preciosa afirmação de Marcel Proust: “os belos livros estão escritos numa espécie de língua estrangeira” (DELEUZE, 2006, p. 9). Assim, para Deleuze, esta é a questão, este é o problema, esta é a tarefa da literatura: inventar uma língua que, de algum modo, seja estrangeira. Isso o escritor faz buscando novas potências linguísticas no interior da própria língua: “arrasta a língua para fora de seus sulcos costumeiros, leva-a a delirar” (DELEUZE, 2006, p. 9). Este capítulo resgata conceitos de Deleuze e Félix Guattari relacionados à linguística e à literatura. Uma aproximação desses conceitos aos teorizados por Roland Barthes e o conjunto dos conceitos filosóficos são colocados ao lado dos textos utilizados na experiência didáticopedagógica de ensino de clínica no programa de residência médica, descrita anteriormente. Pretendeu-se extrapolar os conceitos filosóficos dos autores franceses para ressaltar a potência formadora (para médicos e pacientes) de um tipo de narrativa literária especial, aqui denominada “Literatura Menor”. 2.3.1 De postulados de linguística à literatura menor Gilles Deleuze construiu suas ideias filosóficas a partir de problemas, de observações e de estudos das mais diversas áreas do conhecimento. Não foi Deleuze um filósofo da 143 linguagem. Entretanto, em pelo menos três textos – dois deles em parceria com Félix Guattari –, o pensador cria conceitos filosóficos ao mesmo tempo em que teoriza a respeito de linguagem e de literatura. Para esses autores, são os conceitos filosóficos que fazem movimentos absolutos do pensamento. Ou seja, para mudar o mundo, dentro ou fora de nós, é preciso a criação de novos conceitos. Assim, nada mais apropriado para esta tese do que praticar um tanto de filosofia enquanto se lê literatura. No primeiro dos textos aqui escolhidos, Mil Platôs, Gilles Deleuze e Félix Guattari (2007b) descrevem “postulados da linguística”. Nesse capítulo dos Mil Platôs, os filósofos afirmam a linguagem como palavra de ordem. Já fazendo uso das infinitas possibilidades linguísticas, os filósofos brincam com os fonemas e com a etimologia das palavras quando exemplificam que a professora que ensina a criança na escola está, na verdade, en-signando, ou seja, lançando mão de signos na mesma medida em que faz uso de regras gramaticais e sintáticas que expressam comandos ou ordens. Essas “coordenadas semióticas” que estão contidas nas tantas regras linguísticas estabelecem relações inflexíveis contidas desde sempre no enunciado – unidade elementar da linguagem –, coordenadas tais como as consagradas dualidades de gênero, número, ordem sintática (sujeito e verbo), et cetera. Deleuze e Guattari (2007b, p. 12) afirmam que “[...] uma regra de gramática é um marcador de poder, antes de ser um marcador sintático” e, poeticamente, enfatizam que “[...] a linguagem não é vida, ela dá ordens à vida; a vida não fala, ela escuta e aguarda” (DELEUZE; GUATTARI, 2007b, p. 13). Nesse sentido, um enunciado é sempre uma palavra de ordem ou, como trazido de Kafka, uma “sentença de morte”. Ao se fazer uma escolha de enunciação específica qualquer, decreta-se a morte de todas outras possibilidades de significação. Consoante a essa teorização, Roland Barthes - contemporâneo de Deleuze e Guattari -, em sua Aula (discurso inaugural como professor do College de France) reafirma a linguagem como “fascista” (BARTHES, 2007, p. 14). Uma linguagem que não impede que algo seja dito, mas que obriga a dizer. Assim, há uma clara ressonância entre o conceito de linguagem como palavra de ordem em Deleuze e Guattari e a língua “fascista” de Roland Barthes (2007, p. 12): “A linguagem é uma legislação, a língua seu código”. É comum aos três pensadores, o reconhecimento de características estruturais que permitem esse aspecto fascista ou de palavra de ordem presentes no funcionamento da linguagem. Ao criar o enunciado, o sujeito da enunciação vê-se constrangido por regras linguísticas duras que, por exemplo, o obrigam a colocar em primeiro lugar o sujeito, seguido da descrição da ação. Isso denota que, por características linguísticas, há sempre um sujeito diretamente ligado às consequências do verbo. Da mesma maneira, o tempo todo há de escolher 144 entre masculino e feminino, decretando a cada escolha um agenciamento, um marcador de poder, uma palavra de ordem ou como já dito, uma sentença de morte. Ao eleger o masculino, abre-se mão do feminino e assim por diante. Barthes traz outro exemplo típico da língua francesa quando o sujeito da enunciação marca a relação com o outro ao escolher entre o “tu” e o “vous”. Ao fazer essa escolha, afirma Barthes (2007), o suspense afetivo ou social é, definitivamente, recusado. Isso se dá o tempo todo na linguagem: quando a criança chama a vovó de vovó, uma relação afetiva, social, familiar e de poder é estabelecida. Quando um estranho na rua dirige-se à mesma senhora chamando-a de vovó, uma outra relação é estabelecida baseada mais em cristalizações etárias relacionadas aos papeis afetivo-políticos e aos constrangimentos associados a essa condição. Deleuze e Guattari (2007b) explicam como se dá essa função-linguagem-palavra-deordem. É na redundância entre o enunciado, os atos de fala e a palavra de ordem que se estabelece o carácter fascista da linguagem. É o enunciado - e não a enunciação - que sujeita, que subjetiva os indivíduos. Isso porque existe uma relação intrínseca entre o que se diz e a ação determinada pela fala na mesma medida em que são ditas. Por exemplo, o enunciado “bom dia” dito pela professa ao entrar na sala provoca mudanças imediatas, performativas nos sujeitos envolvidos com a palavra de ordem. Enunciado é o que se diz, o que se escreve, é a unidade elementar da língua; a palavra de ordem é uma função imanente à língua. Não se tratam de enunciados imperativos, mas sim da relação do que é dito com “pressupostos implícitos, ou seja, com atos de fala que se realizam no enunciado” (DELEUZE; GUATTARI, 2007b, p. 16). Isso se dá porque os enunciados são marcadores sociais de poder. Não se diz nada fora do que é social ou politicamente determinado, o que remete a outro postulado ou conceito de linguagem: “agenciamento coletivo”, na medida em que, nesta teorização, não existe sujeito de enunciação mas sim subjetivação – enunciados que sujeitam os indivíduos ou indivíduos assujeitados pela linguagem. O que Deleuze e Guattari (2007b, p. 23) chamam de “maquinação semiótica”. Neste ponto, considera-se uma função co-extensiva à linguagem descrita por meio das palavras de ordem que são sempre agenciamentos coletivos construídos por uma maquinação semiótica, isto é, temos a transmissão do enunciado funcionando como palavra-de-ordem isso não quer dizer que essa função confunda-se com a linguagem propriamente dita. Não, essa função é uma condição de efetuação da linguagem, ela determina o carácter de subjetivação, marcador de poder do enunciado. Então, se a linguagem decreta por sua função implícita ou imanente sentenças de morte, como dizem Deleuze e Guattari, ou se ela é fascista - obriga a dizer -, como teoriza Roland 145 Barthes, como escapar dessa armadilha fatal? Barthes responde que não pode haver liberdade senão fora da linguagem. Entretanto, o autor continua: “Infelizmente a linguagem humana é sem exterior, é um lugar fechado”. Conclusão lógica e imediata: se é possível escapar, somente fazendo uso da própria linguagem: “trapacear com a língua, trapacear a língua” (BARTHES, 2007, p. 16). É esta fuga que Barthes chama simplesmente literatura: “ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente de linguagem” (BARTHES, 2007, p. 16). Barthes encontra na literatura, escritura ou texto (palavras usadas como sinônimos em sua Aula), forças libertárias que, a partir da forma, deslocam a linguagem e têm a potência de desconstruir marcadores de poder. Barthes localiza na escritura esse poder revolucionário quando reconhece o “sal das palavras” (BARTHES, 2007, p. 21), o saber como sabor. Literatura para Barthes tem uma função utópica de tomar para si a missão impossível de representar o real. Nesse sentido, a contribuição da psicanálise lacaniana é explícita especialmente no conceito de literatura como juissance, fruição ou gozo. Para Leilah Perrone Moisés (2007), a melhor tradução de juissance é gozo, pois alude diretamente ao significado libidinoso atribuído por Lacan ao termo. O gozo sexual para a psicanálise é sempre malogro de um desejo que jamais poderá ser alcançado; é impossível ou utópico fazer um a partir de dois. Por isso, a literatura será sempre uma tentativa utópica de representar o real; e o que ela provoca em nós é um desassossego, um estado muito próximo ao gozo libidinoso. Afinal, apropriando-se do poeta Fernando Pessoa (CAMPOS, 1928): “A metafísica [literatura] é uma consequência de estar mal-disposto”. Moisés (2007 p. 84) ainda afirma: “Todo saber da palavra juissance está nesta conotação sexual, orgástica, que se afirma ao mesmo tempo em que se declara impossível, a não ser como metáfora”. Então, a literatura será sempre uma tentativa frustrada de representar o real ou de suprir desejos inalcançáveis, tratando-se, assim, não de uma possibilidade concreta, mas sempre real sem ser atual, como afirmam Deleuze e Guattari (2007b) na inspiração proustiana. A literatura devolve liberdade à linguagem, e, como diz Barthes, provocando deslocamentos, trapaceando com a língua, delirando – processo ou situação que ele chamou de “utopias de linguagem”. Homenageando o escritor Mallarmé em sua Aula, Barthes profetiza uma possibilidade da escritura: “mudar/mudar o mundo”. Escrever de uma forma diferente de “toda a gente”. Criar novas línguas, “tantas linguagens quantos desejos houver” (BARTHES, 2007, p. 24). Literatura como uma prática de resistência. Deslocamento como ferramenta de resistência, “transportar-se para onde não se é esperado”, “jogar com os [signos linguísticos] em vez de destruí-los” (BARTHES, 2007, p. 27). Metaforicamente, Roland Barthes propõe um 146 jogo com signos pensando-os também em uma maquinaria de linguagem na qual freios de segurança foram arrebentados; enfim, “[...] instituir no próprio seio da linguagem servil uma verdadeira heteronímia das coisas” (BARTHES, 2007, p. 28). E o que o escritor é capaz de realizar é dar vida a essas possibilidades, como escreve Clarice Lispector (1998, p. 18): “Por que escrevo: Antes de tudo porque captei o espírito da língua e assim às vezes a forma é que faz conteúdo” Tais deslocamentos são possíveis para Barthes quando se libertam os fonemas, as palavras e as sintaxes da “rede de regras, de constrangimentos, de opressões, de repressões” gramaticais. Ou seja, subverter a ordem sintática, lançar mão de construções gramaticais inusitadas, criar neologismos, resgatar arcaísmos e dar voz a muitos devires outros. Isso remete diretamente a Deleuze e Guattari (2007a) no seu precioso conceito de linguagem e de literatura menor. Nas palavras de Lispector (1998, p. 23): “Na verdade sou mais um ator porque com apenas um modo de pontuar, faço malabarismos de entonação, obrigo o respirar alheio a me acompanhar o texto”. A propósito de malabarismos, Deleuze e Guattari (2007a) chamaram certos escritores de “malabaristas esquartejados”, aqueles autores que deslizam entre a literatura e a filosofia propiciando com seus escritos uma mudança, um movimento absoluto do mundo. Escrita como acontecimento, algo foi escrito, lê-se algum texto, parece que nada mudou e o mundo é outro. Retomando a pergunta anteriormente apresentada, se a linguagem contém essa condição de palavra-de-ordem ou de sentença de morte, como escapar dessa armadilha tautológica? Deleuze e Guattari constatam que a linguagem como a vida está sempre em variação contínua e que os quantuns desta variação correspondem à variação de potências ao infinito. Aliás, variação de potência de existir enquanto variação contínua de afeto será a conclusão – aqui prenunciada – desta tese. Mas, por enquanto, fiquemos na linguagem e da linguagem chegaremos à literatura – daí então aos afetos e, destes, à potência da vida. Então, retornando, se por um lado a língua está subordinada a variantes duras e inflexíveis; por outro, a linguagem está sempre em variação contínua. Se a regra define-se por sua “função de centro” (DELEUZE; GUATTARI, 2007b, p. 48) há sempre uma variação possível a esse centro, a essa regra. Da música, Deleuze e Guattari trazem dois conceitos poéticos-sonoros: a fuga e o menor. Trata-se de “[...] criar possibilidades (potências) de fuga, buscar senhas de passagem. Fazer a língua vibrar e colocar-se contra si mesma, em favor da vida, da luz, da criação do novo” (MOSTAFA; NOVA CRUZ, 2012, p. 126). 147 2.3.1.1 O MENOR No sistema musical tonal existe uma regra de utilização das notas musicais. Essa estrutura determina que todas as notas utilizadas girem ou se relacionem em torno de uma nota principal. Existem dois sistemas de escalas musicais: maior e menor. O tom maior é o referencial, uma vez que o menor é sempre comparável ao maior. O tom menor confere à música, segundo Deleuze e Guattari (2007b, p. 38), um “carácter fugidio, evasivo, acentrado”. A poesia de Chico Buarque diz que é sempre melhor sofrer em dó menor do que sofrer calado. O menor na música liberta-se do maior, entra em variação, faz a música vibrar, devir outra. Esse gosto pelas regras determinantes é comum à música e à linguagem. Buscar um tom menor para a utópica tarefa da literatura é provocar um deslocamento proposto por Barthes, é gaguejar na própria língua. É, como propõem Deleuze e Guattari (2007b), substituir o é, é, é por e, e, e; ser estrangeiro na própria língua, criar na linguagem um modo menor no qual o escritor lança mão de “combinações dinâmicas em perpétuo desequilíbrio” (DELEUZE, 2006, p. 124). Uma literatura menor cria o povo que falta: “saúde como literatura, como escrita consiste em inventar um povo que falta” (DELEUZE, 2006, p. 14). O povo que falta é sempre menor; a maioria é ouvida em um enunciado corriqueiro através das palavras de ordem e dos agenciamentos coletivos de enunciação; a maioria, o maior tem voz garantida, poder político, mas não tem liberdade. O menor é voz daquilo que se cala dentro de cada um; aquilo que não pode ser dito mas que [mais uma vez Chico Buarque] “[...] andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, e gritam nos mercados que com certeza, está na natureza...”20. O povo que falta tem sempre esse carácter de inacabado e é exatamente esta potência da literatura que nos interessa nesta tese. Se a literatura menor inventa o povo que falta, as narrativas na medicina podem dar voz ou inventar o paciente que falta. Pois, se o povo menor é, para Deleuze (2006, p.16), “um povo bastardo, inferior, dominado, à deriva”, um paciente fragilizado é definitivamente um sujeito menor, que nesta teorização potente, alegre, vital, orgânica, sensível está sempre inacabado, sempre em devir. Essa é uma nova função-linguagem, uma nova condição de existência da linguagem, uma função menor – aquela que dá poder, 20 O Que Será (À Flor da Terra). Disponível em: <http://letras.mus.br/chico-buarque/45156/>. Acesso em: 4 dez. 2014. 148 empodera a voz que clama por ser ouvida. Literatura para inventar o povo que falta. Medicina narrativa para inventar o paciente e o médico que faltam. Há sempre uma fuga possível. 2.3.1.2 A FUGA Se há um sistema maior na música há um sistema dominante na linguagem. Se o menor na música é sempre relativo ao maior, assim também nas línguas: há o inglês dominante e diversas variações linguísticas do inglês por todas as partes; há um português dominante, formal, norma culta, passível de acordos ortográficos, e há várias línguas portuguesas que bifurcam e não param de bifurcar. O que Deleuze e Guattari (2007b) afirmam não são tipos diferentes de língua mas sim dois tratamentos distintos para a linguagem no interior de uma mesma língua. Em qualquer língua, conhecidas as regras sintáticas, semânticas e gramaticais, sempre haverá dois sistemas ou tratamentos possíveis para essas variáveis: um tratamento maior, que estabelece regras limitantes e universais, ou um sistema que vislumbra a linguagem em infinita variação contínua (tratamento ou sistema menor). Novas funções de linguagem teorizadas por Deleuze e Guattari (2007b). Fuga em música significa uma composição que varia de diversas formas girando em torno de um tema principal. Essas variações repetidas sempre de forma diferente por instrumentos ou vozes menores que retornam ao tema principal, compondo uma tessitura fecunda. Um dos grandes exemplos de temas principais e suas fugas são os prelúdios e tocatas de Bach. É importante ressaltar que maior, para Deleuze e Guattari não se refere à maioria, não se trata de uma questão numérica. Maior pressupõe uma hegemonia, um determinante, um padrão comparativo a partir do qual dá-se a variação. O que é muito relevante para nossa teorização é que dentro desta imagem do pensamento a maioria é sempre “um ninguém”. É o menor que importa, é este devir-menor que traz a potência criativa e criadora. “[...] a maioria não é nunca alguém, é sempre ninguém – Ulisses” (DELEUZE, 2006, 86). Se Deleuze traz Ulisses como ninguém, nós lemos Guimarães Rosa (2009) com os alunos de Medicina: “Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Esteves”. Voltaremos à A hora e vez de Augusto Matraga para promover este encontro entre a filosofia de Deleuze e Guattari e a literatura de Guimarães Rosa, mas já pedindo desculpas pela apropriação provavelmente indevida, Guimarães poderia ter escrito: Se Ulisses é ninguém, Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Esteves, sem metafísica21. 21 Referência ao Esteves do poema Tabacaria de Fernando Pessoa. O homem saiu da Tabacaria (metendo troco na algibeira das calças?). / Ah, conheço-o; é o Esteves sem metafísica. / (O Dono da Tabacaria chegou à porta.) 149 2.3.1.3 LITERATURA MUITO MAIS QUE MENOR Como a linguagem admite dois tratamentos, “[...] então a palavra de ordem possui duas faces: morte ou fuga. Morte que limita, que busca constantes, que determina e cria verdades. Fuga na qual as variáveis todas entram em movimento, em variação contínua” (MOSTAFA; NOVA CRUZ, 2011, p. 91). Foi a partir da leitura de Franz Kafka que Deleuze e Guattari trouxeram para a literatura o conceito de literatura menor, ou menoridade, quando identificaram na escrita do judeu tcheco que escrevia em alemão, características e uso ou uma função menor da linguagem. Deslocar, fazer variar a língua alemã, maior, dominante, rígida para dar voz a um povo bastardo. Dar voz aos afetos de um povo. A literatura de Kafka demonstra a necessidade de trazer à luz um afeto menor que subjaz em baixo de uma língua maior, dominante: “um povo [o povo todo] precisa dar voz ao que se passa por dentro, por baixo, por entre, nas entranhas” (MOSTAFA; NOVA CRUZ, 2012, p. 127). 2.3.1.4 A LITERATURA MENOR DE FRANZ KAFKA Deleuze e Guattari (2003) mergulharam na literatura de Franz Kafka e de lá vieram com o reconhecimento do uso de uma função menor, imanente à própria língua. Kafka viveu de 1883 a 1924, filho de uma família de classe média. Nasceu em Praga, dentro do império austrohúngaro, atualmente capital República Tcheca. Suas novelas e seus romances revelam os pesadelos de personagens submetidos à servidão aos seus sentimentos mais íntimos e à dominação a convenções e a determinações burocráticas invioláveis. Kafka leva uma vida menor, solitária e, muitas vezes, atormentada. Ele coloca esse devir-menor em palavras, deslocando o “trágico” e a “culpabilidade”, para a “alegria” – entendida aqui como potência – e para a “política” – conquanto revela o agenciamento coletivo de todo um povo que o autor “põe a falar” – uma verdadeira máquina-abstrata-desejante. Os agenciamentos coletivos de enunciação como vozes de maquinações do desejo de uns e outros, de todos. A voz da minoria revelada pela literatura de Kafka grita por sua autonomia. Provoca uma revolução política sem ter nada de ideológica ou de língua subversiva. Deleuze e Guattari leem Kafka e apontam nas suas leituras os componentes deste devir minoritário da língua. Antes de tudo, pode-se entrar na obra de Kafka por “entradas múltiplas”, / Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me. / Acenou-me adeus, gritei-lhe Adeus ó Esteves!, e o universo / Reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o Dono da Tabacaria sorriu. Disponível em <http://www.insite.com.br/art/pessoa/ficcoes/acampos/456.php>. Acesso em: 6 nov. 2014. 150 muitas portas, diversas entradas. É uma obra rizomática. A primeira característica é “um forte coeficiente de desterritorialização”. Ao escrever em alemão, Kafka vê-se diante de diversas impossibilidades da escrita: é impossível não escrever, é impossível não escrever em alemão (que em Praga já se revela como uma língua desterritorializada). Ainda, e sobretudo, é impossível não expressar algo contra-alemão... Como ultrapassar tantas impossibilidades? Desterritorializar e reterritorializar utilizando-se de uma senha de passagem. Colocar a língua em variação. Criar algo novo, um novo território. A segunda característica da literatura menor é seu caráter político. Tudo é político em Kafka. Cada questão existencial dos indivíduos kafkianos passa a ser político. Os conflitos do pai e do filho, do indivíduo com burocracia, tornam-se, na literatura de Kafka, conflitos de todos, de todo-o-mundo, com potencial revolucionário, sem nunca ser ideológico ou subversivo. É um uso, uma função da linguagem, uma sentença política, de vida. O valor coletivo da literatura menor é sua terceira característica. Valor político e coletivo. Os romances e as novelas de Kafka são verdadeiras máquinas de agenciamento coletivo, abstrações maquínicas do desejo de todos. Enunciação coletiva e revolucionária. Kafka afirmava ser a literatura um assunto do povo. Não há sujeitos, não é o indivíduo ou o individual que está em jogo. A literatura menor expressa os agenciamentos e desejos coletivos. É algo como procurar o seu próprio ponto de minoração, seu próprio lugar fora do hegemônico, seu próprio território, o seu próprio esconderijo menor. Como Kafka atingiu este devir-menor? Fez o alemão vibrar, gaguejar, variar em intensidade. Ao invés de fazer uso da língua de forma convencional, gramatical, significativa, mantendo o valor simbólico das palavras dentro das regras... utilizar-se da língua com valor intensivo. A literatura menor quando proveniente das minorias (muitas vezes imigrantes vivendo em uma língua maior) tem de se fazer nômade, variar, desterritorializar. E reterritorializar, construir novos territórios. Quem faz isso muito bem são as crianças, apontam Deleuze e Guatarri (2007c), repetindo palavras cujo sentido é somente intuído... Ou os bichos, “quando falam”. Melhor, quando a literatura devém bicho. Esse devir-animal que Melville foi capaz de expressar com o capitão Ahab e sua baleia Moby Dick é uma tônica na literatura menor. Devir-animal não é transformar-se em animal, é extrair da linguagem tonalidades asignificantes que têm algo a dizer: “trepam por sua própria conta, ladram, fervilham, por serem cães, insetos ou ratos propriamente lingüísticos” (DELEUZE; GUATTARI, 2003, p. 48). Aqui é Kafka, com seu inseto em Metaformose. Para sumarizar e enfatizar: uma literatura menor é desterritorializada, tem caráter político e valor coletivo. Tem sonoridade e sabor próprio, gagueja, pia, ladra. Revoluciona sem 151 ser ideológica ou subversiva. É máquina abstrata de agenciamentos coletivos. Kafka fez uma literatura menor, escrevendo em alemão, sendo um judeu na República Tcheca... Os textos escolhidos para serem lidos com os médicos residentes têm todas as características de literatura menor. A hora e a vez de Augusto Matraga de Guimaraes Rosa e A Hora da estrela de Clarice Lispector serão analisadas mais detalhadamente. Entretanto, algumas considerações devem ser feitas a respeito das outras novelas trabalhadas. Machado de Assis (2012) em O Alienista, com seu Simão Bacamarte. Médico em devirlouco. Ou louco em devir-médico. Toda uma cidade subitamente colocada de ponta-cabeça, virada no avesso e revirada num devir-outro sempre inacabado. Quem era louco em Itaguaí? Aliás, que território era Itaguaí e como foi se transformando em um novo território Itaguaí-póscasa-verde! Puro devir-louco. Pura literatura menor que permite colocar em pé de igualdade (ao menos afetiva) sujeitos racionais, lúcidos e loucos varridos em um cenário onde os desejos maquínicos são muito mais poderosos que a realidades dos fatos em si. Machado de Assis subverte a linguagem nos seus gonzos, com sarcasmo e ironia, uma vez que seus personagens permanecem todo tempo inocentes e ignorantes dos tristes desígnios já pressupostos pelo autor no projeto do texto literário. No livro A Revolução dos bichos, George Orwell (2013) transforma os animais em gente em um movimento dialético que justamente pretende que ao final não se reconheça mais quem é humano ou quem é irracional. Os bichos falam como gente, agem como humanos, reagem como homens expressando em uma zona de vizinhança tais sentimentos, desejos e afetos que somente devindo-bicho é que poderíamos supor tais iniquidades. O coletivo abordado por Orwell é muito mais que ideológico, pode ser lido como um repertório de afetos que somente tomando este distanciamento menor – saindo do devir-humano – é que poderia ser dito [escrito]. Herman Melville (2003) escreveu uma pequena estória de um escriturário estranho, apático e, aparentemente, sem graça... que... mudou o mundo: Bartleby, o escrivão. Eis aqui um personagem que é, no sentido estrito, conceitual. Utilizando-se de uma estrutura linguística estranha, o autor cria uma fórmula composta de poucas palavras que, ao ser repetida dentro de um universo organizado, estabelecido e até então verdadeiro, afeta todos ao seu redor, configurando um verdadeiro acontecimento. I would prefer not to, declara Bartleby: - Preferiria não fazê-lo. Instalado atrás de um biombo, muito próximo a seu chefe, no metódico e prudente escritório de advocacia, Bartleby tinha uma função comum a seus colegas escreventes: produzir cópias manuscritas, fiéis a seus originais. Copiar e conferir. Copiar e conferir. Simples. Bartleby havia sido contratado há pouco. Havia aparecido no escritório sem credenciais quaisquer; imóvel, pálido, delicado, “lamentavelmente respeitável, irremediavelmente 152 desamparado”. A princípio, Bartleby “escrevia numa quantidade espantosa”. Nada fazia supor que em breve o escriturário iria preferir não conferir textos, depois preferiria não copiar documentos e, por fim, preferiria não sair da frente da janela que avistava, talvez, “belezas ocultas”: “uma parede alta de tijolos, enegrecida pelos anos e pela sombra perpétua”. Na verdade, tudo começou aqui no ambulatório do Posto de Saúde, numa consulta com o Dr. Carlos Eduardo. O paciente entrou na sala e, após os cumprimentos habituais, quando comecei a anamnese, me chamou atenção que, ao invés do registro habitual da pressão arterial no prontuário, estava escrito simplesmente a palavra não. Imediatamente eu olhei para Dr. Carlos Eduardo e falei surpresa: - Não tem a pressão arterial. Está escrito: não. Prontamente, sorrindo o doutor me disse que era simples: - “Eles” haviam preferido não medir a pressão, não. A princípio não entendi a importância do que estava aprendendo. Sabia, pelo olhar divertido do meu professor, que ali viria um dos ensinamentos importantes do dia. Sorrindo, ele comentou: - Você tem que ler o livro Bartleby. Nunca nos passa pela cabeça dizer simplesmente não, prefiro não fazer, Dr. Carlos Eduardo. Não, prefiro não medir a pressão. Não, prefiro não. Pense na confusão que pode se instalar se, de repente, você disser não para as coisas mais óbvias de serem ditas sim. Achei engraçado, mas nunca havia pensado em acordar e fazer simplesmente o que eu quisesse fazer! A confusão que pode ser causada no mundo, ao redor, porque você simplesmente resolveu dizer não, prefiro não! Pode acontecer o caos na sua vida e na vida dos outros. Li o livro num só fôlego e o efeito foi incrível porque vi explicado exatamente o que aconteceu naquele momento da consulta e, agora, entendo porque o professor imediatamente relacionou o paciente com o livro. Mais que isso, desde então a situação tem se repetido (já existia, mas a sensação é diferente). Como? Alguém conseguiu descrever, literariamente, literalmente algo que eu já sentia, algo que já se passava nas consultas, mas o Bartleby deu a verdadeira dimensão do possível. De uma pequena coisa, uma coisa simples. A grande maioria das pessoas não faria a menor menção ao não no local do registro da pressão. Aliás, a imensa maioria das pessoas, 100% delas, aceita medir sua pressão na pré-consulta de enfermagem. Todos os prontuários trazem a anotação da pressão. Todos, exceto aquele que preferiu não. Pequenos Acontecimentos trazem estas es(his)tórias que modificam você como pessoa e a sua visão em relação ao outro, em relação ao mundo. Você, de repente, olha para as pessoas e percebe que elas passam pelas mesmas coisas que a gente e não notam. Aquele não me chamou a atenção, mas se o professor não me tivesse dito para ler Melville, não teria feito a diferença, ou não teria tido a importância que teve. É por estas e outras que o ambulatório de clínica médica tem sido esta diversão, uma alegria só. Há uma alimentação deste interesse nas coisas comuns aos médicos e aos pacientes, uma troca de experiências entre os preceptores e nós residentes. Um interesse comum ao que é sensível que eu sinto falta quando saio deste ambiente porque a sensação se enfraquece na medida em que outras pessoas não têm o mesmo gosto por essas leituras, por essas estórias, por esses sentimentos... Bartleby repete que preferiria não saber. Assim como a médica residente dá-se conta de que pacientes podem preferir não ter sua pressão arterial aferida ela também registra – em sua mente de médica - que um simples não, um simples “outrar”, pode fazer o mundo ser outro. 153 2.3.1.5 A LITERATURA MENOR DE JOÃO GUIMARÃES ROSA Não há leitor que tendo lido Guimarães Rosa não reconheça, de imediato, o caráter menor de sua literatura. É impossível não acomodar os contos e os romances de Guimarães Rosa aos conceitos até agora expostos. Pode-se até arriscar um título para um suposto livro dedicado pelos franceses ao brasileiro ilustre: Guimarães Rosa o “mais menor” de todos os menores. É indubitável o caráter menor da literatura de Guimarães Rosa. O conceito menor é filosófico, entretanto, é estético quando trata de literatura. As personagens de Guimarães Rosa falam português, mas falam uma linguagem menor, muito menor. Tudo em Guimarães Rosa é intensivo. Nunca um recurso de linguagem é utilizado de forma representativa, metafórica. Os neologismos, as novas sintaxes, os significados das palavras deixam de ser representativos, sendo – como gostariam Deleuze e Guattari – intensivos, nos extremos, no limite. Os conceitos criados pelos filósofos franceses a partir de Kafka podem ser transpostos para a literatura de Guimarães Rosa, sem medo de apropriações indevidas. “Recrudescência dos regionalismos, com reterritorialização de dialetos”; “bilingüismo e até multilingüismo”; “procedimento criativo que conecta diretamente a palavra à imagem”; “intensificação generalizada”; “linhas de fuga criativas”; “estar na sua própria língua como um estrangeiro”; “servir-se do polilingüismo na sua própria língua”... Todas essas afirmações – e inúmeras outras ao longo do livro Kafka: para uma literatura menor (DELEUZE; GUATTARI, 2003) são exatas para definir a obra de Guimarães Rosa . A frase a seguir, também de Deleuze e Guattari (2003, p. 55), poderia ser a epígrafe de um dos livros de Guimarães... “Fazer desta um uso menor ou intensivo, opor a característica oprimida desta língua a sua característica opressora, encontrar pontos de não-cultura e de subdesenvolvimento, zonas lingüísticas de terceiro mundo por onde uma língua escapa, por onde um animal se enxerta, ou um agenciamento se conecta”. Seria impossível ler os contos, as novelas e os romances de Guimarães Rosa, após ter lido Deleuze e Guattari, sem dar-se conta de que se está diante de uma coisa nova – não antes pensada – revolucionária, criativa e criadora. 2.3.1.6 LEITURA DE A HORA E A VEZ DE AUGUSTO MATRAGA Ao descrever a tarefa de um escritor que “inventa na língua uma nova língua”, Gilles Deleuze (2006) enfatiza que há de se extrapolar o limite da linguagem buscando-o fora da 154 linguagem. Essa constatação tem a ver com a relação de escrever com o ato de ver e ouvir. Para Deleuze, o escritor é um ouvinte e um visionário que busca incansavelmente ultrapassar os limites sintáticos e gramaticais para revelar, por meio dessas subversões, aquilo que está escondido ou amarrado pelas constantes linguísticas determinadas. “De cada escritor é preciso dizer: é um vidente, um ouvidor, é um colorista, um músico” (DELEUZE, 2006, p. 9). João Guimarães Rosa é um dos nossos ouvintes, um escritor visionário do Brasil. Como afirmaremos a seguir, ler Guimarães Rosa é um acontecimento. Os textos de Rosa são verdadeiros “acontecimentos na fronteira da linguagem” (DELEUZE, 2006, p. 9). A leitura d’A hora e a vez de Augusto Matraga (ROSA, 2009) permite resgatar as características supra citadas da literatura menor, ou seja, a necessidade de desterritorialização e seu carácter político e valor coletivo. Como ressaltado anteriormente, Augusto Matraga não é ninguém. “Matraga não é Matraga, não é nada” (ROSA, 2009, p. 7). Exatamente por não ser ninguém, por ser um e muitos é que o personagem Nhô Augusto traz em si o devir minoritário. Como Ulisses em sua travessia de retorno à Ítaca, Augusto Matraga passa por diferentes territórios e temporalidades, personificando em seu próprio corpo, o carácter heterônimo de todos. Augusto Matraga é menor dando voz a agenciamentos de um povo todo que trava uma luta inglória consigo, com os outros e com a existência, inexoravelmente perdidos entre o céu e o inferno. Matraga é o embate entre o bem e o mal que se passa sob as forças da natureza do sertão brasileiro. O português escrito por Guimarães Rosa faz a língua portuguesa vibrar intensamente, subvertendo a ordem sintática tradicional, polvilhando o decurso da estória com neologismos criativos, e expressões saborosas e fecundas: casa de prostituição como lugar “onde gente séria entra mas não passa” (ROSA, 2009, p. 10); estar “com dívidas enormes, política do lado que perde”; “uma vontade virgem” quando Matraga quer fazer o bem ou uma “vontade doente de fazer coisas mal-feitas” (ROSA, 2009, p. 27); “sujigola” para gola suja; “bicipalidade maciça” para descrever força física (ROSA, 2009, p. 35). Encontraremos Augusto Matraga repetindo enfaticamente: “eu vou pr’a o céu, e vou mesmo, por bem ou por mal! ... E a minha vez há de chegar ... P’ra o céu eu vou, nem que seja à porrete! ... É certo que Rosa lança mão da transcrição da oralidade. Mas é muito mais do que isso. Rosa escreve em outra língua, invertendo a ordem sujeito-predicado, assim como inverte ou subverte a grafia das palavras. E é nessa transgressão linguística, nesta desconstrução das regras estabelecidas que o autor liberta vozes, corpos e afetos, criando o novo povo que falta. Em um texto tão curto quanto cinquenta páginas, Guimarães Rosa atravessa o sertão-mundo (como diz Mia Couto: ser tão!) acompanhando a travessia de Augusto Matraga. De famigerado 155 homem valente e sanguinário que não tem dó nem piedade de nada e de ninguém, Nhô Esteves volta a ser criança quando seu corpo fustigado por seus inimigos (ou por castigo divino) é acolhido pelo casal de pretos escondido no ermo do sertão. Augusto Esteves transforma-se em Augusto Matraga e, após anos de redenção piedosa, trabalhando e rezando incansavelmente para ter seu passado pecaminoso perdoado por Deus, ele volta, lentamente, a transgredir em um processo do pensamento e do corpo. Isso o leva a tomar atitudes que “nem Deus não manda e nem o Diabo não faz!” (ROSA, 2009, p. 49) e ao salvar a família inocente da vingança sanguinária de Joãozinho Bem-Bem, Augusto Matraga finalmente percebe que ganhou o seu lugar no céu, mesmo que tenha sido a porrete. A hora e a vez de Augusto Matraga é menor, muito mais que menor. É pura desterritorialização e reterritorialização em um sertão que é mundo, grande e pequeno. “[...] mas, como tudo é mesmo muito pequeno, e o sertão ainda é menor [...]” (ROSA, 2009, p. 26). É literatura de carácter coletivo porque faz todo o povo do sertão ter voz. E é certamente político pois no sertão, como no mundo, fica claro o papel desempenhado por pretos e brancos, capiaus e coronéis, “mulheres-à-toa”, esposas ou filhas. Nas palavras de Paulo Ronai (2009, p. 23), Guimarães Rosa é um acontecimento. E um acontecimento para Deleuze e Guattari (2007a) dáse quando nada aconteceu e o mundo é outro. Acaba-se de ler A hora e a vez de Augusto Matraga: nada aconteceu mas o sertão é outro. Como escreveu o próprio Guimarães Rosa: “[...] parecia não acontecer coisa nenhuma; quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo” (ROSA, 2009, p. 26). Como afirmou Roland Barthes (2007), a literatura é uma tentativa utópica de representar a realidade mas, entretanto, como lembra Rosa, a relação entre a vida e a literatura é assim: “e tudo foi bem assim, porque tinha de ser, já que assim foi” (ROSA, 2009, p. 28). Afinal, “[...] assim se passaram pelo menos seis ou seis anos e meio, direitinho desse jeito, sem tirar e nem pôr, sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma estória inventada, e não é um caso acontecido, não senhor” (ROSA, 2009, p. 25). “A literatura é uma saúde”, como afirma Deleuze (DELEUZE, 2006, p. 9). É a “medida da saúde” porque traz à cena o povo que falta quando cria uma linguagem capaz de resistir, de manter viva essa “raça bastarda”, quando resiste ao hegemônico e dominante e “como processo” rasga espaços para afetos que de outra forma não teriam como resistir (DELEUZE, 2006, p. 15). 156 2.3.1.7 O DEVIR-OUTRO Em outro dos mil platôs, no quarto volume, Deleuze e Guattari (2007c) descrevem os conceitos de devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível. Uma das características da literatura menor é o seu estado de sempre ser inacabada. Estar sempre em devir. Isso porque “[...] a literatura está antes do lado do informe ou do inacabamento” (DELEUZE, 2006, p. 11). Escrever é um processo de registro de intensidades, fluxos que atravessam aquilo que se pode viver. Para fazer [literatura menor] o escritor necessita sempre devir outro. Isso não significa transformar-se em outra pessoa ou em outra coisa. Devir outro para o escritor, segundo Deleuze (2006), é encontrar uma forma de minorar o seu próprio eu. Deixar escapar as forças e os fluxos de intensidades que em um devir maior estão aprisionadas ou acorrentadas pelos afetos, pelos pensamentos e pelas regras determinadas e dominantes. Assim, para Deleuze (2006, p. 11), “a escrita é inseparável do devir”. Da mesma forma que o tratamento menor da linguagem refere-se a um padrão maior dominante, devir outro para o escritor é sempre devir outro que não o homem branco, heterossexual, morador das grandes cidades. O menor em relação ao homem seria então o devir mulher, o devir criança, o devir louco, o devir animal. É necessário que fique claro que devir não é transformação em criança ou em louco ou em mulher. Não se trata de identidade ou de cópia, mas trata-se sim de estabelecer uma zona “de vizinhança, de indiscernibilidade ou indiferenciação” (DELEUZE, 2006, p.11) que foi alcançada por meio de procedimentos linguísticos e literários. O melhor exemplo dessa zona de indiferenciação no que se refere ao devir animal é trazido inúmeras vezes na obra de Deleuze e Guattari (2007c) através da relação do capitão Ahab com a baleia Moby Dick. O marinheiro somente encontra a sua solução existencial quando funde o seu corpo ao corpo da baleia que lhe havia mutilado. Corpo de homem e de baleia submergindo em uma situação de intensidade máxima. Ahab mata Moby Dick e ambos submergem no grande oceano, território onde tudo se deu. Na literatura brasileira Guimarães Rosa devém outros. O devir outro na obra de Rosa é uma constante. O devir animal é especialmente marcante no conto chamado Meu tio o Iauaretê22 no qual os personagens falam como onça, agem como onça, homens-onças indiscerníveis “Português, tupi e os sons onomatopéicos da onça já não são elementos linguísticos separados. Há um devir-onça do caçador que se expressa na língua criada por Guimarães” (NOVA CRUZ; MOSTAFA, 2012, p. 141). 22 Conto publicado no livro Estas estórias pela editora Nova Fronteira. 157 Talvez, na literatura brasileira, o melhor exemplo de devir animal seja o que Clarice Lispector alcança no seu notável A paixão segundo G. H. Nesse texto complexo, por ser intimista e psicológico, a personagem só encontra a sua solução, seu ponto de intensidade máxima e somente se entrega ao leitor e a si própria quando literalmente devém barata. No momento em que G. H. coloca o inseto na boca, o seu devir animal explicita essa zona de indiscernibilidade ou de indiferenciação proposta por Deleuze e Guattari (2007c). G. H. e a barata “[...] invocam uma zona objetiva de indeterminação ou de incerteza, algo de comum ou de indiscernível, uma vizinhança que faz com que seja impossível dizer onde passa a fronteira do animal e do humano” (DELEUZE; GUATTARI, 2007c, p. 65). 2.3.1.8 A HORA DA ESTRELA: A LITERATURA MENOR DE CLARICE LISPECTOR Então, um escritor quando capaz de escrever uma literatura menor entra em devir-menor para emitir outra voz que não a padrão de homem dominante. O que nos interessa aqui é que justamente o contrário faz Clarice Lispector ao escrever A hora da estrela. Clarice devém homem para falar do universo íntimo, misterioso e comovente de Macabéa. “Dedico-me a cor rubra muito escarlate como o meu sangue de homem em plena idade e portanto dedico-me ao meu sangue” (LISPECTOR, 1998, p. i.). O narrador de A Hora da Estrela é um homem. Somente compreendendo a amplitude de devir-outro e o conceito de devir-menor é que se consegue entender porque uma escritora mulher necessita devir-homem para escrever a tragédia de Macabéa. Teorizamos que a Clarice aquela, a Clarice de sempre, de alguma maneira, havia se tornado dominante. Por ser uma escritora em constante ebulição afetiva quando em um momento próximo à morte - há muito elaborada - necessita “outrar” para encontrar-se “[...] a mim mesmo a ponto de eu nesse instante explodir em: eu” (LISPECTOR, 1998, p. i.). Para poder falar e dar voz a essa mulher tão menor quanto Macabéa, certo distanciamento fez-se necessário. Um sair do seu universo feminino, não somente através de um olhar de homem mas sim com um olhar e um ouvido de homem menor, um narrador que sofre, que não sabe o que fazer com a Macabéa que vive dentro de si, e que desde o princípio da criação pressente o trágico final, mas que procura talvez uma outra saída para a protagonista que não seja a derradeira “saída discreta pela porta dos fundos” (LISPECTOR, 1998, p. i.). A hora da estrela foi escrito em 1977 pouco tempo antes da morte de Clarice Lispector. Cogita-se que essa novela tenha sido resultado de um ímpeto de extroversão. Um legado mais direto, mais claro, menos intimista que a autora teve - por alguma motivação consciente ou não 158 - necessidade de deixar para os seus leitores. “Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e ‘gran finale’ seguido de silêncio e de chuva caindo”. (LISPECTOR, 1998, p. 13, grifo da autora). Assim como o narrador de Augusto Matraga afirma que a história é verdadeira por ser inventada, o narrador da Estrela também confirma ou reafirma a tentativa da literatura em representar a existência: “Se há verdade nela – e é claro que a história é verdadeira embora inventada, que cada um a reconheça em si mesmo porque todos nós somos um e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro [...]” (LISPECTOR, 1998, p. 12). Definitivamente não é fácil ler Água viva, Perto do coração selvagem ou mesmo A paixão segundo G. H. De muito mais fácil leitura e compreensão é A Hora da Estrela. “Proponho-me que não seja complexo o que escreverei, embora obrigada a usar as palavras que vos sustentam” (LISPECTOR, 1998, p. 12). Entretanto, como no conceito de devir, toda Clarice Lispector está lá em uma zona de indiscernibilidade com o narrador: “e eu sou um dos mais importantes [personagens] deles, é claro. Eu, Rodrigo S. M.” (LISPECTOR, 1998, p. 13). Toda a escritura de Clarice Lispector transborda nas páginas que descrevem o drama ou a paixão de Macabéa. Toda introspecção, os fluxos de consciência, a linguagem intimista, o teor psicológico, a inspiração espinosista, o desencanto, o desespero e o trágico estão implicitamente colocados, desta vez em prosa explícita. Afinal: “o que escrevo é mais do que invenção, é minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares dela. E dever meu, nem que seja de pouca arte ou de revelar-lhe a vida” (LISPECTOR, 1998, p. 13). Com as devidas vênias, Clarice poderia ter escrito: É de-ver meu. Ou, dever meu. Ou ainda, é devir meu. E é por isso que teorizamos que Clarice precisou devir homem para escrever sua última obra. Lispector nunca admitiu que o nome Macabéa fosse uma antítese de Lady Macbeth. Entretanto, o contraponto entre a pérfida e ardilosa personagem de Shakespeare e a miserável “virgem e inócua” nordestina brasileira é irresistível. Ambas protagonistas de tragédias são como dois lados possíveis da existência feminina: uma que não faz falta a ninguém e a outra, aquela que por existir torna a vida impossível. O gaguejar da língua, o fazer vibrar, a variação contínua da linguagem percebe-se já na folha de rosto23 em que o título da obra é seguido por treze outros títulos possíveis, intercalados pela conjunção “ou” que sob as lentes deleuzianas bem poderiam ter sido substituídas pela conjunção “e”. 23 Disponível em: <http://groups.google.com/group/digitalsource>. Acesso em: 5 dez. 2014. 159 A HORA DA ESTRELA A CULPA É MINHA OU A HORA DA ESTRELA OU ELA QUE SE ARRANJE OU O DIREITO AO GRITO OU QUANTO AO FUTURO OU LAMENTO DE UM BLUE OU ELA NÃO SABE GRITAR OU ASSOVIO AO VENTO ESCURO OU EU NÃO POSSO FAZER NADA OU REGISTRO DOS FATOS ANTECEDENTES OU HISTÓRIA LACRIMOGÊNICA DE CORDEL OU SAÍDA DISCRETA PELA PORTA DOS FUNDOS (LISPECTOR, 1998, p. i). Essa primeira página, que antecede um dos textos mais comoventes da literatura brasileira, diz muito sobre a obra literária. Diz muito sobre a literatura menor aqui trazida. Fala muito sobre o papel da forma, das subversões possíveis da língua que são alcançadas por autores videntes, visionários. Escritores que sabem ouvir as vozes oprimidas. Textos que simbolizam a resistência do mais fraco, do povo que falta, daquele povo-todo que é cada um de nós, que somos todos, que não é ninguém, que é minoria, menor, Severino, Matraga, Ulisses. A hora e a vez de Augusto Matraga, a hora e a vez de Macabéa, a hora e a vez de estrelas esquecidas. “Se sei quase tudo de Macabéa é que já peguei uma vez de relance o olhar de uma nordestina amarelada. Esse relance me deu ela de corpo inteiro” (LISPECTOR, 1998, p. 57). A hora e a vez do povo que falta, do povo que faz falta nos consultórios, enfermarias dos hospitais, nas escolas e nas tribunas. O povo que faz falta dentro de nós. A voz, o afeto, a intensidade, a variação plena que a literatura pode trazer para nossas existências. Por mais utópica que seja a função da literatura na sua tentativa espúria de representar o real, os Matragas, 160 os Severinos, as Clarices, as Dulcinéias e as Macabéas parecem gritar de dentro das páginas dos livros: Todo mundo tem sua hora e a nossa hora vai chegar, alcançaremos essa hora e entraremos nas escolas, nas instituições, no mundo e no reino do céu, nem que seja a porrete! 161 III NARRATIVA COMO ARTE E AFETO A alegria do encontro intensivo não acontece fora das mazelas do mundo, das dores e dos sofrimentos que perpassam a História, da pequenez e da condição de homens comuns. Bruno Vasconcelos de Almeida Arthur Kleinman (1988) explica muito bem o que significa ouvir o paciente. Exposto a uma situação tão comum aos estudantes de medicina nos momentos que iniciam a prática da clínica médica, Kleinman é solicitado a segurar a mão da menina-paciente, gravemente queimada, enquanto os mais experientes lhe fazem os curativos diários. Só quem já assistiu a esses curativos podem imaginar a dor da menina. E a dor desse jovem estudante de medicina que busca com todas as suas forças dizer, fazer alguma coisa, que torne tal sofrimento mais suportável. Nada que ele diga faz a menina parar de gritar. Nenhuma de suas palavras parecem surtir qualquer efeito. A menina grita, sofre, isolada, separada do reino dos saudáveis, dos que lhe cuidam. Até que, em um momento mágico, ele desiste de dizer qualquer palavra de consolo e, buscando os olhos desesperados da menina, ele pergunta: - Como suportas tamanha dor? A menina fixa o olhar no jovem estudante de medicina e ambos compreendem que, a partir daquele momento, estão juntos no acontecimento-troca-de-curativo-dor-sobreviver. A vida é trágica, dolorosa particularmente nos momentos de doença. Para suportá-la, para resistir, para poder acompanhar o paciente em sua trajetória, há de instalar-se no acontecimento-dor. Para instalar-se no acontecimento do outro, há de ouvir-se sua narrativa. As narrativas são compostas de ideias e de afetos. Trazem em si a potência de afetar, algo que tem a ver com o sensível, com a dimensão estética da existência. Compreender a narrativa do paciente é aproximá-la em uma obra de arte. É entender que tal narrativa não se trata de um discurso, não passa por julgamento de verdade ou de certeza. É a narrativa possível. É um grito, uma voz, um instrumento de resistência. É, diante do médico, um pedido de ajuda. Não de cura, mas de ajuda, de companhia, de orientação, de recursos técnicos, de presença, de colaboração, de respeito. É ter alguém em quem confiar, alguém que tenha conhecimento para propor condutas diagnósticas e terapêuticas e que também tenha capacidade afetiva. Capacidade de instalar-se no mesmo lado do paciente e de sua família, que saiba ouvir, empatizar e respeitar a história dos seus pacientes. Que tenha habilidade (afetiva) de traduzir suas próprias impressões sobre o problema do paciente em linguagem que ele possa compreender. Uma clínica ampliada pelas afecções próprias das narrativas. Uma prática que saiba negociar com o paciente, sua família, sua comunidade, novas narrativas que acomodem 162 os afetos do paciente e do médico, companheiros de viagem, de novas viagens, de trajetos a serem reconhecidos, desbravados. As narrativas foram resgatadas nesta tese em sua dupla face. Narrativas literárias e narrativas de vida. Narrativas como literatura e aprender a ler e a escrever narrativas da vida. Narrativas literárias são reconhecidos objetos estéticos, isto é, literatura é arte. O argumento desta tese é que as narrativas – como um todo – podem ser reconhecidas em sua potência, especialmente na sua capacidade de afetar outras narrativas, pensamentos e sentimentos e de ensinar o que pode o afeto em si, em termos de força, de intensidade e de potência. Como enfatiza Todorov: Hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem espontaneamente à cabeça é: porque ela me ajuda a viver. [...] ela me faz descobrir mundos que se colocam em continuidade com as experiências e me permite melhor compreendê-las. [...] a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. (TODOROV, 2010, p. 23). 3.1 AFETO: A ARTE PARA DELEUZE E GUATTARI Deleuze e Guattari (2007a), no seu livro O que é a Filosofia, teorizam que a função principal do pensamento humano é colocar ordem no caos. O caos, para esses filósofos, são todas as forças, as intensidades, as potências que possam existir em um espaço virtual. Imaginem todos os pensamentos possíveis, sobrevoando um espaço fora do espaço, em um tempo sem tempo. O caos é o virtual inconsistente. E a existência seria insuportável sem consistência. Por isso, para dar consistência ao caos é que pensamos. Como afirmamos em outra oportunidade: As formas de pensamento buscam tão somente dar uma certa ordem ao caos. A vida seria inimaginavelmente dolorosa sem consistência. Pensamentos fugidios, ideias que desapareceriam sem que pudessem ser concatenadas, sem ordem ou sequência. Precisamos dominar nossas ideias ao mesmo tempo em que damos rédeas aos nossos pensamentos. (MOSTAFA; NOVA CRUZ, 2009, p. 42). O pensamento é o que utilizamos para construir planos para a existência, organizarmos as ideias, resolvermos problemas e controlarmos os afetos. Por outro lado, temos a necessidade de fixar nossa estada na existência, aprender e apreender o mundo, deixar marcas de nossa passagem, resistir à tragicidade de se saber mortal e passageiro. Fazemos isso com infinitas idas ao caos e vindas à existência. Deleuze e Guattari (2007a) propõem que essas idas e vindas ao caos em busca de consistência para a existência é feita por meio de três formas distintas de pensar: Filosofia, Arte 163 e Ciência. Para a solução de problemas concretos, para dar conta do estado de coisas da existência, o pensamento abre mão das velocidades infinitas, desiste das inumeráveis possibilidades e, por intermédio das funções e das proposições da ciência, ordena, dá números, propõe lógica ao mundo e à existência. Filosofia, Arte e Ciência como formas criadoras do pensamento. Forças criadoras e conectadas, sem privilégio ou primazia de uma sobre a outra, como mostra a figura 4 a seguir. Figura 4 - Deslizamento dos Planos Fonte: Mostafa e Nova Cruz (2009, p. 96). Cabe à Filosofia ir ao caos e, através da criação de conceitos, construir um plano de imanência responsável, para Deleuze e Guattari (2007a), pelos movimentos absolutos da existência. Os movimentos absolutos do pensamento seriam, assim, apanágios da filosofia. Dessa maneira, para explicar a teoria proposta: A ciência opera em um plano de referência e dá conta dos estados das coisas, enquanto a filosofia o faz em um plano de imanência e se preocupa com a consistência de um acontecimento. A ciência trabalha com variáveis independentes na formação de suas funções e a filosofia com variações inseparáveis nas intensidades de seus conceitos. À Arte, para os pensadores franceses, cabe fixar nos objetos estéticos por meio de perceptos e de afetos porções recortadas do virtual possível. O exemplo trazido para explicar essa ida e volta ao caos das intensidades, das forças e das velocidades é o de um artista sentado em frente de uma tela branca, ou o escritor diante da lauda em branco. Tudo é possível de ali ser registrado. O branco da tela e da lauda de papel é o infinito, é o caos. Virtualmente infinitas 164 possibilidades de registro encontram-se na frente do artista. A obra de arte é um crivo que o artista faz ao visitar incansavelmente o caos. Como já percebia Todorov em sua análise pósestrutural da literatura: A arte interpreta o mundo e dá forma ao informe, de modo que, ao sermos educados pela arte, descobrimos facetas ignoradas dos objetos e dos seres que nos cercam. Turner não inventou o fog londrino, mas foi o primeiro a tê-lo percebido em si e tê-lo mostrado em seus quadros [ver Figura 5] - de algum modo, ele nos abriu os olhos. (TODOROV, 2010, p. 65, grifo do autor). Figura 5 - Keelmen Heaving in Coals - Quadro de J. M. W. Turner Fonte: Terrain Gallery (2014) 24. Um crivo, uma percepção, um percepto, um afeto que depois de registrado será para sempre fixado na obra de arte. Para sempre tendo a potência de afetar o observador, o ouvinte, o leitor. “O ar guarda a agitação, o sopro e a luz que tinha tal dia do ano passado, e não depende mais de quem o respirava naquela manhã” (DELEUZE; GUATTARI, 2007a, p. 213). 24 Imagem disponível em: <http://www.terraingallery.org/archive/J-M-W-Turner/turner-light.htm>. Acesso em: 5 dez. 2014. 165 Obra assinada, com nome e sobrenome, um crivo no caos, fixado para sempre, perpétuo provocador de “um bloco de sensações”: força criadora que move o pensamento, de uma forma tão particular e tão próxima da filosofia e da ciência. Próxima à filosofia, principalmente, quando a arte é literatura”. (MOSTAFA; NOVA CRUZ, 2009, p. 105, grifo das autoras). Arte traz esta potência de provocar um bloco de sensações, por meio de afetos e de perceptos imanentes ao texto literário. Para Deleuze (2014), sob nítida influência nietzschiana, é por intermédio da arte que o ser humano resiste. Arte como resistência, arte para suportar a tragicidade da existência. Como já trazido anteriormente, a vida – para Nietzsche e para muitos – é trágica e para suportá-la, para resistir, para dar ordem ao caos, é preciso transformar a existência em uma obra de arte. Nada mais trágico que a doença, a iminência do fim, a presença assustadora da morte. Narrativas como resistência. Afetos da arte, nos textos literários e nas narrativas como um todo, para traçar um mapa do caos. O caos mapeado cabe em um limite, transforma-se em um continente, capaz de ser abordado, conhecido, tolerado. Essa potência da arte, de resistência, oferece à vida a oportunidade de criação, de movimento, de devir, de “[...] tornar visível o invisível, tornar audível o inaudível, tornar dizível o indizível – ou, para formular essa ideia em toda a sua abrangência, tornar pensável o impensável” (MACHADO, 2009, p. 221) A enfermidade, a doença, a dor e o sofrimento compõem um motivo para contar-se uma história. Todas as famílias felizes parecem-se, mas cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira, disse Tolstoi (2011). Todas as pessoas saudáveis são saudáveis da mesma maneira; cada um padece de forma singular. Especialmente os doentes crônicos, aqueles sem perspectiva de cura, sequelados, limitados, ou próximos à morte têm necessidade de narrar suas histórias. A doença é aquele acontecimento existencial que coloca o ser humano de frente ao trágico desenrolar da vida. Diante do trágico e do inexorável, o sentimento de impotência provoca, quase sem exceção, desespero. Contudo, tudo fica mais possível, contido, controlado quando é passível de ser narrado. A narrativa oferece linhas, traços, limites, mapeia um continente. E um continente pode ser abordado. Perceber as narrativas da vida como arte permite que os encontros da clínica médica sejam transformados em narrativas-afeto e os indivíduos, pacientes e médicos, podem expressar suas vozes que resistem. Como explica Roberto Machado (2009, p. 208): “E quando se sabe que, para Deleuze, a filosofia, a arte, a literatura têm em comum o fato de resistir - à morte, à servidão, ao intolerável, à infâmia, à vergonha, ao presente...” podese antever a potência advinda da transformação do encontro médico-paciente em autores de narrativas-arte. 166 3.2 NARRATIVAS DOS ENFERMOS Arthur Frank (1995) teoriza três diferentes tipos de narrativas provenientes de pessoas enfermas: Narrativas de restauração, narrativas do caos e narrativas de busca 25. O importante nessa tipificação trazida por Frank é compreender que se podem extrapolar esses modelos narrativos para qualquer narrativa dada, seja da vida, seja literária. As narrativas, geralmente, mesclam os três tipos propostos e constroem sempre uma história singular, verdadeira dentro do que se pode compreender como verdade narrativa. A narrativa, como potência de afeto, é sempre verdadeira. Uma obra de arte é sempre verdadeira. Não há nada a interpretar ou a justificar em um objeto estético. Como propõe esta tese, arte é afeto. É um crivo que se faz no caos virtual e se fixa na tela, na página, na narrativa. Assim, é sempre novo, sempre criativo e, principalmente, está sempre em devir, tornando-se como é próprio do acontecimento. 3.2.1 Narrativas de restauração: “novinho em folha” O primeiro tipo de narrativa trazido por Frank (1995) trata-se da narrativa de restauração. A estrutura do enredo de tal narrativa é simples e bem conhecida: a vida vai bem, acontece uma coisa grave, inesperada, uma crise. Esforços são reunidos, auxílio buscado, forças demonstradas e... tudo retorna ao normal. Tudo acaba bem. Saúde-doença-tratamento-médicocura. A potência dessa narrativa é limitar a experiência dolorosa, nomeando o mal. Este é o papel fundamental do diagnóstico clínico: dar nome à doença. Podendo nomearem-se as enfermidades, elas podem ser abordadas, enfrentadas. A narrativa de restauração é a maneira mais direta e positivista possível de encarar-se a doença. Talvez o que Anderson (2001, p. 5) chama de “impulso vital de colocar ordem”. É a cara da medicina moderna, científica e reside no imaginário ideal de todos. A promessa da ciência é ainda muito forte nos ouvidos de quem, especialmente quando confrontado com o fim trágico da existência, agarra-se [ir]racionalmente às promessas da Modernidade. Frank (1995, p. 77) lembra, com propriedade, a metáfora comum desse tipo de narrativa: “novo em folha”26. Esta figura de linguagem enfatiza muito bem qual é o enredo principal da história: restauração da condição anterior, tudo gira em torno da saúde, do corpo e da mente fortes e saudáveis. A característica desse tipo narrativo é que as pessoas apreendem esse enredo como o ideal. Esperam que a medicina e o médico, por conseguinte, cumpram seu papel de 2525 26 Restituition narrative, Chaos narrative e Quest narratives no original. (Tradução nossa). “as good as new” no original. (Tradução nossa). 167 curadores no enredo pré-formado. No entanto, a existência prova-se, muitas vezes, avessa a esse enredo. Eis um dos motivos pelos quais, quando enredados nesse tipo de narrativa, a relação médico-paciente tende a complicar-se quando o prognóstico da situação clínica não anda ao encontro do ideal narrativo do paciente e de sua família (às vezes, do próprio médico). Aliás, a própria medicina faz questão de contar suas narrativas dentro desse modelo. Basta trazer à lembrança as propagandas de medicamentos, de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Tratamentos para câncer, por exemplo, mostram pessoas fazendo quimioterapia como se estivessem recebendo refresco em um spa de luxo. Os resultados é que são mostrados: saúde restituída, cabelos compridos, corpos restaurados. O médico, nesse tipo de narrativa, passa a ser o ajudante, coadjuvante do processo de restauração. O paciente, também, cumpre um papel determinado que passa por não sentir-se responsável pelo acontecimento-doença. Se não é responsável, como se a doença não lhe fosse própria, não pertencesse ao seu corpo ou a sua mente, o doente fica dispensado de cumprir seu papel na família, no trabalho. E, se dispensado, cabe ao médico delimitar essa dispensa, certificar que “na verdade” o indivíduo está doente. Mais uma consequência complexa para a relação médico-paciente desse modelo narrativo, como explica a médica experiente: Por algum tempo, a pedido dos pacientes, realizei consultas com o fim de atestar aos deficientes que eles eram deficientes. Exatamente isso, a associação dos deficientes físicos precisa, por força de lei, que um médico ateste que o indivíduo é portador de uma ou outra deficiência para que este possa ter direito a coisas mínimas, básicas como carteirinha para não pagar transporte público. A situação é de tal forma constrangedora para o paciente e para o médico porque, pensem, é preciso que um profissional diga para as autoridades que o fulano é paraplégico? Ou que usa colostomia? Ou tem paralisia cerebral, retardo mental... O pior de tudo, revoltante, o fundo do poço é quando – para isenção de impostos – por exemplo para compra de automóveis adaptados, são necessárias duas, duas assinaturas de dois médicos atestando a deficiência! A que absurdo esta sociedade chegou. Precisamos de um médico, não, de dois médicos para atestar que alguém requer atenção especial, isenção de pagamentos, de impostos. Fico pensando que mundo é este no qual alguém imagina que alguém (porque alguém certamente o faz) se diz retardado ou deficiente para ter ganhos tão primários. A mesma sociedade, ou sistema, ou ordem que dá ao médico, ou a dois médicos, o poder de atestar tais condições! Como afirma Frank (1995, p. 82): “O médico é explicitamente um agente de controle social”. A narrativa é social. O paciente é o sujeito a ser curado, seu papel na narrativa e na sociedade está bem estabelecido, a medicina é a ferramenta de diagnóstico e cura e, no final, tudo acaba bem, todos restituídos, novinhos em folha: o paciente, o médico, a medicina, a 168 sociedade. O problema é que: obcecada com a cura, a medicina não encontra lugar para as histórias [dos pacientes] em qualquer outra narrativa” (FRANK, 1995, p. 83). É como se o incerto da existência, trazido à tona pela doença, tivesse que ser narrado em forma de quebra-cabeças, de questões passíveis de serem resolvidas. Como propõe Frank, o processo de dor e sofrimento é desconstruído, feito em pedaços para que possam ser acomodados em uma narrativa que faça sentido e que, ao final, componha o quebra-cabeças completo, certo, reto, saudável. Esse sistema de desconstrução, das pequenas partes, tão caro à modernidade como exposto no início da tese, traz a vantagem, como se está propondo, de “normalizar” (FRANK, 1995, p. 88) a doença. Normalizar, colocar na norma, impor limites. Mais uma consequência para a relação médico-paciente desse tipo de narrativa é que, ao manter o modelo saúde-doença-diagnóstico-tratamento-cura-saúde, o doente deixa de ser humano, passível de dor, de sofrimento, de limitações e de morte e passa a ser um herói. Aliás, vários heróis e procedimentos heroicos abundam nas narrativas de restauração. Como se pode depreender do que foi exposto, a limitação definitiva desse tipo de narrativa é a morte, isto é, a vida e seus próprios limites. O que leva à proposição de narrativas que deem conta da vida para além das possibilidades de restauração. 3.2.2 Narrativas do caos O segundo tipo de narrativas trazido por Arthur Frank é o oposto da restauração. A narrativa do caos é a antítese da narrativa de restauração na medida em que seu enredo imagina a vida como impossibilidade de melhora (FRANK, 1995, p. 97-114). Ao invés de uma narrativa linear, com início (saúde), meio (diagnóstico e tratamento) e fim (restauração da saúde) exposta no tipo de restauração, a narrativa do caos dá conta dos acontecimentos existenciais, especialmente os ligados às dores e aos padecimentos de forma desorganizada. Os fatos e os sentimentos são narrados de forma muitas vezes incoerente, sem estruturação, na medida em que são experimentados na vida. Por essa falta de coerência, essas narrativas são difíceis de serem ouvidas (ou lidas): o autor, muitas vezes, não tem seu papel de narrador, propriamente dito, reconhecido pelos outros. Mais importante ainda, salienta Frank, o narrador parece ao outro não estar vivendo uma existência completa, pois, de acordo com a expectativa do outro modelo narrativo, espera-se de uma história – e da vida– a linearidade teleológica do início, meio e fim. 169 As narrativas de restauração são as esperadas, idealizadas e, portanto, mais fáceis de serem compreendidas. As narrativas do caos geram ansiedade, desconforto, descontrole. Aos que ouvem, aos que participam, aos ajudantes e aos coadjuvantes - aos familiares, aos cuidadores, aos médicos e à medicina. O caos não é controlável, foge às regras, mesmo desconstruído não pode ser normalizado. Não há normalidade possível, tudo é tragédia, e a relação médico-paciente fica à mercê destes sentimentos de “vulnerabilidade, futilidade e impotência” (FRANK, 1995, p. 97). No livro Losing my mind: an intimate look at Life with Alzheimer’s, Thomas DeBaggio (2002) esforça-se para manter a coerência de sua narrativa mesmo quando o avanço da enfermidade já não lhe permite mais uma estrutura lógica organizada27: I live on the edge of fear and insecurity and I am filled with uncertainty. Alzheimer´s has made me wary and cunning. I cannot hide from the sun. Now I expose myself for all to see in nakedness and uncertain pain. You are only a blur though my tear-soaked eyes. (DEBAGGIO, 2002, p. 171). Narrativas do caos geram ansiedade, são difíceis de serem ouvidas, são ameaçadoras. Há de ressaltar-se o caráter testemunhal das narrativas. Todos os tipos narrativos trazem consigo esta dupla face. Ao mesmo tempo narrativas são relatos singulares, próprios a um narrador mais ou menos explícito, dizem respeito a uma forma própria e definida de transmitir a afecção de um acontecimento. Mas, por outro lado, toda memória, biografia, relato, narrativa é também social, familiar, comunitária. Por conceito a narrativa é contada por alguém para alguém ouvir (ou ler). O outro está sempre presente na narrativa. A narrativa constrói-se nessa relação do “Eu” com o “Outro”. Daí o caráter ético, tão importante a esta tese, proveniente da força das narrativas. Então, uma narrativa do caos provoca dificuldades no outro, causa apreensão, medo. A tendência é de procurar distanciar-se desse tipo de narrativas, não olhar para elas, não escutálas, evitar tanto quanto seja possível. “Eu vivo à beira do medo e da insegurança e estou cheio de incertezas. Alzheimer me fez cauteloso e astuto. Eu não posso me esconder do sol. Agora eu me exponho para que todos possam ver em nudez e dor incerta. Você é apenas um borrão apesar de meus olhos encharcados de lágrimas. (DEBAGGIO, 2002, p.171, tradução nossa). 27 170 Esse é um dos motivos-chave pelos quais os médicos interrompem os pacientes durante suas narrativas caóticas: a perda do controle. Como afirma Frank (1995, p. 100), “[...] controle e caos são os limites opostos de uma linha contínua. [...] O caos se alimenta da sensação de que ninguém está no controle”. A consequência direta para a relação médico-paciente dessa forma de narrativa desorganizada e niilista é que o médico e a medicina passam a ser acusados de agentes desse caos. Entretanto, há um imperativo moral e um motivo clínico para aprender a ouvir (e a tolerar) as narrativas do caos. Primeiro porque negar a narrativa caótica é negar a voz de quem a profere. É negar, como muitas vezes o médico faz, o paciente que tenta expressar seu padecimento. Negar a dor, o descontrole, a violência, o desespero, a falta de saída, a doença sem cura, o fim da vida, o corpo do paciente, sua voz, sua existência. Segundo, porque pessoas a quem são negadas a ausculta de suas narrativas, permanecem pacientes. Não desaparecem, continuam a receber cuidados médicos, a serem atendidos em ambulatórios de doenças crônicas, a internarem nas enfermarias de clínica médica. Mesmo não ouvidos, mesmo mantidos apartados de suas narrativas, os pacientes continuam sob tratamento, fazendo diálise, quimioterapia, usando próteses, tentando reabilitação, continuam vivos. Existem, mas sem terem suas narrativas reconhecidas. Sem serem ouvidos jamais serão capazes de estabelecer uma relação com seu médico e com a medicina que lhes seja empática. É uma impossibilidade, por isso teorizamos o imperativo moral e clínico de aprender a ouvir (por meio da leitura e do afeto das narrativas) a todos os tipos de relato, a todos os pacientes, aos diversos “Outros” que a clínica médica oferece nesta linha continua de afetos que vai do caos ao controle. Para corroborar o que foi trazido no início da tese com a crítica de Maffesoli à racionalidade científica: “Os médicos não suportam o caos porque este significa uma crítica implícita à afirmação modernista do trabalho clínico. [...] a Modernidade tem muita dificuldade em aceitar, mesmo provisoriamente, que a vida é algumas vezes horrível” (FRANK, 1995, p. 111-112). A medicina precisa perceber que a saúde e a doença passam, muitas vezes, por horríveis meandros, mistérios que não se transformam em quebra-cabeças montáveis. Às vezes, tratamse de puros mistérios. E, enfatiza Frank (1995, p.112), não há qualquer categoria clínica baseada em pressupostos da modernidade que deem conta do conceito de viver uma existência marcada pela incerteza, pela dor, pela limitação e pelo sofrimento. Como esta tese afirma, trata-se menos de analisar, de interpretar ou de resolver casos clínicos ou narrativas dos pacientes e mais de deixar-se afetar pela potência de resistência imanente às narrativas - mesmo que sejam trágicas, desesperadas, incoerentes e incontroláveis. 171 Aprender a ouvir todos os tipos de narrativas, saber perceber no meio dos relatos dos pacientes os momentos de caos é dar voz aos corpos que tentam expressar o que sentem. É, em um sentido amplo, atender o paciente com sua voz, seu corpo, suas emoções, seu afeto. É transformar a vida trágica em um acontecimento. Quando nada parece acontecer, sem resultados animadores, apesar das limitações, do mau prognóstico, do fim da vida, nada parece acontecer, mas o mundo (a vida de médicos e pacientes) é outra. Narrativa arte, narrativa como afeto. Afeto como resistência. Eis a potência imanente às narrativas. Como relata a enfermeira trabalhando há anos com pacientes oncológicos. Cuidar e auxiliar pacientes oncológicos nos levam a várias histórias emocionantes e maravilhosas e todos os dias temos exemplos de vidas que nos levam a realmente avaliarmos modos possíveis de ser e de viver. Um fato muito lindo e que me emocionou bastante foi quando um senhor de meia idade com LNH (um tipo de linfoma) chegou para mim e disse: - Eu fui nos melhores centros oncológicos que poderiam existir em nosso país, e em todos eles eu obtive informações exatas, frias e realistas da minha situação. Todos foram extremamente profissionais. Faltou apenas calor humano, tato, amor e paixão pelo ser humano. Lá, eu me sentia sempre mais um, aqui nesta modesta clínica eu sou o João que todos conhecem e me querem bem, onde encontro pessoas amáveis, queridas que me conhecem e me chamam pelo nome. Eu não sou um número, sou eu e recebo de vocês tanto carinho, amor e dedicação que não encontrei em lugar nenhum, pois a pessoa com câncer precisa ser acolhida amada e bem tratada e não ser apenas um no meio da multidão, o cuidar vai muito além da medicina. Contudo, o limite determinante desse tipo de narrativa é que “[...] caos não é uma maneira de se levar a vida” (FRANK, 1995, p. 114). Como na canção de Arnaldo Antunes28: 28 Socorro. Disponível em: <http://letras.com/arnaldo-antunes/44207/>. Acesso em: 5 dez. 2014. 172 Socorro! Não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fogo Não vai dar mais pra chorar Nem pra rir... Socorro! Alguma alma mesmo que penada Me empreste suas penas Já não sinto amor, nem dor Já não sinto nada... Socorro! Alguém me dê um coração Que esse já não bate nem apanha Por favor! Uma emoção pequena, qualquer coisa! Qualquer coisa que se sinta... Tem tantos sentimentos Deve ter algum que sirva Qualquer coisa que se sinta Tem tantos sentimentos Deve ter algum que sirva... Socorro! Alguma rua que me dê sentido Em qualquer cruzamento Acostamento, encruzilhada Socorro! Eu já não sinto nada... Socorro! Não estou sentindo nada [nada] Nem medo, nem calor, nem fogo Nem vontade de chorar Nem de rir... Socorro! Alguma alma mesmo que penada Me empreste suas penas Eu Já não sinto amor, nem dor Já não sinto nada... Socorro! Alguém me dê um coração Que esse já não bate Nem apanha Por favor! Uma emoção pequena qualquer coisa! Qualquer coisa que se sinta... Tem tantos sentimentos Deve ter algum que sirva Qualquer coisa que se sinta Tem tantos sentimentos Deve ter algum que sirva... 3.2.3 Então... Narrativa de busca ou Narrativa-devir Arthur Frank (1995) denomina The Quest Narrative, traduzida aqui, inicialmente, como narrativas de busca. Ao final deste capítulo, quer chegar-se a uma apropriação, a um conceito próprio, novo, que se pretende chamar de narrativa em devir ou narrativa-devir. Enquanto as narrativas de restauração têm a pretensão de evitar a consciência da finitude, as narrativas do caos sucumbem à tragicidade da existência. Por sua vez, o terceiro tipo de narrativas, as de busca, encaram a enfermidade de “cabeça erguida” (FRANK, 1995, p. 115). Trata-se de, além de aceitar a doença, fazer da adversidade a sua força, a sua potência criadora de vida. De outra vida, é verdade, de uma vida diferente. A narrativa de busca resgata 173 a existência possível diante da doença. As possibilidades existenciais trazidas à experiência por causa da doença. Doença como oportunidade para uma nova jornada, uma viagem diferente que se torna uma busca. A teorização de Frank vem ao encontro do que se buscou afirmar no decorrer das páginas desta tese: que a existência é trágica, que todos seremos indivíduos enredados na relação médico-paciente em algum momento da existência; que vivemos hoje, novos tempos, passamos por um momento de ruptura epistemológica. Ainda somos modernos, modernos demais e buscamos racionalizar, controlar, dar forma, analisar e interpretar a tudo o que a existência nos impõe. Porém, os tempos são de muitas vozes, múltiplos gritos fazem-se ouvir. Os corpos e as mentes têm, enfim, direito à voz. Vozes pós-coloniais em tempos pós-modernos como propõe Frank. Vozes que clamam por existências em remissão, saudáveis e doentes, certos e incertos, limitados ou não. Doentes que buscam, com suas narrativas, uma maneira de levar a vida com outro estilo, no que Frank (1995, p. 68) chamou de “someone else, the next viable you”29. Nada a interpretar propõe esta tese. Tudo a afetar e ser afetado. A narrativa de busca mantém a restauração e o caos como narrativas de fundo e expressa a voz do indivíduo enfermo, tomando para si a existência da dor, da doença ou da limitação e mantendo o caos sob controle. O melhor exemplo de narrativa de busca é lembrado por Arthur Frank (1995, p.116) quando o autor traz a relação de Nietzsche com sua misteriosa e dolorosa condição clínica. Nietzsche faz de sua dor sua potência criadora, admitindo que não pode separar-se de sua enfermidade. Que a dor lhe constitui, como um boxeador orgulhoso de seu nariz quebrado e das cicatrizes que carrega em seu rosto. Sem essas cicatrizes o lutador seria impossível, fraco, impotente. A ideia da narrativa de busca é que a dor, assim como a alegria, é constituidora da existência. Aliás, há mais potência na guerra do que na paz, como afirma Nietzsche (2007) em Zaratustra. As narrativas de busca contam histórias de como viver de maneira diferente. Como encontrar alternativas para uma existência que não se faz mais possível, “[...] sei que nada será como está; amanhã ou depois de amanhã; resistindo na boca da noite um gosto de sol”30. A narrativa de busca revisita a narrativa primordial, a Ilíada (LAUNER, 2012), a viagem, a guerra, a volta, as tentações, as perdições, os perigos, os desafios, as batalhas e... o retorno. Ulisses retorna à Itaca, mas a ilha não será a mesma, nem sua esposa Penélope, nem seus amigos. Todos mudaram, tudo mudou. O herói tornou-se outro homem. A viagem foi longa demais, fora de “outro eu viável” (Tradução nossa). Menção à canção Nada será como antes, de Milton Nascimento. Disponível em: <http://letras.com/miltonnascimento/47436/>. Acesso em: 5 dez. 2014. 29 30 174 lugar, fora do tempo. O verdadeiro acontecimento. Nada aconteceu, o mundo é outro. Ulisses terá de encontrar um outro eu possível, um segundo eu viável para continuar vivendo depois de toda jornada, com todas as cicatrizes, as marcas, as emoções vividas. A narrativa de busca conta a história de heróis pós-modernos, de heróis pré-modernos. Não heróis que conquistam suas doenças como os heróis da modernidade, mas como heróis que “[...] descobrem maneiras alternativas de viver o sofrimento” (FRANK,1995, p. 119). De franca inspiração nietzschiana, reconhecer que a vida é trágica e mesmo assim, exatamente por conta dessa tragicidade, da potência do trágico, transformar a vida em narrativa de busca, em narrativa criadora. Buscar narrando a existência de forma sensível e po(i)ética, transformar a vida em uma obra de arte. Apesar da doença, da limitação, da dor, de estar-se em remissão, e, mais precisamente, por conta dessas cicatrizes e forças, devir-outro. Viver em devir, tornando-se outro a cada instante, a cada momento, com uma intensidade própria às forças criadoras. Por isso, atreve-se aqui chamar essas narrativas tantas, todas vozes, qualquer voz, de Narrativa-Afeto, narrativas em devir, narrativas em movimento, narrativas que sabem dançar e que podem ser ouvidas (e lidas) por ouvidos (e olhos) atentos, sensibilizados, afetados pela potência imanente das próprias narrativas. Afinal, “[...] cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração”31, conforme a narrativa do velho médico, morrendo de câncer, em quimioterapia, conversando com a enfermeira: Eu sei que vou morrer, estou preparado e minha família também está, não fiquem tristes, o trabalho que vocês fazem aqui é maravilhoso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém já disse que gosta de vir para cá? Que se sente feliz em estar aqui? Eu sou essa pessoa, esse lugar é tão bom e acolhedor que eu tenho saudades de estar aqui com vocês. 3.3 O AFETO Existem as ideias e os afetos. Talvez a maneira mais simples de explicar a diferença e a complementaridade das ideias e dos afetos seja pensar em uma refeição predileta. As ideias 31 Menção à canção Epitáfio da banda Titãs. Disponível em: <http://letras.com/titas/48968/>. Acesso em: 5 dez. 2014. 175 para o preparo da refeição são essenciais, têm materialidade, cabem dentro de um estilo, representam escolhas. Ingredientes, tempero, tempo de preparo. O afeto é o prazer de comer a refeição preparada pela mãe. Para sempre o cheiro do tempero da cozinha da mãe vai habitar o consciente e o inconsciente de cada um de nós. Uma fração de segundo que sejamos expostos a um cheiro familiar nos traz, imediatamente, o afeto daquela refeição que sempre esteve ali. Os ingredientes, os temperos, a receita são a ideia e o estilo. O afeto é algo com pouca realidade formal, difícil de explicar (pela razão cognitiva), fácil de sentir. Cozinhar como gesto de amor, como afeto, como arte. É humana e universal essa capacidade estética de afetar e de ser afetado. Uma vez marcado por um afeto, afetado para sempre. Esta é a tese aqui apresentada. As narrativas como potência afetiva. Ler, ouvir e escrever narrativas como quem cozinha uma refeição predileta, como quem pinta uma obra de arte, como quem compõe ou ouve uma sinfonia. Narrativas como objeto estético, capaz de afetar as existências de médicos, de pacientes, da prática da clínica. A conclusão alcançada pela pesquisa desta tese mostrou-se ao longo de um caminho bem mais conhecido do que se supunha ao dar início à caminhada. Afinal, as narrativas – sejam literárias ou da vida – carregam em si mesmas, ou são, puramente potências. Caracterizam-se por suas potências. Trazem em si a capacidade de afetar – e de serem afetadas – pessoas, sentimentos, ideias, outras narrativas. Essas Narrativas-Afeto seguem o caminho conceitual do afeto em Espinosa, abordado a partir das considerações que Gilles Deleuze (2009) faz acerca dos conceitos propostos por Espinosa no século XVII. Baruch de Espinosa viveu na Holanda de 1632 a 1677, e sua principal obra é intitulada – tão oportunamente aos objetivos desta tese –, de Ética. É nesse livro que o filósofo setecentista vai conceituar os seres a partir das suas capacidades de afetar e de serem afetados e não, como todos os demais filósofos, por suas essências (ESPINOSA, 2009). Para Espinosa, os seres e as coisas existentes diferenciam-se entre si pelas suas capacidades de afetar e serem afetados. Simples assim. A vida seria uma experiência transcorrida em uma variação contínua de afetos. Dependendo da afecção provocada pelos encontros que se proporcionam durante a existência, passamos de um estado de vibração dado, de uma intensidade afetiva, para outro. Variações quantitativas de intensidades afetivas decorrentes dos encontros que estabelecemos nos trajetos da existência. Encontros estes com as coisas, com os pensamentos, com os corpos, com o outro. Afinal, tudo se dá – na vida– nesta relação do “eu” com o outro. Se o encontro do eu com o outro aumenta nossa potência de existir, Espinosa (2009) fala de Alegria, de um encontro, de um afeto, alegre. Se o encontro causa uma diminuição na 176 potência de vida, uma variação negativa da intensidade do conatus (esforço de cada ser de perseverar no seu ser), o filósofo chama de Tristeza, de um encontro triste. Na dissertação de mestrado (NOVA CRUZ, 2009), teorizamos a clínica médica pensada como uma sucessão de encontros potencialmente alegres. Agora, nesta tese, buscamos a construção do conceito de potência afetiva das narrativas para explicar de que forma as narrativas “funcionam” na prática e no ensino de clínica médica. Os autores que publicaram nesta área – da medicina narrativa –, como exposto nas páginas anteriores da tese, demonstram a importância das narrativas no desenvolvimento de habilidades tão caras à prática da clínica, mas titubeiam ao explicar como – ao fim e ao cabo – as narrativas promovem essas habilidades nos médicos em formação. Esta tese estabelece a potência imanente das narrativas na constituição ética de médicos e médicas capazes de ouvir seus pacientes, representar dentro de si as mais profundas e complexas emoções e tomar decisões diagnósticas e terapêuticas que atendam às necessidades comuns a todos os seres humanos e àquelas tão singulares quanto às ipseidades de cada indivíduo envolvido na relação médico paciente. Como explica Deleuze (2009, p. 20), existem dois termos em latim, utilizados por Espinosa, para referir-se ao afeto: affectio e affectus. Em português, também dispomos de duas palavras para expressar esses dois conceitos. O primeiro termo affectio – traduz-se por afecção (a capacidade de afetar e ser afetado) -; e o segundo affectus - trata do afeto, do sentimento (da variação de intensidade de potência de vida), propriamente dito. O que parece ser uma conclusão tão singela, como na realidade é, passa por uma complexa elucubração filosófica do maior interessante para a prática da medicina. Há basicamente dois modos de pensamento aplicáveis à vida em geral, à medicina em particular: o modo de pensamento representativo e o modo de pensamento não representativo. O primeiro leva em consideração as ideias; o segundo os afetos. Assim explica Deleuze, didaticamente, a questão: “Ideia é um modo de pensamento que representa alguma coisa. Por exemplo, a ideia do triângulo é o modo de pensamento que representa o triângulo”. É o que também se denomina “realidade objetiva”. “A ideia, quando representa alguma coisa, é dita ter uma realidade objetiva” (DELEUZE, 2009, p. 20). “Chama-se de afeto todo o modo de pensamento que não representa nada” (DELEUZE, 2009, p. 20). Afetos, sentimentos, ansiedade, angústia, amor trazem em si a ideia de uma coisa que os gera, um objeto de amor, uma ideia que provoca medo ou esperança. Mas o afeto em si, como tal – como afeto – não representa nada, “estritamente nada” (DELEUZE, 2009, p. 20). Todo o desejo – o querer, a esperança, o medo de não alcançar – está dado em um objeto de 177 representação, em uma ideia; entretanto, o afeto em si, o querer e não querer; a esperança e o medo – em si – nada representam, são afetos. Antes de Espinosa, conforme ensina Deleuze (2009) no seu curso sobre o filósofo holandês ministrado em Vincennes entre 1978 e 1981, havia um “primado da ideia sobre o afeto” porque considerava-se que havia de se ter uma ideia, por mais indeterminada que fosse, do objeto relativo ao afeto experimentado. Assim, apesar de haver uma primazia cronológica da ideia (pensamento representativo) sobre o afeto (pensamento que nada representa) “[...] seria um contrassenso, inteiramente desastroso, o leitor transformar este primado lógico em redução” (DELEUZE, 2009, p. 22). Sim, há uma anterioridade do objeto em relação ao afeto. Não, o afeto e a ideia da coisa não se referem a um mesmo objeto de pensamento. Uma coisa é a ideia do objeto que se ama, outro modo de pensamento é o amor. Uma coisa não se reduz à outra. Indo adiante, na argumentação filosófica, há de considerar-se que a ideia, além de sua realidade objetiva, também tem uma realidade formal. Ou seja, “[...] é a realidade da ideia enquanto ela é em si mesma alguma coisa. A realidade objetiva da ideia de triângulo é a ideia de triângulo enquanto representando a coisa triângulo; mas, a ideia de triângulo, em si mesma, é alguma coisa; por outro lado, enquanto ela é alguma coisa, eu posso formar uma ideia desta coisa [...]” (DELEUZE, 2009, p. 20), e esta é a realidade formal de uma ideia. É o grau de realidade formal (a forma que uma ideia possui) que Espinosa determina como grau de realidade ou de perfeição de uma ideia. Deleuze explica que cada ideia tem seu grau de realidade e que este está relacionado ao objeto que representa, mas não se reduz, não se confunde com o objeto em si. A realidade formal da ideia, ou o grau de realidade ou de perfeição de uma ideia, encerra em si o seu caráter intrínseco, enquanto a realidade objetiva da ideia (a relação com o objeto que representa) consiste seu caráter extrínseco. Para facilitar a compreensão, Deleuze traz os exemplos da ideia de Deus e da ideia de uma rã. Ambas ideias tem uma realidade objetiva especifica, uma representa Deus e outra a rã, sendo este seu caráter extrínseco próprio. Entretanto, a ideia de rã traz um caráter intrínseco (realidade formal) menor, que a ideia de Deus que possui um grau de realidade ou perfeição intrínseca muito maior que a ideia de rã (coisa finita). Então, há, inicialmente, dois modos de pensamento: o representativo: ideia; e o nãorepresentativo: afeto. Contudo, a ideia possui duas realidades, uma objetiva que faz a relação direta com o objeto representado e outra realidade formal (que parte do suposto que se pode ter uma ideia de uma ideia). A realidade formal, ou caráter intrínseco, relaciona-se ao grau de 178 perfeição de uma ideia (como, por exemplo, a ideia de Deus). E isso nos traz de volta a Espinosa e suas definições de afeto. Para Espinosa (2009, p. 25), os seres humanos, nós todos, somos “[...] autômatos espirituais; isto quer dizer que são mais as ideias que se afirmam em nós do que nós que temos as ideias”. A existência não passaria, então, de uma sucessão contínua de ideias, alguma coisa em cada um de nós, o tempo todo não para de variar. Para Deleuze (2009), é essa a conclusão que se chega a partir dos conceitos de Espinosa. Durante a vida, a cada momento, nos encontramos com outros corpos, coisas e pensamentos. Cruzamos com alguém na rua e a ideia dessa pessoa, com sua realidade objetiva e formal, afeta-nos, fazendo com que passemos de um estado de força de existir (vis extendi) ou de potência de agir (potentia agendi). O tempo todo, em variação contínua, alteramos nossas forças e potências. Para Espinosa (2009), viver é variar continuamente a potência de agir e a força de existir. E mais, que essa variação (de agir e de existir) não depende, inteiramente, de uma comparação de ideias. Isso significa que, para Espinosa, sob as lentes de Deleuze, a ideia e o afeto não se reduzem a uma coisa só - o afeto em si pode ser constituído pela variação de um grau de perfeição ao outro que, mesmo que provocado por uma ideia (inicialmente), não depende da ideia da coisa para existir, trata-se, afinal, de um afeto (pensamento não representativo). Encontros alegres provocam variações positivas na potência de agir e na força de existir. Encontros tristes, ao contrário, diminuem tais potências. “E, sobre esta linha metódica da variação contínua constituída pelo afeto, Espinosa vai assinalar dois polos: alegria-tristeza” (DELEUZE, 2009, p. 27). Então, como explicado anteriormente: a vida seria uma variação de intensidade – quantitativa – dessas forças. Vida como potência de existir, vida como força de agir. Vida que varia da tristeza à alegria, continuamente, dependente dos encontros da existência, das ideias que se fazem desses encontros. Vida dependente dos afetos, da capacidade de afetar e de ser afetado. Outra maneira de expressar os afetos de alegria e de tristeza que Espinosa utiliza-se em sua Ética é nomear os afetos alegres de ação e os tristes de paixão. Os afetos ativos levam-nos a aumentar as forças dos atos e a potência da vida. As paixões são afetos tristes, passivos, diminuem a potência da existência. Dessa forma, pode-se compreender como uma sucessão de encontros potencialmente tristes, na rotina diária da clínica médica, podem transformar-se em encontros alegres e potentes, conforme conclusão da dissertação de mestrado da autora (NOVA CRUZ, 2009). Toda vez que um encontro dá-se, entre dois corpos, pensamentos, ideias, enfim encontros... Toda vez que um encontro dá-se, por exemplo, no encontro entre o médico e o paciente, existem duas possibilidades: ou o encontro será ativo, fazendo as potências de vida e 179 a forças de agir do paciente e do médico variar positivamente, configurando-se em um encontro alegre; ou a potência do encontro acaba sendo triste, uma paixão, e as intensidades e as forças variam negativamente: tristeza. E isso, muitas vezes, é fundamental compreender, independe da ideia imediata (pensamento representativo) por trás da consulta, do motivo do encontro. Trata-se, como já explicado, de puro afeto. Eu tinha 19 anos quando sofri um Traumatismo Raquimedular (TRM) durante um treinamento desportivo numa academia de musculação. O Corpo de Bombeiros foi chamado, e eu fui encaminhada para o Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen (HMMKB) da cidade de Itajaí, Santa Catarina, Brasil. Me recordo ainda na academia que, de certa maneira, eu entendia o que estava acontecendo. Após acordar do desmaio, eu coloquei as mãos nas pernas e não as sentia. Nesse momento, eu entrei em pânico! Pedi que trouxessem um espelho para que eu pudesse me ver, mas isso não me deixou totalmente tranquila. Quando os bombeiros chegaram eu continuava desesperada. Enquanto eu esperava no Pronto Socorro do Hospital, eu gritava muito, sei que em parte por desequilíbrio emocional, mas não tenho certeza se eu já sentia dores físicas naquele momento. Um enfermeiro pegou uma tesoura e cortou as minhas roupas de treino e me preparou para ir para sala de cirurgia. Tenho lembranças vagas de estar entrando no elevador. Depois na sala de cirurgia eu havia comentado que eu tinha veias boas e depois disso não me recordo de mais nada, exceto horas depois da cirurgia, de alguém me perguntar se eu me sentia bem. Já no quarto de internação do hospital, recebi a atenção da minha mãe e do meu namorado daquela época. Também fui acolhida pelos amigos mais próximos. Já havia passado cerca de uma semana e eu iria ganhar alta e voltar para casa. Minha mãe tinha uma excelente médica e a encontrou no hospital e contou o ocorrido. A médica foi conversar com o médico responsável pelo meu caso que disse ter feito a cirurgia e que não haveria mais nada a ser feito. A médica tendo ciência de como a vida de uma pessoa muda nessas circunstâncias o questionou e a resposta talvez tenha sido inesperada: “Se quiser pegue a paciente para você!”. Eu soube disso muitos anos depois do acidente. A médica da minha mãe, bom, na verdade, agora a minha médica, veio me visitar. Nós já nos conhecíamos dos consultórios médicos nas ocasiões em que eu acompanhava a minha mãe. Mas agora a situação era outra, pois eu era a paciente. Uns dias antes eu havia me dado conta do meu estado. Que eu ia ficar numa cadeira de rodas por mais tempo do que eu pudesse imaginar. As enfermeiras estavam me preparando para o meu primeiro banho de chuveiro e eu me ofereci para ajudar, foi neste instante em que percebi que eu não comandava mais o meu corpo. Eu entrei em pânico, eu gritava enlouquecidamente e dizia: “Eu quero morrer! Eu não quero viver assim! Por que tinha quer ser eu?”. Durante cerca de 2 dias eu não queria comer. A psicóloga conversava comigo, mas nada mudava. Eu continuava com a mesma ideia de morrer. Até hoje não me recordo de tudo o que conversamos. Na realidade, eu não tenho lembranças de alguém ter me dito diretamente: “Você vai ficar numa cadeira de rodas!”, ou “Você não vai mais andar!”. Porém, me recordo naquela manhã de ter perguntado à médica: “O que eu preciso fazer para viver assim?”. E minha médica respondeu: “Você precisa fazer duas coisas: Você não pode ter escaras (úlceras de pressão) e você tem quer ir para o Hospital Sarah Kubitschek (Hospital de Reabilitação)”. Ela conversou com as enfermeiras e traçou algumas metas para o meu progresso. Eu não voltaria mais para casa, ficaria por mais tempo no hospital para iniciar a minha reabilitação. Aprendi como o meu intestino e a minha bexiga se comportam depois da lesão medular. Nossa primeira estratégia para esvaziar a bexiga não deu certo. Então a minha médica apareceu com um espelho gigante que foi apoiado nas minhas pernas e assim eu podia enxergar o canal da uretra sem forçar a coluna. E foi uma bela ideia porque funcionou. Recebi orientações de como cuidar da minha pele, especialmente na região das nádegas. Enquanto eu passava por esse treinamento, minha médica fazia o que podia para me encaminhar para o hospital de reabilitação. Uma semana depois eu saí do hospital e fui para casa. O trajeto foi uma das piores experiências da minha vida. Era o mesmo trajeto que eu fazia quando eu pedalava de bicicleta. Umas das atividades que eu mais gostava de fazer. ... Um mês e meio depois do acidente recebi a notícia de que havia conseguido uma vaga para o hospital de reabilitação em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Ao chegar lá decidi que não queria que ninguém, nem mesmo que a minha mãe me acompanhasse durante a reabilitação. Eu queria ser independente. Passei por vários exames que classificaram o nível da minha lesão. Tive acesso a uma equipe formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicóloga, nutricionista, educador físico, educadora pedagógica, técnicos que fazem órteses. A infraestrutura do hospital era incrível. Fiquei um mês, e voltei para casa com um colete que deixava a minha coluna imobilizada. Teria que ficar com esse colete por um período de 30 dias e depois retornaria para o hospital para dar continuidade a reabilitação. 180 ... Um mês e meio depois do acidente recebi a notícia de que havia conseguido uma vaga para o hospital de reabilitação em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Ao chegar lá decidi que não queria que ninguém, nem mesmo que a minha mãe me acompanhasse durante a reabilitação. Eu queria ser independente. Passei por vários exames que classificaram o nível da minha lesão. Tive acesso a uma equipe formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicóloga, nutricionista, educador físico, educadora pedagógica, técnicos que fazem órteses. A infraestrutura do hospital era incrível. Fiquei um mês e voltei para casa com um colete que deixava a minha coluna imobilizada. Teria que ficar com esse colete por um período de 30 dias e depois retornaria para o hospital para dar continuidade a reabilitação. Quando voltei passei a fazer vários exercícios para trabalhar o desenvolvimento do equilíbrio. Aprendi a empinar a cadeira de rodas, o que seria muito útil para ultrapassar alguns obstáculos, como meio fio da rua. Mas, para mim, significaria muito mais que isso, empinar a cadeira de rodas era um tipo de liberdade. Também me ensinaram e entrar e sair do carro sozinha. Os técnicos mediram as minhas pernas para confeccionar as minhas órteses. Depois que elas ficaram prontas, passei a fazer treino de marcha nas barras paralelas e depois comecei a andar com a ajuda do andador. Durante cerca de 3 anos eu fui periodicamente ao Hospital de Reabilitação até ter ganhado alta do programa. Enquanto eu estava na minha cidade, a minha médica cuidava de mim. Periodicamente ela me pedia para fazer exames de hemograma, urocultura, ultrassom do abdome para saber como estavam os rins. E sempre houve bons resultados. Essa é uma estratégia que ainda seguimos! Já se passaram 10 anos do acidente e eu fiz o que a minha médica me propôs no início: não ter escara e ir para o hospital de reabilitação. Como afirma Frank (1995, p. xi), ouvir (ler, contar e recontar) a narrativa dos pacientes “[...] permite mudar a concepção cultural dominante da passividade – a pessoa doente como ‘vítima’ da doença e dependente de cuidado – para atividade”. As narrativas como catalizadores dessas intensidades afetivas. E, como trazido na epígrafe da tese, quando uma voz é redescoberta, muitas vozes são ouvidas. Capacidade de afetar e de ser afetado. É o que define os seres. É o que define as pessoas, os pacientes e os médicos. Capacidade de afetar e de ser afetado. De variar a potência de vida e de existência. Encontros na clínica médica, encontros com a doença, com os doentes, com as dificuldades, com as deficiências, com as limitações, com os desafios. O que caracteriza um bom médico, aquele que faz aumentar a potência de vida e de existência do paciente, não é tão somente sua habilidade técnica, seu conhecimento científico. O bom médico faz com que o paciente saia melhor de seu consultório porque é capaz de afetar ativamente a existência do outro, porque ele desenvolveu a capacidade afetiva de promover encontros potentes, encontros alegres - apesar da doença, aliás, auxiliando o paciente a encontrar-se com a nova possibilidade de vida. Saúde ou doença como variações intensivas da alegria de viver, da potência de estar vivo. Fazer uso das narrativas como puro afeto, como obra de arte, com sua capacidade de tocar em algo que não passa por ideias, passa ao largo de pensamentos representativos. Toca na esfera 181 dos afetos, apesar de, como visto anteriormente, ter realidade formal e, portanto, passível de ser desenvolvida, aprimorada, alargada, ampliada, experimentada e passada adiante. Uma consulta com o oncologista que deve dizer ao paciente que não há mais tratamento curativo possível, contar a um casal de pais grávidos do primeiro filho que este é portador de uma anormalidade genética, dar a notícia para a menina que após o acidente nunca mais poderá andar, dor, sofrimento, morte. Não necessariamente consultas fadadas à tristeza. Ao contrário, a clínica médica é um compêndio de encontros alegres, mesmo nessas situações mais críticas, quando se compreende que a força de agir e a potência de vida tratam-se de afetos e não das ideias propriamente ditas. E é isso, teoriza-se aqui, que as narrativas ensinam à clínica médica. Além do repertório de afetos, o afeto em si. Potência afeto, potência de afetar e de ser afetado, de fazer variar essas potências ao longo de encontros estabelecidos na prática, nos ambulatórios, nas enfermarias, nas salas de aula, nos procedimentos, nas unidades de tratamento intensivo, nas unidades de cuidados paliativos, na reabilitação, na vida! Para Espinosa (2009), podem-se ter três ideias a respeito da existência, três níveis de sabedoria, três progressivos estágios do conhecimento. Nenhuma dessas espécies de ideias são, propriamente erradas, elas são, como expõe Espinosa, somente inadequadas na medida em que não alcançam o terceiro grau de conhecimento, a intuição, o conhecimento intuitivo, a ciência intuitiva. 3. 4 GÊNEROS DE CONHECIMENTO Espinosa (2009, p. 81-82) distingue três espécies de ideias hierarquicamente superiores, sendo a primeira um tipo de conhecimento baseado nas afecções (affectio), a segunda a ideia baseada na razão (que forma noções comuns) e a terceira essência, ou “[...] ciência intuitiva, o encontro das causas adequadas dos efeitos percebidos pelos sentidos, a harmonização das coisas e dos seres com sua gênese comum à substância eterna” (NOVA CRUZ, 2009, p. 65). O primeiro gênero do conhecimento, para Espinosa, advém da “experiência vaga” ou consiste em uma opinião ou imaginação. Explica Deleuze (2009, p. 30-44) que esse grau de conhecimento relaciona-se com a afecção que um corpo sofre pela ação de outro corpo. Ou seja, é conhecer as coisas pelos efeitos que elas provocam sobre nossos corpos. O exemplo trazido por Espinosa é muito didático e implica em conhecer o sol como uma pequena esfera que se localiza em algum lugar do céu e que existe para aquecer nossos corpos. Não se trata, para Espinosa, de uma ideia errada sobre o sol, simplesmente, é inadequada, superficial, vaga. É 182 uma ideia construída a partir do efeito de algo sobre nós, não se trata de uma ideia da essência (da causa), “[...] é todo modo de pensamento que representa uma afecção do corpo (DELEUZE, 2009, p. 31). O conhecimento a partir dos efeitos, das ideias-afecções, é o mais baixo grau de conhecimento. Será sempre pensamento passivo, não permite pensamento criativo, não aumenta a potência de existir nem a força de agir. Outro bom exemplo é o do sol, capaz de derreter a cera e endurecer a argila. São capacidades de um corpo de afetar o outro. O conhecimento pelo efeito, pela afecção de um corpo sobre o outro. A ideia é dita inadequada porque construída a partir dos efeitos, nada se conhecendo das essências que promovem os efeitos finais. Serão somente paixões de alegria ou de tristeza, sempre afetos passivos porque sempre provenientes de ideias inadequadas, dependentes de algo que vem de fora. Não há afeto ativo nesse primeiro gênero do conhecimento. Entretanto, passamos boa parte de nossas existências nesse grau (inadequado) de conhecimento. Na clínica, na medicina, nos encontros entre médicos e pacientes; nas salas de aula, nos encontros entre professores e alunos. Conhecimentos de grau mínimo, baseados nas afecções, no que um corpo (e pensamento) provoca sobre o outro. Sem compreender as causas, a essência, o que motiva tais efeitos. Assim, muitas vezes, a consulta médica faz com que o paciente (e o médico) saiam do consultório com variação negativa da sua força de agir, encontros tristes. Ficou tudo em um primeiro gênero, inadequado, de conhecimento. Independente dos exames solicitados, das palavras proferidas ou das prescrições feitas, nem o paciente nem o médico vibraram positivamente suas intensidades de vida. Ficou tudo nas afecções que vieram de fora, nos efeitos, “viver ao acaso dos encontros” (DELEUZE, 2009, p. 32). Não simpatizar, não empatizar, não gostar de um paciente ou de sua queixa no consultório ou internado na enfermaria; sentir-se mal atendido pelo médico. Sair-se pior do que se entrou para a consulta ou procedimento médico. Ideias confusas, primeiro gênero do conhecimento. De alguma forma esses encontros (de mão dupla) ficaram na superficialidade dos efeitos causados sobre os corpos. “Esta ideia-afecçao é forçosamente confusa e inadequada visto que eu não sei absolutamente nada, neste nível, em virtude de que e como, a alma ou o corpo de [alguém] está constituído” (DELEUZE, 2009, p. 33). Seguindo o exemplo da consulta insatisfatória, no primeiro gênero do conhecimento, podemos afirmar que o encontro foi ruim, triste, diminuiu a potência de vida de ambos, médico e paciente. Isso porque o encontro entre ambos (corpo e pensamento) não se compuseram, não 183 convieram, reciprocamente. Sobre cada um dos corpos (e pensamentos) nada mais se sabe nesse gênero do conhecimento. Essas variações provocadas pelos encontros, em um grau primeiro do conhecimento, provocam composição ou decomposição dos corpos, a partir dos encontros. Assim, Espinosa define o bom e o mau. Bons encontros (boas ideias, bons pensamentos, bons amigos, bons médicos) compõem com nosso corpo ou aumentam nossa potência de existir. Os maus encontros (má pessoa, mau médico, mau pensamento) não compõem com nosso corpo ou diminuem nossa força de ação. Uma consequência desse pensamento espinosista sobre o conhecimento é que ele é dependente, desde o grau mais inadequado, desde o primeiro gênero, inteiramente da relação do “eu” com o “outro”. Os conhecimentos dão-se por meio dos efeitos dos encontros sobre nossos corpos, o que, por princípio, põe por terra a possibilidade do cogito cartesiano. Para Espinosa (2009), todo o conhecimento depende das relações com o outro; afinal, definem-se as coisas e as pessoas pelas suas capacidades de afetar e de serem afetados. Para retomar a noção dos afetos, a partir das afecções, há duas ideias-afecções: um encontro que favorece a potência de vida; um que compromete ou diminui essa intensidade. A cada uma dessas ideias-afecções corresponde um afeto: alegria ou tristeza. Ao mesmo tempo em que tudo tem um poder de afetar, cada um de nós tem, para Espinosa, uma capacidade de ser afetado. Muito importante: afetar e ser afetado. O que distingue um corpo do outro, um ser do outro é sua capacidade de afetar e de ser afetado. O que nos leva à máxima de Espinosa (2009, p. 101): “Ainda não sabemos o que pode um corpo”. A partir dessa questão, Deleuze nos premia com: “Enquanto vocês não souberem qual é o poder de ser afetado de um corpo, enquanto o apreendem ao acaso dos encontros, vocês não terão uma vida sábia, vocês não terão a sabedoria” (DELEUZE, 2009, p. 38). Aí está a maneira como as narrativas contribuem para a formação do caráter, da sabedoria, do conhecimento de alguém, de um médico. Duplamente afetando por meio das narrativas literárias, porque, conforme Deleuze e Guattari (2007a), é a Arte a forma do pensamento humano permeada pelos afetos e perceptos. E, então, ao ensinarmos a ouvir, a ler e a escrever narrativas ligadas à clínica médica, aproximamo-nos de conhecer as capacidades de afetar e de ser afetados de cada um de nós, dos pacientes, dos alunos, dos colegas, dos médicos em formação. Narrativa-Afeto: narrativas que afetam (e são afetadas) nos encontros da clínica e narrativas que promovem o conhecimento das potencialidades inerentes a cada um (corpo e pensamento) de afetar e de ser afetado. “O que realmente quer Espinosa é definir a essência de 184 cada um de uma maneira intensiva como uma quantidade intensiva” (DELEUZE, 2009, p. 41). Conhecer as potencialidades de afetar e de ser afetado, conhecer as causas adequadas, passar para um gênero superior de conhecimento. 3.4.1 Noções adequadas, conhecimento a partir das causas, segundo gênero Para Espinosa, além das ideias-afecções, há um gênero mais levado, um segundo gênero de conhecimento baseado nas “noções comuns” ou ideias-essência (2009). Esse grau de conhecimento permite passar de uma atitude passiva para um afeto mais ativo, que independa agora, da afecção de um corpo sobre o meu, de algo que venha de fora. Como esclarece Deleuze (2009), didaticamente, o segundo grau do conhecimento está relacionado a uma “definição nominal” que “[...] ao invés de representar o efeito de um corpo sobre o outro, isto é, a mistura de dois corpos, representa a conveniência interna das relações características dos dois corpos” (DELEUZE, 2009, p. 44). Ou seja, em outras palavras, no segundo grau do conhecimento passa-se a ter uma noção comum às coisas, conhecendo suas causas, sua essência. Os afetos, a partir desse grau de conhecimento, têm caráter mais ativo, pois independem, totalmente, do que vem de fora, como é o caso das ideias-afecções. Vejamos como isso se relaciona com a teorização desta tese. Seguindo a explicação deleuzeana (2009, p. 47-48): Se ficarmos na dependência dos encontros ao acaso que a existência proporciona, ou se é afetado positivamente (alegria, ou aumento da potência de exisitir/agir) ou negativamente (tristeza, diminuição de potência). Na tristeza, não há saída para o pensamento, não há pensamento ativo, não há ação possível porque o corpo que nos afetou de tristeza não compõe com nosso corpo. “Espinosa quer dizer algo muito simples, que a tristeza não nos torna inteligentes”, “Na tristeza estamos arruinados” (DELEUZE, 2009, p. 47). Cabe salientar aqui que é por conta disso que Espinosa (2009) alerta que os poderes (igreja, governo) alimentam-se de afetos tristes! Assim, na clínica médica, relações alimentadas de afetos tristes não são inteligentes. São paixões, impedem afetos ativos. Já, na alegria, nos encontros alegres, a potência de existir aumenta, a força de agir aumenta. Afeto ativo, encontros que compõem com nossos corpos, permitindo que se formem noções comuns, ideias-essência dos corpos (e pensamentos) afetantes e afetados. “Neste sentido a alegria nos torna inteligentes” (DELEUZE, 2009, p. 48). “Espinosa pensa que ser racional, ou ser sábio, é um problema de devir, o que muda singularmente o conteúdo do conceito de razão” (DELEUZE, 2009, p. 49). 185 Então, o que proporciona essa argumentação filosófica é uma opção ativa, a partir de um afeto de alegria (que conhece pelas causas, a essência) e que permite que transformemos encontros ao acaso (na clínica médica, por exemplo) em encontros alegres (que aumentem as potências da existência (de médicos e de pacientes). Há uma fórmula, uma maneira de pensar alegre: diante de um encontro potencialmente triste, buscar a noção comum, a causa por trás do potencial de tristeza. Agarrar-se à alegria, ao que há de ativo e de potente em cada encontro e tomarmos as rédeas da ação. “Saímos das paixões. Adquirimos a posse formal da potência de agir” (DELEUZE, 2009, p. 53). Talvez aqui reencontremos a questão do estilo já discorrida anteriormente. Diante da doença, da limitação, da deficiência, da deformidade, agarrar-se (junto ao paciente) em um pensamento ativo, das afecções. Um conhecimento ligado à vida, que conhece a essência da vida, que não depende exclusivamente do que vem de fora, potente e alegre que possa fazer variar as forças de ação e as potências de vida de uma forma positiva. Terceiro gênero do conhecimento, intensidades puras. Espinosa (2009, p. 83) considera: “Ciência intuitiva. Este gênero de conhecimento procede da idéia adequada da essência formal de certos atributos de Deus para o conhecimento adequado da essência das coisas”. Para Deleuze (2009, p. 54), somente Espinosa, o próprio filósofo, entrou no terceiro gênero do conhecimento ou ciência intuitiva. Trata-se de intuir a ordem natural da existência e compreender o período entre nascimento e morte como “limites de intensidades” ou “limites intensivos” (DELEUZE, 2009, p. 54). O terceiro gênero do conhecimento é o que reconhece o princípio ontológico da filosofia espinosista de que tudo e todos somos modos de expressão de dois atributos conhecidos da substância criadora. Na medida em que Espinosa compara Deus à Natureza (Deus sive natura), a intuição, o conhecimento intuitivo das relações entre tudo o que existe permite o conhecimento de terceiro gênero ou alcançar a beatitude, como disse Espinosa. Enfim, para esta teorização conclui-se a força das narrativas no alcance de um conhecimento de segundo gênero, ao menos. Conhecimento capaz de provocar afetos ativos, a partir de encontros alegres, que compreendam as noções comuns por trás de narrativas mais ou menos explícitas de médicos e de pacientes. E que, por outro lado, o repertório de narrativas construídos ao longo da formação acadêmica dos estudantes e médicos residentes lhes aparelhem a compreender melhor suas próprias essências e a essência de seus pacientes de acordo com capacidades ampliadas de afetar e de serem afetados pelos encontros da clínica médica. 186 IV PARA TERMINAR When any person recovers his voice, many people begin to speak through that story. Arthur Frank Três considerações para resumir o principal argumento desta tese. A potência afetiva das narrativas. A potência que emana de um profissional da saúde, especialmente o médico, que construiu habilidades narrativas. O primeiro argumento tem relação ao fato de que as queixas dos pacientes são medicalizadas, tão logo estes adentram os consultórios médicos. Assim que o paciente começa a relatar tristeza, falta de ânimo, cansaço fácil ou outras “queixas subjetivas”, o médico, quase que automaticamente, inicia um raciocínio clínico estreito tentando enquadrar – ou descartar – um diagnóstico específico. Depressão? Ansiedade? Risco de suicídio? Necessidade de medicação? Internação? Ao “medicalizar”, mecanicamente as queixas dos pacientes, toda e qualquer ausculta clínica será dirigida para avaliação de critérios clínicos de diagnóstico e decisões terapêuticas imediatas. A narrativa do paciente, de uma maneira geral, passa a ser “ruído de fundo”, despida de maior importância. Tristeza, cansaço, desilusão, pobreza passam a ser medicalizados, tratados como doença quando são “apenas”, afetos tristes. Uma boa parte das queixas dos pacientes não são propriamente problemas clínicos, na acepção mais estrita da expressão: não requerem provas diagnósticas nem tampouco prescrições terapêuticas. São queixas que permeiam as consultas da clínica médica e estão lá para serem ouvidas, consideradas, compartilhadas, divididas, guardadas como um tesouro narrativo comum do médico e do paciente (e do estudante que testemunha). A relação médico-paciente é uma experiência única, imprevisível, algumas vezes inesquecível. Conhecer histórias de vida de pessoas até poucos instantes desconhecidas é algo fascinante. Em se tratando do objetivo desta tese de estabelecer a potência formadora da Medicina Narrativa na prática e no ensino de clínica médica, propondo um novo conceito: “NarrativaAfeto”, o argumento consequente a respeito disso e que vem ao encontro da conclusão desta tese é de que, ao desenvolverem-se habilidades narrativas, médicos e professores tornam-se capazes de “dar poder” (empoderar) aos pacientes, aos alunos e aos médicos jovens, oferecendo lentes extras, outras lentes com as quais olhar, compreender e viver com problemas afetivos, sociais, com deformidades, cicatrizes, limitações, deficiências, supereficiências, com saúde, com doenças. Habilidades narrativas, desenvolvidas a partir e em conjunto à capacidade de ouvir narrativas, escrever narrativas, ler narrativas. Saber ouvir o que o paciente expressa, 187 representar dentro de si, instalar-se junto ao paciente no tempo-espaço da doença, da dor, do sofrimento. Dispor de um infinito catálogo de afetos variados, intuir a diferença, construir novos possíveis estilos de vida, compartilhar estórias, fazer história nas vidas das pessoas, empoderar a si mesmo, aos alunos e à prática da profissão. Ainda, uma última consideração a respeito do significado de uma tese, desta tese. Propor uma tese de doutorado trata-se de construir uma obra nas próprias coxas como faziam telhas os escravos brasileiros. Um objeto estético, uma telha de barro. Um objeto prático e estético. Telhas moldadas uma a uma, como as palavras do texto, nas próprias coxas, formadas e formatadas com o corpo e com o pensamento, com as ideias e com o afeto. Telhas que compõem um estilo arquitetônico único, singular, próprio. Mas, aprendi, preparando esta tese, que para ser nova, de fato, uma tese tem de trazer algo novo, provocar novos afetos, novas maneiras de se encarar um problema, uma questão – no meu caso – de como praticar a clínica e a docência. O que aprendi com minha tese, e o que mudou minha prática clínica e docente é que, ao contrário do que eu pensava, do que eu sentia e de como atuava, o segredo da ética médica não está em tratar o paciente como gostaríamos de ser tratados. Muito pelo contrário, ao final deste doutorado, percebo que a ética da clínica deve ser pautada pela atenção a todas as narrativas que compõem a clínica diária. Ouvir a narrativa dos pacientes, honrar suas histórias, ouvir nossas próprias narrativas, dos alunos e dos residentes, contar, recontar, ler e escrever essas narrativas. Deixar-se afetar por elas, instalar-se em cada uma das narrativas como quem ouve uma sinfonia, como quem lê poesia, como quem lê literatura. Deixar-se afetar e, aí sim, tratar o paciente com esse afeto. Afeto tão singular e único como a existência de cada um. Então, como me disse um amigo, das telhas à escritura. Das telhas à escrita. Da escrita à escritura. Esta casa tem muitas telhas, moldadas uma a uma nas próprias coxas e uma escritura formal que atesta a singularidade e o afeto contido nas narrativas. Para terminar... uma narrativa porque uma boa história pode muito mais do que muitos argumentos... 188 Certo dia, no ambulatório de medicina interna, com meu mestre querido, atendíamos em torno de 17 consultas por tarde, chamei o paciente (pelo prontuário, homem jovem), uma senhora gorducha com as bochechas rosadas, não mais de um metro e meio de altura, sentou na cadeira do paciente, em frente ao médico. Eu (residente de clínica médica) sentada ao lado dele pronta para pedir os exames, renovar as receitas... - Boa tarde, onde está o paciente? A senhora é a mãe dele certo? - Sim, sou a mãe dele, ele não pôde vir está muito doente na cama. Pensei: E agora? Como vamos saber o que ele tem se não podemos examiná-lo? - Conte o que aconteceu... Com toda paciência, escutamos por cerca de 40 minutos aquela mulher falar... Falar ... Falar... Frases desconexas... Queixas vagas... Misturando suas queixas com as do filho...e com as da vizinha também... Meu mestre não a interrompeu, e anotava sem parar. Pensei: até agora não entendi nada que essa mulher falou, o que ele tanto anota no prontuário?? Então, no meio da frase, a mulher disse: - E aí, quando fui trocar os lençóis tinha mais um dedo dele que caiu... - Como assim??? Um dedo??? Credo... Ela falou com tanta naturalidade... Olhei para o doutor... Que continuou anotando, com a mesma expressão... Como se fosse um fato qualquer!! Será que escutei direito? Quando a consulta terminou, meu mestre a tratou com todo carinho, renovou suas receitas, fez algumas recomendações e ela foi embora, toda feliz, agradecida, até me deu um beijo molhado no rosto. Fechei a porta, olhei para o meu mestre, e disse: - Doutor, o que foi isso??? - Renata, essa senhora vem aqui todos os meses, conheço a sua história, o filho é doente há muitos anos, só precisa de atenção e das receitas. Simples assim. - Mas e o dedo que caiu?? - Que dedo?? 189 PÓS-ESCRITO Fazer telhas nas próprias coxas, todas se parecem, nenhuma é exatamente igual à outra. Assim cada narrativa faz-se única para quem a constrói e para quem com elas deseja construir um telhado que vai se tornar nossa casa onde o médico e o paciente vão encontrar abrigo. Celmo Celeno Porto E, de repente, se fez a defesa. E a banca. Tudo certo: havemos tese. Uma boa tese. Uma tese que poderia ser apresentada em um programa de Medicina ou de Filosofia. Que bom. É tudo que se pretendeu – escrever uma tese de Educação Médica considerando o pressuposto de que educação e medicina são um pouco de cada coisa: profissões que dependem, para suas práticas, das três formas do pensamento – filosofia, arte e ciência. Como quero esclarecer a seguir, falta, ainda, – aliás, falta sempre –, um grande caminho acadêmico a trilhar. Pretendeu-se uma tese “pós-moderna”. Uma tese construída sem interpretações, preocupada com forças, com a potência imanente que um objeto estético tem de fazer variar nosso esforço de vida. Resgatar a potência das narrativas literárias e de vida como objetos estéticos, como obras de arte. Capazes de afetar a formação acadêmica de jovens médicos, capazes de alegrar a existência. Potência de vida. Alegria. De Espinosa, filósofo predileto, vieram todos estes conceitos: de Alegria, de Imanência, de Potência. Sob as lentes de Deleuze, compreendemos como que nós – autômatos espirituais – somos atravessados o tempo todo por forças, por fluxos, por intensidades, por movimentos [ventos] que nos constrangem e nos libertam constantemente. Variamos da tristeza à alegria, o tempo todo, todo o tempo. Variamos da ação à paixão; do marasmo à euforia, da lentidão ao avanço. Somos leves ou pesados; somos leves e pesados. Assim mesmo, algumas vezes, sentimos “a insustentável leveza do ser”, como poetizou Milan Kundera. Então, tudo certo: nada de interpretações fenomenológicas, nada de metanarrativas explanatórias psicanalíticas, nada de narrativas identificadas, dados pessoais, demográficos, classificatórios a respeito dos sujeitos da pesquisa. Narrativas-arte. Em molduras, como objetos de arte. Falando por si. Apresentadas como método e sentido próprio. Certamente, espero, com muita alegria, que quem ler a tese afete-se pelas narrativas. Elas fazem sentido próprio, apresentam sua potência, sua virtus, sua força, seus movimentos. Então, tudo certo! Sim. Não. 190 Como tudo. Como a vida. Como a educação e a medicina. Tudo certo, tudo incompleto, tudo sempre em devir. Eis os problemas! Para uma tese que se pretende pós-moderna, há muito ainda de sujeitos. Daquele sujeito moderno que pensa que pensa e que por isso é. Ainda, aqui, apesar de todo o esforço de desvestir-se dos sujeitos, de apagar a autoria das narrativas e de concentrarse na força imanente da arte, há um resquício persistente dessa humanidade toda. O moderno em mim, na médica e na professora. A modernidade incrustrada [cultural, histórica e inconscientemente, devo admitir] arrasta-se pela tese. Apesar de tanto esforço para construir um modelo de pesquisa pós, ainda fomos muito modernos. Modernos demais. Exigindo e espiando o todo tempo que médicos e alunos compreendam o paciente, afetem-se pelas narrativas, interpretem e compreendam. Isso tudo ainda é muito cartesiano, cartesiano demais. Ainda supõe sujeitos [médicos] e objetos [pacientes]. Ainda supõe a necessidade de interpretação. O que foi muito bem explicado, com alegria e delicadeza, pelo professor Bruno Vasconcelos de Almeida quando disse: “Mas, se ele compreende, à maneira dos fenomenólogos, ele ainda não estaria radicalmente separado deste paciente, sustentando a lógica tradicional de uma relação do tipo sujeito-objeto? Será que a narrativa afeto não arrasta a tensão desejante presente nas práticas clínicas?” Qual tensão: Qual desejo: A tensão entre “Eu” e o “Outro” enquanto eu e outro formos sujeitos que pensam que pensam, que precisam interpretar para compreender, que necessitam separar partes, conhecer um método replicável. Ser, eu e o outro que, às vezes, sujeitos; outras, objetos – sempre sujeitados desejamos controlar! Desejo de controlar o incontrolável! Essa é a tensão desejante a que se refere o professor Vasconcelos de Almeida. Contudo, bondosamente e com esperança, em um devir-afeto para a prática e o ensino da medicina, reconhecemos que há uma saída. “A Medicina Narrativa, com sua riqueza conceitual, com sua beleza e capacidade de afetar, mostra-se um caminho para chegar-se à prática de uma Medicina mais afetiva, mais humana, mais potente, mais alegre” (citado anteriormente nesta tese). Como sugere o professor Bruno, em seu parecer, o uso das narrativas literárias e de vida “[...] permite o estabelecimento de uma estratégia paratática, produtora de um fluxo vibrátil, capaz de intensificar aquilo que se passa no trabalho da clínica. O caráter apócrifo das narrativas as torna ainda mais potentes no exercício de ilustração da tese. O procedimento moldura expõe a força do fragmento e da narrativa, umas rebuscadas outras mais simples”. Assim, apesar de nas páginas precedentes escorrer um tanto desta humanidade constituída nos fundamentos científicos tradicionais (leia-se modernos), ainda que se perceba 191 alguns padrões de racionalidade tradicional, que tanto foram criticados nos capítulos iniciais, há de perceber-se uma vontade ativa de investigar potências afetivas. E isso é muito. Aliás, afirmo que é muito-muito, muitíssimo. Para uma quinquagenária que há trinta e quatro anos estuda medicina há de louvar o esforço de desgarrar de tanta humanidade apegada ao corpo e à mente. Há de notar um movimento, um fluxo, uma linha de fuga. Como disse Fernando Pessoa, em Autopsicografia, o poeta e todos nós andamos sempre em movimentos nas calhas de roda, a entreter a razão, neste comboio de corda que se chama coração. Razão e afeto. Eis a enrascada dialética em que esta tese se meteu. Para escapar dessa armadilha, fiquemos com a impressão – outra vez – de que o paradoxo é nossa maior marca. Somos razão e afeto. Somos espécie contraditória, nós homens – médicos, pacientes, professores, alunos. Gente. Como bons autômatos, andamos pela existência atravessados (e atravessando) fluxos e intensidades. Somos, afinal, identificados sempre, muito mais pelas nossas forças de afetar e de sermos afetados do que por qualquer outra característica essencial ou substantiva classificatórias nas quais a modernidade fez tanta questão de enquadrar-nos. Fica então o gosto bom do dever cumprido - desde que a leitura da tese afete o leitor de alguma forma, assim como afetou a autora. Fica também o sabor do desafio de construir um método de pesquisa e teses que usem o Afeto-puro, puro afeto como instrumento e objetivo de trabalho. Um método acariciante que permita a médicos, pacientes; alunos e professores, deixar-se estar. Ficar. Instalar-se nos acontecimentos da existência. Um dia, talvez, consigamos: - Bom dia Seu João, sou a médica, me chamo Denise. Me conte tudo que preciso saber sobre o senhor. 192 REFERÊNCIAS ABBOTT, H. P. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: University Printing House, 2008. ______. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009. ALMEIDA, B. V. Cartografias da alegria na clínica e na literatura. 2005. 128f. Dissertação. (Mestrado em Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, São Paulo, 2005. ANDERSON, L. Autobiography. London: Routledge, 2001. ANDRADE, C. D. de. No meio do caminho. Jornal de Poesia, 2005. Disponível em: <http://www.jornaldepoesia.jor.br/drumm2.html>. Acesso em: 3 dez. 2014. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: ______. Poética. Seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. ASSIS, M. O Alienista. São Paulo: Saraiva, 2012. BARTHES, R. Introdução à análise estrutural da narrativa. In: BARTHES, R. et al. Análise estrutural da narrativa. Tradução Maria Zélia Barbosa Pinto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. p. 19-62. ______. Aula. Aula inaugural da cadeira de Semiologia literária do Colégio de França. Pronunciada dia 7 de janeiro de 1977. Tradução e posfácio de Leyla Perrone-Moisés. 14 ed. São Paulo: Cultrix, 2007. BECKMAN, H. B.; FRANKEL, R. M. The effect of physician behavior on the collection of data. Annals of Internal Medicine, Philadelphia, n. 101(5), p. 692-696, nov. 1984. BELLE, E. Um olhar intertextual em: Navegar é preciso, viver não é preciso. Cadernos de Pós-Graduação em Letras, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 91-103, 2004. BERGER, J; MOHR, J. A fortunate man: The story of a country doctor. New York: Pantheon Books, 1967. BICKLEY, L. Bates’ guide to physical examination and history-taking. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2013. BORGES, J. L. O Aleph. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. ______. Obras completas. Tomo I-4. São Paulo: Globo, 1999. BROYARD, A. Intoxicated by my illness and other writings on life and death. New York: Fawcet Columbine, 1992. 193 BULFINCH, T. O Livro da Mitologia: histórias de deuses e heróis. São Paulo: Martins Claret, 2006. CALVINO, I. Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia de Bolso, 2007. CAMPOS, Álvaro de. Tabacaria. 1928. Disponível em: <http://portodeabrigo.do.sapo.pt/campos6.html>. Acesso em: 4 dez. 2014. CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. CHARON, R. Narrative Medicine: Honouring the Stories of Illness. New York: Oxford University Press, 2006. ______. Narrative and Medicine. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, n. 350:9, p. 862-64, 2004. DEBAGGIO, T. Losing my mind: an intimate look at life with Alzheimer’s. New York: The Free Pre, 2002. DELEUZE, G. Conversações. São Paulo: Editora 34, 2007. ______. Espinosa: filosofia prática. São Paulo: Escuta, 2002. ______. Cinema 1: A imagem-movimento. São Paulo: Brasiliense, 1985. ______. A Imanência: Uma vida. Tradução de Alberto Pucheu e Caio Meira. [1990]. Disponível em: <http://www.letras.ufrj.br/ciencialit/terceiramargemonline/numero11/xiii.html>. Acesso em: 7 jun. 2013. ______. Cursos sobre Espinoza: Vincennes, 1978-1981. Fortaleza: EDUECE, 2009. ______. Crítica e Clínica. São Paulo: Editora 34, 2006. ______. O que é o ato da criação? Centro de Estudos Claudio Ulpiano, 21 fev. 2014. Disponível em: <http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/?p=6588>. Acesso em: 5 dez. 2014. DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que é a filosofia? São Paulo: Editora 34, 2007a. ______; ______. Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia. Vol. 2. São Paulo: Editora 34, 2007b. ______; ______. Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia. Vol. 4. São Paulo: Editora 34, 2007c. ______; ______. Kafka: para uma literatura menor. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003. 194 DEWITT, S. Coping with Blindness. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, n. 305, p. 458-460, ago. 20, 1981. EISEMBERG, D. et al. Unconventional Medicine in the United States: prevalence, costs, and patterns of use. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, n. 328, p. 246-252, 1993. ESPINOSA, B. Ética. Tradução Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. FDA. Food and Drug Administration. Kaposi's sarcoma and Pneumocystis pneumonia among homosexual men. New York City and California. Morbidity and Mortality Weekly Report, MMWR, 30:305-308, 1981. FEORINO, P. M. et al. Transfusion-Associated Acquired Immunodeficiency Syndrome — Evidence for Persistent Infection in Blood Donors. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, n. 312, p. 1293-1296, 1985. FIES, B. Mom’s cancer. New York: Abrams Comicarts, 2006. FOUCAULT, M. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1987. FRANK, A. At the will of the body: Reflection on illness. Boston: Houghton Mifflin, 1991. ______. The wounded storyteller: Body, Illness, and Ethics. Chicago: The University of Chicago Press, 1995. GALLO, R. C.; MONTAGNIER, L. The discovery of HIV as the cause of AIDS. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, n. 349, p. 2283-2285, 2003. GAWANDE, A. Complications: A Surgeon's Notes on an Imperfect Science. New York: Picador, 2002. GENOVA, L. Still Alice. London: Simon & Shuster, 2007. GREEN, M. J.; MYERS, K. R. Graphic medicine: use of comics in medical education and patient care. British Medical Journal, London, 340:c863, 2010. GROSSMAN, E.; CARDOSO, M. H. C. A. As narrativas em medicina: Contribuições à prática clínica e ao ensino médico. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 30, n. 1, p. 6-14, jan./abr., 2006. HAWKINS, A. H.; MCENTYRE, M. C. Teaching Literature and Medicine. New York: Modern Language Association of America, 2000. HURWITZ, B. Form and Representation in Clinical Case Reports. Literature and Medicine, n. 25: 2; p. 216-240, 2006. JAMISON, K. R. Uma mente inquieta. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 195 JAUHAR, S. The Demise of the Physical Exam. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, n. 54, p. 548-555, 2006. JUNG, C. G. Sincronicidade. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. KAFKA, F. A Metamorfose. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. KINGSLEY, E. P. Benvindo à Holanda. 1987. Disponível em: <http://www.ourkids.org/archives/Holland.html>. Acesso em: 24 abr. 2014. KLEINMAN A. The illness narratives: suffering, healing & the human condition. New York: Basic Books, 1988. LAUNER, J. Odyssey. Postgraduate Medical Journal, London, n. 88, p. 675-676, 2012. LEES, A. J.; HARDY, J.; REVESZ, T. Parkinson’s disease. The Lancet, Philadelphia, n. 373:13, p. 2.057, 2009. LISPECTOR, C. A Hora da Estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. LYOTARD, J. F. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011. MACHADO, R. Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. MACNAUGHTON J. Anedocte in Clinical Practice. In: HURWITZ, B.; GREENHALGH, T. Narrative Based Medicine. London: BMJ Books, 1998. p. 201-212. MAFFESOLI, M. Elogio da Razão Sensível. Tradução de Albert Christophe Migueis Stuckenbruck. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. MANN, T. A Montanha Mágica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. MARCHETTO, M. A. Cancer vixen. London: Fourth State, 2006. MCEWAN, I. Saturday. London: Vintage, 2006. MEIRA, C. Apresentação à edição brasileira. In: TODOROV, T. A Literatura em perigo. Rio de Janeiro: DIFEL, 2010. MELLIN, G. W.; KATZENSTEIN, M. The Saga of Thalidomide: Neuropathy to Embryopathy, with Case Reports of Congenital Anomalies. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, n. 267, p. 1184-1193, 1962. MELVILLE, H. Bartleby – O escrivão. Porto Alegre: L&PM Editores, 2003. MINDRUM, M. R. Time for another revolution? The Flexner Report in historic context, reflections on our profession. Coronary Artery Disease, Burlington, n. 17, p. 477-481, 2006. MONTGOMERY, K. Clinical Judgment and the Practice of Medicine. New York: Oxford Press, 2006. 196 ______. Doctor’s Stories. The Narrative structure of Medical Knowledge. Princeton: Princeton University Press, 1991. MOSÉ, V. O homem que sabe. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. MOSTAFA, S. P.; NOVA CRUZ, D. V. Por uma linguagem documentária menor. In: BOCCATO, V. R. C.; GRACIOSO, L. de S. (Orgs.). Estudos de Linguagem em Ciência da Informação. Campinas: Alínea, 2011. NOVA CRUZ, D. V.; MOSTAFA, S. P. O caso do cientista da informação que estudava filosofia e adorava literatura. In: ALMEIDA, M. A. Ciência da Informação e Literatura. Campinas: Alínea, 2012. MUNTHE, A. O Livro de San Michele. Porto Alegre: Globo, 1956. NEWMAN, T. B. The power of stories over statistic. British Medical Journal, London, n. 327, p.1.424-1.427, 2003. NIETZSCHE, F. Aurora. São Paulo: Escala, 1986. ______. Assim Falava Zaratustra. São Paulo: Centauro, 2007. ______ . Genealogia da Moral. São Paulo: Companhia de Bolso, 2010. ______ . Consideração intempestiva sobre a utilidade e os inconvenientes da história ou historicista. In: ______. Escritos sobre história. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2005. NOVA CRUZ, D. V. Para ler a filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Campinas: Alínea, 2009. ORWELL, G. A revolução dos bichos. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. OSLER, W. Aequanimitas e outras alocuções dirigidas a Estudantes de Medicina, enfermeiras e àqueles que exercem a profissão médica. Philadelphia: Blakiston Company, 1932. PEREIRA, R. T. M. C. O ensino da medicina através das humanidades médicas: análise do filme And the band played on e seu uso em atividades de ensino/aprendizagem em educação médica. 2004. 230f. Tese. (Doutorado em Doenças Infecciosas e Parasitárias) Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. PERRONE-MOISÉS, L. Lição de casa. In: BARTHES, R. Aula. São Paulo: Cultrix, 2007. PESSOA, F. O guardador de rebanhos e outros poemas. Seleção e introdução de Massaud Moisés. 9. ed. São Paulo: Cultrix, 2012, p. 104 PESSOA, F. O Livro do Desassossego. São Paulo: Companhia de Bolso, 2011. PORTO, C. C. Exame Clínico: Bases para a prática médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 197 ______. Semiologia Médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. RICOEUR, P. Tempo e Narrativa. Tradução Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 3 v. RONAI, P. Vastos espaços. In: ROSA, J. G. Primeiras Histórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. ROSA, J. G. Primeiras Estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. ______. A hora e a Vez de Augusto Matraga. Rio de Janeiro: Nova fronteira: 2009. ______. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 2 v. SACKS, O. Um antropólogo em marte. São Paulo: Companhia de Bolso, 2011. SAINT-EXUPÉRY, A. O Pequeno Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 2006. SCLIAR, M. A paixão transformada. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. SHANIKA, S; DORMAN, P. J. The case of the forgotten address. The Lancet, London, n. 367, p. 1290, 15 abr. 2006. SHAPIRO, J. A Sampling of the Medical Humanities. Journal for Learning through the Arts: A Research Journal on Arts Integration in Schools and Communities. 2006; 2:1, article 1. Disponível em: <http://repositories.cdlib.org/clta/lta/vol2/iss1/art1>. Acesso em: 7 jan. 2009. SMALL, D. Stitches: a memoir. New York: Norton & Company, 2009. SONTAG, S. Doença como Metáfora. AIDS e suas Metáforas. São Paulo: Companhia de Bolso, 2007. ______. Illness as Metaphor & Aids and its metaphors. London: Penguin, 1991. THOMAS, L. The technology of medicine. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, n. 285, p. 1.366-1.368, 1971. TODOROV, T. A Literatura em Perigo. Rio de Janeiro: DIFEL, 2010. TOLSTOI, L. A Morte de Ivan Ilitch. São Paulo: Editora 34, 2006. ______. Ana Karenina. Tradução João Netto. 2011. Disponível em: <http://saiadebalao.files.wordpress.com/2011/01/leon-tolstoi-ana-karenina-rev-1.pdf>. Acesso em: 6 dez. 2014. VERÍSSIMO, É. Um lugar ao sol. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. WAITZKIN, H. The politics of medical encounters: How patients and doctors deal with social problems. New Haven: Yale University Press, 1991. 198 WOOLF, V. Mrs. Dalloway. Porto Alegre: LPM, 2012. 199 Apêndice A –Termo de consentimento livre e esclarecido TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa de Doutorado em Educação da UNIVALI, realizada pela professora Denise Viuniski da Nova cruz e orientada pela Dra. Adair de Aguiar Neitzel, intitulada Veredas que bifurcam: Narrativas de Jovens Médicos. A metodologia da pesquisa prevê que os participantes façam, sistematicamente, a leitura de textos literários curtos – contos e novelas – indicados pela pesquisadora e que, concomitante às leituras, expressem suas experiências, sensações e afetos relacionados a sua prática de Médico Residente escrevendo-os em uma plataforma wiki, criada exclusivamente para este fim e que ficará disponível online para ser acessada, editada e compartilhada entre a pesquisadora e os sujeitos da pesquisa. A pesquisa será realizada de 1º de março de 2013 a 1º de setembro do mesmo ano. O objetivo geral da pesquisa é potencializar a prática profissional, a ética médica, de jovens médicos residentes a partir do desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à razão sensível e à dimensão estética ou narrativa da existência. Como objetivos específicos, desta parte da pesquisa, aponta-se oportunizar aos médicos residentes, jovens médicos em formação, a leitura de textos literários clássicos como forma de desenvolver a fruição estética; estimular os médicos residentes a criar narrativas de suas vivências e encontros relacionados a suas práticas na enfermaria e nos ambulatórios de clínica médica; apresentar as narrativas produzidas com a intenção de compreender como a formação do sensível afeta as escolhas éticas dos médicos e discutir os textos literários trabalhados e as narrativas produzidas à luz dos conceitos teóricos de Maffesoli (Elogio ao Sensível); Charon e Hurwitz (Medicina Narrativa), de Barthes e Todorov (Narrativas Literárias) e de filósofos, especialmente Espinosa (Alegria), Nietzsche (Potência do Trágico) e Deleuze (Arte, Filosofia e Ciência). As narrativas serão consideradas apócrifas ou coletivas, e a discussão à luz dos referenciais teóricos será feita independente da identificação do sujeito específico que escreveu o trecho da narrativa utilizado. Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de constrangimento. Solicitamos a sua autorização para o uso das narrativas escritas e das experiências compartilhadas para a produção de artigos técnicos e científicos. A sua privacidade será mantida com a não-identificação do seu nome. Agradeço a participação e a colaboração. Denise Viuniski da Nova Cruz 9131-4827 [email protected] ASSINATURA DO PESQUISADOR _________________________________ TERMO DE CONSENTIMENTO Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e que recebi de forma clara e objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto e que todos os dados a meu respeito serão sigilosos. Eu fui informado que posso me retirar do estudo a qualquer momento. Nome por extenso _________________________________________________________________________ Assinatura __________________________ Local: _____________ Data: ____/____/____.
Baixar