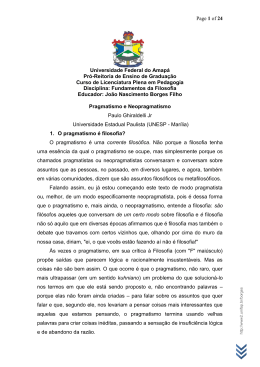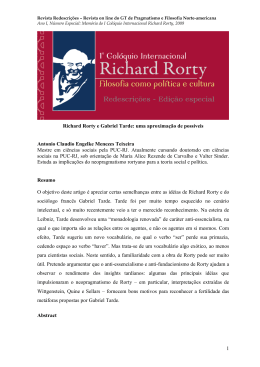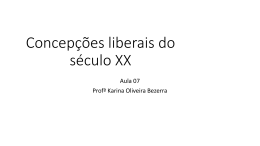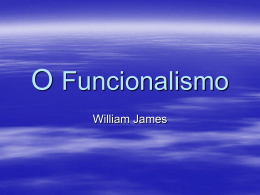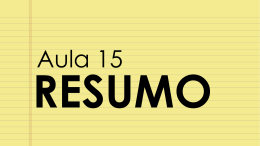ROGER SCRUTON E A DENÚNCIA TARDIA DA MODERNIDADE 1 OU SCRUTON VERSUS RORTY: crítica ao the great swindle Paulo Ghiraldelli Jr2 1. A arte e a cultura em geral devem cultuar a ‘originalidade’, têm de promover a ‘transgressão’ e, enfim, ‘abrir novos caminhos’. Há quem diga o contrário? O filósofo conservador britânico Roger Scruton diz que isso tudo, hoje, tornouse cliché. O kitsch teria substituído a arte. A boa arte tinha como objetivo a “autoconsciência da sociedade” e a emergência de “sentimentos profundos” a respeito da realidade. O kitsch, por sua vez, nada é senão produto de uma cumplicidade entre autor e consumidor (a “vítima”) buscando substituir a vida real. Tratar-se-ia de um produto da “razão instrumental” destinado ao comércio e, assim sendo, substituiria os “sentimentos verdadeiros”, aqueles oriundos da “alta cultura”, da “cultura verdadeira”. Nossas instituições de ensino e de cultura deveriam continuar a trabalhar segundo o que os alemães chamaram de Bildung, o cultivo do que se faz no caminho do que nos torna cultos, a cultura. Mas essas instituições estão se desviando de tudo que é “verdadeiro” e adotando para tudo “o falso”. Segundo os adjetivos de Scruton: true é substituído por fake. Scruton cita Aristóteles para dizer que a cultura depende de contemplação advinda do ócio e remete a outros filósofos para dar base ao seu ataque à cultura do kitsch, procurando manter uma distinção rígida entre “verdadeiro” e “falso”. Ecoa aí certo kantismo conservador, típico de Scruton. Mas, mas de um modo geral, para saber de crítica semelhante vinda de matrizes distintas, poderíamos abrir a internet e escutar uma rádio do passado transmitindo falas de Theodor Adorno e Hanna Arendt. Estes, por sua vez, ecoaram Nietzsche, isso sem contar uma enorme gama de pensadores de vários calibres, descontentes com o progresso da civilização e desconfiados da aliança entre 1 2 Aeon Magazine, 2012 Paulo Ghiraldelli Jr., 55, filósofo, escritor e professor da UFRRJ. Contato: http://ghiraldelli.pro.br 8 Revista Redescrições – Revista on line do GT de Pragmatismo Ano 4, Número 2, 2013 tecnologia e democracia de massas. Em outras palavras: salvo no estilo, a reclamação de Scruton, ainda que tenha lá sua legitimidade, é daquelas que podemos considerar como o que pouco tem de novidade. Já ouvimos isso durante bastante tempo e, em alguns casos, como o de Arendt, de uma maneira mais sofisticada e mais arguta. Todavia, não é isso que vejo como problemático em Scruton. O que me incomoda na reclamação de Scruton é que o seu conservadorismo o faz fustigar certos filósofos não por aquilo que eles merecem e, sim, pelo que não fizeram. Três deles estão na mira de Scruton: Marx, Foucault e Rorty. Ele os culpa por terem impulsionado a filosofia, de certo modo, a alimentar o “fake”, à medida que criticaram a cultura em geral ou, de certo modo, a alta cultura. Segundo Scruton, a “crítica da ideologia”, utilizada por Marx, buscou colocar a alta cultura como “cultura burguesa”, atrelando-a a defeitos de classe, e então a destituindo de seu pretenso universalismo e, portanto, de sua legitimidade. O modo de Foucault olhar as narrativas em geral, ensinando todos a verem antes quem pronuncia o discurso do que propriamente o seu conteúdo, fez da cultura sempre alguma coisa que é mecanismo de poder, tornando-a também carente da legitimidade até então desfrutada. Por fim, Rorty, ao destituir a própria consideração para com a verdade, tomando-a como o que é útil, abriu definitivamente espaço para o falso. Não creio que Scruton esteja errado no que disse de Marx e Foucault, ainda que eu não o endosse no que talvez seja sua condenação a tais pensadores de um modo mais totalizado que o necessário. Marx e Foucault falaram o que tinham de falar. Suas críticas, apesar de datadas, nos deram dimensões da cultura que até então tínhamos tocado apenas de modo leve. Mas, em relação a Rorty, ainda que Scruton não o chame de pensador “fake”, mas de autor que favoreceu a hegemonia atual do “fake”, há uma posição muito infeliz. O próprio Rorty respondeu a críticos parecidos com Scruton. Um de seus melhores textos veio de uma defesa assim, em resposta a uma crítica de Searle, quando este disse que autores como Kuhn, Derrida, Foucault, Rorty e outros “pós-modernos” foram os que causaram o fim da avaliação objetiva nas provas universitárias, e que haviam ajudado na deterioração do ensino superior americano (esse texto de Rorty está, entre outros lugares, no terceiro volume de seus Philosophical Papers, e há uma tradução em português, pela Manole). Não vou repetir aqui os argumentos de Rorty a Searle. Já fiz isso em outros lugares, no sentido de esclarecer situações confusas criadas por textos parecidos com o de Scruton. Aqui, meu caminho será outro. Vou tentar 9 Revista Redescrições – Revista on line do GT de Pragmatismo Ano 4, Número 2, 2013 mostrar que Scruton toma um Rorty culpado de algo que ele nunca fez. Vou procurar mostrar, sem excesso de argumentos técnicos, que essa maneira de tomar Rorty como um relativista banal caberia para um aluno qualquer de primeiro ano de ciências sociais ou filosofia, ou daqueles professores com viseiras eternas, moldadas por partidos, mas não a alguém do calibre de Scruton. 2. Scruton acredita que Rorty (como Foucault e Marx) “fixou-se contra a verdade objetiva”, “dando uma variedade de argumentos para pensar que a verdade é uma coisa negociável, que o que importa no final é de que lado você está”. Scruton diz que esse tipo de coisa abriu espaço para o que veio depois em favor de uma cultura de privilégio do “fake”. Ora, se Scruton reclama da verdade objetiva e ele próprio toma Rorty apenas pelas consequências que outros tiraram de seus estudos, como quem quer acreditar que, afinal, o kitsch foi legitimado por alguma coisa dita pelo filósofo pragmatista, ele está abraçando o que denunciou. Um conservador como Scruton, preocupado com a verdade objetiva, deveria ir menos pelos supostos efeitos e mais pelo que Rorty disse, vindo dos seus livros, além disso, não deveria, sem uma pesquisa sociológica relativamente quantitativa, pôr sobre os ombros de Rorty aquilo que venceu e se legitimou, talvez, por outros mecanismos. Não vou tocar nesse segundo ponto, pois eu mesmo não tenho essa sociologia nas mãos, embora não desconheça autores que evocariam outros elementos para dizer o que Scruton disse, e não a obra de Rorty. Mas vou tocar, sim, no primeiro ponto, discordando: Rorty não disse para as pessoas que a verdade não existe ou que a verdade objetiva é pouca coisa ou não importa. Muito menos Rorty disse, em um sentido banal, como Scruton coloca, que a verdade é algo negociável. Sempre esteve longe de Rorty achar que “o que importa no final é de que lado você está”. Talvez fosse mais correto dizer, para ser justo com Rorty, que a negociação em torno dos enunciados que afirmamos como verdadeiros é uma prática da qual nenhum homem de ciência pode fugir. O que Rorty fez foi considerar algo que em geral os filósofos da cultura, ao desprezarem certos aspectos técnicos que surgiram com a filosofia metafísica enquanto associada à filosofia da linguagem, deixam de lado e, então, com facilidade deslizam 10 Revista Redescrições – Revista on line do GT de Pragmatismo Ano 4, Número 2, 2013 para a crítica fácil dos que foram chamados, ao menos no final do século XX, de pósmodernos. Destaco dois pontos. Em primeiro lugar, Rorty teve, ele próprio, de enfrentar o problema da verdade enquanto um problema filosófico específico no século XX (neste tópico 2). Em segundo lugar, Rorty teve de considerar, no campo específico da cultura americana, o papel da religião e o modo como as igrejas utilizam o termo “verdade” (tópico 3). Assim, não foi por uma idiossincrasia que Rorty escreveu o que escreveu a respeito da verdade. Não foi como um militante que gostaria de ver a alta cultura se deteriorar que Rorty se dedicou ao tema da verdade, se é que alguém que se dispusesse a falar contra a verdade objetiva estivesse já de imediato criando caminhos para a entrada da cultura “fake”. A questão toda de Rorty quanto à verdade é uma que, no que concerne aos limites que tenho aqui neste texto, pode ser posta da seguinte maneira: a noção de verdade vinda da Teoria da Verdade como Correspondência está na berlinda (e escapar dela optando pela noção de verdade que emerge da Teoria da Verdade como Coerência não tem se mostrado algo sem críticas). Rorty nunca conseguiu esquecer sua formação parcialmente analítica, em que tal questão importava muito – especialmente em filosofia da ciência, um campo que para boa parte dos professores sempre esteve cruzado com a filosofia analítica, principalmente nos Estados Unidos. Muito menos Rorty poderia evitar seu apego à tradição americana que produziu a ele próprio, ou seja, o pragmatismo de James e Dewey, que duelou com Russell exatamente nesse campo da noção de verdade. Scruton não é alemão ou brasileiro ou francês. É britânico. Ele sabe de tudo isso. O que o faz saltar tais coisas é o seu conservadorismo. Ele parece precisar, por conta de sua posição na direita política, alinhar Marx, Foucault e Rorty, de modo a dizer que foram tais plebeus que atacaram a alta cultura ao atacar a verdade e, portanto, automaticamente, elevar o “fake”. O certo é que quem ataca as noções tradicionais de verdade não necessariamente eleva o “fake”. Nem mesmo dá caminho para tal. Esse tipo de entendimento é o do senso comum, e Scruton não deveria assumi-lo assim tão facilmente. O que Rorty fez ao ver que as noções tradicionais de verdade estavam na berlinda, foi simplesmente apoiar a filosofia da linguagem, em suas soluções técnicas, para escapar do problema. Ele tomou então, mais radicalmente, os trabalhos de Donald Davidson, exatamente para saltar para fora das falhas das teorias tradicionais da verdade e, ao mesmo tempo, não ter de suportar os que poderiam chamá-lo de relativista, de um modo pouco qualificado. 11 Revista Redescrições – Revista on line do GT de Pragmatismo Ano 4, Número 2, 2013 Qual o problema das noções tradicionais de verdade? Qual o problema específico com a Teoria Correspondentista? Ora, o problema é que quando eu digo que “O Pitoko está deitado no chão” (p), e ele, Pitoko, está deitado no chão, eu chamo a sentença p de verdadeira, mas o que eu estou dizendo, quando me afasto da questão da percepção (de questões psicológicas e de certo modo epistemológicas), quando fico somente com a frase e a sua lógica, isso tudo ganha uma fórmula de enunciação que parece não se sustentar. Ei-la: S: “O Pitoko está deitado no chão” (p) é verdadeira se e somente se o Pitoko está deitado no chão (p). Ou então: S1: p é verdadeira se e somente se p, em que p é o que eu chamo de o fato indicado por p. Ora, mas o que é o fato? É algo não linguístico? O que é o fato senão aquilo que se sabe a se ter “O Pitoko está deitado no chão”? Não há como dizer que p é outra coisa que não p se estamos tratando de p como um enunciado verdadeiro. De modo que dizer o verdadeiro é dizer o fato, mas ao perguntar o que é fato não conseguimos obter outra coisa senão a resposta: é o que é verdadeiro. Assim, ao falarmos “fato” para apontar para o não linguístico, para que este possa corresponder ao que é linguístico, que é “O Pitoko está deitado no chão”, não estamos fazendo outra coisa senão entrarmos em um círculo. Assim, a Teoria da Correspondência não explica o que é a correspondência e o que é dizer a verdade. Sendo circular, dizer que essa teoria explica algo é realmente desrespeitar a filosofia. Em filosofia como em ciência não temos o costume de ouvir sem desconfiança as explicações circulares. Desse modo, no linguajar comum, cansamos de usar da noção de correspondência para pensar na verdade (ou, ao menos, em um primeiro momento, assim nos parece), e isso parece funcionar, mas do ponto de vista filosófico, um simples exercício – como este acima – diz que há anos estivemos caminhando no uso de alguma coisa obscura. Rorty nunca falou para as pessoas pararem de usar essa noção de verdade, mas, como filósofo, ele teve de levar a sério esse problema da Teoria da Verdade como Correspondência, ou seja, dela ser uma explicação circular. Outras teorias também trouxeram problemas. E então, Rorty resolveu usar de seu pragmatismo para pensar a verdade de um modo em que os problemas filosóficos tradicionais não aparecessem. Ele ouviu James e Dewey, como também o segundo Wittgenstein e Davidson, para seguir a linguagem e, então, estudar não A Verdade, mas 12 Revista Redescrições – Revista on line do GT de Pragmatismo Ano 4, Número 2, 2013 os usos do verdadeiro em nossa linguagem. O que Rorty viu foi que expressões como “é verdade” ou “é verdadeiro”, do modo que a utilizamos, podem ser mantidas sem que tenhamos de nos referir à noção de correspondência. Portanto, se a Teoria da Verdade como Correspondência é falha, temos outra maneira de continuar usando “é verdade” se descrevermos nossa linguagem de outra maneira. Pelos usos de “é verdade” ou “é verdadeiro”, chegamos a situações em que a correspondência não precisa ser evocada. Rorty colocou três situações que, segundo ele, cobrem todo o espectro em que o “é verdadeiro” aparece e dispensa a correspondência. Esses são os três casos. - Usamos “verdadeiro” para aplaudir alguém ou uma situação. Nesse caso, falamos que algo é verdadeiro à medida que falaríamos que é bom ou nobre, ou útil, etc. - Usamos “verdadeiro” para dizer coisas que foram endossadas por outros. Nesse caso, falamos: “‘Tudo é água’ é verdadeiro para Tales, mas não para Anaximandro. Ou então: “É verdade que ‘a escravidão é um crime’ para mim, mas meu tataravô nunca a viu como um crime”. - Usamos “verdadeiro” como sinal de advertência. Nesse caso, temos: “‘Os cães foram domesticados por nós há muito tempo’ é verdadeiro para os biólogos, mas não é verdadeiro para os antropólogos”. Ora, dos três casos, só o terceiro parece trazer algum problema. Esse problema é o seguinte: se digo “é verdadeiro” como alguma coisa que é uma advertência, há quem fale que, neste momento, entra aí, sim, a noção de verdade objetiva associada à noção de correspondência. Um dos filósofos que disse isso, contra Rorty, foi Habermas. Em uma polêmica de mais de trinta anos, com vários textos trocados, Habermas sempre insistiu que quem admoesta o outro com a verdade tem em mente uma noção de “é verdadeiro” como algo que é atemporal e que serve para qualquer audiência. Assim, a advertência só seria advertência porque quem a pronuncia não está colocando geografia e história para medir o “é verdadeiro”, mas lidando com a noção de verdade no seu sentido substancial e forte. Penso que as respostas de Rorty admitem essa consideração, em parte. Mas só em parte! Porque tal pessoa, que faz tal coisa, não precisaria fazer assim, ou seja, não precisaria estar pensando dessa maneira, como quem tem na mão uma verdade universal e objetiva, e ainda assim a advertência continuaria válida. Portanto, em termos de descrever a prática do usuário da linguagem, o uso da verdade como advertência pode ser o uso de quem está dizendo algo desse tipo: “verdade, mas não para os seres galácticos de Alfa Centauro”. Uma descrição assim manteria o uso, sua validade e, enfim, evitaria a noção de correspondência, problemática em nível 13 Revista Redescrições – Revista on line do GT de Pragmatismo Ano 4, Número 2, 2013 filosófico. Não vejo aí, por conta da argumentação de Rorty, qualquer afirmação no sentido de endossar o “mais vale o lado que se está”. Não vejo aí nada que abra espaço para que o kitsch possa imperar na cultura. Não consigo entender no que é que uma solução filosófica como esta estaria comprometendo Rorty com aqueles que promovem obras de arte que não podem mais causar “sentimentos profundos e reais”. Menos ainda vejo Rorty comprometido com os que pedem ousadia e tudo mais, mas como clichês. Explico novamente a questão do uso de advertência. Dizer coisas como “é verdadeiro aqui e agora, mas talvez não para lá e depois” não é o mesmo que dizer “é verdadeiro aqui e agora, mas talvez não para qualquer lá e qualquer depois”. A advertência é a seguinte: “olha meu camarada, o que você diz é verdade mesmo, para o grupo que o escuta, sendo este o grupo em que você nasceu e o grupo que é da sua geração”. Isso não é o mesmo que dizer o seguinte: “olha meu camarada, o que você diz é verdade mesmo, mas única e exclusivamente para o grupo no qual você nasceu e para as pessoas deste grupo da sua geração”. A advertência não é uma que implique em tamanha particularização, em tão profunda restrição, algo que, no seu oposto, acolhesse “a verdade universal é X, de modo algum a sua verdade, que é necessariamente particular”. Posso ser surpreendido por um grupo cultural em que homens de 55 anos comem um animal que o meu grupo de homens de 55 anos considera sagrado. Então, eu e pessoas do meu grupo avisamos os membros do grupo que nos surpreendeu que eles estão fazendo algo que é um pecado. Dizemos para eles: “é verdade que comer esse animal é um pecado”. Nós os advertimos. Nossa frase pode ser substituída por uma outra forma de explícita advertência, sem perder qualquer função: “é verdade que comer esse animal é um pecado para nós e para mulheres de nossa cultura, também com 55 anos”. Eles não precisam entender o nosso aviso como sendo um que traduziriam assim: “é verdade que comer tal animal é pecado para esses dois grupos, mas nós podemos continuar comendo tais animais porque esses dois grupos não são significativos em todo o cosmos”. Não! Não precisamos ser interpretados assim. Podemos ser levados a sério. Nossa advertência os fará pensar. Mesmo que só nós tenhamos aquele animal como sagrado enquanto todo o resto do mundo come aquele animal sem qualquer culpa, nossa advertência ainda estará válida para ser considerada para quem ela foi dirigida. A advertência continua forte uma vez que a fizemos: “Olha, meu caro, você está em 14 Revista Redescrições – Revista on line do GT de Pragmatismo Ano 4, Número 2, 2013 pecado, eu não, e não adianta você me desconsiderar e considerar todos os outros grupos da Terra, porque ainda assim minha advertência está aqui, e você vai acabar pensando sobre ela”. Não necessariamente quem usa o termo “verdadeiro” em um contexto de advertência precisaria estar de posse de um sentido universal de verdade. Essa exposição Scruton, como Searle no passado, parece não entender. Não sei o quanto, no debate entre Habermas e Rorty, o primeiro cedeu ao segundo. O debate entre eles não chega a evoluir para essa argumentação que eu detalhei no último parágrafo, em que introduzo a minha explicação para alguém que viesse com a objeção de Habermas a Rorty. Tudo indica que, nesse ponto, eles mantiveram essa divergência e preferiram deslocar o debate para outros pontos. Talvez essa divergência de Habermas para com Rorty é a que poderia estar na cabeça de Scruton, para que ele tivesse alguma razão contra Rorty. Ele poderia simplesmente não estar interessado em raciocinar sobre o assunto e, dessa maneira, não chegaria ao argumento que utilizei no parágrafo anterior. Mas, pela minha argumentação aqui, penso que posições como as de Scruton e Habermas, na indisposição contra Rorty, não precisam se manter. Só os filósofos pensam em verdade objetiva e universal como a única verdade forte o suficiente para fazer alguém considerar frases contendo “é verdadeiro” como alguma coisa capaz de ser levada a sério. De modo algum as pessoas (tão inteligentes quanto os filósofos), em seu cotidiano, tomam as coisas assim. Qualquer frase contendo “é verdadeiro” é levada a sério, sim, se estiver sendo tomada em um dos três sentidos apontados por Rorty, no seu mapeamento do uso cotidiano – o único uso que nos interessa. E a frase de advertência também não precisa ter o “é verdade” ou o “é verdadeiro” aludindo ao objetivo e universal para ser levada a sério. Nós a levamos a sério porque se trata de uma advertência e que, então, forçará os mais curiosos, os mais afeitos a pedir justificativas, a dizer: “mas do que está falando, explique mais”. Ou assim: “vocês estão dizendo que o animal que comemos é sagrado e, portanto, que é verdade que pecamos quando o comemos, mas o que os faz afirmar que ele é sagrado, o que vocês sabem que nós não sabemos que os fazem falar isso desse animal?” Dizer que se fizermos tal pergunta já estamos abrindo um caminho para que venha tudo a ser “fake” e então ser desprestigiado, ou que com isso abrimos as porteiras para o kitsch e para uma cultura que leva as pessoas a não terem mais a cultura como autoconsciência é algo no mínimo exagerado. Scruton não é um exagerado no bom sentido, no sentido weberiano. Ele força a barra. 15 Revista Redescrições – Revista on line do GT de Pragmatismo Ano 4, Número 2, 2013 3. O segundo ponto é quanto à religião. Nesse caso, Rorty entende que a maneira técnica com a qual ele lida com o tema da verdade facilita sua exposição diante de incômodos sociais, especialmente os que o fundamentalismo religioso põe e repõe. A noção de verdade enquanto o que é sustentado pela Teoria da Correspondência é uma noção dita substantiva, que em geral é facilmente inflacionada metafisicamente. Ela corrobora certo isomorfismo. Uma situação em que linguagem e mundo podem ser tomados como isomorfos, onde o gancho entre o linguístico e o nãolinguístico pode se dar por meio da correspondência, é um prato cheio para a metafísica. O velho ideal grego de que o Logos do universo esteja também preso no peito do homem, uma vez que este está no universo e parece ser predestinado a compreendê-lo, nunca saiu da cabeça não só de filósofos antigos, mas também e talvez principalmente dos medievais. Muitos modernos repetiram isso, depois, quando vieram a desenvolver a ciência experimental e então viram na matemática aquilo que os medievais enxergaram na lógica. “A natureza fala por meio da matemática” ou “Deus é um grande matemático” foram frases que os modernos repetiram encantados, principalmente à medida que a matemática lhes parecia uma expressão própria da razão finita. O eco do Evangelho de João nunca foi desprezível: “no princípio era o Logos”. Deus criou o mundo à medida que falava da Criação. Exercia a linguagem de modo que o mundo nunca foi outra coisa senão a linguagem de Deus ou sua lógica ou, em termos mais populares, algo com a regularidade captável pela matemática do homem. Assim, para os intelectuais religiosos, nunca foi muito difícil imaginar que se chegamos a alguma verdade em matemática – campo no qual o contingente e mutável parece não ter lugar – poderíamos estar muito próximos do tipo de verdade que a religião espera ter em mãos: a verdade objetiva e universal, o que equivale ao ponto metafísico, a pedra absoluta. Esses passos deram a vários intelectuais o espaço para poder, somente com metafísica, falar em “Verdade” antes que em “verdadeiro”, e assim fazer o nome “Verdade”, ao indicar algo absoluto, se por como sinônimo de “Deus”. No campo metafísico poder-se-ia dizer como o Mundo Realmente É, e tendo permissão para assim se pronunciar tudo estaria aberto para o caminho de se ter aquilo que se não é Deus, é seu produto direto mais próximo. Poder deslocar a Teoria da Verdade como Correspondência e, ao mesmo tempo, 16 Revista Redescrições – Revista on line do GT de Pragmatismo Ano 4, Número 2, 2013 fornecer uma descrição filosófica de como a verdade atua em nossa linguagem, seguindo o rastro do uso, para Rorty, veio a se constituir em uma boa vitória. Deu-lhe força para preferir narrativas iluministas, deixando as narrativas metafísicas e religiosas para outros. Ora, será que foi essa a parte do discurso rortiano que, então, teria incomodado Scruton, diferentemente do que incomodou Searle ou Habermas? Eu até poderia dizer que sim, uma vez que Searle ou Habermas teriam ficado em divergência com Rorty quanto às questões técnicas já aludidas, não quanto à posição de Rorty diante da religião, enquanto que o conservadorismo de Scruton o deslocaria para um tipo de divergência diferente. Mas Scruton, neste artigo analisado, não vai adiante. Ele limita sua questão ao elo entre desprestígio da verdade objetiva e prestígio do “fake”, e deste prestígio último para o enaltecimento do kitsch como ponto de chegada da cultura “fake”. O artigo de Scruton discorre sobre efeitos de uma cultura “fake” e ele, realmente, anuncia algo interessante. Ele lembra que os modernistas fizeram o que fizeram – a arte de tipo Warhol – como alguma coisa consciente, e isso teve seu valor humano, mas que repetir isso, como se repete agora, integrado ao processo de venda, é o “fake”. Ora, posso concordar com isso. Mas as bases sobre as quais ele põe sua crítica, chamando Marx, Foucault e principalmente Rorty para que eles possam ser culpados pelo que eles não tiveram culpa, isso é obra exclusiva do conservadorismo de Scruton. Ele deveria deixar de lado essa necessidade de ser de direita em tudo, e pensar que gente da classe social dele talvez tenha, por meio de financiamentos muito mal direcionados e através do Estado privatizado em favor do lixo cultural, contribuído muito mais decisivamente para que a cultura atual tenha abocanhado mais coisa ruim do que o necessário em cada lugar. Caso ele fosse por essa via, ele se surpreenderia em encontrar mais culpa das coisas estarem como estão entre aqueles que ele imagina que, por estarem próximo a ele, estão em defesa da alta cultura. Às vezes, tenho a impressão que não estão. A democracia de massas e todo o processo de democratização e popularização que passamos entre os séculos XIX e XXI podem ter uma enorme responsabilidade pelo que Scruton detecta que ocorre no coração humano, na curtição do fake, digamos assim. Todavia, dizer que os teóricos não conservadores – Marx, Foucault e Rorty à frente – ao descreverem esses processos deram guarida ao que ocorreu de ruim nesses mesmos processos é, a meu ver, um escorregão. No caso de Marx e Foucault, um escorregão 17 Revista Redescrições – Revista on line do GT de Pragmatismo Ano 4, Número 2, 2013 com justificativas, talvez a “crítica da ideologia” e a “teoria do poder” de ambos, respectivamente, tenha feito ataques não alvissareiros às bases de legitimidade da cultura. Quanto a Rorty, não poderia dizer o mesmo. O pragmatismo, ao caminhar pela estrada da desinflação das teorias de verdade, nunca me pareceu ser um voluntarioso membro de um partido de uma “revolução cultural” contra a alta cultura. O pragmatismo me parece, ao fazer o que fez e faz, inclusive e principalmente com Rorty, um produto natural do período que Nietzsche qualificou como o pós-positivismo, a época em que não temos mais que ser crentes ou ateus, justamente porque “Deus está morto”. Quando James e Wittgenstein nos abriram caminho para lidarmos com a verdade a partir do uso, que foi o que Rorty seguiu (e o que eu mesmo sigo), a questão entre verdade e falsidade não poderia mais estar posta de modo dramático como foram postas coisas como Deus-Verdade versus Ateísmo-Falsidade. O pragmatismo me parece, principalmente com Rorty, uma filosofia dos tempos em que não só o Mundo Real foi destruído, mas também, com o Mundo Real, o Mundo Aparente nos deixou. O pragmatismo é uma filosofia que nos permite ler Platão novamente, sem ter de combatê-lo. Ler Platão se tornou agora, pela primeira vez, uma tarefa não partidária. Scruton está com um pé demais num mundo que parece já ter passado. 18 Revista Redescrições – Revista on line do GT de Pragmatismo Ano 4, Número 2, 2013
Baixar