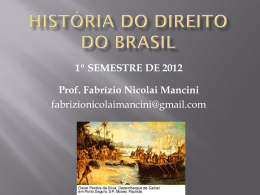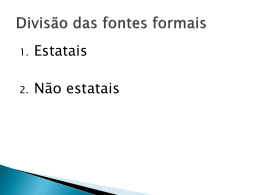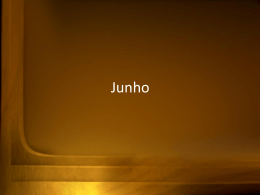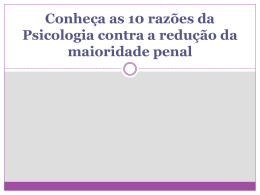1 CARLOS EDUARDO MACHADO PIRES A INCONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL Artigo apresentado ao curso de graduação em Direito da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Direito. Orientador: Prof. Esp. Antonio Carlos Alves Linhares Brasília 2013 2 Ao meu querido filho Yuri, que siga sempre os melhores exemplos e oportunidades que tiver na vida. 3 AGRADECIMENTO Agradeço em primeiro lugar a DEUS que me deu oportunidade de chegar até aqui e conquistar tudo o que tenho. Agradeço à minha esposa e companheira pela compreensão e apoio. E por fim, mas não menos importante, agradeço imensamente ao professor Antonio Carlos Alves Linhares pelo contínuo acompanhamento e relevantes contribuições e orientações para o desenvolvimento deste trabalho. 4 "A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos." (Barão de Montesquieu) 5 A INCONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL Carlos Eduardo Machado PIRES1 Esp. Antônio Carlos Alves LINHARES2 Resumo: Este artigo tem por objetivo abordar e discutir a redução da maioridade penal no Brasil, tendo em vista a atual violência praticada por menores no país. No Brasil, a idade penal é fixada a partir dos 18 (dezoito) anos, conforme disposto no artigo 228 da Constituição Federal. O presente trabalho analisa a impossibilidade, sob a ótica jurídica, de alteração da Constituição da República visando diminuir a idade penal, pelo fato desta ser considerada cláusula pétrea. Com este estudo, percebe-se que a solução da criminalidade juvenil reside na atuação efetiva do Estado para cumprir políticas públicas visando assegurar o cumprimento das diretrizes constitucional, do Código Penal, da Lei de Execuções Penais e principalmente do Estatuto da Criança e do Adolescente de proteção e atendimento às necessidades dos menores. Este artigo científico foi elaborado por pesquisa bibliográfica em livros, códigos, periódicos e internet acerca do tema em debate. Palavras chaves: Maioridade Criminalidade juvenil 1 penal, inconstitucionalidade; Cláusula Pétrea; Acadêmico do Curso de Direito da Universidade Católica de Brasília (UCB). E-mail: [email protected] 2 Professor Orientador, docente do Curso de Direito da Universidade Católica de Brasília (UCB). E-mail: [email protected] PEC; 6 1 INTRODUÇÃO Quatro entre cinco brasileiros desejam e concordam com a redução da maioridade penal para 16 anos. Segundo a pesquisa “Retratos da Sociedade Brasileira: Segurança Pública”, realizada pelo Ibope em 2011, 75% dos entrevistados são totalmente a favor desta medida. Ainda segundo a pesquisa, 83% dos entrevistados acreditam que a idade penal de 18 anos incentiva a participação de menores em crimes.3 Movidos pela comoção e clamor social, principalmente após a prática de crimes graves, ou até mesmo bárbaros, cometidos por menores de 18 anos e que, conseqüentemente, levam a uma massiva exposição da mídia, nota-se a iniciativa de alguns parlamentares em apresentar projetos de lei que reduzem a maioridade penal. Até março de 2013 haviam vinte e duas diferentes propostas de emendas à Constituição Federal (PEC) para ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) 4. Cita-se como exemplo: · PEC 18/1999 de autoria do então Senador Romero Jucá: Esta proposta determina que são imputáveis os maiores de dezesseis anos que cometessem crimes contra a vida ou contra o patrimônio por meio de violência ou grave ameaça;5 · PEC 20/1999 de autoria do então Senador José Roberto Arruda: Esta proposta torna imputável os maiores de dezesseis anos que cometa qualquer delito, desde que seja averiguado se amadurecimento intelectual e emocional, em outras palavras, seja verificada e confirmada sua capacidade de discernimento;6 · PEC 26/2002 de autoria do então Senador Iris Rezende: Estabelece que os maiores de dezesseis anos são imputáveis somente nos casos de crimes hediondos ou qualquer crime contra a vida se comprovado por meio de laudo técnico a capacidade do agente entender a ilicitude do ato por ele praticado;7 · PEC 74/2011 de autoria do Senador Acir Gurgacz: Esta proposta estabelece a imputabilidade penal em 15 anos para prática de homicídio doloso e roubo seguido de morte, tentados ou consumados;8 · A PEC 33/2012 de autoria do Senador Aloysio Nunes: Restringe a redução da maioridade penal - para 16 anos - aos crimes arrolados como inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia: tortura, terrorismo, tráfico de drogas e hediondos (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição). Também inclui os casos 3 Agência Estado. Ibope: maioria que redução da maioridade penal. Disponível em: http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2011/10/19/interna_nacional,256902/cni-ibope-maioria-querreducao-da-maioridade-penal.shtml. Acesso em 20/09/2012. 4 VERONA, Humberto. Redução da maioridade penal: eles perdem, o Brasil também. Correio Braziliense, Brasília - DF, 1º de março de 2013. Direito & Justiça, p. 2 5 Senado Federal. Atividade Legislativa. Projetos e Matérias Legislativas. Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=832. Acessado em 04/05/2013 6 Senado Federal. Atividade Legislativa. Projetos e Matérias Legislativas. Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=837. Acessado em 04/05/2013 7 Senado Federal. Atividade Legislativa. Projetos e Matérias Legislativas. Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=50391. Acessado em 04/05/2013 8 Senado Federal. Atividade Legislativa. Projetos e Matérias Legislativas. Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101484. Acessado em 04/05/2013 7 em que o menor tiver múltipla reincidência na prática de lesão corporal grave ou roubo qualificado;9 A demagogia destes parlamentares, que aproveitando o anseio da sociedade buscam obter destaque mediante projetos de lei que atendam suas expectativas, não pode suplantar o ordenamento jurídico brasileiro e nem violar regras do processo legislativo, principalmente as que incidem sobre alterações no texto constitucional. É importante, antes de tudo, verificar a possibilidade jurídica de tais iniciativas, evitando assim que, caso tais propostas passem pela comissão de constituição e justiça, sejam atingidas pelo manto da inconstitucionalidade em uma possível Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o que certamente traria grande decepção à população que teve, por um breve período de tempo, saciado seu anseio para, de forma terminal, ver a tão esperada lei que determina a redução da maioridade penal ser mortalmente ferida por vício legislativo, tornando-se ineficaz e sem efeitos jurídicos. Mister se faz, portanto, verificar a possibilidade jurídica de tal medida pretendida pelos legisladores. É preciso uma profunda análise acerca do artigo 228 da Constituição Federal que dispõe, in verbis: Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial. A discussão que se faz necessária deste dispositivo constitucional é se ele está cingido pela imutabilidade material que reveste as cláusulas pétreas, mais especificamente a expressa no art. 60, § 4º, IV da Carta Magna, que assim dispõe: § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV – os direitos e garantias individuais A questão principal é verificar se o art. 228 tem a mesma natureza jurídica daquelas insculpidas no art. 5º da Carta Suprema que possuem o status de garantias individuais fundamentais. Alexandre de Morais afirma que: Relembre-se que o rol do art.5º é exemplificativo, existindo outros direitos e garantias individuais espalhados pela Constituição Federal e, conseqüentemente, existindo outras cláusulas pétreas com base no art. 60 §4º, IV da CF.10 Pretende-se demonstrar com este artigo que, não obstante a pugnação da sociedade acerca de maior punição aos menores infratores, a redução da maioridade penal não é uma alternativa constitucionalmente viável, isto porque violaria o disposto no art. 60 da Constituição Federal que dispõe sobre as cláusulas pétreas, mais especificamente o inciso IV do seu parágrafo 4º que determina a impossibilidade de deliberar sobre propostas de emendas que visam abolir os direitos e garantias individuais. Portanto, se faz necessário explicar o processo legislativo para alteração do texto constitucional, apresentar a evolução das políticas criminais voltadas para os menores e, por 9 Senado Federal. Atividade Legislativa. Projetos e Matérias Legislativas. Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106330. Acessado em 04/05/2013 10 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo:Atlas, 2003. P.333 8 fim, identificar os elementos caracterizadores dos direitos e garantias individuais aplicáveis a estas políticas. Para atingir estes objetivos, a metodologia utilizada, em grande parte do trabalho, corresponde ao modelo dedutivo, onde serão apresentados os critérios ou elementos que caracterizam os direitos e garantias individuais e apontar a aplicabilidade destes critérios/elementos à idade penal. Para tanto, será realizada, essencialmente pesquisa exploratória, tanto bibliográfica quanto documental, visando obter maior conhecimento acerca do assunto. 2 CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AS LIMITAÇÕES MATERIAIS DE REFORMA Constituição em seu sentido amplo é o ato de constituir algo, estabelecer ou firmar-se ou, ainda, a forma como alguma coisa e constituída, seus elementos e fundamentos. No entanto, juridicamente a Constituição possui outra conotação. Nas palavras de Alexandre de Morais, a constituição jurídica deve ser entendida como A lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do Estado, à formação dos poderes públicos, forma de governo e aquisição do poder de governar, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos.11 Vicente Paulo defende que “o constitucionalismo jurídico cede lugar ao denominado constitucionalismo político e social.” O autor assevera que as regras de formação e organização do estado curvam-se às regras sociais e políticas, resultado de pressões, necessidades e exigências sociais.12 Vicente Paulo lembra que o conceito clássico de Constituição determinava apenas a forma de Estado e de Governo e o reconhecimento dos direitos fundamentais do homem. O alargamento do âmbito das regras constitucionais contemporâneas a aproxima ao conceito ideal defendido por Canotilho que, citado por Alexandre de Moraes, ensina: Este conceito ideal identifica-se fundamentalmente com os postulados políticosliberais, considerando-os como elementos materiais caracterizadores e distintivos os seguintes: a) A constituição deve consagrar um sistema de garantias da liberdade (esta essencialmente concebida no sentido do reconhecimento de direitos individuais e da participação dos cidadãos nos actos [sic] do poder legislativo através do parlamento) b) A constituição contém o princípio da divisão de poderes, no sentido de garantia orgânica contra os abusos dos poderes estaduais; c) A constituição deve ser escrita (documento escrito)13 A Constituição Federal de 1988, que observa os conceitos da constituição ideal, é classificada, quanto à origem, uma Constituição Promulgada, também conhecida como popular ou democrática. 11 MORAES, Alexandre de. Op. Cit. P.38 PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. P.3 13 CANOTILHO, 1993 apud MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo:Atlas, 2003. P.38. Grifo do autor. 12 9 No que tange esta classificação, Alexandre de Moraes ensina que as constituições promulgadas derivam do trabalho de uma Assembléia Nacional Constituinte, composta de representantes do povo, eleitos com o objetivo de elaborar a Carta Magna do Estado.14 Já quanto à estabilidade, a Constituição Federal é do tipo rígida, pois, como ensina Vicente Paulo, exige um processo legislativo especial para modificação de seu texto, tais como votação em turnos, nas duas casas do Congresso Nacional e um quorum específico para aprovação das modificações no texto constitucional. 15 Para o autor, existe uma nítida distinção no processo legislativo dos Estados que adotam uma constituição rígida, uma vez que existem dois tipos de legisladores: o legislador constituinte com competência para modificar as normas constitucionais, e o legislador ordinário com competência para elaborar normas infra-constitucionais. O legislador com competência de elaborar normas constitucionais é detentor do poder constituinte que “é o instrumento ou meio legítimo de se estabelecer a Constituição, a forma do Estado, a organização e a estrutura da sociedade política.”16 Já para Alexandre de Moraes, o poder constituinte “é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo, social e juridicamente organizado”. 17 O poder constituinte em si surgiu com a primeira constituição, no entanto, sua concepção teórica é anterior à materialidade de uma constituição de Estado. No livreto “O que é o Terceiro Estado” de Emannuel Siyés, publicado às vésperas da revolução francesa, o autor defendia que o poder de fazer a Constituição não se confundia com o poder de fazer leis. As titularidades são diferentes. A primeira pertence à Nação enquanto a última é competência do legislativo.18 Da assertiva dos doutos mestres conclui-se, coerentemente, que a titularidade do poder constituinte pertence ao povo, uma vez que é este quem sabe como e quando uma nova Constituição deve ser elaborada ou modificada e quais interesses políticos e sociais devem ser defendidos. Celso de Melo, corroborando desta perspectiva ensina que As Assembléias Constituíntes não titularizam o poder constituinte. São apenas órgãos aos quais se atribui, por delegação popular, o exercício dessa magna prerrogativa.19 Apesar de incontroverso ser o povo o titular do poder constituinte, Alexandre de Moraes lembra que este não é quem exerce diretamente este poder. Citando Manoel Gonçalves Ferreira Filho, o autor explica que O povo pode ser reconhecido como o titular do Poder Constituinte mas não é jamais quem o exerce. É ele um titular passivo, ao qual se imputa uma vontade constituinte sempre manifestada por uma elite. Assim, distingue-se a titularidade e o exercício do Poder Constituinte, sendo o titular o povo e o exercente aquele que, em nome do povo, cria o Estado, editando a nova Constituição.20 14 MORAES, Alexandre de. Ob. Cit. P.41 PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. P.20 16 PAULO, Vicente. Op. Cit. P. 47 17 MORAES, Alexandre de. Ob. Cit. P.56 18 CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Roteiro de direito constitucional. 3ª Ed. Brasília: Editora Gran Cursos, 2010. P. 47 19 MELO FILHO, Celso de. Apud MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo:Atlas, 2003. P.56. 20 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo:Atlas, 2003. P.57. 15 10 Portanto, antes de adentrar no processo legislativo para alteração da norma constitucional, faz-se necessário ressaltar a distinção entre o poder constituinte originário, aquele que cria uma nova Constituição de forma livre e soberana, do poder derivado que é criado pelo primeiro para reformar e garantir a adequação da Carta Constitucional às evoluções sociais do Estado. 2.1 PODER CONSTITUÍNTE ORIGINÁRIO O poder constituinte originário é o poder de origem. O primeiro poder que faz surgir uma constituição seja de maneira literal (a primeira constituição de um estado) seja através da “desconstituição” de um ordenamento constitucional anterior, a exemplo do que ocorreu em 1987, quando uma Assembléia Constituinte, com poder originário derrubou a constituição até então vigente para promulgar uma nova. O poder constituinte originário é de manifestação esporádica e excepcional, ocorrendo em momentos de revolução ou de ruptura com a ordem institucional vigente. Esta excepcionalidade confere ao poder constituinte originário um poder ilimitado (pois cria e estrutura o estado da forma que julgar conveniente), incondicionado (uma vez que não se submete a qualquer regra jurídica anterior) absoluto e permanente, uma vez que não se esgota no momento de seu exercício. João Trindade Filho faz uma analogia do poder constituinte originário com o Big Bang, posto que antes dele (poder constituinte originário) existia o nada, o caos e depois, o cosmo, uma nova ordem jurídica.21 O autor ensina que o Poder Constituinte Originário possui as seguintes características: A) INICIAL institui um novo ordenamento jurídico, uma nova Constituição, derrubando o ordenamento anterior, justamente por isso, não se pode invocar contra o poder constituinte originário direito adquirido; B) AUTÔNOMO define livremente o conteúdo das normas da nova Constituição; trata-se de característica ligada ao aspecto material, de conteúdo. O constituinte originário pode dispor livremente sobre o CONTEÚDO da nova constituição. Assim, por exemplo, uma nova Constituição poderia prever a instituição da pena de morte para todos os crimes, estabelecer a forma de governo monarquia, etc. C) INCONDICIONADO não se submete às normas e condições do ordenamento jurídico anterior. Trata-se de uma característica ligado à forma. O constituinte originário pode aprovar a nova Constituição da forma que quiser. D) JURIDICAMENTE ILIMITADO pode sofrer limitações de ordem social, histórica ou política, mas juridicamente não há qualquer limitação. (...) E) PERMANENTE pois pode se manifestar a qualquer tempo. O Poder Constituinte Originário pode ser considerado um vulcão: manifesta-se e se mantém inativo, mas permanentemente em possibilidade de voltar a irromper.22 Sendo o poder constituinte originário um poder criador, ele é hierarquicamente superior aos poderes por ele constituídos. Tal supremacia decorre da soberania da nação, uma vez que o poder originário é uma expressão desta nação devendo ser obedecido e respeitado por todos. Portanto, é um poder livre, autônomo e ilimitado. 21 CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Roteiro de direito constitucional. 3ª Ed. Brasília: Editora Gran Cursos, 2010. P. 47 22 CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Roteiro de direito constitucional. 3ª Ed. Brasília: Editora Gran Cursos, 2010. P. 48 11 Este caráter ilimitado torna impossível fiscalizar a validade da obra gerada pelo Poder Constituinte, como afirma Vicente Paulo, “não é juridicamente possível ao Poder Judiciário fiscalizar a validade das normas inseridas na Constituição no momento de sua elaboração pelo Poder Constituinte Originário.”23 Importante ressaltar que alguns doutrinadores defendem que a característica de ILIMITADO se restringe ao âmbito interno do país onde a Constituição é criada e que o exercício do poder constituinte originário não poderia violar regras de convivência com outros Estados soberanos, portanto, o Direito Internacional seria o freio jurídico do poder constituinte originário, uma vez que contemporaneamente não se admite uma constituição que vá de encontro às normas internacionais de proteção aos direitos humanos. No entanto, esta é uma corrente doutrinária minoritária, não sendo aceita por grande parte dos constitucionalistas. Este poder absoluto conferido ao poder constituinte originário é uma “faca de dois gumes” posto que, se exercido pelo povo, atenderá seus anseios e satisfará as necessidades da nação. No entanto, se exercido de forma arbitrária por uma elite que tomou o poder para si, poderá significar uma regressão na evolução política e social, conferindo a uns pouco o poder autoritário do Estado, ou seja, será uma volta ao Absolutismo combatido pela Revolução Francesa. Neste sentido, Vicente Paulo lembra que o poder originário pode ser exercido de duas maneiras: a) Poder constituinte usurpado, quando a competência do povo é usurpada por algum ditador, que elabora a Constituição e a impõe ao povo (Constituição outorgada) b) Poder constituinte legítimo, quando na elaboração da constituição há participação do povo, mediante democracia direta (o povo, diretamente, aprova a Constituição, por meio de pebliscito ou referendo) ou democracia representativa (o povo escolhe seus representantes, que formam a Assembléia Constituinte e elaboram a Constituição do tipo democrática) ou mista (quando são combinadas as democracias direita e representativa)24 Conclui-se portanto que nem toda manifestação do poder constituinte originário é democrática, pois como demonstrado pelo autor, o poder legítimo de titularidade do povo pode ser usurpado por um governante ou por uma minoria e outorgar uma Constituição antidemocrática, mas que por ter sido fruto do poder constituinte originário, mantém seus efeitos de supremacia frente ao ordenamento jurídico supra constitucional e às instituições do Estado. 2.2 PODER CONSTITUÍNTE DERIVADO O poder constituinte derivado fundamenta-se na necessidade de adequar o texto constitucional à nova realidade política, econômica e social de um Estado, posto que não são elementos imutáveis. Este poder foi criado pelo poder constituinte originário, por isto sua denominação derivado, uma vez que deriva daquele que, sendo-lhe superior, estabelece limites e condições. 23 24 PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. P.48 Ibem idem. 12 O poder constituinte derivado sujeita-se, portanto, a restrições fixadas pelo poder constituinte originário. O professor Eugênio Couto Terra afirma que logo após a revolução francesa, ocorrida no século XVIII, muito se discutiu sobre quem teria poderes para modificar uma constituição, havendo basicamente três posições.25 A primeira defendia que a modificação de uma constituição só seria possível pelo consentimento de todos os cidadãos do Estado. A segunda posição permitia uma reforma mais simplificada, fundamentada na teoria de que a nação conservava o direito de alterar as próprias leis. Portanto, a modificação da constituição ocorreria pela convenção do poder constituinte. A terceira posição era no sentido de que a própria Constituição indicasse a autoridade que teria competência para modificá-la, bem como os procedimentos e limitações. Esta última posição é a mais comumente aceita e adotada para viabilizar a reforma de uma Constituição de um Estado. Portanto, como conclui o professor Eugênio, a solução para o problema de qual órgão do Estado tem poderes para reformar o texto constitucional rígido resolve-se no princípio da supremacia da própria Constituição, uma vez que, no exercício do poder constituinte originário, em um ato de vontade soberana, pode a assembléia constituinte estabelecer as possibilidades de alteração de sua obra, indicando os procedimentos, limites e órgão com competência para tal. As limitações que poderão ser impostas ao poder constituinte derivado pelo poder constituinte originário se dividem em quatro grupos, como ensina Vicente Paulo: a) Temporais (quando a Constituição estabelece um período durante o qual seu texto não pode ser modificado); b) Circunstanciais (quando a Constituição veda a sua reforma durante certas circunstâncias excepcionais, de anormalidades da vida do Estado); c) Materiais (quando a Constituição enumera certas matérias que não poderão ser abolidas pelo reformador do seu texto); d) Processuais ou Formais (quando a Constituição estabelece certas restrições ao processo legislativo de aprovação de sua reforma, distintas daquelas fixadas para o processo de elaboração das demais leis do ordenamento).26 Para João Trindade Filho, no Brasil o poder constituinte derivado se subdivide em quatro espécies, no entanto, todas se submetem às limitações impostas pelo poder constituinte originário:27 1) Reformador: É o poder constituinte derivado com atribuições de promover modificações formais no texto constitucional. 2) Revisor: É o poder constituinte derivado extraordinário, também com atribuições de promover modificações no texto constitucional. Se diferencia do poder derivado reformador pelo fato de ser exercido uma única vez 5 anos após a promulgação da constituição, ao passo que aquele é exercido cotidianamente. 25 TERRA, Eugênio Couto. A idade penal mínima como cláusula pétrea e a proteção do Estado Democrático de Direito contra o retrocesso social. Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. Disponível em <http://www.abmp.org.br//textos/1.htm> acesso em: 23 de março de 2013 26 PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. p.50 27 CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Roteiro de direito constitucional. 3ª Ed. Brasília: Editora Gran Cursos, 2010. P. 52 13 3) Decorrente: É o poder constituinte derivado que reconhece a autonomia dos entes federais internos (Estados, DF e Município) de se auto organizar e criar suas próprias Constituições. 4) Difuso: É o poder constituinte derivado com atribuição de promover a alteração do significado da norma constitucional, sem alteração formal de seu texto. Este poder derivado se materializa nas ações do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos jurisdicionais inferiores ao proferir a correta interpretação da Constituição Federal. No que tange ao poder constituinte derivado reformador, a Constituição Federal de 1988 reconhece a possibilidade da alteração de seu texto por meio de emenda constitucional, atribuindo ao Poder Legislativo a competência para tanto. As Emendas Constitucionais são, portanto, o instrumento de atuação do poder constituinte derivado reformador, estando submetidas aos limites impostos pelo poder constituinte originário. Na vigência da atual Constituição Federal, as emendas constitucionais estão limitadas quanto aos procedimentos, quanto à circunstancia e quanto a matéria. 2.2.1 Limitação Processual ou de Forma O art. 60, seus incisos e o § 2º estabelece o procedimento para aprovação de uma emenda e, conseqüentemente, a alteração do texto constitucional. Uma Emenda Constitucional deve ser proposta por um terço dos deputados ou senadores, pelo Presidente da República ou por mais da metade das Assembléias Estaduais onde cada uma delas tenha aprovação da maioria relativa de seus membros. A votação deve ocorrer em dois turnos de discussão em cada uma das casas do Congresso Nacional e para ser aprovada, a Emenda Constitucional deve obter três quintos dos votos do total de membro de cada casa. Caso uma proposta seja rejeitada ou havida por prejudicada, deverá ser arquivada, não podendo ser objeto de discussão na mesma sessão legislativa, ou seja, a matéria a qual a emenda visava alterar, somente poderá ser apreciada na sessão legislativa seguinte. A tabela abaixo ilustra a diferença de procedimentos para aprovação de uma Emenda Constitucional e uma Lei Ordinária. Iniciativa Emenda Constitucional Presidente da República 1/3 dos Deputados Federais 1/3 dos Senadores Mais da metade das Assembléias Legislativas Estaduais (com aprovação da maioria relativa dos seus respectivos membros) 3/5 do total de membros de cada casa do Congresso Nacional 2 Turnos em cada Casa Turnos Tabela 1: Comparativo entre aprovação de EC e Lei Ordinária Quórum Lei Ordinária Qualquer Senador Qualquer Deputado Comissão da Câmara Comissão do Senado Povo Presidente da República Procurador Geral da República Tribunais Superiores Maioria dos votos de cada casa 1 turno em cada Casa 14 2.2.2 Limitação Circunstancial O artigo 60§ 1º da Constituição Federal determina que o texto constitucional não poderá sofrer alteração durante a vigência de Estado de Defesa, Estado de Sítio ou Intervenção Federal. Alexandre de Moraes afirma que esta limitação visa evitar modificações na constituição em situações de anormalidade do Estado, evitando, assim, perturbações na liberdade e independência dos órgãos institucionais incumbidos da reforma constitucional. 28 Não obstante, esta limitação não impede que as emendas constitucionais sejam propostas e até mesmo discutidas pelas casas legislativas. Para Vicente Paulo “o comando constitucional veda é a sua votação e promulgação”.29 2.2.3 Limitação Material Esta é, sem dúvida, a limitação ao poder constituinte derivado reformador mais importante para este trabalho, uma vez que determina as matérias que não podem sofrer alteração na norma constitucional e, como se pretende demonstrar, a idade penal se encontra abarcada por matéria considerada imutável pelo poder constituinte originário. O limite material imposto ao poder constituinte derivado reformador é um impedimento estabelecido pelo poder constituinte originário e inserido no texto da constituição, que torna insuscetível à mudanças algumas matérias de seu conteúdo. No entanto, é importante trazer à luz da discussão a lembrança do professor Eugênio Couto Terra de que a limitação material de forma constitucional não é um consenso entre os constitucionalistas, existindo, basicamente, três correntes doutrinarias: A primeira fulcra-se no entendimento de que os limites materiais são da própria natureza de uma Constituição e, via de conseqüência, não há como pretender a superação dos mesmos. A segunda acredita que não há nenhuma razão para o reconhecimento de limites matérias reformatórios, pois não há razão jurídica para sua existência, logo, qualquer limitação material padece de legitimidade e eficácia. A terceira vê qualquer limitação material de reforma como relativa, pois pode ser superada pelo processo de dupla revisão.30 Na linha de entendimento desta terceira corrente, Vicente Paulo afirma que existem autores de renome que defendem esta possibilidade por considerarem absurda uma proibição eterna de mudança em qualquer norma constitucional. Para eles, continua o autor, a vedação absoluta à mudança no texto constitucional equivaleria a deixar a mudança somente para o poder constituinte originário, ou seja, para uma revolução. Portanto, para estes doutrinadores, o que a Constituição estabelece para as limitações materiais seria uma rigidez maior, com maior complexidade no processo modificativo e não uma proibição absoluta. Deste modo, enquanto as demais regras constitucionais demandam um procedimento relativamente simples para sua alteração, os conteúdos com limitação 28 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo:Atlas, 2003. P.566 PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. P.358 30 TERRA, Eugênio Couto. A idade penal mínima como cláusula pétrea e a proteção do Estado Democrático de Direito contra o retrocesso social. Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. Disponível em <http://www.abmp.org.br//textos/1.htm> acesso em: 23 de março de 2013 29 15 material seriam duplamente protegidos, portanto, para modificá-los seria preciso, primeiro, revogar a limitação material e, só depois, alterar as disposições sobre seu conteúdo. Ou seja, as limitações materiais poderiam ser superadas por um procedimento legislativo constitucional especial denominado Dupla Revisão. 31 Neste sentido, Vicente Paulo conclui afirmando que A tese da dupla revisão não é aceita entre nós, pois esbarra na mais relevante limitação material implícita ao poder de reforma, que obsta a supressão das limitações expressa de qualquer ordem, estabelecidas no art. 60 da Carta da República.32 O douto professor Eugênio Couto Terra, concordando com a conclusão de Vicente Paulo, ensina que o entendimento adotado como correto na corrente majoritária e que “os limites materiais de reforma são imprescindíveis, não sendo possível tê-los como superáveis.”33 Conforme afirma Alexandre de Moraes, este entendimento é corroborado pela Suprema Corte do Brasil, nas palavras do atual ministro do STF, Gilmar Ferreira Mendes que afirmou (...) tais matérias traduzem, em verdade, um esforço do constituinte para assegurar a integridade da constituição, obstando a que eventuais reformas provoquem a destruição, o enfraquecimento ou impliquem profunda mudança de identidade, pois a constituição contribui para a continuidade da ordem jurídica fundamental, à medida que impede a efetivação do término do Estado de Direito democrático sob a forma da legalidade, evitando-se que o constituinte derivado suspenda ou mesmo suprima a própria constituição.34 Na Constituição Federal de 1988, os limites materiais integram o cerne da própria Carta da República e funcionam como núcleo normativo perpétuo que engloba as matérias imprescindíveis para a configuração do Estado Brasileiro. Assim dispõe o art. 60 §4 da Constituição Federal: 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I – a forma federativa de Estado; II – o voto direto, secreto, universal e periódico; III – a separação dos Poderes; IV – os direitos e garantias individuais.35 Como ensina Alexandre de Moraes, “tais matérias forma o núcleo intangível da Constituição Federal, denominado tradicionalmente por cláusulas pétreas”.36 Portanto, as cláusulas pétreas gozam da proteção constitucional contra a abolição de seus conteúdos de modo a garantir a integridade da Constituição e evitar que eventuais reformas provoquem a destruição de sua unidade fundamental. 31 PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. P.363 Idem, ibidem 33 TERRA, Eugênio Couto. A idade penal mínima como cláusula pétrea e a proteção do Estado Democrático de Direito contra o retrocesso social. Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. Disponível em <http://www.abmp.org.br//textos/1.htm> acesso em: 23 de março de 2013 34 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo:Atlas, 2003. P.566 35 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2010 36 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo:Atlas, 2003. P.565 32 16 De fato, a exegese do art. 60, §4 da Constituição Federal determina que, sequer será objeto de deliberação propostas de emendas constitucionais que tendem a abolir qualquer das matérias revestidas pelo manto da perpetualidade que as confere as cláusulas pétreas. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal admite o cabimento de mandato de segurança, impetrado por qualquer dos congressistas para fazer cessar o trâmite de qualquer proposta que tende a abolir uma cláusula pétrea, uma vez que, nesta situação, a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do processo legislativo. Portanto, para o STF, nesta situação a inconstitucionalidade já está configurada antes mesmo de uma proposta se transformar em emenda constitucional a ser deliberada em sessão plenária.37 No entanto, importante lembrar que nem sempre uma emenda à constituição que verse sobre uma das matérias elencadas nos incisos do §4º do art. 60 está maculada pela inconstitucionalidade. Isto porque, como ensina Vicente Paulo Somente haverá desrespeito à cláusula pétrea, caso a emenda “tenda” a suprimir uma das matérias ali arroladas. O simples fato de uma daquelas matérias ser objeto de emenda não constitui, necessariamente, ofensa a cláusula pétrea. É que o texto proíbe tão-só emenda “tendente a abolir” as matérias enumeradas no §4 do art. 60 (incisos I a IV). Assim, caso o texto da emenda não restrinja os direitos e garantias individuais, não enfraqueça a forma federativa de Estado etc. não há que se cogitar de ofensa à cláusula pétrea.38 É inequívoco, portanto, que caracterizando-se a idade penal definida pelo art. 228 da Constituição Federal como elemento intrínseco aos direitos e garantias individuais protegidos pelo inciso IV do art. 60, §4 da Carta Magna, esta estará blindada quanto qualquer proposta de alteração que visem sua alteração. Para perceber esta adequação da idade penal aos preceitos das cláusulas pétreas, necessário se faz estudar a evolução das políticas criminais no que tange ao tratamento direcionado aos menores infratores e entender se a idade definida pelo constituinte é mero elemento da política criminal ou é, de fato, uma proteção conferida pelo Estado a estes menores. 3 EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS CRIMINAIS NO BRASIL Durante o período do Brasil Imperial cresceu o receio em relação as infrações cometidas por menores e, naquela época, a política de repreensão aos crimes era fundada no temor causado pela crueldade das penas aplicadas. Conforme as Ordenações Filipinas, legislação aplicada no início do Brasil Império, a maioridade penal era alcançada aos sete anos de idade, onde até os dezessete anos, o tratamento aplicado aos menores infratores era semelhante ao dos adultos, com leves atenuações nas penas. Os infratores entre dezessete e vinte e um anos eram julgados e condenados como adultos, sendo passíveis, inclusive, de sofrerem a pena de morte que, à época, era por enforcamento. Exceção havia nos crimes de falsificação de moeda, no qual a legislação autorizava a pena de morte para maiores de catorze anos.39 37 PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. P.362 PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. P.363 39 MACIEL. Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p5 38 17 Para humanizar as sanções aplicadas aos menores, segundo Fernandes, foi adotado o sistema do discernimento onde o indivíduo seria responsabilizado penalmente caso praticasse o ato criminoso “com discernimento”, ou seja, estando consciente do seu caráter ilícito.40 Neste sentido, em 16 de Dezembro de 1830, o imperador D. Pedro I sancionou o Código Criminal do Império do Brasil, uma evolução da política criminal vigente à época e que, fundamentado em direitos e liberdades individuais, trouxe significativas modificações no que tange a idade penal, introduzindo o exame do discernimento para a aplicação da pena. Fundamentando nesta nova legislação penal, Nuno de Campos distinguiu os menores infratores em quatro classes:41 a) Os menores de catorze anos seriam presumidamente irresponsáveis, ou inimputáveis, salvo ficasse provado que tivesse agido com discernimento; b) Os menores de catorze anos que tivessem agido com discernimento seriam recolhidos a casas de correção pelo tempo que o juiz julgasse necessário; c) Os menores entre catorze e dezesseis anos ficariam sujeitos à pena de cumplicidade (dois terços do que caberia ao adulto); d) Os menores entre dezessete e vinte e um anos teriam sua pena diminuída pela atenuante da menoridade. Seguindo o processo evolutivo das políticas criminais, em 1890, o então Estados Unidos do Brasil instituiu seu Código Penal, o primeiro da República, que trouxe novamente modificações relevantes em relação ao código de 1830, como por exemplo:42 a) Os menores de nove anos passam a ser considerados inimputáveis independente de qualquer discernimento; b) Apenas os menores entre nove e catorze anos são submetidos ao exame de discernimento e então, caso necessário, encaminhados a estabelecimento disciplinar ou industrial até completarem dezessete anos; c) Aos menores entre catorze e dezessete anos, permanecia a pena de cumplicidade, que equivale a dois terços da pena de um adulto. Pereira ressalta que tanto o Código Penal do Império de 1830, quanto o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil de 1890 prescreviam medidas sancionatórias aos menores que tivessem cometido atos criminosos. No entanto, em ambas as legislações, a medida punitiva era fundamentada na Teoria do Discernimento, onde buscava-se verificar a consciência do menor infrator frente ao ato criminoso.43 O critério de discernimento, todavia, era uma questão não tão pacífica para os magistrados da época, sendo conhecida como critério da adivinhação psicológica, uma vez que a verificação da aptidão do discernimento era invariavelmente subjetiva. A distinção do bem e do mal e o reconhecimento de que o menor possui lucidez para entender o certo e o errado, o lícito e o ilícito não era uma tarefa fácil para os juízes que, não raro, acabavam por 40 FERNANDES, Vera Maria M. O adolescente infrator e a liberdade assistida. Rio de Janeiro:CBCISS, 1988, p.20 CAMPOS apud FERNANDES, Vera Maria M. O adolescente infrator e a liberdade assistida. Rio de Janeiro:CBCISS, 1988, p.21 42 BRASIL. Decreto nº 847 de 11 de outubro de 1890. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. 43 PEREIRA. Tania da Silva. Direito da Criança e do Adolescente. Uma proposta interdisciplinar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 101. 41 18 decidir a favor do menor, proclamando a ausência do discernimento. Todavia, a isenção ou atenuantes da responsabilidade penal não abrangiam a responsabilidade civil. 44 Nota-se, portanto, que por muito tempo a preocupação do Estado se restringiu a segregar ou punir os menores infratores, tanto que, no início do século XX novas casas de recolhimento foram criadas sendo divididas em escolas de prevenção, que abrigavam menores em situação de abandono e escolas de reforma e colônias correcionais, que abrigavam menores infratores.45 A crescente manifestação popular, principalmente no âmbito internacional, que discutia ser obrigação do Estado preservar e proteger a criança e adolescente, fez com que a Doutrina gerasse o embrião dos Direitos do Menor, fundada no binômio carência\delinqüência. Deste embrião nasceu o Código de Menores, promulgado por meio do decreto 17.943A de 12 de outubro de 1927.46 Esta lei determinava que era obrigação da família atender todas as necessidades básicas das crianças e adolescentes. No âmbito criminal, a lei estabelecia que os menores até os catorze anos que cometessem crimes eram submetidos a medidas punitivas com objetivos educacionais e ressocializadoras. Já aos menores de dezoito anos e maiores de catorze eram aplicadas sanções penais de forma atenuada. Um novo avanço nas políticas criminais no sentido de amenizar e fornecer tratamento diferenciado aos menores foi percebido na promulgação da Constituição da República do Brasil de 1937 que, segundo Oliveira, sensibilizado pelas lutas dos direitos humanos, os constitucionalistas buscaram “além do aspecto jurídico, ampliar o horizonte social da infância e juventude, e dessa forma o Serviço Social passou a fazer parte de programas de bem estar para o menor”.47 Oliveira ressalta, ainda que: A mentalidade repressora começa a ceder espaço para uma concepção de reeducação, de tratamento na assistência ao menor. Surgiu um novo modelo de assistência à infância, fundada em ciências jurídicas, pedagógicas e médicas. A assistência deixou de ser caritativa e religiosa para ser calcada na racionalidade científica.48 Na constituição de 1988, percebe-se novamente a forte influência dos movimentos pós-segunda guerra em favor dos Direitos Humanos que gerou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tem-se como exemplo, o rol dos direitos e garantias fundamentais expressos no art. 5º. No âmbito da política criminal juvenil, a nova Carta da República criou no Título VIII que trata sobre a Ordem Social, um capítulo específico que tem disposições sobre a Família, Criança, Adolescentes e Idoso, discorrendo especificamente para os menores os artigos 227 a 229. Estes dispositivos constitucionais, combinados com sua lei reguladora nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), substituem o antigo paradigma de “situação irregular” pela “proteção integral” ao menor. Este novo paradigma estabelece regras que indicam o 44 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Sistemas de garantias e o direito penal juvenil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 32 45 MACIEL. Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p5 46 Op. Cit. p.6 47 OLIVEIRA, Alice Álvares de. A inconstitucionaldiade da diminuição da maioridade penal e a sua ineficácia no combate à criminalidade. Brasília. 2010. 48 f. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília, 2010. p.17 48 Idem, ibidem 19 dever do Estado em dar prioridade absoluta aos interesses da criança e do adolescente (art. 227, caput da Constituição Federal c\c arts 3 e 4 do ECA). Shecaira denomina este novo paradigma de “Etapa Garantista”, onde, segundo o autor A etapa garantista obedece a um concerto internacional, resultante de inúmeros documentos internacionais de proteção à criança e ao adolescente, como: Declaração dos Direitos da Criança, Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil, Diretrizes das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil, Convenção sobre os Direitos da Criança, entre outros.49 O art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos. Desta forma, em resposta aos atos infracionais cometidos por crianças, só se admite a aplicação de medidas que não tenham caráter punitivo e que estão elencadas no art. 101 do Estatuto. Por outro lado, caso o ato infracional tenha sido praticado por adolescente, a autoridade poderá aplicar, conforme o caso, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade ou internação em estabelecimento educacional pelo prazo máximo de três anos, conforme dispõe o art. 112 do Estatuto. Shecaria chama atenção para a evolução na etapa garantista no que tange aos direitos assegurados às crianças ou adolescentes infratores. Segundo o autor, não obstante a intervenção punitiva, especialmente a que recolhe o infrator em estabelecimento educacional, deve-se reconhecer que a limitação do período máximo de internação em três anos e um respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento.50 4 DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS Oliveira ressalta que, no que se refere à imputabilidade penal, o legislador constituinte preferiu acrescentar tais dispositivos no capítulo que trata da criança e do adolescente em atendimento a duas emendas populares, apresentadas pelos grupos de defesa dos direitos da criança, que fizeram inserir na Constituição Federal os princípios da proteção integral, elencados nas normas das Nações Unidas. A Doutrina da Proteção Integral é o que caracteriza o tratamento jurídico dispensado pelo Direito Brasileiro às crianças e adolescentes, cujos fundamentos encontram-se no próprio texto constitucional, em documentos e tratado internacionais e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal doutrina exige que os direitos humanos de crianças e adolescentes sejam respeitados e garantidos de forma integral e integrada, mediante a operacionalização de políticas de natureza universal, protetiva e sócio-educativa.51 Portanto, conclui Oliveira que 49 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Sistemas de garantias e o direito penal juvenil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 43 50 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Sistemas de garantias e o direito penal juvenil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 46 51 UNICEF. Porque dizer não à redução da idade penal. Disponível em: <http://www.mpdft.gov.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Diversos/estudo_idade_penal_completo.pd f>. Acesso em: 04/05/2013. 20 A inimputabilidade penal é uma garantia fundamental protegida pela Constituição Federal, ainda que não esteja no art. 5º. As características do direito protegido por ela são as mesmas características de uma cláusula pétrea, e possui os mesmos 52 elementos. Portanto não é passível de modificação pelo Poder de Reforma. Corroborando deste entendimento, Pereira defende que, com a aprovação dos artigos 227 e 228 da Constituição Federal de 1988, a Carta Magna reconhece direitos fundamentais dirigidos exclusivamente às crianças e adolescentes53, reforçando o entendimento de Moraes, apresentado no início deste artigo, que afirma que o rol de direitos e garantias fundamentais expressos no art. 5º da CF/88 são exemplificativos, havendo outros dispersos no texto constitucional. 54 Neste sentido, Vicente Paulo ratifica as lições de Alexandre de Moraes ao afirmar que Ao apontar as matérias protegidas com o manto de cláusula pétrea, o legislador constituinte gravou com essas cláusulas assecuratória “os direitos e garantias individuais”(...). Segundo o STF, essa expressão alcança um conjunto amplo de direitos e garantias constitucionais de caráter individual, dispersos no texto da Carta Magna (e não somente aqueles enumerados no art. 5º da Constituição)55 Corroborando desta tese, Luiz Flávio Gomes defende que a menoridade penal no Brasil integra o rol dos direitos fundamentais e, portanto possui a força de cláusula pétrea: Do ponto de vista jurídico é muito questionável que se possa alterar a Constituição brasileira para o fim de reduzir a maioridade penal. A inimputabilidade do menor de dezoito anos foi constitucionalizada (CF, art. 228). Há discussão sobre tratar-se (ou não) de cláusula pétrea (CF, art. 60, § 4.º). Pensamos positivamente, tendo em vista o disposto no art. 5.º, § 2.º, da CF, c/c arts. 60, § 4.º e 228. O art. 60, § 4º, antes citado, veda a deliberação de qualquer emenda constitucional tendente a abolir direito ou garantia individual. Com o advento da Convenção da ONU sobre os direitos da criança (Convenção Sobre os Direitos da Criança, adotada pela Resolução I.44 (XLIV), da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20.11.1989. Aprovada pelo Decreto Legislativo 28, de 14;09.1990, e promulgada pela Decreto 99.710, de 21.11.1990. Ratificada pelo Brasil em 24.09.1990), que foi ratificada pelo Brasil em 1990, não há dúvida que a idade de 18 anos passou a ser referência mundial para a imputabilidade penal, salvo disposição em contrário adotada por algum país. Na data em que o Brasil ratificou essa Convenção a idade então fixada era de dezoito anos (isso consta tanto do Código Penal como da Constituição Federal - art. 228). Por força do § 2º do art. 5º da CF esse direito está incorporado na Constituição. Também por esse motivo é uma cláusula pétrea. Mas isso não pode ser interpretado, simplista e apressadamente, no sentido de que o menor não deva ser responsabilizado pelos seus atos infracionais. 56 Antes de tomar como verdadeiro o entendimento de Pereira de que os dispositivos 227 e 228 da Carta Suprema são garantias individuais das crianças e adolescentes, é necessário entender os critérios e características inerentes a estas garantias. 52 OLIVEIRA, Alice Álvares de. A inconstitucionaldiade da diminuição da maioridade penal e a sua ineficácia no combate à criminalidade. Brasília. 2010. 48 f. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília, 2010. p.39 53 PEREIRA. Tania da Silva. Direito da Criança e do Adolescente. Uma proposta interdisciplinar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.109 54 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo:Atlas, 2003. P.333 55 PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. P.363 56 GOMES, Luiz Flávio. Menoridade penal: cláusula pétrea? Disponível em: http://www.ifg.blog.br/article. php?story=20070213065503211. Acesso em: 04/05/2010. 21 A Constituição da República de 1988 dispõe em seu título II cinco capítulos que versam sobre os direitos e garantias fundamentais que abordam os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos da nacionalidade, os direitos políticos e os direitos dos partidos políticos.57 Oliveira, citando Bulos assim definiu direitos fundamentais: Direitos fundamentais são o conjunto de normas, princípios prerrogativas, deveres e institutos inerentes à soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária independente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou status social. Entretanto, somente será possível captar a idéia de direito fundamental se auscultar sua fundamentalidade material que se traduz por meio do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pois sem ele não há respeito à vida, à liberdade, à segurança, à integridade física e moral do ser humano.58 No que tange às garantias fundamentais, complementa a pesquisadora ao dizer que “são as ferramentas jurídicas por meio das quais tais direitos se exercem, limitando os poderes do estado, pois proíbem abusos de poder e todas as formas de violação aos direitos que asseguram”. 59 Para construir nosso próprio entendimento sobre a proteção conferida pelos direitos e garantias individuas aos artigos 227 e 228 da CF, traçamos um paralelo entre os dispositivos normativos e os conceitos supramencionados. O artigo 227 da Carta Suprema determina que: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.60 Está claro que o legislador constitucional pretendeu com este dispositivo garantir às crianças e adolescentes segurança, proteção, educação, saúde e lazer. Ao atribuir estas responsabilidades à família, à sociedade e ao Estado, a Carta Suprema objetivava assegurar a dignidade das crianças e adolescentes para que se desenvolvessem em um ambiente saudável garantindo um futuro digno. Portanto, é coerente afirmar que, apesar de não estar elencado no rol de direitos e garantias individuais expresso no artigo 5º, o artigo 227 contempla os requisitos do conceito de Direitos Fundamentais de Bulos, devendo então, ser considerado como tal. O artigo 228, a seu turno, dispõe que “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.” O dispositivo supracitado traz exceção ao jus puniendi do Estado aos menores de dezoito anos. Em outras palavras, a Carta Magna restringe o poder do Estado de aplicar aos menores de dezoito anos o direito penal, sendo necessária uma legislação específica a ser aplicada aos menores infratores. Esta diferenciação nada mais é do que a aplicação prática do princípio da igualdade, onde os menores devem ser tratados na medida de sua desigualdade. 57 BRASIL, Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2010. BULOS apud OLIVEIRA, Alice Álvares de. A inconstitucionaldiade da diminuição da maioridade penal e a sua ineficácia no combate à criminalidade. Brasília. 2010. 48 f. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília, 2010. p.34 59 Idem, ibidem 60 BRASIL, Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2010. 58 22 A limitação imposta pela Carta Suprema no que tange a aplicação de sanções penais, somada a imperiosa necessidade de estabelecer legislações próprias para tratar os menores infratores são características de uma garantia fundamental, inerente às crianças e adolescentes, onde apenas eles fazem juz. A possibilidade de responder pela prática de infrações penais com base em legislação especial, diferenciada da que se aplica aos adultos, maiores de dezoito anos, ou seja, o Código penal é direito individual de todo adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional. E, portanto, matéria que não poderá ser abolida como se pretende nas propostas de emenda à constituição.61 Por fim, Correa explica que a intenção do constituinte ao separar os direitos e garantias das crianças e adolescentes daqueles relativos ao conjunto da cidadania foi garantir maior implementação e defesa. Ao dispor tais direitos em capítulo próprio, pretendia-se priorizar a implementação de políticas públicas e, portanto, por questão de coerência jurídicoconstitucional, o legislador constituinte não iria deixar tais dispositivos ao desabrigo do artigo 60, §4º, IV da Carta Suprema.62 5 CONCLUSÃO No Brasil o critério para determinar a idade penal é biológico. Isto não significa que o indivíduo de dezessete anos não tenha capacidade de discernimento para compreender a ilicitude de suas condutas. Busca-se estabelecer um critério objetivo para garantir a segurança jurídica no ordenamento brasileiro, uma vez que a lei é abstrata, sendo aplicável a todos, não podendo haver distinção de idades para cada indivíduo através de sua capacidade de discernimento. No entanto, como demonstrado neste estudo, a maioridade penal definida pelo artigo 228 enquadra-se nos conceitos de direitos e garantias individuais, sendo merecedor da proteção conferida pelas cláusulas pétreas. Portanto, é manifesta e indiscutível a inconstitucionalidade de qualquer proposta que modifique, no sentido a diminuir, o sistema constitucional que reconhece prioridade e proteção especial a crianças e adolescentes. As Propostas de Emendas Constitucionais atualmente em tramitação no Congresso Nacional, bem como outras que por ventura venham a ser apresentadas e que versem sobre a redução da maioridade penal, já nascem maculadas de ilegalidade, pois como ensina Vicente Paulo ao discorrer sobre as cláusulas pétreas: Apresentada uma proposta de emenda cuidando de uma daquelas matérias, deve-se perquirir se há, em decorrência de seu texto, uma “tendência” à abolição, à supressão, ao enfraquecimento das referidas matérias. Se houver, padecerá a proposta de inconstitucionalidade.63 Portanto, na ótica jurídica, diminuir a maioridade penal em atendimento ao anseio social, ao contrário do que se espera, apenas trará insegurança jurídica para a sociedade que 61 UNICEF. Porque dizer não à redução da idade penal. Disponível em: <http://www.mpdft.gov.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Diversos/estudo_idade_penal_completo.pd f>. Acesso em: 04/05/2013. 62 CORRÊA apud OLIVEIRA, Alice Álvares de. A inconstitucionaldiade da diminuição da maioridade penal e a sua ineficácia no combate à criminalidade. Brasília. 2010. 48 f. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília, 2010. p.40 63 PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. 23 não pode ter certeza de que seus demais direitos e garantias constitucionais serão respeitados pelos governantes, tal como declarou o Min. Carlos Velloso em seu voto que declarou inconstitucional a emenda nº 3 ao afirmar que "as reformas constitucionais precipitadas, ao sabor de conveniências políticas, não levam a nada, geram a insegurança jurídica, é lógico, portanto, que o constituinte originário desejando preservar sua obra, crie dificuldades para alteração..." 64 Importante destacar que, mesmo se fosse juridicamente possível, a redução da maioridade penal não resultaria na redução da delinqüência, uma vez que tal medida não atua na causa, mas tão somente nas conseqüências, servindo apenas como resposta aos apelos e pressões da sociedade. Segundo Bottini, a redução da maioridade penal não é a proposta mais adequada para a redução da criminalidade, pois, como afirma o autor Não existem dados que mostrem ser a aplicação da "pena de adultos" útil para reduzir o número de jovens infratores. (...) Estatísticas do Ministério da Justiça revelam que são cerca de 140 mil os presos de 18 a 24 anos, sendo esta a faixa de idade com maior representação nos presídios brasileiros. Ou seja, a aplicação do direito penal normal não impediu ações violentas por parte desses jovens. Ao contrário, os dados demonstram que a prática de crimes é maior nesta faixa do que entre aqueles que contam com 16 a 18 anos.65 O relatório de 2007 da Unicef “Porque dizer não à redução da idade penal” mostra que crimes de homicídio são exceção entre aqueles cometidos pelos menores “Dos crimes praticados por adolescentes, utilizando informações de um levantamento realizado pelo ILANUD [Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente] na capital de São Paulo durante os anos de 2000 a 2001, com 2100 adolescentes acusados da autoria de atos infracionais, observa-se que a maioria se caracteriza como crimes contra o patrimônio. Furtos, roubos e porte de arma totalizam 58,7% das acusações. Já o homicídio não chegou a representar nem 2% dos atos imputados aos adolescentes, o equivalente a 1,4 % dos casos.”66 Não se defende a impunidade ou aplicação de sansões leves aos menores infratores. Obviamente que infrator deve ser responsabilizado pelos seus atos. No entanto, a solução não é a repreensão, mas sim rever as políticas estatais para que possam gerar resultados eficientes e, por eficiente se entende evitar que o problema ocorra atuando na raiz. Tais medidas de natureza social, como a educação, têm demonstrado sua potencialidade para diminuir a vulnerabilidade de centenas de adolescentes ao crime e à violência. O Instituto Não Violência demonstra o mesmo entendimento “As pesquisas realizadas nas áreas social e educacional apontam que no Brasil a violência está profundamente ligada a questões como: desigualdade social (diferente de pobreza!), exclusão social, impunidade (as leis existentes não são cumpridas, 64 ÁVILA, Marcelo Roque Anderson Maciel. Da garantia dos direitos fundamentais frente às emendas constitucionais. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 57, 1 jul. 2002 . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/2991>. Acesso em: 28/03/2013. 65 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Menores infratores precisam de resposta adequada. Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-abr-13/pierpaolo-bottini-menores-infratores-resposta-adequada>. Acesso em: 04/05/2013. 66 UNICEF. Porque dizer não à redução da idade penal. Disponível em: <http://www.mpdft.gov.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Diversos/estudo_idade_penal_completo.pd f>. Acesso em: 04/05/2013. 24 independentemente de serem “leves” ou “pesadas”), falhas na educação familiar e/ou escolar principalmente no que diz respeito à chamada educação em valores ou comportamento ético, e, finalmente, certos processos culturais exacerbados em nossa sociedade como individualismo, consumismo e cultura do prazer.”67 Nos casos onde o estado falha na origem, deve fortalecer sua capacidade de habilitar o infrator para a vida social, como a internação em unidades menores e próximas à família onde terão apoio emocional. Aumentar a dispendiosa e inútil vala comum do presídio para adultos e segregar os jovens infratores no sistema carcerário, que atualmente encontra-se em situação degradante e alarmante, não irá “corrigir” o infrator, ao contrário, irá transformá-lo em um adulto ainda mais violento e retirar dele a chance de se reintegrar à sociedade. Tal fato foi comprovado por uma experiência realizada em 2007 nos Estados Unidos, onde os adolescentes que cumpriram penas em penitenciárias, compartilhando o cárcere com adultos criminosos, voltaram a delinqüir de forma ainda mais violenta e brutal se comparados àqueles jovens que foram submetidos à Justiça Especial da Infância e Juventude.68 Portanto, conclui-se que a redução da maioridade penal, além de ser uma medida juridicamente impossível por estar impregnada pelo vício da inconstitucionalidade, não teria qualquer eficácia no controle da delinqüência juvenil. 67 Instituto Não Violência. 10 razões porque somos contra a redução da maioridade penal. Disponível em: <http://www.naoviolencia.org.br/sobre-manifesto-projeto-nao-violencia.htm>. Acesso em: 04/05/2013. 68 UNICEF. Porque dizer não à redução da idade penal. Disponível em: <http://www.mpdft.gov.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Diversos/estudo_idade_penal_completo.pd f>. Acesso em: 04/05/2013. 25 A INCONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL Carlos Eduardo Machado PIRES69 Esp. Antônio Carlos Alves LINHARES70 Abstract: The aim of this article is to approach and to discuss reducing the legal age for criminal responsibility, based on the current crimes committed by minors in the country. In Brazil, the legal age for criminal responsibility is fixed to 18 years old, according to article 228 of the Constitution of Brazil. This work aims to analyze the impossibility, under a legal interpretation, of altering the Constitution of Brazil with the goal to lower the legal age for criminal responsibility, as it is considered indelible (irrevocable) clause. With this study, it comes to light that the solution the criminality committed by minors belongs to the effective presence of the Estate in assuring that the public policies are applied in order ensure full compliance of the constitution policies, the Penal Code and most importantly the Statute of the Child and the Adolescent, that protects the needs of minors. This scientific article was developed based on book references, law codes, newspapers and the Internet. Keywords: Age of criminal responsibility, Unconstitutionality; Indelible Clause; PEC; Criminal acts practiced by minors 69 Acadêmico do Curso de Direito da Universidade Católica de Brasília (UCB). E-mail: [email protected] 70 Professor Orientador, docente do Curso de Direito da Universidade Católica de Brasília (UCB). E-mail: [email protected] 26 REFERÊNCIAS Agência Estado. Ibope: maioria que redução da maioridade penal. Disponível em: http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2011/10/19/interna_nacional,256902/cni-ibopemaioria-quer-reducao-da-maioridade-penal.shtml. Acesso em 20/09/2012. ÁVILA, Marcelo Roque Anderson Maciel. Da garantia dos direitos fundamentais frente às emendas constitucionais. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 57, 1 jul. 2002 Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/2991>. BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Menores infratores precisam de resposta adequada. Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-abr-13/pierpaolo-bottini-menoresinfratores-resposta-adequada>. BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2010 BRASIL. Decreto nº 847 de 11 de outubro de 1890. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Roteiro de direito constitucional. 3ª Ed. Brasília: Editora Gran Cursos, 2010. FERNANDES, Vera Maria M. O adolescente infrator e a liberdade assistida. Rio de Janeiro:CBCISS, 1988 GOMES, Luiz Flávio. Menoridade penal: cláusula pétrea? Disponível em: http://www.ifg.blog.br/article. php?story=20070213065503211. Acesso em: 04/05/2010. Instituto Não Violência. 10 razões porque somos contra a redução da maioridade penal. Disponível em: <http://www.naoviolencia.org.br/sobre-manifesto-projeto-naoviolencia.htm>. Acesso em: 04/05/2013. MACIEL. Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo:Atlas, 2003. OLIVEIRA, Alice Álvares de. A inconstitucionaldiade da diminuição da maioridade penal e a sua ineficácia no combate à criminalidade. Brasília. 2010. 48 f. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília, 2010. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. PEREIRA. Tania da Silva. Direito da Criança e do Adolescente. Uma proposta interdisciplinar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Sistemas de garantias e o direito penal juvenil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008 27 TERRA, Eugênio Couto. A idade penal mínima como cláusula pétrea e a proteção do Estado Democrático de Direito contra o retrocesso social. Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. Disponível em <http://www.abmp.org.br//textos/1.htm> acesso em: 23 de março de 2013 UNICEF. Porque dizer não à redução da idade penal. Disponível em: <http://www.mpdft.gov.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Diversos/estudo_idade_penal _completo.pdf>. VERONA, Humberto. Redução da maioridade penal: eles perdem, o Brasil também. Correio Braziliense, Brasília - DF, 1º de março de 2013. Direito & Justiça, p. 2.
Download