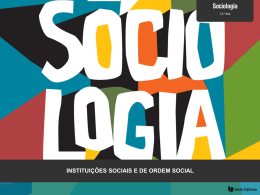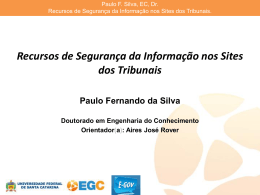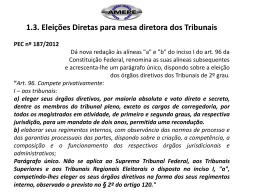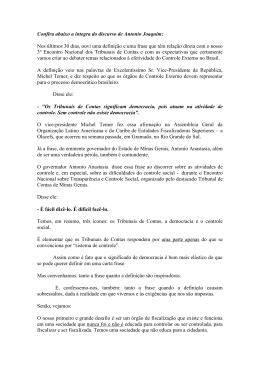Justiça, que tenho eu a ver com isso? Quando se ouve falar de justiça, o que imediatamente surge no espírito de cada um é “a justiça que temos”. Ou seja, a justiça que é feita ou não é feita pelos tribunais, aplicando leis emanadas do poder político. Porque, na verdade, há um serviço da justiça que o Estado deve proporcionar, há um sistema de justiça que estabelece os moldes em que o serviço deve ser prestado, há um aparelho de justiça que actualiza a prestação desse serviço, e onde se integram os chamados operadores da justiça: magistrados, advogados, funcionários, polícias, etc. Associada a esta ideia de justiça surge logo a palavra crise. Então, cada vez mais o nosso subconsciente colectivo faz da justiça um problema grave da sociedade, que importa resolver, e muito rapidamente. A justiça é tratada como o pior serviço prestado pelo Estado, e os magistrados descem vertiginosamente no que se diz serem as sondagens sobre a credibilidade das profissões. Já se fala há tantos anos de crise da justiça, e, aparentemente, são tão limitados os progressos feitos para a melhorar, que é legítimo perguntar se aquilo a que chamamos crise, não acaba por ser afinal o modo próprio da dita justiça funcionar. Ou então, ao falar-se da crise da justiça, com uma conotação de conjuntura, sempre interessava eleger a época que se considera como referência, e ver se, e porque é que as coisas estão pior. Mas adiante voltaremos necessariamente ao assunto. Ao lado desta realidade, é sem dúvida possível falar-se de outra, que não tem só, nem tanto a ver, com as exigências feitas ao Estado, sobre o funcionamento da justiça, mas com o contributo que cada um individualmente dá, para que as relações entre as pessoas sejam mais justas, e, indirectamente, para que a necessidade de recurso aos tribunais se mostre menos premente. Estamos habituados a ver a justiça como qualquer coisa que se pede. Mas é possível configurá-la como algo que se proporciona. Esquecemo-nos geralmente desta vertente. Assim, depois de uma passagem pela justiça que se solicita, pelos problemas que aí afloram e convém não escamotear, passaremos a abordar a justiça que podemos fazer. Portanto, o desafio individual que ela constitui, para cada um de nós, enquanto virtude. Justiça em benefício de cada um de nós, mas, também, justiça contributo de cada um de nós. A – A JUSTIÇA QUE SE PEDE Na perspectiva da justiça a que temos que recorrer, e que é o trabalho dos tribunais, qualquer abordagem tem que partir de uma constatação, qual seja a da inflação do judiciário. Importa que nos coloquemos numa perspectiva histórica, e, pelo menos a partir de 25 de Abril de 1974, os tribunais, pensados e organizados para tratar de certo número e tipo de casos, viram-se gradualmente a braços com um número exponencial de processos. Houve, em primeiro lugar, uma conjuntura política e social que proporcionou esse estado de coisas, e que teve que ver com a instauração do regime democrático. É evidente que quanto mais policial se apresentar um regime politico mais os conflitos se previnem. Pelo contrário, o maior exercicio das liberdades gera mais conflitualidade, porque esse exercício se faz acompanhar de um défice lamentável do sentido da responsabilidade, e portanto a autoridade do Estado será chamada a intervir, geralmente "ex post", e em sede de tribunal. Mais direitos, e melhor consciência deles, propicia maior recurso a tribunal. Por outro lado, a instauração do Estado-de-Direito democrático imporia sempre uma revisão do equilíbrio de poderes, a pender para o fortalecimento do judiciário. Não nos podemos esquecer de que é próprio de regimes autoritários o ascendente do executivo sobre os outros poderes, reservando-se os tribunais para a conflitualidade entre particulares, só, e nem toda a conflitualidade. Para além desta mutação política, toda a sociedade evolui num sentido que origina o aumento de pendências: A complexização crescente e rápida das relações sociais levou à regulação jurídica de áreas onde não era possível prever, antes, que surgissem conflitos. Vivemos numa época de tolerância e individualismo onde cada vez menos existem padrões éticos generalizadamente aceites, e à luz dos quais parte da conflitualidade poderia ser amortecida. O corpo normativo operativo passou a ser só o que se impõe a todos, igualmente, e pela força. Ou seja, o direito. Assim, a conflitualidade que se ultrapassava antes informalmente é transformada em litigiosa. A sociedade do bem estar dispõe ou quer dispor de serviços para resolver todos os seus problemas. O serviço do judiciário passou a ter procura banalizada. Tal como acontece com certos comités de ética os juizes vêemse, cada vez mais, a ter que se assumir como uma espécie de consciência moral substitutiva. Tudo isto é patente por exemplo no domínio do direito de família. Mas não se julgue que a inflacção de processos se restringe ao domínio privatístico. A actividade do poder legiferante e da Administração são elas também questionadas em tribunal. A actividade política é cada vez menos orientada por ideologias e cada vez mais pragmática e competitiva. Nas nossas democracias, a gestão da coisa pública não pode perder de vista o trabalho das oposições, os escrutinios eleitorais seguintes, e sobretudo, a influência dos meios de comunicação. Há uma procura de equilíbrios e consensos que nem sempre permite a prossecução de objectivos de longo prazo. Os administrados, por outro lado, sentem algum desinteresse pela coisa pública e vêm o poder só como sistemático destino de reivindicações, o que é mau. Por isso é que o Estado-de-Direito surge cada vez mais como um Estado de garantia judiciária, o que é muito mau. Levando este estado de coisas ao limite, chegar-se-ia ao retrato de Antoine GARAPON sobre a realidade francesa, segundo o qual já não é tanto a observância da lei pelo poder que funciona como garantia dos administrados. Estes vão-se conformando com o facto de, pelo menos, poderem recorrer a uma instância independente, onde façam valer aquilo que consideram as promessas não cumpridas, da democracia. Segundo aquele autor, e no tocante à democracia francesa, os tribunais transformaram-se nos locais da exigibilidade, e os magistrados nos guardiões das promessas daquela democracia. Será que a inflação do judiciário responde, só ela, pela tão apregoada crise? É evidente que o sentimento de crise da justiça é entre nós um dado sociologicamente irrefutável. Independentemente da atribuição de causas, das incorrecções de análise, e até do papel da comunicação social em tudo isto, é certo que os cidadãos estão mesmo insatisfeitos. Essa insatisfação não é uma ilusão, embora possa corresponder a uma ideia induzida, ou a um sentimento de contornos pouco claros. Mas, a primeira pergunta que cumprirá fazer é a da dimensão da crise. Importa apurar se a dita crise da justiça é só de hoje e, na negativa, porque é que dela se fala agora como nunca antes tinha ocorrido. De um lado podemos ter a experiência pessoal de alguém cujo caso em tribunal positivamente "não anda". Também pode haver a constatação de que tais casos pessoais se vão generalizando assustadoramente. Mas, como realidade diferente, há uma convicção pessoal da crise que se vai comunicando, crise que se não viveu, e cujos contornos reais se podem desconhecer com precisão. Porque a dimensão da crise, enquanto grau de insatisfação, também pode ser manipulável. Ora, não pode esquecer-se que a insatisfação com a prestação dos tribunais pode representar o sintoma de um acréscimo da qualidade material de vida. Assistimos hoje de um modo geral, e felizmente, ao abaixamento do grau de tolerância às injustiças. Há mais direitos e maior consciência deles. Há um maior poder reivindicativo, pelo menos de certos grupos, já o dissémos. Mas há, sobretudo, a verificação de uma regra que também no campo da justiça se aplicará: quanto menos um mal existe mais custa suportar a que dele resta. Ocorre ainda um fenómeno novo: os casos de justiça são notícia. E, sobretudo, os casos de justiça penal passaram a ser frequentes nos órgãos de comunicação social. Como é bom de ver, os crimes mais noticiados são geralmente os que envolvem figuras com notoriedade pública, que podem ter uma investigação mais complexa, e em que se esgotam todas as possibilidades processuais, com o consequente protelamento do processo. Esses são os processos de que se fala, e os processos de que mais se fala são os processos que mais demoram. Só que dos milhares de processos que têm um tempo de duração razoável, e todos os dias terminam nos nossos tribunais, pouco se diz, porque obviamente não são notícia. Acresce que, na sociedade em que vivemos, há um constante apelo à aquisição de mais e mais bens de consumo. Uma consequência disso é que muitas pessoas vivem acima das sua possibilidades. Não se pode exigir que as pessoas renunciem a padrões de bem estar, relativamente altos, que todos os dias nos oferecem como se fossem perfeitamente acessíveis. O recurso ao crédito é uma saída incentivada por fornecedores de bens e serviços, os quais acabam, frequentemente, por recorrer, eles, ao tribunal, para cobrar as suas dividas. O que dá origem à chamada litigância de massa, responsável por muitos problemas dos nossos tribunais cíveis. Ao lado das queixas contra o serviço da justiça lento, há também um conjunto de razões intrínsecas ao funcionamento da justiça que levam o cidadão a estranhar, a desconfiar, e finalmente a rejeitar, o modo de proceder nas coisas da justiça. Entrámos no século XXI imbuídos de uma cultura de eficácia e sobretudo de rapidez. A produção de bens e serviços está dominada por uma mentalidade científico-tecnológica. E assim nos fomos habituando a exigir precisão, previsibilidade e meios de controlo. Familiarizámo-nos com a mecanização de procedimentos e portanto com a uniformização de procedimentos. Ora, o que é que se observa quanto ao modo de proceder dos tribunais? 1. Assiste-se à produção de decisões que formam uma juris prudência, não uma juris ciência. Está-se portanto perante um tipo de rigor completamente diferente do rigor matemático ou da ciência em geral. 2. Assiste-se a uma certa dose de imprevisibilidade quanto ao conteúdo das decisões, e dai a expectativa em que se encontram normalmente os interessados, ou quem acompanha um processo. A decisão jurisdicional não depende só dos conhecimentos de quem a profere. Quem julga é uma personalidade viva com um passado e uma mundividencia, que se investe todo ele na decisão. Não uma máquina que debita soluções para problemas, a partir dos dados que lhe são fornecidos. 3. Assiste-se a uma forma de controlo nos tribunais que também é própria. É que os tribunais são órgãos sujeitos a uma fiscalização levada a cabo, substancialmente, do interior do próprio sistema. As decisões dos tribunais impõem-se, como se sabe, a todos os outros órgãos de soberania, e as decisões que proferem só podem ser fiscalizadas, por via de recurso, através de outros tribunais. Acresce que o escrutínio do trabalho dos magistrados é feito por outros magistrado. 4. No limite, o controle das decisões desemboca no controle sobre o poder dos magistrados, poder que não é obtido directamente pelo voto, e, em termos democráticos, tão só indirectamente legitimado. Daí que, embora entre nós não haja uma verdadeira alternativa a este estado de coisas, nem sempre o poder dos tribunais é aceite facilmente, sobretudo se se sobrepõe a decisões de órgãos eleitos, ou está em causa o julgamento de titulares de cargos, para os quais foram eleitos democráticamente. 5. Nos nossos tribunais perduraram durante tempo demais métodos ultrapassados. Escusado será dizer que o tempo e o espaço, na sua correlação estreita, encurtaram em todo o lado. Há menos tempo para tudo e as distâncias ficaram próximas. Durante décadas, os tribunais não acompanharam essa evolução. Acordou-se tarde, mas ainda bem que se acordou, pelo que a chamada falta de celeridade das instâncias judiciárias é hoje uma preocupação sincera a que se procura pôr cobro. 6. Mas a justiça pode causar ainda, perplexidade, quanto ao seu funcionamento interno, porque não acompanhou a simplificação de rituais, o apagamento das distâncias entre as próprias pessoas, e, até, a dessacralização da sociedade. O funcionamento da justiça, sobretudo no tocante à audiência, mantém conotações cénicas, ou de um autêntico cerimonial litúrgico. A justiça acolhe procedimentos cheios de cargas simbólicas. No ritualismo e no simbolismo cria-se distância e a distância é em muitas situações funcional. Só que isso nem sempre é compreendido. Tecidas todas estas considerações, e a terminar, importa ver na crise da justiça sobretudo uma crise de celeridade. Independência dos juízes e autonomia do MºPº, imparcialide, competência e acessibilidade são exigências de um correcto exercício da justiça que não têm sido objecto de críticas de maior. Do que as pessoas se queixam é de que os processos demoram tempo demais. Têm razão, e por isso aí se tem procurado combater a tão propalada crise. B – A JUSTIÇA QUE SE PROPORCIONA. Ao lado daquilo que o Estado nos deve dar, como serviço público da justiça, está aquilo que eu posso fazer, em múltiplos sectores da minha actuação, em prol da justiça. Porque se todos nós podemos ser vítimas de injustiças, também podemos ser causadores de injustiças, e, na medida em que o procuremos evitar, pelo menos damos um contributo para que haja menos processos nos tribunais. Assume então importância para cada um de nós, como regra de actuação, a justiça enquanto virtude moral. Começemos então por uma breve reflexão sobre a mesma. A justiça pertence á ordem das realidades que funcionam para o homem como critério de acção. Ou seja, pertence antes de mais nada ao mundo dos valores, e é, dentro destes, uma virtude moral. Curiosamente, das quatro virtudes chamadas cardeais, enunciadas já por Platão e adoptadas no Cristianismo, ela é, ao lado da prudência, da temperança (ou moderação) e da coragem (ou fortaleza), a única que vale absolutamente. A única que nunca peca por exagero, e, além disso… não pode estar ao serviço do bem ou do mal. Está ao serviço de si própria. Sempre e só. Piaget estudou a evolução do sentido de justiça na criança, e chegou à conclusão de que até cerca dos 7, 8 anos, para a criança, a justiça identifica-se com a autoridade parental. Até perto dos 12 anos, a justiça é sinónimo de igualdade, sem excepções, mas, a partir dessa idade, passa a ser encarada como uma virtude que toma nota do caso concreto, se aproxima, pois, da equidade, e conta com uma componente de racionalidade. Todos temos a experiência de reagirmos à actuação de cada qual, considerando que ela não é justa. E no fundo, essa reacção derivará de se não ver explicação, ou motivos, para que se tenha estabelecido uma diferença. Isto significa que há uma primeira abordagem da justiça que assenta da verificação de uma igualdade de tratamento. O mesmo é dizer, que o sentimento de injustiça será desencadeado por situações de desigualdade, para que se não veja uma explicação razoável. Paralelamente, uma outra noção de justiça coincide, simplesmente com a de observância do direito. E não é raro que estas duas acepções se vejam confundidas. É o que acontece sempre que reagimos, dizendo espontaneamente "não há direito!" sem ter no espirito, obviamente.. qualquer norma jurídica. Como refere COMTE-SPONVILLE "A justiça joga-se completarnente neste duplo aspecto, da "legalidade", na cidade, e da "igualdade" entre os indivíduos". Ou, como milhares de anos antes afirmava ARISTÓTELES, "O justo é o que está em conformidade com a lei e respeita a igualdade". Mas falamos aqui de igualdade de tratamento, e não obviamente igualdade de facto, ou de características, embora as duas acepções tenham entre si uma ponte. Existe uma igualdade de facto entre todos os homens, com o sentido de que os homens normais, num certo núcleo essencial, são iguais. A igualdade de "características" basta-se portanto com uma certa dose de similitude, e não aspira à coincidência das características das pessoas. Aconteceu porém que, para além disso, mas também por isso, se estipulou que todos os homens deviam ser tratados como iguais. Deviam ser tratados, o que significa que se abandonou o terreno descritivo, ou de realidade, e se deu o salto para o âmbito axiológico, se quisermos, normativo. O tratamento "como igual" socorre-se do princípio, também ele normativo, da igual dignidade da pessoa humana. Ancorados naquela similitude fáctica reputada suficiente, e que une os homens todos, a moral e o direito adoptaram o conceito operativo de "igual dignidade humana", o qual acaba por funcionar, simultaneamente, como inspiração e limitação. Tanto para o legislador ou para o aplicador do direito, como para o cidadão em geral. Poderia eleger-se como primeira máxima do justo que cada um obtenha o que lhe for devido. Mas o que é que é devido a cada um? Nada, numa perspectiva de puro estado de natureza. Leia-se, sem as implicações de sociabilidade humana. Como diz SPINOZA na sua Ética "Não há nada na natureza que possa ser considerado coisa de um ou outro mas tudo pertence a todos; portanto, no estado natural não se pode conceber nenhuma vontade de atribuir a cada um o seu, ou de tirar a qualquer um o que lhe pertence; isto é, no estado natural não há nada que possa ser considerado justo ou injusto". Quer como virtude moral a conduzir o relacionamento de indivíduo para indivíduo, quer como ideal organizativo da sociedade, a justiça pressupõe alteridade em termos humanos, pressupõe vida em sociedade, e pressupõe cultura portanto. A justiça é uma decorrencia da sociabilidade que atribui o poder de exigir comportamentos, e impõe deveres ou obrigações. Obrigação vem do latim “obligatio”. “Ob” é um prefixo que significa “o que está em frente de”, a que se junta o termo “ligatio”, ligação. A sociedade liga-nos ao semelhante e a essa ligação chamou-se obrigação. Ao procurar ser justo, posso encontrar-me numa relação de cidadão para cidadão, ou de particular para particular. Fundamental, é não prejudicar o semelhante evitando um mal que ele não tem que suportar, ou reparando o mal que o fiz suportar. Estamos no domínio da justiça chamada comutativa, do “alterum non laedere” dos romanos. Mas posso ser membro de uma comunidade, (organizada em Estado, numa empresa, ou como família), e, enquanto tal, ficar investido de um poder específico, portanto numa posição hierárquicamente superior. Caber-me-á então, mais específicamente, e no âmbito das minhas competências, dar a cada um o que lhe é devido. Fala-se aqui da justiça distributiva, do “suum quique tribuere” Finalmente a relação comunidade - indivíduo pode estabelecer-se, tanto desta para aquele, como no sentido inverso, do cidadão para com a comunidade em que se integra. Se essa comunidade se organiza em Estado e produz normas, a realização da justiça é inseparável da mediação do direito. Assim, o que se pede ao cidadão como contributo para a realização da justiça é sem dúvida o respeito pelas leis que lhe impõem comportamentos. Muitas vezes justificamos a nossa desobediência à lei alegando que ela é injusta. Mas, também geralmente, arvoramo-nos em críticos da lei, sem uma visão global dos interesses em jogo e só centrados na conveniência própria. Mais do que um convite à insurreição, a lei considerada injusta convida é à sua substituição, o que, nos regimes democráticos de hoje se socorre de mecanismos próprios. Já os romanos falavam, a propósito deste ponto, do “honeste vivere”. Claro que não é possível proceder agora à análise das áreas em que, sociológicamente, o desprezo pela lei e a indiferença pelas situações de injustiça que criamos, são mais alarmantes. Todos as conhecemos. No domínio privatístico, basta pensar na responsabilidade civil por acidentes de viação. Tudo por causa da forma desastrada como conduzimos nas nossas estradas, por causa da autêntica banalização em que se caiu, do desrespeito generalizado do Código da Estrada. Em matéria de dívidas, o “compre agora e pague depois” é cada vez mais um “compro agora e pago se puder”, com as inerentes consequências. No domínio das relações de família, as situações de violência saltam à vista. Interessa porém estar também atento à simples prepotência e à discriminação, mais ou menos encapotadas, e de que é vítima, no seu seio, o elo mais fraco. Pense-se no que se passa em matéria de concursos públicos com os favorecimentos indevidos, com a fuga escandalosa ao fisco, com os empenhos, o tráfico de influências, a corrupçãozinha a que sistemáticamente se fecha os olhos. Deixo de lado toda a problemática da insensibilidade social dos patrões, do absentismo e falta de produtividade dos trabalhadores, ou da distibuição da riqueza, em geral, que respeitam à justiça social. Claro que a conflitualidade não vai desaparecer, mas pode ser minorada. - Todos somos portadores de personalidades diferentes e todos nos queremos livres. - Alguns têm uma vontade de domínio que pode ser transformada, diria mesmo, sublimada em poder legítimo, e que no limite deveria confundir-se com “serviço”. - Todos temos sentimentos egoístas, mais ou menos frequentes, e para os combater é preciso esforço. - Há quem tenha necessidades escandalosamente por satisfazer, e, face à escassez dos bens, reclama partilha. Como, com tudo isto, os conflitos não há-de nunca deixar de acompanhar a convivência entre humanos, então, a pergunta a fazer, é como vencer esses conflitos que existirão sempre, mas pagando, todos nós, o menor preço. - Claro que a conflitualidade se ultrapassou, historicamente e em regra, com recurso à força. Por essa via, os mais fortes dominam os mais fracos, ficando a sociedade mais ou menos próxima da lei da selva. Nesse estado de coisas não há valores, normas, justiça, etc. Só que a lei do mais forte não caracteriza propriamente uma convivência humanizada, civilizada, para já não dizer cristianizada. E não é em retrocessos que estamos propriamente interessados. - Claro que os conflitos têm que continuar a ser ultrapassados, evitando-se o confronto directo entre os descontentes, e apelando para a decisão de um terceiro que é em regra um tribunal. Estamos a falar do tal serviço de justiça que se pede ao Estado. - Mas não tenhamos dúvidas de que o sistema de justiça estará sempre aquém do que é necessário para resolver todos os conflitos da sociedade. Em primeiro lugar, porque só se ocupa de violações de normas jurídicas e muitos dos conflitos surgem por outras razões. Em segundo lugar porque, mesmo no campo do direito, nunca a oferta dos tribunais poderá acompanhar uma procura que está constantemente a crescer. Parece então indispensável que a conflitualidade se previna, e que quando surja se possa resolver por composição de interesses. Se procurarmos ser mais justos nas nossas próprias relações os avanços serão um facto. É esta a justiça que podemos proporcionar. Será tudo? Poder-se-á ir bem mais longe, se instalarmos e aperfeiçoarmos uma cultura que preze, antes do mais, uma convivência não só pacífica mas sobretudo solidária. Uma cultura que seja de concórdia (não forçosamente de concordância), e de fraternidade. Liberdade todos a querem. Igualdade todos a defendem. Na fraternidade pouco se fala. E no entanto… Pedindo-se alguma renúncia a todos, acabam por se obter vantagens para o maior número. Com o sacrifício razoável da liberdade de cada um, estarão criadas as condições para a felicidade possível de todos os demais. Curiosamente, Portugal apresenta-se como um país que se reclama da religião católica em termos altamente maioritários. E no entanto, se os princípios ditos evangélicos fossem levados à prática, por certo que a conflitualidade diminuiria, e talvez houvesse menos necessidade de recorrer aos tribunais. Talvez que se não sentisse tanto a propalada crise da justiça. “Krisis”, para os gregos, significava pensamento, e mais concretamente pensamento crítico. Um pensamento crítico sobre a justiça, nas duas acepções apontadas, é uma óptima oportunidade para que se progrida, em coerência com os princípios de que nos reclamamos. Lisboa, 21 de Maio de 2009 José Souto de Moura Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa Igreja de São Roque Largo Trindade Coelho – 1200-470 Lisboa Instituição • Órgãos Sociais • Serviços à Comunidade • História • Heráldica • Loja • Contactos Website desenvolvido por @dminsaúde
Baixar