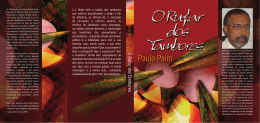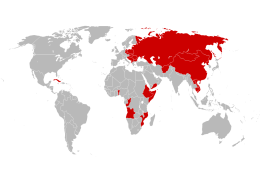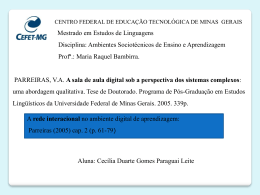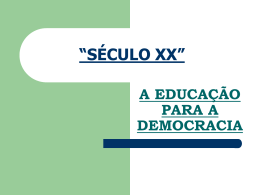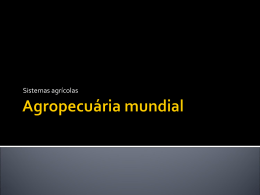SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – IDEOLOGIA E ESTRATÉGIA Paulo Kramer Membro do Centro de Pesquisas Estratégicas “Paulino Soares de Sousa”, da UFJF. Pesquisador do Instituto de Ciência Política, Universidade de Brasília, Ipol/UnB. Assessor Parlamentar. [email protected] Introdução Recentemente, uma das maiores animadoras do movimento intelectual e político, dos anos 70 e 80, conhecido como Reforma Sanitária, que daria origem ao Sistema Único de Saúde (SUS), esboçou a seguinte autocrítica referindo-se a si mesma e aos seus companheiros de militância: [S]e nós conseguimos ser uma vanguarda na democratização para ter um sistema público que garanta direitos, mas que não funciona, nós estamos contribuindo fortemente para a desmoralização da democracia e da coisa pública. E isso é culpa nossa. Então, nos temos que fazer funcionar, essa devia ser a meta do sistema como um todo. Tem que funcionar, se não funcionar, fecha; mas não deixa uma coisa fingindo que está funcionando e deixando a população sofrer, porque não tem capacidade de funcionar. Se for pra ter, que funcione bem. E mais adiante: [...] Só a participação no sistema não dá conta. Nós não avançamos nada na democratização das unidades. Garantimos o direito, garantimos que o cidadão pode participar, mas quando ele chega no hospital ele é tratado como um não-cidadão, e onde é que ele pode reclamar? Não existem ali formas de participação, de reclamação para as garantias dos direitos na entrada do sistema e na sua utilização. (1) Prenunciado no art. 196 da Constituição Federal de 1988 com o grandiloqüente slogan “A saúde é direito de todos e dever do Estado”, o SUS, seria institucionalizado, pouco tempo depois, pelas leis 8.080 (Lei Orgânica da Saúde) e 8.142, ambas de 1990. À época de sua criação, o sistema foi celebrado como o coroamento de uma longa mobilização dos intelectuais das áreas de ensino e pesquisa de saúde pública e dos seus aliados no movimento sindical médico, visceralmente antagônicos à presença de interesses empresariais privados no setor e, com a mesma intensidade, favoráveis da participação ampla dos trabalhadores e usuários do sistema em sua gestão. Hoje, como deixa entrever o depoimento insuspeito de uma de suas veteranas mais entusiásticas, aquela utopia de vanguardas acadêmicas e sindicais virou um pesadelo de péssimo atendimento, sujeira infecciosa, precariedade material, filas intermináveis, greves idem e abandono generalizado, o que desmoralizam a imagem dos órgãos governamentais de assistência à saúde e inferniza a vida, quando não acelera a morte, de tantos brasileiros que, sem renda para contratar planos e seguros privados, acorrem aos postos e hospitais públicos, ou aos seus equivalentes filantrópicos, da rede do SUS. O presente ensaio procura lançar um pouco de luz na ideologia, nos atores e na estratégia que produziu esse desastre, numa contribuição para a análise política e a cobrança de responsabilidades, requisitos indispensáveis à correção dos rumos da política pública de saúde no Brasil. Este trabalho se divide em duas partes principais. Na primeira, proponho um marco teórico para possibilitar a compreensão da desconfiança, do ressentimento e da hostilidade que costumam caracterizar as atitudes intelectuais em relação ao capitalismo – regime econômico em que as decisões sobre alocação de recursos se acham predominantemente sob a responsabilidade de empresas privadas concorrentes entre si no mercado – e aos seus dois correlatos históricos: o liberalismo e o sistema democrático representativo. Na segunda parte, procuro aplicar essa perspectiva à reconstituição de alguns dos momentos mais marcantes do processo de formulação e implementação da agenda do segmento de intelectuais ativistas comprometidos com a Reforma Sanitária e seu desdobramento no Sistema Único de Saúde. Concluo este ensaio com uma modesta proposta voltada a minorar o apagão da saúde pública no Brasil mediante uma nova parceria com o setor privado, sem, no entanto, desconsiderar as enormes resistências ideológicas, políticas, burocráticas que qualquer iniciativa nesse sentido fatalmente suscitará. PARTE I – Intelectuais versus economia de mercado, sociedade liberal e sistema representativo I.1 – O papel dos intelectuais na deslegitimação ideológica e política do capitalismo segundo Schumpeter e outros pensadores liberais Além de suas imortais contribuições à ciência econômica (expressas em conceitos como o do “empreendedor”, pioneiro das inovações que dinamizam a concorrência, ou o da “destruição criativa”, fruto dessa mesma concorrência incessante, graças à qual o capitalismo se transformou na maior ‘máquina’ produtora de riqueza e conforto da história humana), o pensador austríaco Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) empreendeu fecunda incursão no terreno da sociologia política com a obra Capitalismo, socialismo e democracia (ou CSD), cuja primeira edição, em inglês, data de 1942, quando o autor já se havia transferido para os Estados Unidos, lecionando em Harvard. (2) Nesse livro, em meio a uma série de insights valiosos – a exemplo da definição ‘realista’ da democracia contemporânea como sistema político em que líderes de máquinas partidárias burocratizadas entram em competição eleitoral oligopólica pela aquiescência de massas despolitizadas –, Schumpeter aponta a fatal insuficiência do capitalismo para legitimar-se moralmente perante o mesmo público beneficiário da afluência que a economia de mercado produz. Os fatores componentes desse déficit de legitimidade são variados e complexos, e faltam-me tempo e espaço nos limites do presente ensaio para comentá-los pormenorizadamente. Portanto, satisfaço-me aqui – e faço votos de que o leitor insatisfeito se volte diretamente para a leitura da obra schumpeteriana – com o seguinte resumo do 13º capítulo (“Growing hostility”, pp. 143-155) de CSD. Historicamente, o desenvolvimento do capitalismo fomentou uma atitude experimental, racional e crítica que acabaria se voltando contra ele mesmo, depois de haver corroído a sacralidade de dogmas e instituições muito mais antigos. Assim, “o burguês [empresário capitalista] descobre, para a sua surpresa, que a atitude racionalista não se detém nas credenciais de reis e papas, mas prossegue atacando a propriedade privada e todo o sistema de valores burguês” (3) Schumpeter chama atenção para este aparente paradoxo: não importa que essa atitude crítica tenha sido gerada pelo racionalismo utilitário que o capitalismo tanto contribuiu para difundir, juntamente com a riqueza e o bemestar, colocando-os ao alcance de um número inédito de trabalhadores e inflando os contingentes da classe média; os ataques políticos à civilização do capitalismo liberal, por apresentarem um forte substrato emocional e, portanto, irracional, não podem ser refutados pela razão. Em suas palavras, a racionalidade capitalista não acaba com os impulsos sub ou supra-racionais. Ela apenas os deixa fora de controle ao remover as restrições [impostas pela] tradição sagrada ou semi-sagrada” (4) Depois, as ‘promessas’ do capitalismo só podem ser plenamente cumpridas a longo prazo. Assim, é o próprio utilitarismo imediatista dos pobres e dos seus representantes políticos que os leva a se impacientar com a situação atual e a identificar os interesses do capitalismo exclusivamente com os da alta burguesia. Ademais, como o capitalismo é “constitucionalmente incapaz” de gerar “adesão emocional” (grifo de Schumpeter) à ordem social que produz, isso o torna alvo fácil das amarguras e contrariedades que se abatem sobre o cotidiano do comum dos indivíduos. (5) Some-se a isso o contraste perturbador entre as expectativas sempre crescentes das massas quanto ao seu padrão de vida sob o capitalismo, de um lado, e as instabilidades e incertezas inerentes ao processo de destruição criativa, de outro, e se obterá um quadro convincente dos riscos políticos que rondam o regime concorrencial de propriedade privada. Nesse clima de opinião, sempre segundo Schumpeter, os intelectuais sobressaem como os catalisadores por excelência do descontentamento generalizado com a ordem capitalista. A esta altura, ele tenta, a meu ver sem grande sucesso, ser preciso no tocante à questão: quem pode/deve ser classificado como intelectual? Resposta: os intelectuais não podem ser simplesmente definidos como o somatório das pessoas que receberam educação de nível superior; isso passaria por cima das mais importantes características do tipo. Porém, quem quer que a tenha recebido – e, com exceção de casos excepcionais, ninguém que não tenha – é um intelectual em potencial; e o fato de que suas mentes são todas similarmente equipadas facilita a compreensão entre eles e constitui um vínculo. Tampouco serviria ao nosso propósito identificar o conceito com a filiação às profissões liberais; médicos e advogados, por exemplo, não são intelectuais no sentido relevante [da palavra] a menos que falem ou escrevam sobre assuntos fora de sua competência profissional, o que, sem dúvida, eles fazem freqüentemente – em especial os advogados. Ainda assim, existe uma estreita conexão entre os intelectuais e as profissões, pois algumas [grifo do autor] profissões – especialmente se incluímos o jornalismo – realmente se encaixam quase por inteiro no domínio do tipo intelectual; e muitos intelectuais voltam-se para alguma profissão como meio de vida. (6) E, logo em seguida, fixa-se Schumpeter no critério distintivo da mobilização de argumentos via palavra falada ou escrita sob uma perspectiva crítica, ou pior, criticista no limite da inconseqüência: “De fato, os intelectuais são pessoas que manipulam o poder da palavra falada e escrita, e um dos traços que os distinguem de outras pessoas que fazem o mesmo é a ausência de responsabilidade direta por assuntos práticos [...] Profissão de amadores? Diletantismo profissional? Gente que fala de tudo porque não entende de nada? [...]” (7) O rótulo de “forjadores de palavras” oferecido pelo filósofo liberal de Harvard Robert Nozick (1938-2002), cuja obra mais conhecida é Anarquia, Estado e utopia, de 1974, (8) parece-me útil para sair da obscuridade deixada pela definição predominantemente negativa (e irônica) de Schumpeter. De saída, tal como ele, Nozick não entende por intelectuais todas as pessoas inteligentes com certo grau de instrução, mas aquelas que, por vocação, lidam com as idéias, se expressam em palavras, moldando o fluxo de palavras que os outros recebem. Esses forjadores de palavras incluem poetas, romancistas, críticos literários, [mais uma vez] jornalistas e numerosos professores [...] Não incluem aqueles que primordialmente criam e transmitem informação formulada de maneira quantitativa ou matemática (os forjadores de números) ou os que trabalham com meios visuais, pintores, escultores, câmeras [sic]. (9) Mas Schumpeter está de volta com outra pergunta: será que os intelectuais constituem uma classe distinta das outras que compõem a sociedade capitalista? Em termos: de uma parte, sim, em razão dos interesses e da linguagem que eles tendem a desenvolver e compartilhar; de outra, não, em face da sua tendência a atuar como “procuradores” (10) – ou vanguardas, enfim, como representantes quase sempre autodesignados – de outras classes e grupos sociais. (A esse respeito, lembro a famosa posição defendida pelo líder da Revolução Bolchevique de 1917, na Rússia, V. I. Lênin (1870-1924) em sua obra Que fazer?, de 1902, que confia a direção do movimento revolucionário do proletariado a um partido marxista comandado, basicamente, por quadros intelectuais radicalizados de origem pequeno-burguesa ou mesmo burguesa: Lênin desconfiava dos instintos conservadores dos sindicalistas de genuína extração operária, por considerá-los propensos ao acomodacionismo político em troca de concessões patronais, destinadas tão-somente a aliviar a situação material dos trabalhadores dentro do capitalismo...) Schumpeter prossegue assinalando o contraste entre, de um lado, o rígido controle social e o isolamento político impostos aos intelectuais nas sociedades pré-capitalistas e, de outro, a ampla liberdade de que desfrutam sob a ordem capitalista liberal, que, “diferentemente de qualquer outro tipo de sociedade [...] inevitavelmente e em virtude da própria lógica da sua civilização cria, educa e subsidia um interesse investido na inquietação social” (11) Sem dúvida, a invenção da imprensa e sua rápida difusão, associadas à expansão da riqueza e ao sucesso do combate aos entraves da tradição, criaram um mercado para a desenvolta atuação do intelectual, que, assim, puderam desembarcar de sua velha dependência exclusiva do mecenato proporcionado por um punhado de nobres e mercadores opulentos, para se transformar, a um tempo, em ‘servidores’ e ‘orientadores’ da opinião pública nascente, seu novo “patrono coletivo”. (12) Tudo isso acarreta uma situação que, a seu ver, torna impossível suprimir a liberdade intelectual na sociedade burguesa sem destruir as demais liberdades, inclusive aquela que fundamenta o direito à propriedade privada, mesmo porque a grande imprensa – que, hoje em dia, passados mais de 60 anos da primeira edição de CSD, abrange não apenas a indústria de editoração de jornais, revistas e livros, mas também as redes de TV/rádio e os portais de informação e entretenimento na internet – forma entre os maiores interesses capitalistas. (13) Mas, a democratização da educação em todos os níveis, se, de uma parte, multiplicou a demanda pelo trabalho intelectual nos termos aqui definidos, de outra também provocou, muitas vezes, excessos de oferta. E ao olhar schumpeteriano não escapam as implicações políticas desse desemprego (ou subemprego) estrutural, fonte de frustrações para quem um dia alimentou o sonho de ascender socioeconomicamente via diploma e credenciais educacionais. O mal-estar decorrente das imperfeições reais ou imaginárias da civilização capitalista fornece matéria-prima cultural rapidamente moldada, racionalizada e difundido pelo discurso das legiões de um baixo clero (a expressão é de Napoleão Bonaparte) formado em especial por professores e jornalistas que invadem os sindicatos e engrossam os movimentos de trabalhadores assumindo a tarefa de verbalização das reivindicações destes setores adicionando-lhes um ‘molho’ radical. A conquista do poder do Estado para derrotar a burguesia, de preferência em substituição às camadas burocráticas tradicionais, mas, quando necessário, em aliança com elas, torna-se sua prioridade, objetivo estratégico, obsessão primeira e última. Imaginam, desse modo, haver descoberto a pedra filosofal da fusão entre os interesses históricos das classes exploradas e oprimidas e os do seu grupo de porta-vozes vocacionais. (14) Com a finalidade de enriquecer e atualizar a perspectiva crítica schumpeteriana, passo a comentar as observações de dois outros pensadores liberais, o já referido filósofo americano Robert Nozick e o sociólogo francês Raymond Boudon, que, em suas respectivas searas, revelam-se herdeiros à altura do virtuosismo do economista austríaco em desmascarar os desmascaradores. No artigo que há pouco citado, Nozick sublinha a aparente “anomalia” estatística contida no fato de que, conforme pesquisas de opinião realizadas nos países desenvolvidos (ou melhor, capitalistas), os intelectuais se situam em termos políticos e ideológicos, à esquerda de outros “grupos de status socioeconômico comparável, opondo-se ao capitalismo com uma freqüência e uma intensidade significativamente maiores que as reveladas por outros segmentos equivalentes. Depois de mostrar que não são queixas racionalmente formuladas contra a mescla de baixeza e perversidade das intenções, do funcionamento e das conseqüências do sistema de mercado e propriedade privada que conduzem à ojeriza dos intelectuais ao capitalismo, mas, ao contrário, que essa íntima aversão de fato racionaliza o fluxo interminável de tais queixas, e depois também de resenhar e refutar tentativas prévias de explicação do fenômeno, Nozick formula sua própria explicação nos seguintes termos (sem dúvida passíveis de questionamento, mas de qualquer modo muito engenhosos): ressentimento contra a recusa da vida e do mercado a corroborarem os critérios que escolas e professores utilizam para avaliar desempenhos, premiar méritos e punir fracassos. (Procurarei esclarecer que o movimento intelectual e político da Reforma Sanitária teve origem acadêmica.) Nas suas próprias palavras, em uma sociedade [onde] um sistema ou uma instituição extrafamiliar, a primeira em que ingressam os jovens, distribui recompensas, os que têm melhor desempenho tenderão a internalizar as normas dessa instituição [a escola] e confiarão que a sociedade em geral funcionará segundo essas normas, eles se considerarão com direito a uma parte na distribuição de acordo com essas normas ou (no mínimo) a uma posição relativa igual àquela que essas normas dão como resultado. Além disso, os que constituem a classe superior dentro dessa instituição extrafamiliar e que experimentam (ou prevêem experimentar) um deslocamento para uma posição relativamente inferior na sociedade em geral, devido à sua percepção do direito frustrado, tenderão a se opor ao sistema social mais amplo e a sentir ojeriza em relação a suas normas. (15) No desdobramento do seu raciocínio, observa Nozick que não é toda mobilidade social descendente pós-escolar que fomenta essa ojeriza, mas aquela que suscita em suas ‘vítimas’ comparações desfavoráveis com a situação de outros grupos. Isso acaba influenciando a atitude fortemente igualitária exibida por tantos intelectuais. Poderíamos distinguir formas nas quais a classe alta [os melhores alunos] pode deslocar-se para baixo: pode obter menos que outro grupo ou (quando nenhum grupo se desloca para cima dela) pode empatar, sem conseguir mais que aqueles previamente previstos como inferiores. É o primeiro tipo de deslocamento para baixo o que mais indigna e humilha; o segundo tipo é bastante mais tolerável. Muitos intelectuais (dizem eles) estão a favor de uma igualdade, ao mesmo tempo em que só um número reduzido exige uma aristocracia de intelectuais. Nossa hipótese se refere ao primeiro tipo de deslocamento, para baixo, como especialmente gerador de ressentimento e ojeriza. [...] Afirmei antes que os intelectuais querem que a sociedade seja uma extensão das escolas. Agora vemos como o ressentimento devido a um sentido de direito frustrado deriva do fato de que as escolas (na qualidade de sistema social extrafamiliar) não constituem uma condensação da sociedade (16) Em apoio a seu argumento, Nozick enfatiza o ponto de que o mercado incorpora “critérios de recompensa que são diferentes” daqueles adotados pelas escolas, (17) pois o “mercado, por sua própria natureza, é neutro com relação ao mérito intelectual”. (18) Em uma sociedade capitalista, baseada em interesses e preferências os mais diversificados, as recompensas vão para quem produz bens e serviços que preencham alguma necessidade ou, por qualquer motivo, caiam no gosto dos consumidores. Como admite Nozick, se “há mais gente disposta a pagar para ver Robert Redford do que para assistir às minhas conferências ou ler meus escritos, isso não implica uma imperfeição do mercado.” (19) Por vezes até, reconhece Nozick, a preferência do grande público coincidirá com o julgamento dos críticos mais vigorosos consagrando popularmente romances, quadros e outras obras de arte de alto e duradouro valor intelectual e estético e recompensando com muito dinheiro, além de prestígio, os seus autores. Mas, de maneira geral, a nostalgia da superioridade acadêmica e as amarguras experimentadas pelo intelectual com a aparente aleatoriedade das recompensas do mercado são de molde a predispô-lo a se deixar seduzir pelo sistema distributivo centralizado das economias socialistas/comunistas, que se assemelha a um professor coletivo judicioso e infalível na premiação dos mais aplicados alunos da turma. Nozick, é claro, rechaça duramente essa ilusão: “Se os inteligentes têm direito a algo que o mercado não lhes dá, é ao reconhecimento de que são inteligentes – nada mais. Não têm direito às maiores recompensas da sociedade em geral.” (20) Obviamente, Nozick não propõe uma ‘desescolarização’ da sociedade capitalista para superar o problema que diagnostica. Afinal, o capitalismo é impulsionado, hoje mais do que nunca, pelos frutos do conhecimento científico e pelas tecnologias de informação, o que demanda investimentos gigantescos na formação acadêmica e permanente atualização profissional dos seus quadros. Limita-se a apontar a fricção ideológica e política entre alguns segmentos destes quadros (basicamente os “forjadores de palavras”) e a lógica da distribuição de recompensas via mercado. A seu ver, essa fricção é amplamente compensada pelas vantagens trazidas pelo sistema para um semnúmero de consumidores. Mas adverte que os intelectuais dificilmente deixarão de ter “a última palavra” nos debates da sociedade contemporânea, pois são eles que dão “forma a nossas idéias e imagens da sociedade” e “proporcionam as frases com que nos expressamos [...], especialmente em uma sociedade [...] ‘pós-industrial’, que cada vez depende mais da formulação explícita da propagação da informação”. (21) O sociólogo Raymond Boudon, professor-emérito da Sorbonne e membro da Academia de Ciências Morais e Políticas da França e autor, entre várias obras de relevo, de Efeitos perversos e ordem social (ed. bras.: Zahar) corrobora o valor da tese nozickiana da recusa dos intelectuais ao liberalismo em conseqüência da sua frustração com um mercado que não lhes assegura as compensações de que se julgam merecedores), acrescentando que um estudo empírico já verificou que essa tese “contém [...] uma certa dose de verdade”. (22) Mas propõe enriquecer o quadro analítico com outras dimensões. Boudon defende o pressuposto filosófico liberal – pedra angular, por exemplo, da meditação moral e política do iluminista Immanuel Kant (17241804) – da autonomia e da dignidade do indivíduo racional que reivindica direito ao reconhecimento dessas mesmas autonomia e dignidade na medida em que se dispõe igualmente a reconhecê-las nos seus semelhantes. A adesão generalizada a esses princípios, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, na Ásia-Pacífico, possibilitou tanto o enriquecimento material e cultural das sociedades fundadas em um regime de liberdade e responsabilidade pessoal quanto o vigor explicativo e preditivo das teorias econômicas, políticas e sociológicas filiadas à tradição do “individualismo metodológico”, segundo a qual “qualquer fenômeno coletivo é [grifo do autor] o produto de ações, crenças ou comportamentos individuais”. (23) Expressa em obras clássicas como as do francês Alexis de Tocqueville (1805-1859) e do alemão Max Weber (1864-1920), entre outros autores, essa perspectiva procura desvendar as lógicas de estruturação, funcionamento e mudança das macroorganizações e suas respectivas regras institucionais (religiões, regimes políticos, sistemas econômicos, burocracias e assim por diante) por meio da reconstituição dos significados que seus próprios participantes individuais lhes atribuem, examinando suas preferências e aversões. Afinal, se Weber sustenta que não é preciso ser Júlio César para compreendê-lo é porque os seres humanos de diferentes tempos e lugares compartilham um substrato de racionalidade tal que ao historiador ou cientista social é possível colocar-se mentalmente na posição dos membros dos grupos, sociedades e épocas estudadas e interpretar correta e consistentemente suas atitudes. Assim, para Boudon, a tradição liberal (filosófica, política, econômica) se destaca pela sua atenção à complexidade dos fenômenos econômicos e sociais, pela sua cultura da tolerância, pela sua insistência na importância das análises argumentadas, pela sua valorização do espírito crítico, pela sua crença na possibilidade de construir um saber objetivamente válido e pela sua convicção de que as ciências humanas não passarão de imposturas se não acreditarem nessa possibilidade. (24) Ele reconhece, ao mesmo tempo, que a massificação do ensino universitário, na maior parte do mundo desenvolvido desde a segunda metade do século XX, acaba embutindo uma séria ameaça a esses valores e padrões – algo, aliás, que, como visto acima, Schumpeter parece já haver intuído ao referir o excesso de oferta de intelectuais como fator de radicalização políticoideológica. Talvez com a exceção solitária da economia, onde o pleno estabelecimento de modelos matemáticos altamente formalizados fundamenta uma busca exigente dos vínculos entre macrofenômenos e seus microalicerces (expectativas dos agentes e os incentivos ou desincentivos com que as regras institucionais balizam seu comportamento), as demais ciências humanas, lamenta-se Boudon, estão divorciadas do liberalismo. É o caso de grande parte do que hoje passa sob os rótulos disciplinares de sociologia, ciência política e antropologia. Nesses institutos e departamentos universitários, desde os 60, os cientistas vocacionados para a pesquisa da verdade, por meio da “discussão metódica” e da “seleção racional das idéias”, com vista ao avanço do saber, foram perdendo terreno para uma legião formada por aspirantes à categoria que o líder comunista Antonio Gramsci (1891-1937) classifica de intelectuais orgânicos, militantes de movimentos sociais e partidos políticos que instrumentalizam seus postos e credenciais acadêmicos a serviço da conquista do poder (ou, como é moda dizer hoje em dia, de uma agenda política qualquer). No processo valem-se de idéias e teorias que, se não são “verdadeiras”, mostram-se “úteis” no preenchimento das demandas corporativas e psicológicas de multidões de semiletrados produzidas aos borbotões pela universidade. (25) Desaparecem de cena as análises dos “fenômenos sociais, políticos e econômicos [...] que envolvem ferramentas intelectuais, sistemas argumentativos e uma atitude mental” dependente de “uma aprendizagem muitas vezes encarada como ingrata”. (26) Em seu lugar, passam a reinar soberanas correntes direta ou indiretamente inspiradas no marxismo, na psicanálise, no estruturalismo nietzschiano de Michel Foucault (1926-1984) e no desconstrucionismo de Jacques Derrida (1930-2004) Não mais importa que essas igrejinhas intelectuais afirmem como fatos opiniões e preconceitos dispensando-os do entediante procedimento dos testes para comprovação/refutação de hipóteses, pois, como alerta Boudon, A seleção de idéias e das teorias explicativas dos fenômenos políticos, econômicos e sociais a partir dos critérios com base nos quais são normalmente julgadas as teorias científicas cede o lugar a uma seleção pela utilidade [grifo do autor], no sentido lato do termo. Uma teoria passa a ter acolhimento porque responde a esta ou àquela procura, por parte deste ou daquele grupo, ou ainda porque satisfaz uma procura tão antiga como o mundo: a procura de “novidades”. A partir do momento em que as ciências humanas se consideram exoneradas das obrigações a que estão sujeitas as ciências duras, tendem a transformar-se em “ciências” entre aspas. (27) Tampouco importa que a falta de rigor científico e o desleixo conceitual instaurem o reinado do relativismo, do vale-tudo metodológico. Em um movimento de compensação perversa, o vácuo de objetividade é preenchido por um absolutismo moralista com fortes tons emocionais, em defesa de agendas politicamente corretas. Abro aspas, mais uma vez, para Boudon. O reconhecimento da capacidade de compreender [grifo do autor] pressupõe uma concepção objetivista. O reconhecimento da capacidade de sentir [idem], não. Acresce que, se um dado juízo moral vai ao encontro da sensibilidade de um certo público, ou cumpre os dogmas que cimentam uma determinada rede de influência, pode ser socialmente rentável. A isto é preciso acrescentar, antecipando uma objeção possível, que o relativismo cognitivo [...] não implica de maneira nenhuma o relativismo em matéria de moral. Pelo contrário, [...] como uma convicção não pode, à luz do relativismo cognitivo, ser objetivamente fundamentada, o fato de ser vivida [grifo do autor] como justa é facilmente encarado como critério que permite validá-la. [...] [...] O intelectual cede facilmente à tentação de se apresentar como uma “boa alma”: de defender os bons sentimentos. Sabe que tem poucas probabilidades de ser desmentido. Os seus eventuais contraditores guardarão silêncio, porque é perigoso ferir os bons sentimentos. Por isso pode desenvolver em total tranqüilidade as suas análises, mesmo que elas sejam mais úteis que verdadeiras [grifos do autor]. São esses processos que explicam que se implantem – em alguns casos por muito tempo – idéias falsas e contraproducentes, e que seja preciso esperar pelo veredito da realidade para que elas feneçam (28) [Boudon tem em mente conforme episódio que comentou um pouco antes, o lobby para o rebaixamento das exigências de ingresso na vida acadêmica em favor de certos grupos sociais sob a justificativa de reparação das iniqüidades históricas de que teriam sido vítimas.] Por último, mas não em último, importa menos ainda que o colapso do comunismo soviético, a lembrança dos horrores da Revolução Cultural chinesa e a escancarada mescla de precariedade econômica e opressão política do regime cubano tenham comprometido o prestígio político e intelectual do marxismo; ou que a sociologia e a ciência política praticadas com a devida seriedade hajam demonstrado que a estrutura das sociedades avançadas (melhor dizendo: capitalistas) se compõe de uma rede hierarquizada e diversificada do que Boudon chama de estatutos (que outros sociólogos denominam grupos de status e outros ainda, estamentos), cuja imagem sintética se traduz em “uma imensa classe média, uma população de ‘excluídos’ e uma fina camada de beneficiários de ‘gordos proventos’”. (29) Contra todas as evidências, aferram-se os intelectuais orgânicos ao encanto simplificador da visão de uma sociedade eternamente dilacerada pela luta entre duas grandes classes: a dominante e a dominada. (30) Esse dualismo empobrecedor, ouso eu aduzir, lembra o guarda-roupa de uma decadente companhia de teatro, cujos adereços, basicamente fantasias de mocinho e vilão para lá de esfarrapadas, vestem sucessiva ou simultaneamente atores coletivos engalfinhados nas mais variadas disputas: militantes ecológicos e anti-globalização X Organização Mundial do Comércio;Movimento Sem-Terra X latifundiários; índios X brancos; feministas X machistas – e por aí vai... Tudo leva a crer, portanto, que há forças sociais [grifo do autor] que atuam no sentido de manter a oposição entre uma classe dominante e uma classe dominada; tudo se passa como se [idem] essas forças tivessem o poder de aniquilar as boas intenções dos políticos. Assiste – se, então, ao aparecimento de um discurso do tipo: “A quem aproveita o crime? À classe dominante.” [idem] Indo mais longe, alguns intelectuais pretendem demonstrar que os mecanismos pelos quais é assegurada a reprodução da classe dominante são clandestinos. A escola valorizaria a cultura burguesa [idem] e julgaria em última análise os indivíduos em função da sua familiaridade com a cultura da classe dominante, sem que a generalidade dos atores envolvidos disso se apercebesse. Frisa Boudon que tal “explicação [...] foi generosamente divulgada pela comunicação social” (31) Atente o leitor para a frase acima: “Sem que a generalidade dos autores envolvidos disso se apercebesse”. Repudiando e menosprezando, como dito há pouco, o enfoque da “psicologia clássica” ou ‘“racional”’ (de amplas afinidades – com antropologia filosófica liberal), (32) em benefício do determinismo das estruturas opacas tão ao gosto dos chamados mestres da suspeita – Marx e a falsa consciência secretada pela ideologia dominante; Freud e o inconsciente; Nietzsche e a vontade irracional de poder, e seus inúmeros herdeiros nós séculos) XX e XXI –, esses intelectuais se arvoram em guias oniscientes dos cidadãos e mesmo (ou principalmente) dos governantes, multidão de ingênuas almas, prisioneiras das trevas do “senso comum”. (33) I.2 – Intelectuais à brasileira: a herança da Contra-Reforma e do patrimonialismo versus capitalismo e liberalismo. Cooptação versus representação Se essa é a situação no mundo desenvolvido das sociedades onde o capitalismo e o regime liberal-democrático lograram realizar seu enorme potencial de criação de riqueza, distribuição de renda e convivência sociopolítica civilizada, o que dizer então destes tristes trópicos, marcados pela herança de ódio ao lucro do catolicismo contra-reformista, de um lado, e por constelações de interesses políticos e burocráticos que se apropriam do patrimônio do Estado, assim bloqueando o florescimento da ordem competitiva e o amadurecimento do sistema representativo, de outro? (34) A intelectualidade brasileira, de forma geral, odeia o capitalismo e o liberalismo sem que estes jamais hajam sido tentados a sério por aqui. Há mais de dois anos, a revista Exame, no bojo de circunstanciada reportagem sobre o viés antilucro da cultura brasileira, (35) publicou os resultados de duas pesquisas de opinião que dão bem a medida do abismo entre as atitudes do empresariado e as do público em geral deste país acerca do mecanismo de produção de riqueza e da sua legitimidade social. Assim, sondagem da Fundação Armando Álvares Penteado, de São Paulo, com 102 grandes empresários definiu que a principal missão das empresas consiste em “Dar lucro aos acionistas” (com 82% das respostas). Ao mesmo tempo, em estudo com uma amostra da população, esta resposta veio em sétimo lugar (empatada com “Derrotar a concorrência, sem ferir a ética”, atraindo apenas 10% das opções), depois de: “Gerar empregos” (93%); “Ajudar a desenvolver o país” (60%); “Desenvolver trabalhos comunitários” (42%); “Aliar crescimento à justiça social” (31%); e “Recolher os impostos devidos” (29%). (36) Mas, como observa Antônio Paim, a “recusa do capitalismo antes mesmo de vivenciá-lo não é fenômeno recente em nosso país [...]” (37). A ascendência da Inquisição (Tribunal do Santo Ofício) sobre o poder temporal em Portugal e nas suas colônias nos séculos XVI a XVIII bloqueou as fontes do desenvolvimento capitalista e isolou o país das correntes de transformação econômica, política e científica que, sob o impacto do Renascimento, da Reforma protestante e do Iluminismo transformaram profundamente outras partes da Europa nesse período. Particularmente, Paim documenta como sucessivas ondas de perseguição aos mercadores e financistas judeus na Península Ibérica acabaram inviabilizando o mais pujante complexo produtivo pela primeira vez estabelecido em terras do Novo Mundo: a agromanufatura do açúcar. “Entre as últimas décadas do século XVI e meados do século XVII [...] o Brasil chegou a responder por cerca de 80% da oferta mundial de açúcar”, (38) produzido pelos engenhos do litoral nordestino que se concentraram no Recôncavo Baiano e na zona da mata de Pernambuco. Paim chama atenção para o fato de que o capital investido no negócio açucareiro provinha de empresários que haviam engrossado as grandes levas de judeus que abandonaram a Espanha e Portugal desde a virada do séculos XV a XVI, quando a coroa espanhola impusera a sua conversão ao catolicismo (1492). Fixaram-se em “outras partes da Europa, especialmente [n]os Países Baixos, mais tarde desmembrados para dar nascedouro à Holanda e à Bélgica. Ao longo do século XVI, conseguem refazer suas fortunas e situam-se entre os principais banqueiros europeus. Nessa altura, nos meios econômicos, português torna-se sinônimo de judeu” (39) Forçados a aceitar a condição de cristãos-novos, os parentes desses financistas que permanecem em Portugal receberam seu apoio na organização da produção açucareira do Brasil. Por algum tempo, nem mesmo a imigração e a conversão forçadas conseguiram suprimir o papel estratégico (e dinâmico) desempenhado pelos judeus na economia da época, pois exerciam uma atividade que, conquanto cada vez mais necessária à expansão e consolidação do império lusitano, estava oficialmente proibida aos dois mais importantes grupos da elite, os nobres e os eclesiásticos: a intermediação financeira, estigmatizada pela usura (cobrança de juros), pecado que a Igreja Católica duramente condenava. (40) Nas palavras de Paim, não obstante a presença da Inquisição, os judeus decidiram-se pela implantação do empreendimento açucareiro no Brasil. Tudo leva a crer que a junção das Coroas portuguesa e espanhola, em 1580, haja facilitado tais objetivos [...] O certo é que daquela decisão se evidenciaram as grandes possibilidades de nosso país. Nos meados do século XVII havia aqui uma sociedade próspera e rica, capaz de afrontar e expulsar os holandeses, que se haviam transformado em uma potência militar importante [...] Enquanto o Brasil sobressaía com o empreendimento açucareiro e com as guerras contra a Holanda, os Estados Unidos não deixavam entrever nenhuma indicação de que chegariam a ser a maior potência mundial. (41) Apesar desse início bem-sucedido, o recrudescimento das expropriações e condenações à fogueira – não mais somente de cristãosnovos acusados de se manterem fiéis à sua religião original, como no início, mas atingido muitos outros agentes econômicos –, movidas pela Inquisição, em Portugal e no Brasil, de meados do século XVII até o advento do despotismo modernizador do marquês de Pombal (Sebastião José de Carvalho e Melo, 1699-1782, no reinado de dom José I, de 1750 a 1777), acabou por desmantelar o empreendimento açucareiro fomentando uma diáspora de recursos humanos e financeiros nas Américas. Capitais migraram para o Caribe, cuja concorrência viria a suplantar a produção dos engenhos brasileiros, e empreendedores oriundos de Pernambuco ajudaram a fundar Nova Amsterdã, mais tarde Nova York. No contexto da Contra-Reforma, a repressão inquisitorial era complementada pela doutrinação eclesiástica hostil à riqueza e ao lucro. Nessa conexão, Paim destaca as obras dos chamados moralistas do século XVIII. Assim, por exemplo, enquanto o Compêndio narrativo do peregrino da América, verdadeiro bestseller (cinco edições de 1728 a 1765), de Nuno Marques Pereira (1625-1735), enaltece a ‘“santa virtude da pobreza’”, que constitui “’um hábito da vontade humana alumiada do entendimento’”, capaz de contentar ‘”um homem com só aquilo que é necessário e lhe basta, desprezando o supérfluo e o desnecessário’”, os Discursos político e morais, obra de 1758 de Feliciano de Sousa Nunes (1730-1808), antigo alto funcionário da administração do Rio de Janeiro, propõem o seguinte raciocínio: ‘“As maiores riquezas que pode lograr o homem [são] a salvação, a liberdade e a vida. E, se com a riqueza excessiva a alma se arrisca, a liberdade se perde e a vida se estraga, como não virá o homem a ser tanto mais necessitado quanto for mais rico? Como não será a sua riqueza excessiva o mais certo prognóstico da sua maior necessidade e miséria?’”. Adiante, a prédica de Sousa Nunes invoca a autoridade erudita de são Jerônimo (347-419), responsável pela vulgata, adotada pela Igreja como tradução oficial da Bíblia para o latim, segundo quem ‘”todas as grandes riquezas são filhas ou netas da iniqüidade ou injustiça, porque um não pode achar o que o outro não tem perdido; concluindo com aquela sentença de Aristóteles, que o rico ou é injusto ou do injusto é herdeiro’”. (42) Paim repisa o contraste do clima de opinião fomentado por essas idéias com aquele predominante, à mesma época, nos países onde triunfou a Reforma, como os Estados Unidos. Essa aversão ao lucro e à riqueza deixou marcas profundas em nossa cultura e trouxe algumas conseqüências de que não conseguimos até hoje nos livrar. Entre estas sobressai a pouca valorização dos empresários (e da própria empresa privada), que respondem pela oferta fundamental do emprego, mesmo numa economia com os níveis de estatização alcançados pela brasileira [...] Outra atitude que gravita em torno da aversão ao lucro é o entendimento do trabalho como uma espécie de domínio adverso e não como o caminho da realização pessoal [...] A aceitação do trabalho pela elite, na Época Moderna, é certamente um resultado das religiões protestantes. Mas depois de constituída a sociedade moderna esse valor dissociou-se de suas origens e tornou-se uma aquisição consensual transmitida pela educação [...] A esse propósito cabe ter presente a advertência do grande Benjamim Franklin (1706-1790), um dos artífices da Independência americana e de suas instituições republicanas [...] Dizia ele que os americanos teriam de copiar a maioria das instituições de seus ancestrais ingleses. Entre essas, entretanto, repudiava os procedimentos oficiais de assistência aos pobres, por lhe parecer que estimulavam a preguiça. Para construir uma nação digna desse nome, neste lado do Atlântico, só restava aos ingleses que por tal optaram lançar-se denodadamente ao trabalho, cumprindo combater com decisão tudo que se lhe contrapusesse. (43) O momento pombalino marcou o temporário afastamento do poder do clero e dos seus aliados no seio da nobreza. (Em 1759, por exemplo, foram expulsos os jesuítas de Portugal e do Brasil.) Pombal implementou uma agenda de reformas modernizadoras do sistema colonial e da combalida economia portuguesa, o que significou, dentre outras medidas, a reforma do ensino universitário (Coimbra, 1972) destinada a abrir o país às inovações científicas e tecnológicas que já colocavam a Inglaterra no rumo firme da liderança na Revolução Industrial e da hegemonia mundial. Tratava-se, porém, de uma abertura seletiva, que, por objetivar estritamente o fortalecimento do Estado patrimonial, excluía o amplo debate das pioneiras propostas liberais para a construção de um regime político representativo, alicerçado nas garantias de direitos civis – como a livre manifestação de opiniões – e políticos – expressão parlamentar dos principais interesses da sociedade –, com vista à limitação do poder do governo mediante o consentimento dos governados. (Eis aí, a propósito, o significado fundamental das teorias contratualistas como a defendida pelo filósofo liberal inglês John Locke [1632-1704]: a existência do poder soberano, que é simultaneamente comum e superior aos indivíduos, se estriba na proteção dos direitos destes por meios comumente pactuados de modo a afastar a ameaça de violência generalizada, caso cada um e todos pudessem somente fazer justiça com as próprias mãos a fim de defender esses mesmos direitos, a saber: sua vida, sua liberdade, seus entes queridos e sua propriedade – o que evoca a famosa imagem da “guerra de todos contra todos”, de outro importante pensador inglês, Thomas Hobbes [1588-1679].) (44) Com o redesenho pombalino do Estado patrimonialista, o Brasil, acompanhando a metrópole inglesa apenas pela metade na Era Moderna. E até hoje, insiste Paim, não o fez por inteiro, pois, no prolongamento dessa sólida tradição da segunda metade do século XVIII ao XX, modernização significaria apenas “industrialização”, mas não “a incorporação das instituições do sistema representativo, que são o resultado mais significativo da Era Moderna”. A difícil tarefa de superação do patrimonialismo brasileiro se reveste, desde sempre, de uma incontornável dimensão política, já que não passa de uma grande ilusão imaginar-se que possa ser considerada como um arremedo de Parlamento, constituído a partir do sistema proporcional, sem correntes de opinião que lhe sejam contrárias, plenamente estruturadas, sem partidos políticos respaldados naquelas correntes de opinião etc.” (44.a) Um esclarecimento oportuno: o patrimonialismo é o regime tipificado na sociologia política de Weber com base na apropriação dos recursos da sociedade em proveito particular dos governantes e na minuciosa regulamentação burocrática dos grupos de interesses, das relações destes entre si e com o Estado. (45) Cumpre observar, também, que esse regime pode conhecer momentos modernizadores e racionalizadores, implicando invariavelmente o fortalecimento e a expansão do controle da burocracia estatal: foi assim em Portugal na segunda metade do século XVIII sob o marquês de Pombal. Foi assim, também, no Brasil do século XX, em duas ocasiões. Na primeira metade da centúria, o processo se identificou com a ascensão de Getúlio Vargas (1883-1954) à Presidência da República, via Revolução de 1930, culminando na implantação da ditadura do Estado Novo (1937-1945) e prolongando-se, sob o regime democrático instaurado no marco constitucional de 1946, com a volta de Vargas em 1951, dessa feita como presidente eleito no ano anterior, até o seu suicídio em 1954. Na segunda metade do século passado, a modernização patrimonialista foi assumida pelo movimento político-militar de 1964 que instauraria um regime autoritário mantido até 1985. (46) Tanto Vargas quanto os militantes eram herdeiros do positivismo, corrente de duradouro prestígio nos círculos governantes brasileiro. (47) Aqui, a doutrina tecnocrática do filósofo francês Augusto Comte (1798-1857) se enxertou e floresceu no tronco do cientificismo pombalino, que havia modelado a Real Academia Militar, no Rio de Janeiro, no contexto da reforma universitária de 1972 há pouco referida. No século XIX, depois da Independência, a academia se desmembrou na Escola Militar e na Escola Central, depois Escola Politécnica, esta dedicada ao ensino da matemática, das ciências e da engenharia voltado tanto para militares quanto para civis. O tenente-coronel do Exército Benjamin Constant Botelho de Magalhães (1833-1891), ex-aluno da primeira e professor na segunda, foi o maior propagador da doutrina positivista no Exército e sonhava com uma ditadura científica republicana. Sua presença à frente dos ministérios da Guerra (1889) e da Instrução Pública (1890) assinalou a influência política e o prestígio intelectual do positivismo nos primeiros anos da República. Vargas, por sua vez, era discípulo e continuador do chamado castilhismo, concepção positivista do monopólio do poder político por um grupo modernizador formulada por Júlio de Castilhos (1860-1903), líder republicano gaúcho e, com o advento da República, primeiro presidente (governador) do Rio Grande do Sul. A constituição estadual por ele concebida permitia a reeleição ininterrupta do chefe do Executivo. A situação castilhista se manteve no poder durante praticamente toda a República Velha (1889-1930). Com a sua morte, o governo passou a Antônio Augusto Borges de Medeiros (1863-1961), que presidiu o estado de 1898 a 1928, com uma única interrupção, no qüinqüênio 1908-1913, até passar o cargo ao próprio Getúlio. (48) De 1930 em diante, a vertente castilhista do patrimonialismo modernizador, estatizante e nacionalista erigiu-se em doutrina do governo nacional. No registro de Paim, O grupo que Getúlio Vargas trouxe do Rio Grande do Sul – e que iria progressivamente conquistar a hegemonia do conjunto das forças que se uniram para promover a Revolução de 30 – era francamente autoritário. Não atribuía nenhum papel ao Parlamento nem este existia naquele estado durante a República Velha. As leis eram feitas pelo Executivo, que tinha o poder de intervir nos municípios. Era de fato uma ditadura; embora tivesse desaparecido a retórica da ditadura republicana, que fora o slogan [grifos do autor] preferido nos começos da República [...] (49) Desde os anos 20 e 30, sempre de acordo com Paim, o panorama intelectual do patrimonialismo brasileiro incorporou uma dimensão de esquerda. Na academia, o professor da Faculdade de Direito do Rio Leônidas de Resende (1889-1950) contribuiu para a sobrevida da influência comtiana sistematizando uma versão positivista do marxismo que alcançaria ampla divulgação nos meios intelectuais e políticos. (50) Na arena política, o modelo preconizado pelo Partido Comunista, de um Estado comandado por uma burocracia monopolizadora dos meios de produção e arregimentadora da sociedade mediante mecanismos de cooptação, revelou marcante afinidade com a moral contra-reformista antagônica ao lucro privado, profundamente enraizada no solo cultural brasileiro. Para Paim, isso confirma a tese do historiador e cientista político alemão Karl A. Wittfogel (1896-1988) acerca do socialismo comunista como virtualidade do patrimonialismo. (51) A propósito, cumpre lembrar que os regimes implantados na Rússia em 1917, na China em 1949 e nas nações subdesenvolvidas da América Latina (Cuba), África e Ásia depois da Segunda Guerra traduziram-se em gigantesca refutação da profecia de Marx, que havia atribuído aos países mais ricos e industrializados, como Grã-Bretanha, França e Alemanha, o papel de locomotivas do processo revolucionário em escala mundial, por entender que neles o forte e acelerado desenvolvimento das forças produtivas acabaria por explodir os limites impostos pelas relações de produção de propriedade privada, contra o pano de fundo do conflito insolúvel entre uma burguesia capitalista cada vez mais rica e diminuta e um proletariado cada vez mais numeroso e miserável. Isso, simplesmente, não se verificou: na Economia Ocidental e no Japão do pós-guerra, assim como nos chamados tigres asiáticos, os avanços tecnológicos e gerenciais da economia de mercado promoveram a expansão de classes médias prósperas, ao mesmo tempo que o sistema liberal-democrático representativo institucionalizou as regras da disputa pelo poder entre partidos políticos no marco de eleições periódicas. Antes de finalizar a presente exploração sobre a evolução do híbrido ideológico formado por anticapitalismo contra-reformista e cientificismo positivista-marxista no marco do patrimonialismo brasileiro, aproveito para encaixar aqui mais um breve e indispensável esclarecimento acerca do sistema cooptativo. Paim o caracteriza como aquele em que “a escolha da elite dirigente dá-se pela cooptação daqueles que se encontram no poder”, (107) e, acrescento eu, não pelas regras que asseguram a competição políticoeleitoral no sistema representativo (governo dos representantes da maioria limitado por conjunto de direitos civis e políticos, tais como liberdade de opinião e associação, propriedade privada, respeito aos contratos, devido processo legal para a solução de disputas dos cidadãos entre si ou entre eles e o Estado). Regimes cooptativos se implantam quer mediante revoluções e golpes do Estado que consolidam sistemas de partido único ou de supremacia esmagadora de um partido político ( casos soviético; chinês; cubano; mexicano sob 70 anos de hegemonia ininterrupta do Partido Revolucionário Institucional [PRI]; ditaduras africanas que sucederam ao colonialismo europeu), quer mediante os mecanismos eleitorais da democracia representativa ou dos dispositivos de consulta popular direta por ela constitucionalmente autorizados – como plebiscitos e referendos – (nazismo alemão, fascismo italiano) Presente no cotidiano político desses regimes, o sistema cooptativo povoa, também, o imaginário de alguns movimentos sociais e dos partidos totalitários a que a democracia liberal representativa reconhece existência legal e plenas liberdades de organização e manifestação. Liberdades que esses movimentos e partidos desejam, de forma velada ou ostensiva, negar aos seus adversários liberais, conservadores ou social-democratas, uma vez conquistado o poder. Enquanto o Grande Dia não chega, empenham-se em denunciar e desacreditar a democracia representativa como jogo de cena da elite do poder ou da classe dominante, unicamente interessada em perpetuar seu mando com exclusão das massas populares ou da classe dominada, ao mesmo tempo que promovem princípios como o da ‘democracia direta’, do poder popular do ‘processo participativo’ (plebiscitos, conselhos, assembléias corporativas) e do ‘controle social’. A digressão acima me parece importante para os propósitos do presente estudo, de vez que o discurso da democracia participativa e do controle social é o eixo estruturador não só das propostas e intervenções do grupo de intelectuais de esquerda que articulam o movimento da Reforma Sanitária e em seguida o Sistema Único de Saúde (SUS) como também da visão de mundo do Partido dos Trabalhadores em seu quarto de século de presença no cenário político brasileiro, além do que o PT, desde sua incepção, serviu como desaguadouro político, ou ao menos aliado firme, para a maioria dos militantes daquela reforma. Com efeito, o PT constitui a síntese mais acabada das três principais expressões do anticapitalismo liberal na atualidade brasileira: o contrareformismo hostil ao lucro da ala dita progressista da Igreja Católica, que desempenhou papel protagônico na formação e evolução do partido; o cientificismo marxista de forte talhe positivista (avesso ao) sistema representativo – tanto quanto entusiasta do cooptativo –, dos intelectuais que dirigem as várias facções componentes do PT; e o patrimonialismo burocrático das corporações de funcionários do governo e das empresas estatais que pregam o fortalecimento do intervencionismo econômico e mesmo a reestatização de indústrias ou setores privatizados. O fato de o líder máximo da história do partido, Luiz Inácio Lula da Silva, haver sido eleito (2002) e reeleito (2006) à Presidência da República mantendo-se fiel a algumas poucas ‘cláusulas pétreas’ da política econômica de seu antecessor Fernando Henrique Cardoso – moeda estável/inflação baixa (metas inflacionárias), câmbio flutuante e responsabilidade fiscal (esta última, ao que parece, cada vez mais problemática diante da recente escalada dos gastos públicos correntes) – apenas contribui para ressaltar a ambigüidade entre os princípios programáticos e os condicionamentos pragmáticos da ação política do PT no atual ambiente da democracia brasileira. Para reforçar esse ponto, Paim reconstitui os marcos mais salientes da trajetória da agremiação, à base de programas e outros documentos partidários, bem como manifestações de seus quadros mais expressivo,com ênfase na obstinada recusa de seus dirigentes e militantes em geral ao sistema representativo. Passo a destacar os principais pontos dessa reconstituição. (53) Desde o começo, as preferências ideológicas do partido se voltavam para regimes assemelhados ao de Cuba ou ao da Nicarágua sandinista. Mesmo depois da sua participação em todas as eleições dos anos 80; do desenvolvimento de sua atuação na Assembléia Nacional Constituinte (embora seus representantes à mesma tenham-se recusado a assinar a Carta de 05 de outubro de 1988, amaldiçoando-a como fruto de um parlamento sob hegemonia burguesa inimiga do movimento popular, espaço destinado, portanto, ao mero exercício da agitação e propaganda) e de o seu candidato (Lula) haver conquistado 17,2% da votação no primeiro turno do pleito presidencial de 1989 e 47% no segundo turno, “o PT não renunciou ao sistema cooptativo, conforme assinala Paim ao analisar a documentação posterior àqueles eventos, a qual ainda falava em “criar uma ‘democracia popular’ – por sinal [,] o mesmo nome adotado pelos satélites da União Soviética”. (54) Ele classifica o Plano de Ação Política e Organizativa do PT, aprovado no 4º Encontro Nacional do partido (maio/junho de 1986) e contendo a posição oficial do partido ante o governo Sarney (1985-1990), como um documento tipicamente estalinista. Começa por postular o estágio de desenvolvimento do capitalismo no Brasil com caracterização das classes sociais e da “conscientização e organização” [das mesmas]. Conclui pela inegável existência de uma “situação de luta de classe”. E mais, a “superação definitiva da exploração e da opressão sobre o povo brasileiro não se dará com simples reformas superficiais e paliativas, mas com a ruptura radical contra a ordem burguesa e a construção de uma sociedade sem classes”. [...] O texto trata, em seguida, das transformações na direção do socialismo, regime que é, desde logo, identificado com a estatização da economia, embora sejam ressalvadas “situações decorrentes da expansão diferenciada do capitalismo”, tornando “necessário e possível, nos primeiros tempos de uma sociedade socialista no Brasil, utilizar diversas e múltiplas formas de propriedade social dos meios de produção [...]” (55) A experiência da eleição presidencial de 1989 (ganha por Fernando Collor) fez a maior parte da cúpula do PT vislumbrar a oportunidade de chegar ao poder pelo voto. “Mas não se renuncia à substituição progressiva do sistema representativo pelo sistema cooptativo, apresentado eufemisticamente como ‘democracia popular’”. (56) O programa de governo para o pleito presidencial seguinte (“Bases do Programa de Governo – 1994. Uma Revolução Democrática no Brasil”), foi reproduzido quase na íntegra para a eleição de 1998. Em ambos os pleitos, Lula perderia para FHC em primeiro turno. O tom desse programa reflete uma sensibilidade da facção majoritária do partido, a Articulação (encabeçado pelo próprio Lula e pelo então deputado federal paulista José Dirceu), ao crescimento e à diversificação do eleitorado petista. Daí o esclarecimento preliminar de que “não se trata de implantar o socialismo, mas de introduzir reformas que são apresentadas como ‘uma revolução democrática’”, Mas, no plano político-institucional, o documento se aferra a eufemismos para acentuar sua tradicional posição anti-representação e pró-cooptação, como “socialização da política do poder’; ‘mecanismos de controle social’; ‘democracia direta’ etc [...]”. E, quanto à política econômica, a posição segue sendo estatizante, “falando-se até mesmo em revisão e anulação das privatizações”, além de cortejar o fechamento ao mundo desenvolvido, uma vez que, “se eleito, o governo ‘democrático-popular’ suspenderá o pagamento da dívida externa.” (57) Isso para não falar da ridícula utopia de alterar a correlação de forças internacionais com o Brasil petista preenchendo o vácuo aberto pelo desmantelamento da URSS e a implosão do seu império na Europa Oriental!... (58) Nesse meio tempo, verificou-se uma mudança, prenhe de significado político, na composição social dos quadros petistas: o partido da aristocracia sindical brasileira, nascido das greves de operários de macacão na região do ABC paulista, então (final dos anos 70 e início dos 80) o pólo mais dinâmico do capitalismo brasileiro graças à forte concentração de indústrias metalúrgicas e automobilísticas, quem diria, foi capturado por quadros de colarinho branco da burocracia governamental e da tecnocracia das empresas estatais, cuja sindicalização passa a ser permitida sob a Carta de 88. O mesmo se passou com a Central Única dos Trabalhadores, braço sindical do PT. Tratava-se de um sério reforço das posições anticapitalistas, estatizantes corporativistas e nacionalistas do partido, que daí em diante consolidou sua posição como principal foco de resistência aos projetos de abertura da economia, flexibilização de monopólios e reforma gerencial do Estado, em especial na área da saúde. (59) Cabem ainda algumas palavras sobre as facções petistas. Algum tempo antes da chegada ao poder com a vitória de Lula em 2002, levantamento do jornal O Estado de S. Paulo de 14/11/1999 analisado por Paim indica que um terço do partido era controlado por tendências abertamente totalitárias (trotskistas, leninistas) e, por conseguinte, adeptas do sistema cooptativo. Cerca de metade do PT estava nas mãos de facções consideradas moderadas como a majoritária Articulação (núcleo, mais tarde, do Campo Majoritário, vetor estratégico da eleição de 2002 e que sofreria um sério abalo com o envolvimento no chamado escândalo do Mensalão de seus quadros mais expressivos como José Dirceu, cujo mandato seria cassado pela Câmara dos Deputados no final de 2005) e a Democracia Radical, do deputado federal José Genoíno (SP), igualmente reabsorvida pelo Campo Majoritário e também enfraquecida pela participação do seu líder no mesmo escândalo. Tal correlação de forças internas ainda faz da ambigüidade entre a intenção e o gesto, entre o discurso e o ato, a “nota dominante do PT”. (60) De fato, a chegada de Lula ao Palácio do Planalto, como dito há pouco, tornou essa ambigüidade mais evidente e aguda. No final de 2001, encontro nacional do partido realizado em Olinda produziu documento com vistas ao pleito presidencial do ano seguinte sugestivamente intitulado “A ruptura necessária” (61) Em meados de 2002, a perspectiva de vitória sobre o candidato do PSDB e ex-ministro da Saúde, José Serra, transitava rapidamente do terreno das possibilidades para o das probabilidades concretas. Com isso, agravaram-se as preocupações de setores empresariais, das classes médias e de outros segmentos relevantes ao processo de formação da opinião pública acerca da efetiva ‘vontade política’ do candidato líder nas pesquisas para efetivar a ruptura, uma vez eleito. Em meio à agitação do mercado financeiro daqueles dias, a escalada do dólar era o indicador mais eloqüente dessa tensão pré-eleitoral, alimentada pela incerteza dos agentes econômicos domésticos e externos quanto ao futuro da infra- estrutura contratual da economia brasileira. Nesse momento, o futuro ministro da Fazenda, Antônio Palocci (médico sanitarista, antigo prefeito de Ribeirão Preto e deputado federal pelo PT/SP), coordenou uma resposta de emergência do comando da campanha lulista, destinada a inverter aquelas expectativas e acalmar o mercado: a “Carta ao Povo Brasileiro”. Na sua essência, ela traduziu o compromisso de um futuro governo Lula para com os contratos e as obrigações internacionais do país. No segundo turno, dois em cada três eleitores sufragaram o nome de Lula. Na seqüência, enquanto se multiplicavam as reuniões de trabalho entre as equipes de transição do velho governo e do novo, Lula se dirigia aos setores ainda descrentes e alarmados a fim de dissipar-lhes os temores usando uma de suas típicas metáforas: “Não se pode dar cavalo-de-pau na economia”. O restante da história do primeiro mandato do presidente Lula é bem conhecido: Palocci na Fazenda; o ex-presidente do BankBoston e candidato a deputado federal por Goiás mais votado (sob a legenda do PSDB) em 2002, Henrique Meirelles, na presidência do Banco Central; equipe econômica do governo anterior mantida em sua quase totalidade; e seu austero receituário para as políticas monetárias e fiscal não só retido, mas aprofundado, via elevadas taxas de juros reais e congelamento dos gastos públicos em obediência às metas inflacionárias e de superávit primário. Porém, se os cavalos-de-pau são fortemente desaconselháveis na operação de uma economia complexa, eles se afiguram simplesmente impossíveis quando se trata de quebrar inércias ideológicas cultivadas durante décadas de propagação doutrinárias e entrincheiramento burocrático. Por isso, em aparente paradoxo, quanto maior o sucesso do eixo Palocci/Meirelles na consecução do seu programa de estabilidade monetária e rigor fiscal, mais estridentes se elevavam os protestos da direção petista, dos seus militantes e movimentos de base contra o ‘continuísmo neoliberal’. Em sua esmagadora maioria, esses setores ainda continuam aferradas à única agenda que conhecem e lutaram para impor o Brasil ao longo do último quarto de século: em poucas palavras, estatização econômica e cooptação política. Aí está, em breves traços, a raiz da “ambigüidade estrutural [...] que se implantou na agremiação desde o segundo turno das eleições presidenciais de 1989”, (61.a) uma vez que a aceitação das regras do jogo eleitoral no ambiente pluralista da democracia representativa torna remota a concretização de um projeto de sociedade e de Estado talhado para a via insurrecional. Essa ambigüidade assume contornos violentos nas ações de movimentos como o dos trabalhadores sem-terra (MST), velho companheiro de viagem do PT. Menos explosiva, mas suficientemente grave para bloquear a reflexão desapaixonada e o encaminhamento de soluções de fato inovadoras, tal ambigüidade também se faz presente no seio da intelectualidade (acadêmicos, gestores e políticos) que pensou e implantou a chamada Reforma Sanitária – matriz do SUS e dos presentes impasses da política nacional de saúde. Espero que fique claro do que segue – e também à luz da discussão contida na primeira parte – que a análise crítica desses elementos tem uma relevância política que transcende o debate sobre os rumos da saúde. Isso porque os intelectuais orgânicos do setor tendem a enaltecer o intricado – e muitas vezes paralisante – cipoal de mecanismos colegiados de controle social e gestão participativa hoje vigente na área como paradigma para a reforma ‘democrática’ do Estado e, mais ainda, como completa alternativa políticoinstitucional à ultrapassada democracia representativa ‘burguesa’. A meu ver, tais propostas mal escondem a ambição de se implantar no Brasil um regime cooptativo, a serviço da perpetuação do Estado patrimonial burocrático. (62) Notas e referências (1) Depoimento da cientista política e professora da FGV/Rio Sonia Fleury Teixeira a Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos para FALEIROS, Vicente de Paula et alii, A construção do SUS: histórias da Reforma Sanitária e do processo participativo. Brasília: Ministério da Saúde, 2006, p. 276. (2) SCHUMPETER, Joseph A., Capitalism, socialism, and democracy, 3rd edition. New York: Harper & Brothers, 1950. (Ed. bras.: Zahar, 1982.) uma monumental biografia recente é McCRAW, Thomas K., Prophet of innovation: Joseph Schumpeter and creative destruction. Cambridge, Mass.: The Belknap Press, 2007. (3) Id., ibid., p. 143. (4) Id., ibid., p. 144 (5) Id., ibid., p. 145. (6) Id., ibid., p. 146. (7) Id., ibid., p. 147 (8) Ed. Bras.: Zahar, 1988. (9) NOZICK, Robert, “Por que os intelectuais se opõem ao capitalismo?”, Banco de Idéias [revista trimestral do Instituto Liberal], IX, (34), mar./abr./mai. 2006: 17-27, traduzido de “Why do intellectuals oppose capitalism?, em NOZICK, Socratic puzzles. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997. Voltarei daqui a pouco ao argumento de Nozick, para desenvolvê-lo. (10) SCHUMPETER, op.cit, p. 147. (11) Id., ibid., p. 146. (12) Id., ibid., p. 151. (13) Id., ibid., pp. 150-151. (14) Cf. op.cit, pp. 154-155. (15) NOZICK, Robert, “Por que os intelectuais…” (referência completa na nota 9, acima), p. 24. (16) Id., ibid., p. 25. (17) Id., ibid., pp.22-23. (18) Id., ibid., p. 20. (19) Id., ibid., p. 20. (20) Id., ibid., p. 26. Cabe observar que o raciocínio de Nozick ecoa – e ele o reconhece devidamente no artigo aqui comentado, p. 20 – a visão de mais um grande filósofo e economista liberal de origem austríaca, Friedrich Hayek (1899-1992), ganhador do prêmio Nobel de economia de 1974 e mais amplamente conhecido pela sua obra O caminho da servidão. Rio: Instituto Liberal, várias tiragens. “Para Hayek”, lembra Nozick, o projeto defendido pelo socialismo comunista de uma sociedade minuciosamente planificada significa que esta se orientará por um “plano consciente, isto é uma idéia. As idéias são a matéria-prima dos forjadores de palavras, e desse modo uma sociedade planificada converte em primordial aquilo que constitui seu afazer profissional. É uma sociedade que encarna idéias. Como os intelectuais poderiam deixar de considerar uma tal sociedade como sedutora e valiosa?”. (21) Id., ibid., pp. 27 e 18. (22) BOUDON, Raymond, Os intelectuais e o liberalismo. Lisboa: Gradiva, 2005, p. 9. (23) Id., ibid., p. 89. (24) Id., ibid., p. 88. (25) Cf. BOUDON, op.cit., pp. 76 e seguintes. (26) Id., ibid., pp. 83-84. (27) Id., ibid., p. 80. A desfaçatez com que essa intelectualidade manipula dados estatísticos para moldar a sensibilidade da opinião pública e dos governantes de acordo com uma agenda ideológica é exemplificada por Boudon no seguinte trecho, sobre a alegada determinação socioeconômica da delinqüência criminal: “[...] quando se pergunta a um sociólogo quais são as causas do crime, há fortes probabilidades de que ele responda: as estruturas sociais. Esta tese é confirmada por uma correlação que se observa por toda parte: tem mais probabilidades de cometer roubos, delitos ou crimes quem provém de um meio desfavorecido, de uma família desmembrada etc. A seguir passa-se facilmente da correlação à causalidade: a delinqüência é o produto do envolvente social. Finalmente, da causalidade presumida extraem-se princípios políticos: lutar contra a delinqüência é erradicar suas causas: [...] o desemprego; [...] as dificuldades das famílias etc. Este encadeamento deu como resultado que se tenham imposto recentemente, aqui e ali, políticas orientadas prioritariamente para a prevenção e ignorando não só a repressão, mas mesmo a mais simples ameaça de repressão: a dissuasão”. Ora, tal raciocínio em apoio a tese do criminoso ou do infrator como bom selvagem corrompido pela origem familiar e o meio social omite um sério ‘detalhe’: se alguém proveniente de “um meio ‘desfavorecido’ tem 10% “de probabilidades de cometer um delito”, então “os mesmos números dizem-nos também que a maioria dos indivíduos [90%]” desse meio “não comete nenhum delito. Os dois dados representam dois aspectos essenciais de um mesmo fenômeno [todos os grifos são do autor]. Geralmente menospreza-se o segundo.” BOUDON, op.cit., p. 68. (28) Id., ibid., pp. 86-87. (29) Id., ibid., p. 22. (30) Cf. op.cit, por exemplo, p. 22. (31) Id., ibid., p. 27. (32) Id., ibid., p. 40. (33) Id., ibid., por exemplo, p. 40. (34) A seguinte análise sobre o impacto negativo da Contra-Reforma e do patrimonialismo sobre o desenvolvimento socioeconômico e político do Brasil se beneficia amplamente das contribuições de dois pensadores liberais pátrios contemporâneos: Antônio Paim, atualmente ligado ao Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica de Portugal (Lisboa), e Ricardo Vélez Rodríguez, hoje professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), autores ambos de fecunda e monumental obra filosófica, política e de história das idéias, da qual me permito destacar, de Paim, O liberalismo contemporâneo, 2ª edição. Rio: Tempo Brasileiro, 2000; e, de Vélez, Patrimonialismo e a realidade latino-americana. Rio: DH (Documenta Histórica Editora), 2006. Para esta seção vali-me especialmente de PAIM, O socialismo brasileiro (1979-1999). Brasília: Instituto Teotônio Vilela, 2000; e id., Momentos decisivos da história do Brasil. S. Paulo: Martins Fontes, 2000. (35) GUROVITZ, Helio & BLECHER, Nelson, “O estigma do lucro”, Exame, XXXIX, (6), 30 de março de 2005: 20-30. (36) Ibid., p. 21. (37) PAIM, Momentos decisivos..., op.cit., p. 282. (38) Id., ibid., p. 49. (39) Id., ibid., p. 49 (grifos do autor). (40) Cf. op.cit., p. 50. (41) Id., ibid., p. 51. (42) Id., ibid., pp. 279-280. (43) Id., ibid., pp. 138-139. (44) Cf. LOCKE, John, “Segundo tratado sobre o governo civil”, volume Locke da coleção Os pensadores; e HOBBES, Thomas, Leviatã, volume Hobbes da mesma coleção. S. Paulo: Abril Cultural, 1978. (Há várias outras tiragens da mesma coleção). (44.a) PAIM, Osocialismo brasileiro (1979-1999), op.cit., p. 190. (45) Cf., por exemplo, WEBER, Max, Economy and society. Berkeley: University of California Press, 1978 (segundo de dois volumes. Ed. bras.: UnB, 1991). (46) Cf. PAIM, Momentos decisivos…, op.cit., pp. 265-276, para um útil balanço crítico das contribuições de autores como Raymundo Faoro (Os donos do poder, 2ª ed. Porto Alegre: Globo, 1975, dois volumes) e Simon Schwartzman (São Paulo e o Estado nacional. S. Paulo: Difel, 1975; e Bases do autoritarismo brasileiro, 3ª ed., revista e ampliada. Rio: Campus, 1988) e o já citado Ricardo Vélez Rodríguez (“Persistência do patrimonialismo modernizador na cultura brasileira”, em Pombal e a cultura brasileira, Paim [org.]. Rio: Tempo Brasileiro/Fundação Cultural Brasil-Portugal, 1982), entre outros, sobre a aplicação da categoria de patrimonialismo à realidade brasileira. (47) Comte propõe uma filosofia trifásica da história. Segundo sua lei dos três estágios, a humanidade evoluiria através de etapas dominadas pela religião e pela metafísica até alcançar o plano científico ou positivo. A uma tecnocracia abnegada caberia a operação da síntese entre Ordem e Progresso (expressão que figura na bandeira republicana brasileira por inspiração dos ‘apóstolos’ positivistas Miguel Lemos [1854-1917] e Teixeira Mendes [ - ]), superando assim a irracionalidade, a iniqüidade e os conflitos dos dois primeiros estágios. Cf. PAIM, Momentos decisivos..., op.cit., pp. 219-226; 296-302. A propósito da cristalização do positivismo em religião científica da humanidade, ele assinala que “a Igreja Positivista brasileira acabaria assumindo a direção do positivismo parisiense. Até hoje, a Casa de Augusto Comte, em Paris, é administrada por brasileiros” (p. 222, nota 5). (48) Cf. VÉLEZ RODRÍGUEZ, Ricardo, Castilhismo, uma filosofia da República. Brasília: Senado Federal, 2000. (49) PAIM, Momentos decisivos..., op.cit., pp. 242-243. (50) Cf. id., ibid., pp. 300-301. (51) Cf. WITTFOGEL, Karl A., Oriental despotism. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1959, citado por PAIM, Momentos decisivos…, op.cit., pp. 260-264. (52) PAIM, O socialismo brasileiro (1979-1999), op.cit., p. 107. (53) Cf. id., ibid., pp. 107-194 (54) Id., ibid., p. 108. Por exemplo, o documento que sintetiza a oposição tomada pelo PT diante da Nova República de Tancredo Neves e José Sarney, então recém-eleitos pelo Colégio Eleitoral (começo de 1985), intitula-se “Contra o continuísmo e o Pacto Social. Por uma alternativa democrática e popular”, ibid., p. 109. As referências à Constituinte foram extraídas da p. 111. (55) Id., ibid., p. 110. (56) Id., ibid., p. 112. (57) Id., ibid., p. 120. (58) Cf. id., ibid., p. 120. (59) Cf. id., ibid., p. 109. (60) Id., ibid., p. 113. (61) Este e outros documentos que pontuam as posições políticas do PT desde sua fundação podem ser lidos no seu site oficial www.pt.org.br. (61.a) PAIM, Antonio, O socialismo brasileiro..., op.cit., p. 190. (62) Cf., por exemplo, FLEURY, Sonia, “Introdução”; id., “A questão democrática na saúde”; e CARVALHO, Antônio Ivo de, “Conselhos de saúde, responsabilidade pública e cidadania: a reforma sanitária como reforma do Estado”, na coletânea Saúde e democracia: a luta do Cebes, Sonia Fleury (org.). São Paulo: Lemos Editorial, 1997, respectivamente, pp. 7-8; 25-41; e 93-112.
Baixar