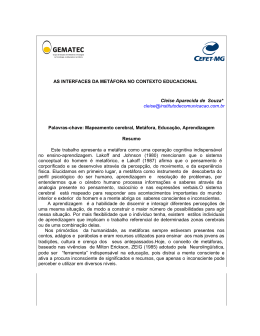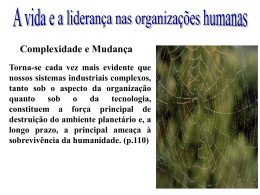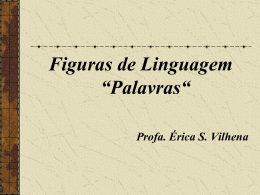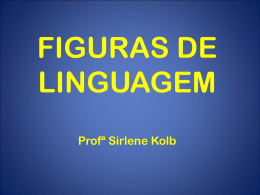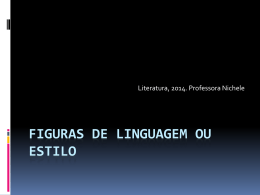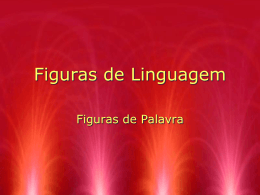O QUE SIGNIFICAM AS METÁFORAS Donald Davidson* Tradução de Pedro Serra Universidade de Salamanca A metáfora é o sonho da linguagem e, como em todo o sonho, a sua interpretação reflecte tanto o intérprete como quem a origina. A interpretação dos sonhos requer colaboração entre alguém que sonha e alguém em estado de vigília, ainda que sejam a mesma pessoa; e o acto de interpretação é, ele próprio, um acto da imaginação. Tal como fazer uma metáfora, a sua compreensão é um esforço criativo, e muito pouco orientado por regras. Estas advertências não distinguem a metáfora, a não ser em termos de grau, de outros intercâmbios linguísticos mais rotineiro: toda a comunicação discursiva supõe a interacção da construção inventiva e da interpretação inventiva. O que a metáfora acrescenta ao discurso comum é uma realização que não utiliza recursos semânticos para além dos recursos de que depende o discurso comum. Não existem instruções para inventar metáforas; não existe manual para determinar o que uma metáfora «significa» ou «diz»; não existe teste para a metáfora que não © Donald Davidson, 1978. Reservados todos os direitos. © desta tradução, Pedro Serra, 2011. * Donald Davidson é catedrático de filosofia na Universidade de Chicago. É autor de muitos ensaios importantes, que incluem «Actions, Reasons and Causes», «Causal Relations» e «Truth and Meaning»; é co-autor de Decision-Making: An Experimental Approach, e co-editor de Words and Objections, Semantics of Natural Language e, ainda, de The Logic of Grammar. peça o contributo do gosto.1 Uma metáfora implica um tipo e um grau de êxito artístico; não existem metáforas mal sucedidas, tal como não existem anedotas sem graça. Existem metáforas sem gosto, mas são desvios que, não obstante, realizaram algo com êxito, mesmo que o êxito conseguido não valha a pena, ou mesmo que tal realização pudesse ter sido melhor sucedida. Este ensaio interessa-se pelo que as metáforas significam, e a tese que expõe é a de que as metáforas significam aquilo que as palavras, na sua interpretação mais literal, significam, e nada mais do que isso. Uma vez que esta tese está em total desacordo com as visões contemporâneas que me são familiares, muito do que tenho para dizer é crítico. Todavia, penso que o quadro da metáfora que emerge quando o erro e a confusão são dissipados, torna a metáfora um fenómeno mais, e não menos, interessante. O erro central contra o qual vou dirigir as minhas invectivas é a ideia de que a metáfora tem, em acréscimo ao seu sentido ou significado literal, um outro sentido ou significado. Esta ideia é comum a muitas pessoas que escreveram sobre a metáfora: encontra-se nos trabalhos de críticos literários como Richards, Empson e Winters; em filósofos de Aristóteles até Max Black; em psicólogos de Freud, e anteriores, até Skinner, e posteriores; em linguistas de Platão até Uriel Weinreich e George Lakoff. A ideia adquire muitas formas, da forma relativamente simples de Aristóteles até à forma relativamente complexa de Black. A ideia surge em escritos que argumentam que a paráfrase literal de uma metáfora pode ser efectuada, mas é também partilhada por aqueles que 1 Penso que Max Black se engana quando diz que «As regras da nossa linguagem determinam que certas expressões devam valer como metáforas». Admite, contudo, que o que uma metáfora «significa» depende de muito mais factores: a intenção do falante, o tom de voz, o contexto verbal, etc. «Metaphor», no seu Models and Metaphors (Ithaca, N.Y., 1962), p. 29. defendem que tipicamente nenhuma paráfrase literal pode ser encontrada. Alguns enfatizam a especial compreensão que a metáfora pode inspirar e frisam que a linguagem corrente, no seu funcionamento habitual, não produz semelhante compreensão. Todavia, também esta perspectiva vê a metáfora como uma forma de comunicação a par da comunicação comum; veicula verdades ou falsidades sobre o mundo tal como a linguagem mais simples, ainda que a mensagem possa ser considerada mais exótica, profunda ou astutamente enroupada. A concepção da metáfora como sendo originariamente um meio para veicular ideias, ainda que ideias pouco usuais, parece-me tão errado como a ideia, da mesma família, de que a metáfora tem um significado especial. Concordo com a perspectiva de que as metáforas não podem ser parafraseadas, mas não penso que isto seja assim porque as metáforas digam algo demasiado novo para a expressão literal, mas sim porque não há nelas nada para parafrasear. A paráfrase, possível ou não, é apropriada àquilo que é dito: tentamos, na paráfrase, dizê-lo de outro modo. Contudo, se a minha perspectiva está correcta, uma metáfora não diz nada para além do seu sentido literal (nem aquele que a faz diz mais, ao usar a metáfora, do que esse sentido literal). Isto não significa negar, claro está, que a metáfora diga algo, ou que não seja possível tornar evidente esse algo que diz usando palavras adicionais. No passado, aqueles que negaram que a metáfora tem um conteúdo cognitivo em acréscimo ao conteúdo literal, frequentemente se empenharam em mostrar que a metáfora é confusa, meramente emotiva, imprópria para o discurso sério, científico ou filosófico. A minha perspectiva não deve ser associada a esta tradição. A metáfora é um dispositivo legítimo não apenas na literatura como também na ciência, na filosofia e no direito; é efectiva no elogio e no insulto, na oração e na promoção, na descrição e na prescrição. Em grande medida, não discordo de Max Black, Paul Henle, Nelson Goodman, Monroe Beardsley, e outros, no que se refere às suas explicações sobre o que a metáfora realiza, exceptuando o facto de que penso que realiza mais, e que aquilo que nela é acréscimo é de natureza diferente. O meu desacordo prende-se com a explicação de como a metáfora opera as suas maravilhas. Antecipando o argumento: dependo da distinção entre aquilo que as palavras significam e aquilo para que são usadas. Penso que a metáfora pertence exclusivamente ao domínio do uso. É algo efectuado pelo emprego imaginativo das palavras e das frases e depende inteiramente do sentido comum dessas palavras, e por conseguinte do sentido comum das frases que as abrangem. Postular significados metafóricos ou figurados não ajuda a explicar como as palavras funcionam na metáfora, nem tão-pouco o fazem quaisquer formas especiais de verdade metafórica ou poética. Estas ideias não explicam a metáfora, é a metáfora que as explica. Uma vez que entendemos uma metáfora podemos chamar àquilo que compreendemos a «verdade metafórica» e (até certo ponto) dizer o que o «significado metafórico» é. Mas alojar simplesmente este significado na metáfora é como explicar a razão pela qual um comprimido nos faz dormir dizendo que tem poderes soporíferos. As condições de sentido literal e de verdade literal podem ser atribuídas a palavras e frases independentemente dos seus contextos particulares de uso. É esta a razão pela qual fazer referência a eles possui poder explicativo genuino. Vou tentar estabelecer as minhas perspectivas negativas sobre o que as metáforas significam, e apresentar as minhas limitadas pretensões positivas, examinando algumas teorias falsas sobre a natureza da metáfora. Uma metáfora obriga-nos a prestar atenção para alguma semelhança, por vezes uma semelhança original ou surpreendente, entre duas ou mais coisas. Esta observação trivial e verdadeira conduz, ou parece conduzir, a uma conclusão a respeito do sentido das metáforas. Consideremos a semelhança, ou similitude, comum: duas rosas são semelhantes porque partilham a propriedade de serem rosas: duas crianças são semelhantes em virtude da infância que as conjuga. Ou, de modo mais simples, as rosas são semelhantes porque cada uma delas é uma rosa, e as crianças são semelhantes porque cada uma delas é criança. Suponhamos que alguém diz que «Tolstoy foi em tempos criança». De que modo é a criança Tolstoy como outra criança? A resposta acorre oportunamente: em virtude de exibir a propriedade da infância, isto é, deixando de lado algum enleio, em virtude de ser uma criança. Se esgotarmos a expressão «em virtude de», podemos, segundo parece, ser ainda mais explícitos dizendo que a criança Tolstoy partilha com outras crianças o facto de o predicado «é uma criança» lhe ser aplicado; dada a palavra «criança», não temos qualquer problema para dizer como, exactamente, a criança Tolstoy se parece a outras crianças. Podíamos fazê-lo sem a palavra «criança»; tudo o que precisamos é de outras palavras que signifiquem o mesmo. O resultado final é o mesmo. A semelhança comum depende de agrupamentos estabelecidos pelos sentidos comuns das palavras. Esta semelhança é natural e não nos surpreende na medida em que formas familiares de agrupar objectos estão ligadas aos significados usuais de palavras usuais. Um crítico famoso afirmou que Tolstoy era «uma grande criança moralizadora». O Tolstoy que aqui é referido não é, obviamente, a criança Tolstoy mas o escritor adulto; isto é uma metáfora. Ora, em que sentido é o Tolstoy escritor semelhante a uma criança? O que devemos fazer, talvez, é pensar na classe de objectos que inclui todas as crianças comuns e, em acréscimo, o Tolstoy adulto e, posteriormente, perguntarmo-nos que propriedade especial e surpreendente têm em comum os membros desta classe. O pensamento atractivo é o de que com paciência poderíamos aproximar-nos tanto quanto fosse necessário da especificação da pertinente propriedade. De qualquer forma, poderíamos perfeitamente fazê-lo se encontrássemos as palavras que significam exactamente o mesmo que a palavra metafórica «criança» significa. O ponto importante, segundo a minha perspectiva, não é se podemos ou não encontrar essas outras palavras perfeitas, mas a suposição de que há algo a ser tentado, a suposição de que existe um sentido metafórico condizente. Até agora apenas tenho estado a esboçar de que modo o conceito de significado pode ter-se deslizado furtivamente para a análise da metáfora, e a resposta que sugeri é a de que, uma vez que o que pensamos como sendo um jardim de variedade de semelhanças vai a par do que pensamos ser como um jardim de variedade de significados, é natural postular significados metafóricos ou pouco usuais como ajuda para explicar as semelhanças que as metáforas promovem. A ideia, então, é a de que na metáfora certas palavras assumem significados novos, ou significados frequentemente designados como significados «ampliados». Quando lemos, por exemplo, «o Espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas», devemos considerar a palavra «face» como tendo um significado ampliado (não tomo em consideração outras metáforas nesta passagem). A ampliação aplica-se, como é o caso, àquilo que os filósofos chamam a extensão da palavra, isto é, a classe de entidades a que a palavra se refere. Aqui, a palavra «face» aplica-se a faces comuns, e por acréscimo a águas. Esta descrição não pode, seja como for, estar completa uma vez que, se nestes contextos as palavras «face» e «criança» se aplicam correctamente a águas e ao Tolstoy adulto, então as águas efectivamente têm faces e Tolstoy literalmente foi uma criança, e todo o sentido de metáfora se evapora. Se nos dispomos a pensar sobre as palavras nas metáforas como desempenhado directamente a sua função de se referir àquilo que com propriedade se referem, então não há diferença entre a metáfora e a introdução de um novo termo no nosso vocabulário: fazer uma metáfora é assassiná-la. O que ficou de fora foi qualquer apelo ao sentido original da palavra. Se a metáfora depende, ou não, de novos ou sentidos ampliados, certamente depende, de algum modo, de sentidos originais; uma descrição adequada da metáfora deve permitir que os sentidos originais ou primários das palavras permaneçam activos no seu enquadramento metafórico. Talvez possamos, então, explicar a metáfora como um tipo de ambiguidade: no contexto de uma metáfora, certas palavras têm ou um significado novo ou um significado original, e a força da metáfora depende da nossa indecisão enquanto hesitamos entre os dois significados. Assim, quando Melville escreve que «Cristo foi um cronómetro», o efeito metafórico é produzido pelo facto de tomarmos «cronómetro» primeiro no seu sentido comum e, depois, num sentido extraordinário ou metafórico. É difícil ver de que modo esta teoria possa estar correcta. Pois a ambiguidade na palavra, se existe, é devida ao facto de que em contextos comuns significa uma coisa e no contexto metafórico significa algo diferente; mas no contexto metafórico não hesitamos necessariamente a respeito do seu significado. Quando hesitamos é habitualmente para decidir qual interpretação, de um número de interpretações, devemos aceitar; raramente duvidamos de que aquilo que temos é uma metáfora. Seja como for, a efectividade da metáfora facilmente excede em duração o fim da hesitação a propósito da interpretação da passagem metafórica. A metáfora não pode, por conseguinte, dever o seu efeito à ambiguidade deste tipo.2 2 Nelson Goodman afirma que a metáfora e a ambiguidade diferem sobretudo «em que os diferentes usos de um termo meramente ambíguo são coevos e independentes», enquanto que na metáfora «um termo com uma extensão estabelecida pelo hábito é aplicado noutro lugar sob a influência desse hábito»; sugere que à medida que o nosso sentido da história dos «dois usos» na metáfora Outra forma de ambiguidade pode parecer oferecer melhor sugestão. Por vezes uma palavra, num único contexto, transporta dois significados, supondo-se que lembremos e usemos ambos. Ou, se pensarmos que o ser palavra implica identidade de significado, então podemos descrever a situação de tal modo que o que nos surge como uma palavra são, de facto, duas. Quando dão as boas-vindas, de modo obsceno, à personagem Cressida de Shakespeare, no momento em que chega ao campo grego, diz Nestor, «Our general doth salute you with a kiss» [«O nosso general saúda-vos com um beijo»]. Devemos aqui entender «general» de duas maneiras: uma delas aplicada a Agamemnon, que é o general; e, uma vez que está a beijar toda a gente, como não sendo aplicada a ninguém em particular, mas a todos em geral. Temos, de facto, a conjunção de duas frases: o nosso general, Agamemnon, saúda-vos com um beijo; e, todos em geral vos saúdam com um beijo. Este dispositivo, um trocadilho, é legítimo, mas não é o mesmo dispositivo que a metáfora. Pois na metáfora não existe necessidade essencial de reiteração; quaisquer que sejam os significados que atribuímos às palavras, eles mantêm-se através de qualquer leitura correcta da passagem. Uma modificação plausível da última sugestão seria a de considerar a palavra chave (ou palavras chave) de uma metáfora como tendo dois tipos diferentes de significado em simultâneo, um sentido literal e um sentido figurado. Imaginemos o sentido literal como sendo latente, algo de que somos conscientes, algo que pode ter um efeito em nós sem ter efeito no contexto, enquanto que o sentido figurado transporta se desvanece, a palavra metafórica se torna meramente ambígua (Languages of Art [Indianapolis, Ind., 1968], p. 71). De facto, em muitos casos de ambiguidade, um uso brota do outro (como afirma Goodman) e, por conseguinte, não podem ser coevos. Mas o erro básico, que Goodman partilha com outros, é a ideia de que dois «usos» se encontram envolvidos na metáfora da forma como o fazem na ambiguidade. o peso directo. E, por último, deve haver uma regra que liga os dois significados, pois de outro modo a explicação recai numa forma da teoria da ambiguidade. A regra, pelo menos para muitos casos típicos de metáfora, diz que no seu papel metafórico a palavra se aplica a tudo aquilo a que se aplica no seu papel literal, e depois a algo.3 Esta teoria pode parecer complexa, mas é extraordinariamente semelhante ao que Frege propôs como descrição do comportamento de referir termos em frases modais e frases sobre atitudes proposicionais como a crença e o desejo. Segundo Frege, cada termo de referência tem dois (ou mais) significados, um que fixa a sua referência em contextos comuns, e outro que fixa a sua referência em contextos especiais criados por operadores modais ou verbos psicológicos. A regra que liga os dois significados pode ser colocada assim: o significado da palavra nos contextos especiais faz a referência nesses contextos ser idêntica à do significado em contextos comuns. Temos aqui o quadro completo, colocando Frege a par de uma perspectiva fregeana da metáfora: devemos pensar numa palavra como tendo, em acréscimo ao seu campo mundano de aplicação ou referência, dois campos de aplicação especiais ou supra-mundanos, um para a metáfora e outro para contextos modais e afins. Em ambos os casos, o significado original permanece actuante em virtude de uma regra que relaciona os vários significados. Tendo enfatizado a analogia possível entre significado metafórico e os significados fregeanos para contextos oblíquos, volto-me para uma dificuldade imponente de manter a analogia. Estamos a entreter um visitante de Saturno tentando ensiná-lo como usar a palavra «chão». Percorremos os subterfúgios familiares, conduzindo-do de chão a chão, apontando, calcando e repetindo a palavra. Incitamo-lo a fazer 3 A teoria descrita é essencialmente a de Paul Henle, «Metaphor», in Language, Thought, and Culture, ed. Henle (Ann Arbor, Mich., 1958). experiências, tocando levemente os objectos a título experimental com os seus tentáculos ao mesmo tempo que recompensamos as suas tentativas certas e erradas. Queremos que acabe por ficar a saber não apenas que estes objectos ou superfícies particulares são chãos, mas também como reconhecer um chão quando avistamos ou tocamos um. O tom burlesco com o que o fazes não lhe diz o que precisa de saber, mas com sorte ajuda-o a aprender. Devemos chamar a este processo aprender algo sobre o mundo, ou aprender algo sobre a linguagem? Uma questão estranha, pois o que se aprende é que um pedaço de linguagem se refere a um pedaço do mundo. Ainda assim, é fácil distinguir entre a aprendizagem do significado de uma palavra e o uso da palavra uma vez que o significado foi aprendido. Comparando estas duas actividades, é natural dizer que a primeira concerne a aprendizagem de algo sobre a linguagem, enquanto que a segunda é tipicamente a aprendizagem de algo sobre o mundo. Se o nosso habitante de Saturno aprendeu a usar a palavra «chão», podemos tentar dizer-lhe algo novo: que aqui é um chão. Se ele dominou o truque das palavras, dissemos-lhe algo sobre o mundo. O nosso amigo de Saturno transporta-nos agora através do espaço para a esfera da sua casa, e olhando remotamente para a terra deixada atrás, dizemos-lhe, acenando para a Terra, «chão». Talvez ele pense que isto se trata ainda parte da lição e suponha que a palavra «chão» se aplica correctamente à terra, pelo menos vista de Saturno. Mas, e se pensámos que ele sabia já o significado de «chão» e nos estávamos a lembrar do modo como Dante, de um lugar semelhante no orbe celeste, via a terra habitada como «o pequeno chão redondo que nos torna passionais»? O nosso propósito era a metáfora, e não treinar o uso da linguagem. Que diferença faria para o nosso amigo de que modo o entendia? Com a teoria da metáfora que estamos a considerar, muito pouca diferença, pois de acordo com essa teoria uma palavra tem um significado novo num contexto metafórico; a ocasião da metáfora seria, por conseguinte, a ocasião para aprender o novo significado. Devemos concordar que, em certo sentido, faz relativamente pouca diferença se, num determinado contexto, pensamos que a palavra está a ser usada metaforicamente ou está a ser usada de um modo prévio desconhecido, mas literal. Empson, em Some Versions of Pastoral, cita estes versos de Donne: «As our blood labours to beget / Spirits, as like souls as it can, [...] / So must pure lover’s soules descend [...]» O leitor moderno, realça Empson, quase de certeza entenderá metaforicamente a palavra «espíritos» nesta passagem, considerando-a aplicar-se apenas por extensão a algo espiritual. Mas para Donne não havia metáfora. Escreve nos seus Sermons: «The spirits [...] are the thin and active part of the blood, and are a kind of middle nature, between soul and body». Saber isto não faz muita diferença; Empson tem razão quando afirma que «É curioso como a mudança da palavra [isto é, daquilo que pensamos que significa] não afecta a poesia».4 A mudança pode ser, pelo menos em certos casos, difícil de apreciar, mas a não ser que haja mudança, perde-se a maior parte do que pensamos ser interessante sobre a metáfora. Tenho estado a provar a minha posição contrastando a aprendizagem de um novo significado de uma velha palavra com o uso de uma palavra já compreendida; num caso, argumentei, a nossa atenção dirige-se para a linguagem, no outro, para aquilo sobre que trata a linguagem. A metáfora, sugeri, pertence à segunda categoria. Isto pode também ser visto se considerarmos metáforas mortas. Em tempos, segundo suponho, rios e garrafas não tinham literalmente, como acontece hoje, bocas. Pensando no uso presente, não interessa se consideramos a palavra «boca» de modo ambíguo porque se aplica a entradas de rios e aberturas de garrafas bem como a aberturas animais; nem interessa se pensamos que existe um único campo de aplicação que os abrange a ambos. O que importa é que 4 William Empson, Some Versions of Pastoral (London, 1935), p. 133. quando «boca» se aplicava apenas metaforicamente a garrafas, a aplicação fazia o ouvinte aperceber-se de uma semelhança entre aberturas de animais e de garrafas. (Considere-se a referência de Homero a feridas como bocas). Uma vez que temos o uso presente da palavra, com aplicação literal a garrafas, não existe mais nada de que apercebermo-nos. Não há semelhança que procurar porque consiste simplesmente em ser referida pela mesma palavra. A novidade não é a questão. No seu contexto uma palavra uma vez tomada como metáfora permanece metáfora na centésima vez que a ouvimos, enquanto uma palavra pode facilmente se apreciada num novo papel literal logo num primeiro encontro. Aquilo a que chamamos elemento de novidade ou surpresa numa metáfora é uma parte integrante estética que podemos experimentar uma e outra vez, como a surpresa na Sinfonia nº 94 de Haydn, ou uma cadência familiar deceptiva. Se a metáfora implicasse um segundo significado, como acontece com a ambiguidade, poderíamos contar ser capazes de especificar o significado especial de uma palavra num quadro metafórico esperando que a metáfora morresse. O sentido figurado da metáfora viva seria imortalizado no sentido literal da metáfora morta. Mas embora alguns filósofos tenham sugerido esta ideia, parece ser manifestamente errada. «He was burned up» é um enunciado genuinamente ambíguo (uma vez que pode ser verdade num sentido e falso noutro), mas ainda que a expressão idiomática seja sem dúdiva o cadáver de uma metáfora, «He was burned up» hoje apenas sugere que estava muito zangado. Quando a metáfora estava activa, teríamos imaginado fogo nos olhos e fumo saindo das orelhas. Podemos aprender muito sobre o que significam as metáforas comparando-as com os símiles, pois um símile diz-nos, em parte, aquilo que uma metáfora mera e levemente nos anima a notarmos. Suponhamos que Goneril tivesse dito, pensando em Lear, «Old fools are like babes again»; então ela teria utilizado as palavras para afirmar a semelhança entre velhos loucos e bébés. O que disse de facto, claro, foi «Old fools are babes again», usando deste modo as palavras para dar a entender o que o símile declarava. Pensando em função destes exemplos pode inspirar outra teoria do sentido figurativo ou especial das metáforas: o sentido figurativo de uma metáfora é o sentido literal do símile correspondente. Assim, «Cristo era um cronómetro» no seu sentido figurado é sinónimo de «Cristo era como um cronómetro», e o significado metafórico um dia encerrado em «Ele estava queimado» é libertado em «Ele estava como alguém queimado» (ou talvez, «Ele estava como queimado»). Existe, é inegável, a dificuldade em identificar o símile que corresponde a uma determinada metáfora. Virginia Wolf disse que um intelectual é «a man or woman of thoroughbred intelligence who rides his mind at a gallop across country in pursuit of an idea». Que símile corresponde? Algo assim, talvez: «A highbrow is a man or woman whose thoroughbred intelligence is like a thoroughbred horse who persists in thinking about an idea like a rider at galloping across country in pursuit of... well something». A perspectiva de que o significado especial de uma metáfora é idêntico ao significado literal de um símile correspondente (como quer que «correspondente» seja soletrado) não deve ser confundida com a teoria comum de que uma metáfora é um símile elíptico.5 Esta teoria não estabelece distinção de sentido entre uma metáfora e um símile relacionado e não fornece nenhuma base para falar de significados figurativos, metafóricos ou especiais. É uma teoria que ganha a partida no que concerne a simplicidade, mas também parece demasiado simples para 5 J. Middleton Murray diz que uma metáfora é um «símile comprimido», Countries of the Mind, 2ª. série (Oxford, 1931), p. 3. Max Black atribui uma perspectiva semelhante a Alexander Bain, English Composition and Rethoric, ed. aum. (London, 1887). funcionar. Pois se tornamos o sentido literal da metáfora o sentido literal de um símile correspondente, negamos acesso ao que originalmente tomámos como sendo o sentido literal da metáfora, e concordámos quase desde o início que este significado era essencial para o funcionamento da metáfora, fosse o que fosse necessário acrescentar ainda de um significado não literal. Tanto a teoria do símile elíptico da metáfora como a sua variante mais sofisticada, que equaciona o sentido figurativo da metáfora com sentido literal de um símile, partilham um erro fatal. Tornam o sentido oculto da metáfora demasiado óbvio e acessível. Em cada caso, o sentido oculto é encontrado simplesmente olhando para o sentido literal daquilo que é habitualmente um símile dolorosamente trivial. Isto é como aquilo – Tolstoy é como uma criança, a terra é como um chão. É trivial porque tudo é como tudo, e de formas intermináveis. As metáforas são frequentemente muito difíceis de interpretar e, como se costuma dizer, impossíveis de parafrasear. Mas com esta teoria, interpretação e paráfrase caracteristicamente estão prontas para ser usadas pelo mais inexperiente. Estas teorias do símile têm sido consideradas aceitáveis, penso, apenas porque têm sido confundidas com uma teoria bastante diferente. Considere-se esta advertência de Max Black: Quando Schopenhauer chamou à prova geométrica uma ratoeira, estava, segundo esta perspectiva, a dizer (ainda que não explicitamente): «Uma prova geométrica é como uma ratoeira, uma vez que ambas proporcionam uma recompensa falaciosa, atraem as suas vítimas progressivamente, conduzem a supresas desagradáveis, etc.» Esta é uma perspectiva da metáfora como um símile elíptico ou condensado.6 6 Black, p. 35. Posso discernir aqui duas confusões. Primeiro, se as metáforas são símiles elípticas, dizem explicitamente o que os símiles dizem, pois a elipse é uma forma de abreviatura, e não de paráfrase ou de informação indirecta. Mas, e esta é a questão mais importante, a afirmação de Black sobre aquilo que a metáfora diz vai mais além daquilo que é proporcionado pelo símile correspondente. O símile diz apenas que uma prova geométrica é como uma ratoeira. Não nos diz mais do que a metáfora sobre que semelhanças devemos observar. Black menciona três semelhanças, e claro podíamos acrescentar a lista indefinidamente. Mas supõe-se que esta lista, quando revista e suplementada de modo correcto, proporciona o sentido literal do símile? Sem dúvida que não, uma vez que o símile apenas declara a semelhança. Se a lista se supõe que proporciona o sentido figurado do símile, então não aprendemos nada sobre a metáfora da comparação com o símile – apenas que ambos possuem o mesmo significado figurativo. Nelson Goodman efectivamente defende que «a diferença entre símile e metáfora é negligenciável», e prossegue, «quer a locução se trate de ‘é como’ ou se trate de ‘é’, a figura assemelha quadro a pessoa separando certas características comuns [...]»7 Goodman está a considerar a diferença entre dizer que um quadro é triste e dizer que ele é como uma pessoa triste. É claramente verdade que ambos enunciados assemelham quadro e pessoa, mas parece-me ser um erro pretender que os dois modos de dizer «separam» uma característica comum. O símile diz que existe uma semelhança e deixa-nos a tarefa de separar alguma ou algumas características comuns; a metáfora não declara explicitamente uma semelhança, mas se aceitamos que é uma metáfora, somos levados uma vez mais a procurar características comuns (não necessariamente as mesmas características que o símile associado sugere; mas esta é outra questão). 7 Goodman, pp. 77-78. Justamente porque um símile tem uma declaração de similitude na manga, é menos plausível, penso, do que no caso da metáfora, sustentar que existe um segundo sentido escondido. No caso do símile, verificamos o que literalmente diz: que duas coisas se parecem; examinamos, então, os objectos e consideramos que similitude seria, em contexto, apropriada. Tendo decidido, poderíamos então dizer que o autor do símile pretendia que nós – isto é, queria que nós – prestássemos atenção nessa semelhança. Mas tendo estimado a diferença entre o que as palavras pretendiam e o que o autor conseguiu realizar usando essas palavras, seríamos pouco tentados a explicar o que aconteceu dotando as próprias palavras com um segundo sentido figurado. O objectivo do conceito de significado linguístico é o de explicar o que pode ser feito com palavras. Mas o suposto sentido figurado de um símile não explica nada; não é uma característica da palavra que a palavra possua a priori e independetemente do contexto de uso, e não repousa sobre nenhuns hábitos linguísticos que não sejam aqueles que governam o sentido comum. O que as palavras fazem com o seu significado literal no símile deve ser possível que o façam na metáfora. Uma metáfora chama a atenção para o mesmo tipo de semelhança, ou até para as mesmas semelhanças, que o correspondente símile. Mas então os subtis e inesperados paralelos e analogias que a metáfora promove não precisam de depender, para a sua promoção, de nada mais do que o sentido literal das palavras. A metáfora e o símile são apenas dois entre intermináveis dispositivos que servem para alertar-nos sobre aspectos do mundo convidando-nos a fazer comparações. Cito algumas estrofes de «The Hippopotamus» de T. S. Eliot: The broad-backed hippopotamus Rests on his belly in the mud; Although he seems so firm to us He is merely flesh and blood. Flesh and blood is weak and frail, Susceptible to nervous shock; While the True Church can never fail For it is based upon a rock. The hippo’s feeble steps may err In compassing material ends, While the True Church need never stir To gather in it its dividends. The ‘potamus can never reach The mango or the mango-tree; But fruits of pomegranate and peach Refresh th Church from over sea. Aqui não se nos diz nem que a Igreja se parece a um hipopótamo (como num símile), nem somos pressionados a fazer a comparação (como numa metáfora), mas não há dúvida que as palavras estão a ser usadas para dirigir a nossa atenção para semelhanças entre ambos. Nem pode haver, neste caso, muita tendência para supor sentidos figurados, pois em que palavras os alojaríamos? O hipopótamo efectivamente descansa sobre a pança no barro; a Igreja Verdadeira, diz-nos o poema literalmente, não pode falhar. O poema implica, é claro, muita coisa que vai mais além do sentido literal das palavras. Mas implicar não é significar. O argumento, até ao momento, conduziu à conclusão de que aquilo que na metáfora pode ser explicado em termos de significado pode, e na verdade, deve se explicado apelando para o sentido literal das palavras. Uma consequência é a de que as frases em que ocorrem as metáforas são verdadeiras ou falsas de um modo normal ou literal, pois se as palavras nelas não têm significados especiais, as frases não têm uma verdade especial. Isto não significa negar que existe algo como a verdade metafórica, apenas significa negá-lo nas frases. A metáfora conduz-nos a prestar atenção ao que, de outro modo, poderia não ser advertido, e não nenhuma razão, suponho, para não dizer que estas perspectivas, pensamentos e sentimentos inspirados pela metáfora, sejam verdadeiros ou falsos. Se uma frase usada metaforicamente é verdadeira ou falsa no sentido frequente, então está claro que é habitualmente falsa. A diferença semântica mais óbvia entre símile e metáfora é a de que todos os símiles são verdadeiros e a maioria das metáforas são falsas. A terra é como um chão, o Assírio lançou-se como um lobo sobre o rebanho, porque tudo é como tudo. Mas transformar estas frases em metáforas é torná-las falsas; a terra é como um chão mas não é um chão; Tolstoy, adulto, era como uma criança, mas não era uma criança. Usamos um símile frequentemente apenas quando sabemos que a metáfora correspondente é falsa. Dizemos que o Sr. S é como um porco porque sabemos que não é um porco. Se tivessemo utilizado uma metáfora e disséssemos que era um porco, não seria porque tivéssemos mudado de ideia sobre os factos mas porque escolhemos apresentar a ideia de modo diferente. O que importa não é a efectiva falsidade mas que a frase seja considerada falsa. Note-se o que acontece quando uma frase que usamos como metáfora, acreditando que é falsa, chega a ser verdade por causa de uma mudança naquilo que pensamos sobre o mundo. Quando foi dada a notícia de que o avião de Hemingway tinha sido visto, destruído, em África, o novaiorquino Mirror lançou um cabeçalho que dizia «Hemingway Perdido em África», a palavra «perdido» tendo sido utilizada para sugerir que estava morto. Quando se soube que afinal estava vivo, o Mirror deixou que o cabeçalho fosse lido literalmente. Considere-se, ainda, o seguinte caso: uma mulher vê-se com um belo vestido e diz, «Que sonho de vestido!» - e depois acorda. A questão está em que o vestido é como um vestido com que sonharíamos e por conseguinte não é um vestido de sonho. Henle fornece um bom exemplo extraído de Anthony and Cleopatra (2. 2): The barge she sat in, like a burnish’d throne Burn’d on the water Aqui símile e metáfora interagem de modo estranho, mas a metáfora desapareceria se um incêndio fosse imaginado. De modo muito semelhante, o efeito habitual de um símile pode ser sabotado levando demasiado longe a comparação. Woody Allen escreve: «O julgamento, que teve lugar durante as semanas seguintes, foi como um circo, ainda que tivesse sido algo difícil meter os elefantes na sala do tribunal».8 Geralmente, apenas quando consideramos que uma frase é falsa a aceitamos como metáfora e começamos à caça das implicações ocultas. É provavelmente por esta razão que a maioria das frases metafóricas são manifestamente falsas, assim como as todos os símiles são trivialmente verdade. O absurdo e a contradição numa frase metafórica garante que não acreditemos nela e convida-nos, em condições apropriadas, a tomar a frase metaforicamente. Falsidade patente é o caso habitual da metáfora, mas por vezes a verdade patente serve também. «Negócio é negócio» é demasiado óbvio no seu sentido literal de forma a ter sido pronunciado para veicular informação, por conseguinte procuramos outro uso; Ted Cohen lembra- 8 Woody Allen, New Yorker, 21 de Novembro de 1977, p. 59. nos, na mesma linha, que nenhum homem é uma ilha.9 A questão é a mesma. O sentido comum no contexto de uso é bastante estranho para nos induzir a descurar a questão da verdade literal. Seja-me permitido, agora, colocar uma questão um tanto platónica, comparando a elaboração de uma metáfora com o dizer uma mentira. A comparação é adequada porque mentir, como fazer uma metáfora, concerne não o sentido das palavras mas o seu uso. Diz-se por vezes que dizer uma mentira acarreta dizer o que é falso; mas isto está errado. Dizer uma mentira não requer que o que dizemos seja falso mas que pensemos que é falso. Uma vez que habitualmente acreditamos nas frases verdadeiras e não acreditamos nas falsas, a maioria das mentiras são falsidades; mas em cada caso individualmente considerado isto é um acidente. O paralelo entre elaborar uma metáfora e dizer uma mentira é enfatizado pelo facto de que a mesma frase pode ser usada, sem mudar o significado, para ambos os propósitos. Assim, uma mulher que acreditou em bruxas mas que não pensou que a sua vizinha é uma bruxa, podia dizer «Ela é uma bruxa», querendo dizê-lo metaforicamente; a mesma mulher, ainda acreditando em bruxas e pensando o mesmo da vizinha, poderia usar essas mesmas palavras para um efeito muito diferente. Uma vez que frase e significado são os mesmos em ambos os casos, é por vezes difícil provar qual a intenção que subjaz ao dizê-lo; deste modo, um homem que diz «Lattimore é um Comunista» e quer mentir sempre pode declinar tê-lo feito alegando ser uma metáfora. O que faz a diferença entre uma mentira e uma metáfora não é uma diferença das palavras usadas ou do que significam (em qualquer sentido estrito do significado) mas como as palavras são usadas. Usar 9 Ted Cohen, «Figurative Speech and Figurative Acts», Journal of Philosophy 72 (1975): 671. Uma vez que a negação de uma metáfora parece ser sempre uma metáfora potencial, pode haver tantas trivialidades entre as metáforas potenciais como há absurdos entre as metáforas efectivas. uma frase para dizer uma mentira e usá-la para fazer uma metáfora são, é claro, usos totalmente diferentes, tão diferentes que não interferem um com o outro, tal como acontece, digamos, com o actuar e o mentir. Ao mentir devemos fazer uma asserção de modo a representar-nos como acreditando naquilo que não acreditamos; ao actuar, essa asserção é excluída. A metáfora é indiferente à distinção. Pode ser um insulto, e deste modo ser uma asserção, dizer a um homem, «És um porco». Mas nenhuma metáfora estava em causa quando (suponhamos) Ulisses dirigiu as mesmas palavras aos seus companheiros no palácio de Circe; uma história, é inegável, e portanto não havendo asserção – mas a palavra, pelo menos neste caso, foi usada literalmente aplicada a homens. Nenhuma teoria do significado metafórico ou da verdade metafórica pode ajudar a explicar como a metáfora funciona. A metáfora segue pelo mesmo caminho linguístico familiar que as frases mais simples; vimo-lo ao considerar o símile. O que distingue a metáfora não é o sentido mas o uso – neste aspecto é como asseverar, insinuar, mentir, prometer ou criticar. E o uso especial que fazemos da linguagem na metáfora não é – não pode ser – «dizer algo especial», por mais indirectamente que o façamos. Pois uma metáfora diz apenas o que mostra facialmente – habitualmente uma falsidade evidente ou uma verdade absurda. E esta verdade ou falsidade manifestas não precisa de paráfrase – é dada no sentido literal das palavras. O que dizer, pois, da energia interminável que foi gasta, e continua a ser gasta, em elaborar métodos e dispositivos para esclarecer com propriedade o conteúdo de uma metáfora? Os psicólogos Robert Verbrugge e Nancy McCarrell dizem-nos que: Muitas metáforas chamam a atenção para sistemas de relações comuns ou transformações comuns, em que a identidade dos participantes é secundária. Por exemplo, considerem-se as frases: Um carro é como um animal, Os troncos das árvores são palhas para ramos e folhas sedentas. A primeira frase chama a atenção para sistemas de relações entre consumo energético, respiração, auto-locomoção, sistemas sensoriais e, possivelmente, um homúnculo. Na segunda frase, a semelhança é um tipo de transformação mais constrangido: sucção de fluído através de um espaço cilíndrico orientado verticalemente, de uma fonte de fluído até um destino.10 Verbrugge e McCarrell não acreditam que exista uma linha divisória entre o uso literal e o uso metafórico das palavras; pensam que muitas palavras têm um significado «nebuloso» que é fixado, se for fixado, por um contexto. Mas certamente esta nebulosidade, como quer que seja ilustrada e explicada, não pode apagar a linha entre o que uma frase significa literalmente (dado o seu contexto) e aquilo «para que chama a nossa atenção» (dado o seu sentido literal fixado pelo contexto). A passagem que acabo de citar não emprega esta distinção: aquilo que diz que os exemplos de frases chamam a nossa atenção para, são factos expressos por paráfrases de frases. Verbrugge e McCarrell apenas pretendem insistir que uma correcta paráfrase pode enfatizar «sistemas de relações» em vez de semelhanças entre objectos. Segundo a teoria da interacção de Black, uma metáfora obriga-nos a aplicar um «sistema de lugares comuns», associado à palavra metafórica, ao tema da metáfora: em «O homem é um lobo» aplicamos atributos tópicos (estereótipos) do lobo ao homem. Assim, a metáfora, afirma Black, «selecciona, enfatiza, suprime e organiza características do termo principal implicando enunciado sobre ele que normalmente se 10 Robert R. Verbrugge e Nancy S. McCarrell, «Metaphoric Comprehension: Studies in Reminding and Resembling», Cognitive Psychology 9 (1977): 499. aplicam ao termo subsidiário».11 Se a paráfrase falha, segundo Black, não é porque a metáfora não tenha um conteúdo cognitivo especial, mas porque a paráfrase «não terá o mesmo poder de informar e iluminar que o original [...] Uma das questões que desejo sublinhar é a de que a perda nestes casos é uma perda de conteúdo cognitivo; a fraqueza relevante da paráfrase literal não é a de que pode ser cansativamente prolixa ou tediosamente explícita; falha em ser uma tradução porque falha em dar a compreensão que a metáfora proporcionava».12 Como pode isto estar certo? Se uma metáfora tem um conteúdo cognitivo especial por que razão seria tão difícil ou impossível mostrá-lo? Se, como Owen Barfield reivindica, uma metáfora «diz uma coisa e quer dizer outra», porque razão quando tentamos tornar explícito o que significa, o efeito é muito mais fraco - «coloque-se desse modo», diz Barfield, «e quase todo o lustro, e com ele metade da poesia, se perde»?13 Porque pensa Black que uma paráfrase literal «diz inevitavelmente demasiado – e com a ênfase errada»? Porquê inevitavelmente? Não podemos, se somos suficientemente espertos, aproximar-nos tanto quanto nos apetecer? A este respeito, como explicar que um símile viva harmoniosamente sem um significado intermédio? Em geral, os críticos não sugerem que um símile diga uma coisa e signifique outra – não supõem que signifique nada mais do que repousa na superfície das palavras. Pode fazer-nos pensar pensamentos profundos, tal como a metáfora; então, por que razão ninguém apela para o «sentido cognitivo especial» do símile? Lembremo-nos do hipopótamo de Eliot; aí não há nem símile nem metáfora, para o que parecia ser feito é exactamente o 11 12 13 Black, pp. 44-45. Ibid., p. 46. Owen Barfield, «Poetic Diction and Legal Fiction», in The Importance of Language, ed. Max Black (Englewood Cliffs, N.J., 1962), p. 55. que é feito por símiles e metáforas. Alguém sugere que as palavras no poema de Eliot tenham significados especiais? Por último, se as palavras na metáfora transportam um significado codificado, como pode esse significado diferir do significado que essas mesmas palavras transportam no caso de a metáfora morrer – isto é, quando se torna parte da linguagem? Porque não significa «Ele estava queimado», como hoje é usada e significa esta frase, exactamente o mesmo que a metáfora viva significou em tempos? Todavia, tudo o que a metáfora morta significa é que ele estava muito zangado – uma noção não muito difícil de tornar explícita. Existe, pois, uma tensão na perspectiva habitual da metáfora. Isto porque, por um lado, a perspectiva habitual pretende defender que a metáfora faz algo que a simples prosa não consegue fazer, e, por outro lado, quer explicar o que a metáfora faz apelando para um conteúdo cognitivo – justamente o tipo de coisa que a simples prosa tem a intenção de expressar. Enquanto estivermos inseridos neste quadro mental, devemos albergar a suspeita de pode ser feito, pelo menos até certo ponto. Existe uma forma simples para sair deste impasse. Devemos abandonar a ideia de que a metáfora transporta uma mensagem, de que tem um conteúdo ou significado (excepto, é claro, o seu sentido literal). As diferentes teorias que temos estado a considerar enganam-se no seu objectivo. Onde pensam que proporcionam um método para decifrar um conteúdo codificado, na verdade dizem-nos (ou tentam dizer-nos) algo sobre o efeito que as metáforas têm em nós. O erro comum é o de aferrarse a estes conteúdos do pensamentos que uma metáfora provoca e ler esses conteúdos na própria metáfora. Não há dúvida que as metáforas frequentemente nos fazem notar aspectos das coisas de não nos tínhamos apercebido; não há dúvida que chamam a atenção para surpreendentes analogias e semelhanças; proporcinam de facto uma espécie de lente ou janela, como diz Black, através dos quais vemos os fenómenos relevantes. A questão não reside aqui, mas sim na questão de como a metáfora se relaciona com o que nos faz ver. Pode ser observado com justiça que a pretender que uma metáfora provoca ou convoca uma certa perspectiva sobre o seu tema, mais do que o enunciá-lo directamente, é um lugar-comum; assim é. Assim, Aristóteles afirma que a metáfora conduz a uma «percepção de semelhanças». Black, seguindo Richards, diz que uma metáfora «evoca» uma certa reacção: «um ouvinte adquado será conduzido por uma metáfora a construir [...] um sistema».14 Esta perspectiva é primorosamente sumariada por aquilo que Heráclito disse do Oráculo de Delfos: «Não diz nem esconde, insinua».15 Não discuto estas descrições dos efeitos da metáfora, apenas contesto as perspectivas associadas sobre o modo como se supõe que a metáfora os provoca. O que nego é que a metáfora funcione por ter um sentido especial, um conteúdo cognitivo específico. Não penso, como Richards, que a metáfora produza o seu resultado por ter um significado que resulta da interacção de duas ideias; está errado, do meu ponto de vista, dizer, como Owen Barfield, que a metáfora «diz uma coisa e significa outra»; ou, como Black, que a metáfora afirma ou implica certas coisas complexas por força de um significado especial e, assim, realiza o objectivo de veicular uma «compreensão». Uma metáfora cumpre-se através de outros intermediários – supor que pode apenas ser efectiva por veicular uma mensagem codificada é como pensar que uma anedota ou um sonho fazem uma qualquer afirmação que um intérprete inteligente pode reafirmar em prosa simples. Anedota, sonho ou metáfora podem, como um quadro ou um galo na cabeça, fazer-nos tomar atenção para um facto – mas não por substituir, ou expressar, o facto. 14 Black, p. 41. 15 Utilizo a atractiva tradução de Hannah Arendt de «σηµαινει»; manifestamente não deve, neste contexto, ser traduzido por «significa». Se isto for correecto, o que tentamos fazer quando «parafraseamos» uma metáfora não pode ser proporcionar o seu sentido, pois ele permanece na superfície; antes, tentamos evocar aquilo para que a metáfora nos chama a atenção. Posso imaginar uma pessoa concedendo isto, e depois encolher o ombros e dizer que não se trata mais do que uma insistência em restringir o uso da palavra «significado». Isto seria um erro. O erro central a propósito da metáfora é mais fácil de abordar quando toma a forma de uma teoria do significado metafórico, mas por detrás dessa teoria, independente e estável, encontra-se a tese que associa a metáfora a um conteúdo cognitivo que o seu autor deseja veicular e que o intérprete deve captar se quer perceber a mensagem. Esta teoria é falsa, chamemos ou não ao conteúdo cognitivo implicado um significado. Deveria fazer-nos suspeitar a teoria de que é muito difícil de decidir, mesmo no caso das metáforas mais simples, exactamente que conteúdo se supõe ser. A razão pela qual é tantas vezes difícil de decidir é porque, segundo penso, imaginamos que há um conteúdo a ser capturado quando, na verdade, estamos a todo o momento focando aquilo para que a metáfora nos chama a atenção. Se aquilo para que a metáfora nos chama a atenção fosse finito no seu alcance e de natureza proposicional, não constituiria um problema; apenas teríamos de projectar o conteúdo da metáfora, trazido ao pensamento, sobre a metáfora. Mas, na verdade, não há limite para o que a metáfora nos chama a atenção, e muito daquilo para que atentamos não é de carácter proposicional. Quando tentamos dizer o que uma metáfora «significa», depressa nos damos conta de que não há limite para aquilo que queremos mencionar.16 Se alguém percorre com o 16 Stanley Cavell menciona o facto de que a maioria das tentativas de fazer uma paráfrase acabam com um «e assim sucessivamente», e refere-se à advertência de Empson de que as metáforas estão «grávidas» (Must We Mean What We Say? [New York, 1969], p. 79). Mas Cavell não explica o carácter interminável da paráfrase como eu faço, como se pode ver no facto de ele pensar que isso dedo uma linha costeira de um mapa, ou menciona a beleza e a destreza de um traço de Picasso, quantas coisas nos chamam a atenção? Poderíamos fazer uma lista com muitas dessas coisas, mas não poderíamos acabar, uma vez que a ideia de acabar não teria uma aplicação clara. Quantos factos e proposições são veiculados por uma fotografia? Nenhum, um número infinito, ou um grande e instável facto? Uma má pergunta. Uma imagem não vale mil palavras, ou um outro qualquer número delas. As palavras são uma moeda errada para trocar por uma imagem. Não se trata apenas de não conseguirmos proporcionar um catálogo exaustivo daquilo para que atentamos quando somos levados a ver algo sob uma luz nova; a dificuldade é mais fundamental. Aquilo de que nos apercebemos ou vemos não é, regra geral, de carácter proposicional. Claro que pode sê-lo, e quando o é pode ser habitualmente enunciado com palavras bastante simples. Mas se vos mostro o patocoelho de Wittgenstein, e vos digo, «É um pato», então com um pouco de sorte vêem-no como um pato; se digo, «É um coelho», vêem-no como um coelho. Contudo, nenhuma proposição exprime o que vos levei a ver. Talvez acabem por dar conta de que o desenho pode ser visto ou como um pato ou como um coelho. ‘Ver como’ não é ‘ver que’. A metáfora faznos ver uma coisa como outra através de um enunciado literal que inspira ou sugere a percepção. Dado que a maior parte das vezes aquilo que a metáfora sugere ou inspira não é inteiramente, ou mesmo sequer, o reconhecimento de uma verdade ou facto, a tentativa de dar expressão literal ao conteúdo da metáfora é simplesmente extraviado. distingue a metáfora de algum («mas se calhar não todo») discurso literal. Eu mantenho que o carácter interminável daquilo a que chamamos paráfrase de uma metáfora nasce do facto de que tenta revelar aquilo para que a metáfora nos chama a atenção, e para isto não há um fim claro. Diria o mesmo para qualquer uso da linguagem. O teórico que tenta explicar uma metáfora apelando para uma mensagem oculta, como o crítico que tenta expressar a mensagem, está então fundamentalmente confundido. Nenhuma explicação ou enunciado deste teor podem chegar a comparecer porque semelhante mensagem não existe. Não se trata, claro está, de que a interpretação e explicação de uma metáfora não se justifiquem. Muitos de nós precisamos de ajuda para podermos ver o que o autor de uma metáfora quis que víssemos, e que um leitor mais sensível ou educado capta. A função legítima da chamada paráfrase é a de fazer com que o leitor preguiçoso ou ignorante tenha uma visão como aquela que tem o crítico hábil. O crítico, por assim dizer, está a competir de forma benigna com a pessoa que fez a metáfora. O crítico tenta fazer a sua própria arte mais fácil e transparente, nalguns aspectos, em relação ao original, mas ao mesmo tempo tenta reproduzir noutras pessoas alguns dos efeitos que o original lhe produziu. Ao fazê-lo, o crítico chama a atenção, talvez através do melhor método que tem à sua disposição, para a beleza ou adequação, o poder oculto, da própria metáfora.
Download