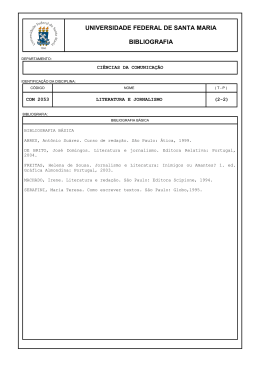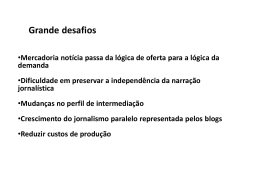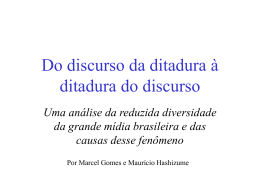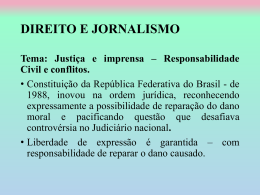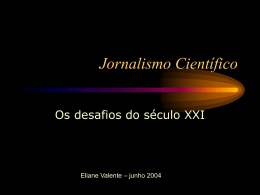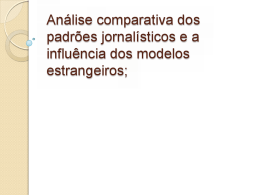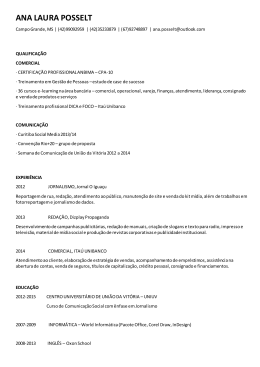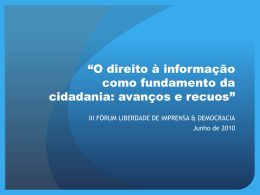Edição 840A 9 de abril de 2012 Especial – Dia do Jornalista ÍCONES J ornalistas&Cia celebra hoje, 9 de abril, com dois dias de atraso, em decorrência do feriado de Páscoa, o Dia do Jornalista. E aproveitando o espírito de Páscoa e de Aleluia, nossa homenagem a todos os jornalistas brasileiros este ano será um pouco diferente. Escolhemos 71 profissionais que fizeram ou estão fazendo história no jornalismo brasileiro para representar os milhares de outros profissionais que diuturnamente procuram honrar essa profissão que a sociedade e os povos aprenderam a respeitar, admirar e acreditar. São ícones de nossa atividade, em diferentes áreas do jornalismo e até na comunicação corporativa, há anos uma porta de entrada para jornalistas de todo o País. Fizemos um corte no tempo, escalando principalmente uma seleção que brilhou a partir dos anos 1960. Há muitos das gerações anteriores, como Líbero Badaró, Euclides da Cunha, o próprio Machado de Assis, mas estes já são a própria história do País. A eles todos também rendemos nossa homenagem e reafirmamos o nosso reconhecimento, por terem aberto o caminho. Mas nesta edição, J&Cia quis falar dos homens e mulheres da imprensa dos tempos modernos, aqueles que ainda lemos, vemos ou ouvimos ou que continuam a nos influenciar por sua presença espiritual, como Henfil, Joel Silveira, Paulo Francis, Carlos Castello Branco e Zózimo, entre outros. Unanimidade? Certamente que não. Nem esse foi o objetivo. Como diria Nelson Rodrigues, toda a unanimidade é burra; e nossos ícones não são unanimidade. Há quem os adore, quem odeie ou quem lhes seja indiferente. Não importa; eles fizeram a diferença e conquistaram o respeito de seus pares, de seus patrões e da sociedade. A eles – e a todos os jornalistas brasileiros – o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Ausências? Com toda a certeza. Por maiores que tenham sido os nossos cuidados, difícil esgotar o assunto e mais difícil ainda contentar a todos. Se a cada um de nossos 35 mil leitores fosse solicitado escalar seu time de ícones, teríamos aí, com toda a certeza, 35 mil seleções. Esta é a nossa. Pedro Vencescelau, colunista do Brasil Econômico e um assíduo colaborador deste J&Cia, aceitou o convite para coordenar este trabalho e o fez, de forma brilhante, com o apoio de Karina Padial e Marlon Maciel Leme. A eles e toda a equipe de retaguarda os nossos mais sinceros agradecimentos. Temos certeza de ser esta uma edição histórica, para ser lida, relida e guardada com carinho especial. Mais à frente certamente poderemos falar de outros ícones do jornalismo, muitos deles certamente leitores da presente edição. Boa leitura! Eduardo Ribeiro e Wilson Baroncelli Ícone, eu? Por Pedro Venceslau, Karina Padial e Marlon Maciel Leme Durante a produção deste especial, em vários momentos fomos surpreendidos com uma pergunta desconcertante: “Ícone, eu?”. No sentido figurado, o bom e velho Aurélio explica que ícone é uma pessoa ou coisa que simboliza um acontecimento, estilo ou período. Não resta dúvida de que os 71 personagens aqui perfilados, alguns deles in memoriam, confirmam o conceito ao pé da letra. Ao localizar, revisitar ou simplesmente contar a história dessas figuras que frequentam o imaginário das redações e conversas de bar no pós-fechamento acabamos por construir um verdadeiro álbum de figurinhas da profissão. Alguns cobriram guerras, crises, ditaduras e revoluções. Outros fizeram suas próprias revoluções, sejam elas gráficas e editoriais, enfrentaram ditaduras ou foram visionários ao destrincharem nichos intocados da notícia. Impossível não imaginar como seria reunir esses 71 colegas na mesma redação imaginária. Uma reunião de pauta com Ricardo Kotscho, Henfil, Evandro Teixeira, Joelmir Beting, Joyce Pascowitch, Ancelmo Gois e Juca Kfouri certamente seria muito divertida. E que capa teríamos no dia seguinte... E que tal um happy hour no Bar Brahma com Tarso de Castro, José Trajano e Ruy Castro? Por mais desconfortável que possa parecer esse título quase nobiliárquico de “jornalista icônico”, não há como fugir dele. São os ossos do bom oficio. Nota da Redação: os perfis são listados por área de atividade, em ordem alfabétca, e, dentro desta, também em ordem alfabética, quando há mais de um perfilado. Edição 840A Página 2 Especial – Dia do Jornalista José Marques de Melo Academia Muito além do fechamento O professor José Marques de Melo foi o responsável por difundir a ideia que de que o jornalismo vai além da ação e do fechamento e merece ser estudado como uma disciplina acadêmica. Primeiro doutor em Jornalismo por uma universidade brasileira, foi o criador do curso de Jornalismo da USP e teve entre seus pródigos alunos profissionais como William Bonner, Ethevaldo Siqueira (ver pág. 22) e Carlos Eduardo Lins da Silva. “Eu tinha 23 anos quando criamos o curso de Jornalismo da USP e meus colegas eram todos sessentões”, conta. Ele lembra que quando foi fazer sua primeira pós-graduação em Jornalismo, em 1975, no Equador, não era comum no Brasil que se estudasse essa disciplina. Além de ser autor de vários livros, Marques de Melo é responsável pela Cátedra Unesco de Comunicação. Nos anos 1960, era militante do PCB quando foi chefe de Gabinete do secretário de Educação do então governador pernambucano Miguel Arraes. Acabou preso e perseguido. Apesar de tantos títulos, lembra com carinho que seu primeiro mestre era um típico chefe de Redação da velha guarda: “Minha grande escola foi o jornal Última Hora do Nordeste. Meu chefe, Milton Coelho da Graça, usava a pedagogia do grito. Ele rasgava a pauta e gritava: ‘Porcaria!!!’. Depois ríamos disso. Era o estilo da época”. Âncoras Band Boris Casoy (tevê) Uma decisão solitária Convidado a buscar na memória um momento que possa ser definido como o mais importante de sua carreira, Boris Casoy volta aos tempos em que era diretor de Redação da Folha de S.Paulo, nos anos 1970. “Recebi do repórter Getúlio Bittencourt uma entrevista com o general Figueiredo feita pouco antes de ele assumir a Presidência. Entre outras coisas, o entrevistado dizia que preferia o cheiro de cavalo ao cheiro de povo. Getúlio, que tinha memória auditiva precisa, não havia gravado nada. Publicar aquilo na íntegra foi uma decisão solitária e perigosa”, conta. Atualmente na TV Bandeirantes, Boris construiu um currículo sólido em diferentes frentes. No final dos anos 1960 e começo dos 1970, esteve do outro lado da atividade. Foi secretário de Imprensa de Herbert Levy, então secretário de Agricultura do governador Abreu Sodré, e depois assessor do prefeito José Carlos Figueiredo Ferraz. “Procurei na assessoria ser um facilitador da vida dos jornalistas. Nesse período conheci bem o setor público”. Além de editor, Boris foi titular da coluna Painel na Folha de S.Paulo, uma das mais lidas do jornal. Mas foi como âncora de tevê que marcou definitivamente seu nome na história do jornalismo brasileiro. “Minha referência era o âncora americano. Eu tinha autonomia para dar opiniões e ainda dirigia o telejornal”. Foi em uma reportagem do SBT em 1988 sobre o caos em um hospital de Recife que nasceu o famoso bordão “Isso é uma vergonha...”. “Na hora lembrei de um episódio que ocorreu logo depois do assassinato do Kennedy. Uma pequena emissora do meio oeste americano exibiu o tempo todo um gerador de caracteres com a palavra shame”. Antes de terminar a entrevista, Boris comenta uma passagem que sempre é lembrada em seus perfis: a suposta participação no grupo CCC (Comando de Caça aos Comunistas) durante a ditadura. “Nunca fui do CCC. Aquilo foi uma história que surgiu por causa da revista O Cruzeiro. Aliás, minha experiência como militante foi tempo perdido”. Um equilíbrio instável Para a ansiosa geração de jovens repórteres que domina hoje o cenário das redações, soa inacreditável que alguém entre na profissão depois dos 40 anos e ainda consiga ser bem sucedido. Logo no primeiro ano de faculdade os focas aprendem que estão entrando em um mercado cada vez mais competitivo, seletivo e jovem. Não há tempo a perder com outros cursos, longas viagens mochileiras ou aventuras militantes no movimento estudantil ou social. Para essa moçada que tem pressa, a história de Heródoto Barbeiro é uma lição de vida. “Foi depois dos meus 42 anos que passei a viver do jornalismo”, conta uma das vozes mais conhecidas do dial brasileiro. Antes de começar a viver de pautas e matérias, Heródoto ganhava a vida como professor de História da USP e do Objetivo. E era admirado nesta atividade por dez entre dez alunos. No curso de Jornalismo na Faculdade Cásper Líbero, caiu em uma turma brilhante, que contava com alunos como Getúlio Bittencourt, Maria Adelaide Amaral e Carlos Costa. “Eu só escrevia o verbo no passado e passei a escrever no presente”, conta. Em 1991, participou da criação da CBN, onde foi gerente de Jornalismo e firmou-se como um dos âncoras mais respeitados do Brasil. Atualmente, está Record News. “O balanço que faço é que o jornalismo é feito de um equilíbrio instável. Se você não cuidar dele todo dia, pisa na bola. Valeu a pena ter feito essa escolha”. /jorna listase @jorn alistas cia ecia Record N ews Heródoto BarBeiro (rádio e tevê) Edição 840A Página 3 Especial – Dia do Jornalista Âncoras Heron doMingues (in memoriam) ção De 1944 a 1962, “sem um dia de folga” Reprodu Pela voz de Heron Domingues o Brasil ficou sabendo do lançamento da bomba de Hiroshima (1945), do suicídio de Getúlio Vargas (1954), da conquista da Copa do Mundo (1958), da chegada do homem à Lua (1969) e da renúncia do presidente norte-americano Richard Nixon (1974) – a última notícia que leu antes de morrer. Heron imortalizou-se como o locutor do Repórter Esso, noticiário radiofônico em que trabalhou de 1944 a 1962, “sem um dia de folga”, como chegou a declarar em diversas ocasiões. “Levantava às 6h45 e voltava para casa à 1h30. Por vezes, dormia na emissora, onde coloquei uma cama para as emergências”, contou certa vez. Ele não era apenas uma voz. Preocupava-se com a pronúncia das palavras e o ritmo das frases, mas, mais do que isso, com a qualidade e credibilidade da informação que lia. Dormia, durante a guerra, com um fone no ouvido sintonizado nas agências internacionais e costumava ligar para todas as embaixadas para confirmar as notícias que chegavam. Cid Moreira, que dividiu com ele a bancada do Jornal Nacional, afirma que sempre o admirou: “Eu nem sonhava em trabalhar na televisão, estava em Taubaté e já era fã do Repórter Esso e do Heron”. Trabalhariam juntos em diversas outras ocasiões. “Eram muitos projetos. Gravamos para empresas imobiliárias e até para políticos. Teve uma vez que o Heron entrevistou um candidato e eu fazia a voz que narrava suas promessas de campanha”, lembra, rindo. José Paulo de andrade (rádio) O síndico da cidade José Paulo de Andrade, outra das vozes mais conhecidas do rádio brasileiro, revela sua fórmula secreta para explicar como está há 49 anos trabalhando na mesma empresa, o Grupo Bandeirantes: “O segredo é frequentar muito pouco o andar da diretoria e evitar envolver-se com os problemas da empresa”. Ele tinha pouco mais de 20 anos quando entrou na Band, em 1963. Foi locutor esportivo, apresentador, chefe de Reportagem, mas foi como comentarista que se tornou uma espécie de síndico da metrópole paulistana. Depois de tanto tempo dialogando com a cidade, acabou adquirindo o hábito de olhá-la de outro jeito. “Quando Luiza Erundina era prefeita de São Paulo, o Lula veio aqui no estúdio e disse que ficava aflito ao ver um papel jogado no chão. Dizia que iam reclamar do PT porque a cidade estava suja (risos). Eu também fico incomodado quando vejo a cidade suja e escura”. Em tempo: em 2009 ele foi eleito pela revista Veja como uma das pessoas que são a cara de São Paulo. Seu programa O Pulo do Gato, que acaba de completar 39 anos ininterruptos no ar, é o recordista da rádio brasileira em longevidade. “Eu poderia ter sido advogado, já que estudei na USP, no Largo São Francisco. Mas não me arrependo. Sempre fiz o que gosto...”. riCardo BoeCHat (rádio e tevê) “Se existem restrições, não estou obedecendo” Band O dia de Ricardo Boechat começa sempre com um pequeno ritual. Às cinco da manhã, o despertador toca e ele solta um sonoro palavrão antes de sair da cama. Duas horas depois já está na bancada da BandNews FM ,onde, segundo suas próprias palavras, apresenta notícias, compra brigas, esculhamba e ri muito das piadas de José Simão (ver pág. 14). A maratona segue intensa e só termina depois das 21h, quando diz boa noite na bancada Jornal da Band. Com esse ritmo, facilmente poderia receber o rótulo de workaholic. Pode até ser. Mas apesar de ser pai de seis filhos, sendo que a diferença entre a mais nova e a mais velha é de quase 30 anos, e ter portanto muitas contas para pagar, irradia um prazer contagiante no dia a dia. “Trabalhar com o Boechat é sempre uma alegria. Ele é muito afável. Aliás, afável até demais. Tanto que às vezes dá o número do celular dele para as pessoas no ar, ao vivo“, relata Eduardo Barão, seu companheiro na BandNews. Boechat imprimiu uma nova marca ao telejornal da Band ao emitir opiniões e deixar sempre o clima da bancada descontraído. “A Band não estabelece restrições. Se ela tem alguma, não estou obedecendo”, disse certa vez a Danilo Gentili. Sua carreira começou nos ano 1970 como foca no extinto Diário de Notícias. Teve como primeira tarefa na imprensa garimpar notas para a coluna de Ibrahim Sued. Em 1983, assumiu a coluna Swann, em O Globo. Edição 840A Página 4 Especial – Dia do Jornalista Ana Araújo Blog riCardo noBlat O substituto de Alceu Valença Foi em fevereiro de 1967, na sucursal do Jornal do Brasil em Recife, sua cidade natal, que Ricardo Noblat pisou pela primeira vez em uma redação. “Entrei na vaga de um repórter chamado Alceu Valença, que preferia fazer música”, recorda. Aos 63 anos de idade e 45 de profissão, Noblat destaca dois grandes momentos em sua carreira: “Os sete anos de chefia da Redação da sucursal do Jornal do Brasil em Brasília, de 1982 a 1989, e os oito anos à frente da Diretoria de Redação do Correio Braziliense, de 1994 a 2002”. A temporada no JB ficou marcada pelo fim da ditadura e o início da Nova República, com a primeira eleição direta para presidente após 1964, o que possibilitaria uma ampla reformulação da sucursal e a montagem de um time de primeira. Já no Correio, Noblat ressalta a mudança na linha editorial: “Antes local e chapa branca, passou a ser um jornal de referência nacional e duramente crítico em relação a todos os poderes”. É editor do bem sucedido Blog do Noblat, o primeiro a noticiar a demissão de José Dirceu da Chefia da Casa Civil da Presidência da República, em junho de 2005, episódio que ele considera o seu grande furo de reportagem. Como faz para sair na frente da concorrência? “Nada consegui de graça. Sempre tive que meter o pé na porta para ser admitido na festa. O saldo é bom, pelo menos para meu gosto. Quero me aposentar um dia como comecei: sendo repórter”. Claudio aBraMo (in memoriam) Chefias de Redação O revolucionário da tribo “O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter”. Tal qual as camisetas de Che Guevara usadas no movimento estudantil, a frase e a foto de Claudio Abramo fazem parte do imaginário romântico de gerações do jornalismo brasileiro desde sua morte, em agosto de 1987. Onze dias depois, seu colega e amigo Mino Carta (ver pág. 8) escreveu um artigo magnífico na revista Senhor, em que desabafou: “Em patrão, diria Claudio, não convém confiar em demasia. Talvez não pensasse o mesmo dos jornalistas, aos quais tentou ensinar, além do verdadeiro jornalismo, dignidade profissional e consciência de classe. Mas os jornalistas brasileiros não estão atentos às melhores lições. Quase sempre preferem inclinar-se à vontade do dono, diretor por direito divino, em lugar de acompanhar alguns raros colegas dispostos a professar sua fé em um tipo de imprensa que transcende os interesses de uma família e de uma casta”. Em sua carreira, Abramo chefiou e revolucionou gráfica e editorialmente os dois maiores jornais brasileiros, a Folha de S.Paulo e o Estadão, e deixou um legado que é ou deveria ser o verdadeiro e único manual do jornalismo: independência editorial, rigor com a informação e tolerância zero com o jornalismo declaratório. As reformas que comandou na Folha deram o rumo do jornalismo brasileiro na década de 1970, quando foi perseguido pelo regime militar. “Quando fui trabalhar na Folha como editor de Esporte”, conta José Trajano (ver pág. 12), “diziam que ele era comunista e detestava esporte. Quando o conheci, descobri que não era nada disso. Claudio Abramo era um cara charmoso, elegante e que se impunha. A missão dele era fazer jornal”. Matías Molina Nicola Labate A apuração nunca termina “Com Matías Molina (...) aprendemos que uma apuração nunca termina; em algum momento o jornalista para e escreve, mas, se tivesse mais tempo, o resultado com certeza melhoraria”, escreveu Vera Brandimarte, diretora de Redação do Valor Econômico, no prefácio do livro Os melhores jornais do mundo. Essa, com certeza, é apenas uma das lições aprendidas por Vera e por pelo menos duas gerações de profissionais que Molina formou e que o consideram um “mestre” do jornalismo econômico, embora ele próprio insista em dizer que “econômico é adjetivo; o que importa é ser jornalista”. Matías formou-se em História apenas para “construir uma base para ser jornalista”, a profissão que escolheu ainda aos 14 anos. Dos planos iniciais – cobrir política internacional e fazer crítica de cinema –, ele cumpriu, parcialmente, apenas um: “Quando entrei na Folha de S.Paulo, em 1964, fui redator de Mundo; depois editei Internacional na Gazeta Mercantil e, como correspondente em Londres, escrevi com frequência sobre o tema. Mas sobre cinema, nunca fiz a crítica de qualquer filme”. Em compensação, passou a fazer críticas da imprensa. “Escrevo [sobre o tema] porque gosto muito. Agora dedico ao assunto a maior parte do meu tempo”. Atualmente, prepara um trabalho sobre os jornais brasileiros, no qual não poderá deixar de constar a Gazeta Mercantil, onde construiu a maior parte de sua trajetória profissional e cuja morte testemunhou. “O fim foi melancólico. Foi uma agonia prolongada pela força da marca e da imagem do jornal e pelo enorme esforço e sacrifício dos que lá trabalharam na etapa final”. narCiso Kalili (in memoriam) ancio.com tainhoeam www.myl Narciso Kalili é lembrado pelos colegas e amigos como um grande agitador de redações, em todos os sentidos. Como jornalista, fez história na reverenciada revista Realidade, onde integrou o primeiro time, pautando, produzindo, editando e investigando. “O Narciso agitava a redação toda. Era uma usina de ideias e criava pautas para todo mundo. Além disso, produzia matérias enormes e ajudava na edição. Era muito entusiasmado e apaixonado”, conta José Hamilton Ribeiro (ver pág. 20), que trabalhou com ele em dois momentos, em Realidade e TV Globo, muitos anos depois. Como militante político, Kalili também é lembrado como uma figura inquieta e ousada. “Narciso era um tipo exuberante, ativo e muito radical em suas posições. Era de esquerda e teve participação decisiva nos acontecimentos posteriores à morte de Vladimir Herzog”, conta Audálio Dantas (ver pág. 10), que era presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo na ocasião do assassinato de Vlado. Narciso também deixou sua marca na imprensa alternativa durante os “anos de chumbo”, no jornal Bondinho. “Quando ele se ligou ao Bondinho, nos anos 1970, era a fase mais dura do governo Médici. O Bondinho foi uma das primeiras publicações alternativas em uma época em que a grande imprensa estava toda de olhos fechados para a ditadura”, diz Audálio. Na última fase da carreira, fez nome na Rede Globo. “Como editor do Fantástico ele comandou algumas reportagens que fizeram história. Na época dele, cada semana era uma paulada”, lembra Zé Hamilton. Narciso morreu de enfarte em 1992, aos 55 anos .br Um agitador de redações Edição 840A Página 5 Especial – Dia do Jornalista Globo.com Colunismo anCelMo gois Dez mil notas por ano A trajetória do colunista de O Globo Ancelmo Gois não fica devendo em nada à épica biografia do ex-presidente Lula, que virou filme. Nascido em Frei Paulo, Sergipe, Ancelmo teve 23 irmãos. Começou a trabalhar em 1963, aos 15 anos, na Gazeta de Sergipe, em uma época em que era fortemente influenciado pela política e pelo movimento estudantil. Chegou ao Rio de Janeiro em 1970, depois de uma temporada em Moscou, onde morou e estudou em pleno regime soviético. Em 1986, foi levado por Marcos Sá Corrêa ao Jornal do Brasil, onde fez sua primeira coluna de notas. Hoje, sua coluna no Globo é praticamente uma instituição carioca. “Faço dez mil notas por ano na minha coluna, que sai todos os dias”, conta. Apesar de dizer que “vive com a corda no pescoço”, Ancelmo se diz realizado: “Uma vez reclamei de uma árvore pendurada e quase caindo na rua Payssandu. No dia seguinte, foram lá e tiraram. Fiquei metido a besta”. Ao avaliar os desafios de sua rotina, afirma ser “angustiado”: “Edito todos os dias 15 notas e sempre tento misturar os assuntos. O dilema é escolher. Várias vezes me arrependo das escolhas que faço. Ás vezes acho que bati demais... Sou muito angustiado”. Jânio de Freitas Salles O gosto pela edição Marcelo Jânio de Freitas acredita que a função do jornalismo é proporcionar ao cidadão material para que ele faça suas próprias definições. E é basicamente isso que há 29 anos tenta fazer na sua coluna na Folha de S.Paulo, publicada, atualmente, três vezes por semana. Embora há tanto tempo se dedique a produzir suas colunas, declarou em entrevistas que o que realmente gosta é de editar, tarefa a que se dedicou no Jornal do Brasil e no Correio da Manhã. Em ambos, comandou reformulações editorais, fazendo com que o JB batesse o Correio em termos de circulação e depois virando o jogo, fazendo o Correio ficar na frente do JB. Jânio é defensor incontestável da liberdade de imprensa e chegou a criticar, em algumas ocasiões, a postura da imprensa na ditadura. Para ele, os jornais fizeram o jogo do golpe e depois da ditadura militar. Uma de suas reportagens mais marcantes, publicada em maio de 1987, revelava a existência de fraude na concorrência da Ferrovia Norte-Sul, orçada em 2,4 bilhões de dólares, que se constituía em um dos principais projetos do governo José Sarney. A denúncia provocou a anulação da concorrência e o adiamento das obras. O furo rendeu-lhe cinco prêmios de jornalismo, entre os quais o Esso e o Rei da Espanha. JoyCe PasCowiCtH “Eu queria mais do que dar furos” “Foi uma loucura”. É dessa forma que Joyce Pascowich define sua entrada no jornalismo em 1986, quando passou a assinar uma coluna diária de notas curtas no caderno Ilustrada da Folha de S.Paulo: “No começo fiquei meio medrosa. Eu era uma observadora e uma fonte. Nunca tinha sentado antes em um computador e não queria meu nome na coluna. Eu tinha insegurança”. Nos 14 anos em que se manteve nessa função, Joyce revolucionou o colunismo paulista: ”Saí da Folha porque queria mais do que dar furos. Não via sentido em dar uma nota na frente dos outros”. Atualmente, Joyce é uma bem sucedida empresária do mercado editorial. Além de manter o site Glamurama, ela edita as revistas Joyce, Poder e Moda. Sempre com mão de ferro: “Sou mais editora do que empresária. Acompanho tudo, da reunião de pauta ao fechamento. Meu olhar permeia todos os produtos. Só não cuido do financeiro. Gosto do que faço. Tenho prazer nisso”. Reprodução tavares de Miranda (in memoriam) O “velho corneteiro” revolucionou o jornalismo social paulista Tavares de Miranda circulava entre políticos de direita e esquerda, intelectuais e personalidades da alta sociedade de São Paulo e, por isso, sua coluna transmitia essa diversidade. No entanto, defini-lo simplesmente como colunista social seria reduzir seu talento. “Ele era um super-repórter. Bastava ler com atenção sua coluna para colher tendências de política e comportamento, as quais antecipava por conta do ‘faro jornalístico’ que possuía”, conta Miguel de Almeida – que chegou a dividir página com Tavares – no trabalho A crônica esquecida: a trajetória do jornalista José Tavares de Miranda, de Carlos Alberto da Silva. De meros registros com data, hora e local, ele reformulou o colunismo social impresso agregando reportagem aos assuntos publicados e, logo depois, fotos. Circulando, publicada na Folha de S.Paulo, caiu no gosto da elite paulistana. “Ele reinou no jornalismo paulista e no jornalismo social durante décadas”, afirmou Almeida. Foram 42 anos de Folha e não é exagero afirmar que muitos leitores passaram assinar o jornal apenas para ler sua coluna. Ele também foi o pioneiro do colunismo social na tevê. Mantinha dois programas na TV Gazeta e chegou a ser diretor de Jornalismo na emissora. Não havia como não ver Tavares de Miranda e nem como não querer ser visto por ele. ZóZiMo (in memoriam) O pai do colunismo de poder Zózimo Barrozo do Amaral virou uma espécie de grife do jornalismo. De volta ao Rio após uma temporada na França, o jovem herdeiro de uma fortuna – seu pai era banqueiro – arrumou emprego em O Globo, em 1963, como correspondente de esporte antes de colaborar com a coluna Carlos Swann, que assumiria dois anos depois. Em 1969, aos 27 anos, aceitou o convite para estrear sua própria coluna no Jornal do Brasil – sua volta ao Globo ocorreria em 1993. Zózimo criou estilo e inovou na forma de escrever. José Salvador Faro, leitor assíduo do colunista carioca e membro do Núcleo de Pesquisa em Jornalismo da PUC-SP, conta que percorria as bancas de São Paulo todos os dias atrás do JB: “Eu me deliciava com a sinuosidade de suas notas, numa época em que escrever sobre qualquer coisa era difícil e, às vezes, temerário. Ele inaugurou um colunismo que teve no social mais o jogo político do que a contradança das elites. Foi dono de um estilo elegante, enxuto e de extraordinária energia informativa”. Já Ancelmo Gois (ver pág. 5), colunista de O Globo, sintetiza o colega como mestre da arte do seu ofício: “Foi o brasileiro que melhor se expressou em três linhas. Zózimo deu status ao colunismo. Antes dele, coluna era espaço de badalação e registro de batizados”. Zózimo escreveu quase 200 mil colunas em 34 anos de carreira. Morreu em novembro de 1997, aos 56 anos, vítima de câncer no pulmão. Especial – Dia do Jornalista Comunicação Corporativa Secom-PR Edição 840A Página 6 Miguel Jorge Faro jornalístico também fora das redações Depois de uma bem sucedida carreira no jornalismo, que começou em 1963 no Jornal do Brasil e terminou em 1987 no Estadão, quando saiu para integrar-se à Autolatina, Miguel Jorge se reinventou. Primeiro como executivo de comunicação em Autolatina e Santander, depois como ministro do Desenvolvimento do governo de Luís Inácio Lula da Silva, cargo que assumiu em 2007. Na ocasião, sua escolha surpreendeu o meio empresarial, que especulava entre os nomes de Jorge Gerdau e Abílio Diniz. “Era empolgante trabalhar com o Miguel Jorge. Ele assumiu o Estadão no meio de uma crise no fim dos anos 1970, quando aconteceram muitas demissões e o clima estava pesado. Mas com dinamismo, apostou nas reportagens especiais e criou um modelo que atravessou o tempo. Miguel era um aglutinador”, conta Roberto Godoy (ver pág. 10), repórter especial do Estadão. Seu cacoete jornalístico foi com ele para as atividades da comunicação corporativa, fazendo com que se tornasse o profissional com a mais bem-sucedida trajetória entre todos aqueles que experimentaram essa mudança. Depois de surpreender o mercado ao deixar uma das mais cobiçadas posições da imprensa brasileira, a de editor-chefe do Estadão, para dirigir a comunicação da Autolatina, nascida da fusão de Ford e Volkswagen, ele, ao lado de Antonio Alberto Prado, revolucionou a comunicação corporativa, como presidente da Aberje. Foi a partir de sua chegada que a instituição começou a se tornar uma das mais importantes referências nesse campo de atividade. Depois, outra surpresa, ao deixar a Volkswagen, onde havia permanecido após o fim da Autolatina, e aceitar o convite dos espanhóis para dirigir a comunicação do Santander. Nessas incursões, coube-lhe ainda dirigir áreas como Recursos Humanos e Jurídico. O convite de Lula coroou essa trajetória, que fez do mineirinho de Ponte Nova um dos profissionais com carreira mais brilhante também fora das redações. Workholic? Sim, ele é, tanto que chegava ao ministério às 7h, quando nem porteiro havia. Mas quer vê-lo esquecer todos os problemas? É juntar-se a ele para prosear e falar sobre jornalismo. Aí ele fica feliz. São histórias e mais histórias e uma gratidão muito grande pelas portas que a atividade lhe abriu na vida. Miguel deixou o ministério em 1º/1/2011, mesmo dia em que o governo anunciou um recorde histórico de exportações. walter nori “O trabalho é passageiro, fundamental são as pessoas”. A comunicação corporativa pode ser classificada em antes e depois de Walter Nori. Claro, se perguntarem isso a ele, jamais admitirá. Em sua humildade, diz que simplesmente fez o que precisava ser feito e que talvez o acaso o tenha bafejado com alguma sorte. Pura modéstia. Sob sua direção e inspiração, a Rhodia implantou o primeiro programa profissional de abrangência de relacionamento com a imprensa do País, denominado Portas Abertas, que teve como avalista Edson Vaz Musa, lendário presidente da companhia. A ousadia da Rhodia em abrir suas portas para imprensa ainda nos estertores da ditadura, sabendo do passivo ambiental e social da companhia por sua desastrada atuação nas fábricas que operava, mais do que uma atitude corajosa foi um ato de visão, antecipando o que a própria sociedade já se preparava para conquistar com movimentos como as Diretas Já. O legado ficou, a comunicação corporativa começou a mudar, e Nori seguiu seu caminho, levando uma experiência privilegiada para várias outras companhias, sempre apoiando iniciativas de cunho institucional, por ver nelas um caminho natural para o estreitamento de relações com os públicos-alvo. Um ano antes de se formar em Jornalismo, em 1967, Nori já dava os primeiros passos na profissão. Hoje, aos 68 anos, completados neste mês de abril, o sócio majoritário da WN&P relembra suas origens. “Estagiei na Record, que na época incluía ainda as rádios Record, São Paulo e Panamericana”. Lá, conheceu Reali Jr. (ver pág. 8), então repórter esportivo. Dessa amizade surgiu o convite para integrar a campanha que levou Carvalho Pinto ao Senado em 1966. “E aí começou tudo”. São 46 anos de carreira. Em 1968, trabalhou na sucursal paulista de O Globo e na Folha, onde foi assistente do diretor industrial Celso Itiberê. “Foi ele quem pôs ordem na rodagem dos sete jornais do grupo”, diz. A partir daí, optou por comunicação corporativa. Passou pelo Consulado Britânico, pela Secretaria de Estado da Agricultura, na gestão Laudo Natel, e, por dez anos, foi gerente de Imprensa da Volkswagen. Mais? Vice-presidente de Comunicação da Embraer e da Scania, presidente no Brasil da Hill & Knowlton, gerente de Comunicação da Rhodia e secretário de Imprensa no governo Paulo Egydio Martins. De sua experiência na Rhodia, nos anos 1980, nasceu o livro Portas Abertas, referência nas escolas de comunicação, escrito em parceria com Célia Valente. “Olhando para trás, no fundo, o trabalho é passageiro, fundamental são as pessoas”. Brincando, ainda faz blague: “Se há uma coisa de que me orgulho muito na vida é ter feito amigos”. Divulgação Crônica Carlos Heitor Cony Aos 86 anos, atual e atualizado Carlos Heitor Cony expressa seu espanto na literatura e sua indignação por meio de suas crônicas, publicadas atualmente na Folha. “A crônica é a indignação e agora, para o camarada ficar com raiva do FHC, do Lula, dos acordos com o FMI”, declarou, certa vez. Cony fez história dirigindo revistas como Manchete e Ele & Ela, chegou a colaborar com tevê e a escrever uma novela em 1965, cujo foco era a baixa classe média. É também autor de mais de 30 livros, entre romances, crônicas, jornalismo e ensaios biográficos, sem contar os infanto-juvenis e as traduções. Conhecido por suas críticas ácidas aos últimos governos, recusava-se a tratar de política no início da carreira. O assunto estava fora de suas crônicas e de sua ficção. Isso até 1964. A ditadura militar passou a fazer parte do cotidiano de Cony que, além de ver os amigos todos presos, também foi detido seis vezes. Consequentemente, a política entrou no seu trabalho, embora – insiste – não goste muito de falar sobre o tema. Garante que faz por uma questão de revolta, mas continua achando o assunto muito desagradável. Aos 86 anos, Cony é atual e atualizado. Durante 22 anos não publicou nenhuma ficção. Em 1995, voltou às prateleiras com Quase memória, livro que atribui em parte ao advento do computador: “Eu tinha muita preguiça de escrever à máquina. Era muito trabalhoso; por causa de um errinho tinha que jogar a página inteira fora. O computador me abriu várias possibilidades”. Edição 840A Página 7 Especial – Dia do Jornalista ./AB Casal Jr Crônica Marcello luís Fernando veríssiMo “Nada do que é humano lhe é estranho” Luís Fernando Veríssimo começou a escrever tarde, depois dos 30 anos, mas já sabia como fazer. Não só por ser filho do escritor Érico Veríssimo, mas porque àquela altura já havia lido muito. Dedicou-se à crônica desde o início, “essa coisa meio híbrida entre literatura e jornalismo”, como descreve, mas resiste em ser chamado de escritor. Prefere jornalista. Seus textos curtos, de fácil leitura, mas cheios de conteúdo e humor, conquistaram leitores de todas as gerações e deles saíram diversos livros de sucesso. Em 2010, publicou Conversas sobre o tempo com seu amigo Zuenir Ventura (ver pág. 17). Durante a divulgação da obra, afirmou: “Eu não gosto de escrever. Eu gosto quando já está escrito. Escrever é muito trabalhoso. Gosto mesmo é de ler”. É Zuenir, aliás, quem fala sobre a principal qualidade de Veríssimo como jornalista: “Ele tem a capacidade de olhar para todos os lados. É capaz de falar de um jogo da Copa de 1970 com o mesmo conhecimento de causa com que fala da política americana, de vinho, de comida, da Revolução Francesa ou de filmes e de livros nacionais e estrangeiros. Nada do que é humano lhe é estranho”. Ambos trabalharam ao mesmo tempo no Jornal do Brasil e andam fazendo muitas viagens juntos. Na Amazônia, o barco deles ficou à deriva no Rio Negro. De madrugada, só não ficaram em pânico, como dizia Veríssimo, porque suas mulheres, que estavam no mesmo barco, os salvariam. “Depois, ficamos discutindo para saber quem mentiria mais ao fazer a crônica sobre o acontecido”. Milton M Explosivo, polêmico, imprevisível, genial, plagiário, preconceituoso... Falem mal, mas falem sempre de Paulo Francis. O homem, a lenda, o mito do jornalismo brasileiro morreu de um ataque fulminante do coração em 1997, aos 66 anos, mas até hoje sua trajetória desperta paixões e ódios. Era sempre o primeiro a morder e se irritava quando lhe respondiam à altura. Dez anos depois de sua morte, um de seus reconhecidos pupilos, Daniel Piza (ver abaixo), escreveu sem medo de fazer autorreferência: “Os imitadores, que não deixam de ser uma prova de que ele continua a ser lembrado, não conseguem ser tão surpreendentes e intensos quanto Francis era. Para o bem ou para mal, Francis era único. Até suas contradições mais flagrantes faziam interessante a leitura de seus textos”. Depois de militar na UNE e flertar com o esquerdismo trabalhista na década de 1960, tornou-se o mais feroz e ácido crítico do comunismo da imprensa brasileira. “Paulo Francis não tinha escrúpulos. Era racista, escrevia mal e plagiava frases de filósofos”, dispara o escritor Fernando Jorge, autor do livro Vida e obra do plagiário Paulo Francis – mergulho da ignorância no poço da estupidez, que está na terceira edição. Nada melhor do que uma polêmica para encerrar este perfil... ichida/A E Paulo FranCis (in memoriam) O homem, a lenda, o mito AE Cultura daniel PiZa (in memoriam) Um polemista erudito A morte precoce de Daniel Piza na virada deste ano deixou a tribo perplexa. Com apenas 41 anos de idade e hábitos saudáveis, sofreu um AVC em Gonçalves (MG), onde passava as festas com a família, e acabou não resistindo. “Ele era um talento precoce e vinha em rápido processo de amadurecimento. Daniel Piza trafegava entre campos, entre o jornalismo e a literatura, mas sem misturar as coisas”, lembra Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado. Advogado formado no Largo de São Francisco, Piza publicou 17 livros e traduziu outros tantos, sem nunca ter deixado de manter uma produção jornalística diária em diferentes editorias do Estadão. “Com sua cultura letrada e precoce, ele estreou no Caderno 2 escrevendo sobre assuntos reservados em geral aos mais experientes”, lembrou o colega Luiz Zanin Oricchio na ocasião da morte de Piza. “Quem lia seus textos, repletos de referências eruditas, alfinetadas políticas, ironias e potenciais polêmicas não podia imaginar o papo ameno que mantinha no contato pessoal”. “Ele era um coringa, que ia da cobertura de um terremoto a uma feira de livros em Frankfurt”, sintetiza Gandour. Um cordelista da notícia Cultura Popular Divulgação assis ângelo Assis Ângelo sempre teve como intenção mostrar o Brasil para os brasileiros. Escolheu o jornalismo como ferramenta e foi atrás de apresentar à sociedade um país que não tem espaço nos meios de comunicação, um país de manifestações populares, de ritmos regionais, da música de qualidade, dos cordelistas e repentistas, dos poetas do povo. Saído da Paraíba, onde iniciou sua carreira jornalística em O Norte, desembarcou em São Paulo em 1976, depois de receber ameaças de empresários locais denunciados em uma matéria publicada no Diário do Agreste. Na capital paulista, o primeiro jornal que procurou foi o Diário Popular. “Fui barrado na portaria, não me deixaram entrar. Tentei depois na Folha e acabou dando certo”, lembra ele, que passou por outros tantos veículos da imprensa tradicional e da alternativa, chegando a ser editor de Política no Estadão. Mas foi no rádio, com o programa São Paulo, Capital Nordeste, que alcançou de forma mais concreta seu objetivo. Líder de audiência, o programa, transmitido pela Rádio Capital, recebeu cerca de quatro mil músicos e artistas, entre os quais Rolando Boldrin, Inezita Barroso, Chico César, Dorival Caymmi, além de jornalistas, cineastas e escritores. Agora Assis, que preside o Instituto Memória Brasil, embarca em um novo projeto. Este mês J&Cia começou a publicar a coluna semanal De papo pro ar, em que ele narra causos reais e engraçados. Além disso, mensalmente, J&Cia vai produzir o especial “Memórias da Cultura Popular”, que trará a íntegra de algumas das grandes entrevistas que Assis fez em seus quase 40 anos de carreira. Quer conhecer melhor Assis? É só dar uma passada em seu apartamento-museu, na al. Eduardo Prado, nos Campos Elísios, em São Paulo, para viajar nos mais de 150 mil objetos que ele vem colecionando ao longo da vida. Só Geraldo Vandré, para se ter uma ideia, ocupa quase uma divisão inteira de seus abarrotados armários, reunindo gravações de intérpretes brasileiros e do exterior de músicas como Caminhando (Pra não dizer que não falei de flores). Querem mais? Temos a certeza de que ele não exibirá isso nem sob tortura, mas só Assis tem no Brasil músicas inéditas de Vandré e fotos dele com sua família em seu apartamento-acervo. O homem é de fato arretado quando o assunto é cultura popular. Edição 840A Página 8 Especial – Dia do Jornalista Correspondente reali Jr. (in memoriam) “Sou repórter, nasci repórter, vou morrer repórter” Criador de publicações Mino Carta O direito a ter sua própria opinião Divulgaç ão Mesmo quem não conhece Reali Jr., nascido Elpídio Reali Jr., pelo menos já ouviu falar dele. Afinal, durante quase 36 anos ele lapidou na Jovem Pan o bordão com que abria suas intervenções: “Neste momento, às margens do Sena, junto da Maison de la Radio, os termômetros marcam...”. Reali começou a trabalhar na Pan em 1956, com 17 anos, quando a emissora se chamava Rádio Panamericana de São Paulo, mas só assinou seu primeiro contrato no ano seguinte. Ao ser enviado para a França, em 1972, trabalhava também nos Diários Associados, que só dois anos depois trocou pelo Estadão, onde permaneceu 33 anos. Quando morreu, em abril de 2011, Reali foi saudado pela crônica jornalística como o mais querido correspondente que o Brasil já teve. Atuando por Jovem Pan e Estadão, ele cobriu de Paris os momentos mais importantes durante 36 anos: a Revolução dos Cravos, a morte do general Franco, a queda do avião da Varig em Paris, a queda do muro de Berlim... Pouco tempo antes de morrer e já fragilizado pela luta contra o câncer, recebeu uma homenagem emocionante na FMU, em São Paulo. Na ocasião, deu sua última entrevista com a humildade de sempre. “Evoluí para outras posições, mas faço questão de me apresentar como repórter. Nasci repórter e vou morrer repórter”. Presente à homenagem, William Waack se emocionou: “Nós jornalistas somos divididos em tribos, mas Reali é uma unanimidade. Ele é uma lição de vida e fonte de inspiração para minha geração. Tem caráter, uma qualidade que está em falta em muitos setores da vida brasileira”. Em setembro de 2008, pouco antes de completar 50 anos de Jovem Pan, este J&Cia lhe rendeu uma homenagem especial na edição de Entrevista, escrito de forma brilhante por Célia Chaim. Pai de quatro filhas, entre elas Cristiana Reali, atriz que conquistou a crítica francesa e ali faz uma carreira brilhante, e casado com Amelinha, nos anos em que morou na França Reali era a referência brasileira em Paris. Por sua casa passaram as mais importantes autoridades da República e do mundo intelectual e social, entre eles FHC e Lula. Era a embaixada informal do Brasil em território francês. O escritor e cronista Luís Fernando Veríssimo (ver pág. 7), amigão de Reali, parceiro de muitos passeios e conversas (Reali com Amelinha e Veríssimo com Lúcia), falou do amigo a Célia Chaim: “A história de um homem é a história de seu tempo. Quando esse homem é o Reali Jr., que há muito deixou de ser só um correspondente brasileiro em Paris, se transformou numa instituição e, para muitos, um ícone jornalístico (‘já posso vê-lo dando risada da frase’), têm-se não só a história pessoal incomparável como as linhas e entrelinhas, verdades oficiais, verdades verdadeiras, cenas, personagens”. Sobre toda essa sua experiência nasceu o livro Às margens do Sena, fruto de um longo depoimento que deu ao correspondente de CartaCapital em Paris, Gianni Carta (filho de Mino), lançado em 2008, mesmo ano em que descobriu o câncer que viria a matá-lo e que o trouxe de volta ao Brasil para se tratar. Reali também teve passagens por Correio da Manhã, O Globo, Diário de S.Paulo (o antigo), Diário da Noite, Rádio Jornal do Brasil, tevês Record, Tupi, Globo, ESPN e Bandeirantes. A passagem a seguir retrata como era o Reali profissional, sua integridade, ética e respeito pelo jornalismo. Perguntado como reagiu quando sua filha Cristiana ganhou o mundo como a cara da Lancôme, líder internacional na fabricação de produtos para a pele, respondeu: “É claro que eu sabia, mas não dei o furo. Fui cobrir como os outros repórteres. Aliás, nunca escrevi sobre a Cristiana. Ela é casada com o diretor de cinema, teatro e ator Francis Hustler, considerado um dos melhores da França”. Não há no Brasil um jornalista que tenha criado tantas publicações que mexeram com o País quanto Mino Carta. Com exceção do Jornal da República, que não conseguiu levar adiante após alguns meses de experiência e prejuízo – talvez por ter sido lançado no momento errado e sem a infraestrutura necessária para uma trajetória mais longa, mas que ainda assim fez muito barulho no mercado –, todas as demais publicações que lançou e dirigiu se consolidaram, transformando-se em referências editoriais para a sua e para as gerações futuras. Estão aí Quatro Rodas, que lançou e comandou sem nunca ter dirigido um automóvel na vida; Jornal da Tarde, que fez escola nos anos 1960 e 1970; Veja, a maior revista do Brasil há décadas; IstoÉ e CartaCapital, sua última travessura editorial, nascida em 1994. Mesmo a Senhor, que lançou e que depois se fundiu com IstoÉ, foi uma experiência exitosa, embora o título já não circule mais. Mino é intempestivo, incisivo, cirúrgico, sarcástico, mas, acima de tudo, um jornalista invejável na sua capacidade de ler os cenários políticos e sociais com a alma dos apaixonados. Ele foi o segundo personagem da série Protagonistas da Imprensa Brasileira, editada por este J&Cia, isso em novembro de 2005 (íntegra no www.jornalistasecia.com.br), quando deu uma entrevista de quase três horas aos editores Eduardo Ribeiro e Wilson Baroncelli. Nela, vemos um Mino de peito aberto e olhar extremamente crítico sobre a imprensa brasileira: “Nosso jornalismo até hoje pratica o colunismo social, que, como postura, é uma coisa pífia, que me faz lembrar o fim de 1700, começo de 1800”, disse, numa das passagens. A São Paulo em que vive Mino Carta é muito diferente daquela que Demétrio Carta – seu nome de batismo – encontrou em 1946, “pacata e ordeira”, como definiu. Vindo da Itália com 12 anos de idade, Mino já trazia o jornalismo no sangue: seu pai, o artista gráfico Giannino Carta, foi uma importante figura da imprensa italiana e ao chegar ao Brasil liderou a renovação gráfica da Folha. Apesar de suas posições polêmicas e opiniões ácidas, Mino é uma das principais referências no jornalismo nacional. O colunista e blogueiro Luis Nassif (ver pág. 11) o define como um dos poucos que ainda lutam pelo direito de ter sua própria opinião: “Trabalhei com o Mino ainda como estagiário da Veja. Ele tem um faro jornalístico e uma liderança muito forte, que o levaram a ter muitas sacadas e fazer coisas diferenciadas”. Mino teve papel importante na criação da Veja. À época, deixou o Jornal da Tarde, que comandava, e levou com ele boa parte da redação. Ficou até 1976 na Abril, quando teve que sair, muito por causa da pressão da ditadura diante da posição política da publicação. “Ele era o grande jornalista da época”, diz Nassif. “Era quem tinha as principais experiências jornalísticas. Era admirado e imitado”. Carta, o sobrenome de origem italiana, é no Brasil sinônimo de jornalismo. De bom jornalismo. Mino é filho e irmão de jornalista, pai de jornalistas (Gianni e Manoela) e tio de jornalista. “É uma sina”, diz, arrematando de forma bem humorada: “uma coisa trágica!” Edição 840A Página 9 alBerto dines O furo não é o mais importante Gabriel Cabra Crítica da mídia l/Sesc-SP Especial – Dia do Jornalista Poucos são os profissionais que em vida conseguem chegar aos 80 anos em plena atividade e com a exuberância intelectual de Alberto Dines. Menos ainda no jornalismo. E aí está ele, com sua serena e incisiva capacidade de analisar e criticar o que de bom e de mau vê na imprensa brasileira, críticas que, tanto quanto respeito, lhe valeram ao longo dos anos ressentimentos múltiplos de quem não aceita ser avaliado em seu ofício. Ele fez história ao participar da épica equipe que transformou o Jornal do Brasil, nos anos 1960, numa das mais instigantes experiências da imprensa brasileira de todos os tempos, na forma e no conteúdo, ao lado de monstros sagrados do jornalismo como o escultor Amílcar de Castro. Fez história ao editar, de 1975 a 1977, na Folha de S.Paulo, a coluna Jornal dos Jornais, para criticar o que via de errado na imprensa, e que lhe garantiu, como vaticinou seu Frias (N. da R.: Octavio Frias de Oliveira, publisher da Folha de S.Paulo), inimizades históricas e eternas. E continuou a fazer história ao não se intimidar com a falta de espaço da grande imprensa para seguir com suas críticas, tendo fundado o Observatório da Imprensa, uma das únicas instituições do País com coragem para vasculhar e mostrar para a sociedade fragmentos das entranhas da imprensa, inclusive com alguns merecidos puxões de orelha, quando é o caso. Não é pouco. Ainda assim Dines é festejado. Muito festejado. Provas? Basta vermos o que aconteceu nos seus 80 anos, celebrados em fevereiro e março em festas com amigos em São Paulo e Rio de Janeiro, com centenas de participantes, em programas de televisão (Roda Viva, da TV Cultura) e até em seminários acadêmicos. São seis décadas de serviços prestados. “Meu registro é de agosto de 1952, mas comecei uns dois anos antes”, diz. A casualidade deu um empurrãozinho para que o idealizador do Observatório da Imprensa se tornasse um dos nomes mais respeitados do jornalismo, o que levou este J&Cia a incluí-lo na série Protagonistas da Imprensa Brasileira, em fevereiro de 2009. Pesquisador, autor de vários livros, entre eles O papel do jornal, e responsável pela implantação de algumas das principais publicações do País, seus encontros com o jornalismo acontecem desde os 11 anos: “No colégio, no Rio, durante a guerra, tinha a ‘Horta da Vitória’, por causa dessa questão da fome, e também tínhamos o nosso jornalzinho”. Foi como crítico de cinema da extinta Cena Muda, fundada nos anos 1920, que a sua carreira profissional teve início: “Foi minha primeira atividade regular. Logo depois, o Nahum Sirotsky, chefe de Reportagem da revista Visão, me convidou para ser repórter de cultura. Foi casual. Meu negócio era cinema, mas na época, como a indústria estava engatinhando, não tive escolha: aceitei o convite para ter uma atividade mais próxima do cinema”. Do alto de suas oito décadas de vida, Dines afirma que o furo “não é o mais importante”, que jornalismo é algo contínuo e resume sua trajetória em “persistência”: “Você está me entrevistando e eu, escrevendo para ganhar a vida. Não gostaria que fosse diferente”. al Sesc SP Crítica musical José raMos tinHorão Busca pelas raízes da música brasileira rt Vichi/Po Adriana “Historiador da música popular urbana”, como prefere ser classificado, José Ramos Tinhorão disse em 1962, em sua coluna no Jornal do Brasil, que a “bossa nova nasceu como automóvel de JK: apenas montado no Brasil”. Quatro anos depois, definiu o gênero como “filha de aventuras secretas de apartamento com a música norte-americana – que é inegavelmente sua mãe –, a bossa nova, no que se refere à paternidade, vive até hoje o mesmo drama de tantas crianças de Copacabana, o bairro onde nasceu: não sabe quem é o pai”. Por causa da acidez de suas opiniões, Tinhorão é odiado e amado na mesma proporção, mas é, sem dúvida, um dos principais críticos e estudiosos da música brasileira. Em uma entrevista ao Roda Viva, em 2000, declarou: “Estou me lixando para o produto artístico. Quero mostrar exatamente as contradições que geram o fato cultural”. Sua busca pelas raízes da música brasileira resultou em um acervo de mais de 50 mil itens, entre discos, livros, documentos, jornais, fotos, hoje acessíveis no Instituto Moreira Salles, e em mais de 30 livros sobre a música popular urbana, nos quais reafirma sua independência cultural e ideológica em relação ao que chama de “modismos” e que dominam a música do Brasil. Tinhorão exerceu o jornalismo entre 1953 e 1989 e passou pelos principais veículos do País. Sua saída do JB se deu, segundo ele, porque escrevia somente sobre sujeitos que não vendem. Seus críticos afirmam que, como comunista, ele não vê vida inteligente acima das classes populares. O jornalista resume sua postura com um aforismo: “A um ser esvaziado de conteúdo humano corresponde uma arte esvaziada de conteúdo artístico”. Tê-lo num time tão seleto é garantia de pluralidade, polêmica, reflexões e antagonismo. Como requer o bom jornalismo. Sergio P ampolha Defesa do consumidor nadJa saMPaio Em defesa do consumidor Nadja Sampaio acompanhou de perto a evolução da consolidação da defesa do consumidor no Brasil. Foi convidada para assumir em O Globo a página sobre o setor, que em 1990 ganhava mais espaço diante da iminente promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Lá se vão 22 anos de dedicação exclusiva à área que não para de crescer. “Fechamos o ano passado com 32 mil cartas recebidas, um número que só aumenta”, conta. Os anos 1990 foram fundamentais para o segmento. Além da promulgação do Código, houve a abertura do mercado brasileiro para as importações e, pouco mais tarde, o início das privatizações. “As empresas começaram a ter seus próprios Serviços de Atendimento ao Consumidor (SACs) e com os computadores que passaram a chegar ao País começou-se a se verificar mais a questão da competência das companhias e também a contabilizar as reclamações dos clientes. Isso fez toda a diferença”, lembra. Seu pioneirismo foi reconhecido com um Prêmio Esso de Melhor Contribuição à Imprensa, em 2004. Diante dos jurados, defendeu que sua coluna, além de ser um canal de comunicação direto com o público, o único além da seção de cartas dos leitores, abriu caminho para que a defesa do consumidor crescesse, ainda mais porque outros veículos passaram a incorporar esse espaço: “Recebia carta sobre tudo, principalmente quando o envio ainda não era feito pela internet. Hoje acho que os consumidores já têm mais clareza de seus direitos”. Muito em parte por seu trabalho incansável. Edição 840A Página 10 Especial – Dia do Jornalista Defesa e tecnologia militar roBerto godoy “Nunca colecionei soldadinhos de chumbo” Foi uma pauta que fez Roberto Godoy, repórter especial do Estadão, especializar-se no tema que permeou toda sua carreira: a defesa e a tecnologia militar. O ano era 1979, o editor-chefe do Estadão era Miguel Jorge (ver pág. 6) e a pauta era a indústria militar brasileira. “O governo havida resolvido estimular a indústria de defesa e fui escalado para fazer um perfil sobre o setor, algo que nunca tinha sido feito. Mas naquele tempo os assessores da área eram contratados para não deixar que saíssem matérias”. A apuração fluiu e acabou se transformando em uma série especial, que se converteu em um setor de cobertura fixo dentro do jornal. E Godoy acabaria se consolidando como o maior especialista do assunto na imprensa brasileira. “Ele é uma garantia de referência e precisão em um assunto hiperespecializado. Godoy é um profissional muito querido no jornal”, afirma Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado. “Nunca colecionei soldadinhos de chumbo, mas dentro do jornal trilhei o caminho que eu queria”, conclui o repórter. Fato raro na imprensa brasileira, Godoy também foi protagonista de um reconhecimento mais do que especial do Grupo Estado. Após incluí-lo num corte para redução de despesas, no final de 2011, o jornal voltou atrás. Após comunicar publicamente sua saída, trouxe-o de volta, cancelando sua demissão, percebendo que talvez estivesse com aquela decisão perdendo um de seus mais experientes e abnegados profissionais, entregando-o de mão beijada para a concorrência em tempos em que o tema que domina é vedete do jornalismo mundial. audálio dantas Direitos humanos Vestiu-se de coragem e foi Band Audálio Dantas encarna como poucos no Brasil a figura dos Direitos Humanos. Onde há uma injustiça flagrante ou dissimulada contra homens ou mulheres, onde haja ameaças contra minorias, onde haja opressão, pode contar, lá estará Audálio Dantas lutando e se colocando a serviço de quem dele precise. Ele foi um dos personagens centrais no processo de mobilização popular que culminou com o fim da ditadura militar. Em 1975, quando os agentes da repressão assassinaram Vladimir Herzog, era presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e assumiu corajosamente a linha de frente das denúncias contra o regime. Logo no dia seguinte ao crime, em 26 de outubro de 1975 (um dia depois do nascimento do repórter que escreve este texto e que por pouco não se chamou Vladimir Venceslau), Audálio assinou uma nota pública acusando os militares: “Recebi ameaças telefônicas anônimas. Um dia, disseram que havia uma bomba no Sindicato. Nunca os jornalistas estiveram tão unidos como no caso Herzog. Aquele crime foi a gota d`água”. Anos depois, Audálio acabaria sendo eleito deputado federal e presidente da Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj, na primeira eleição direta de uma federação no pós-1964, num tempo em que se nomeavam para esses cargos figuras dóceis aos militares e a seu regime de exceção. No Parlamento, seu mandado ”foi de resistência, que dediquei às denúncias que recebia. O momento de maior emoção foi quando propus ao MDB a criação de uma comissão para receber os exilados no aeroporto. Nós íamos até lá e evitávamos que eles fossem presos”. Autor, entre outras obras, de Quarto de Despejo, sobre a saga da até então favelada Carolina de Jesus; Circo do Desespero, coletânea de reportagens; e dos infantis A infância de Ziraldo e O menino Lula, Audálio é um dos jornalistas que mais viaja pelo Brasil para falar de jornalismo, direitos humanos e democracia. Presidiu a seção São Paulo da ABI e a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, integra atualmente a diretoria da União Brasileira de Escritores e foi o idealizador do Salão do Jornalista Escritor, em 2007, iniciativa que deverá ser repetida agora em 2012. Atualmente, Audálio é diretor de Redação da revista Negócios da Comunicação e se prepara para lançar o livro A segunda guerra de Vlado Herzog, pela Editora Record. Economia JoelMir Beting Obrigado, Corinthians! Entre a isenção jornalística e o Palmeiras, Joelmir Beting ficou com a segunda opção. Já era um bem sucedido jornalista de esporte quando, no longínquo ano de 1962, perdeu as estribeiras durante um clássico entre Corinthians e o seu Verdão e, da tribuna de imprensa, em pleno Pacaembu lotado, passou a acenar com bananas aos torcedores rivais. Na sequência, escreveu sua matéria e pediu demissão. A partir daí, Joelmir, que chegou a ser boia fria na adolescência, migrou para o jornalismo de economia, onde se tornou uma referência incontestável. “Meu pai me inspirou pelo estilo claro e conciso, mas também pelo humor cáustico e ferino”, diz o filho, Mauro Beting, que ao contrário do pai soube controlar a paixão pelo time do coração e seguiu firme a carreira na área esportiva. No papel ou na tevê, Joelmir tornou-se um profissional cobiçado pelos editores devido à sua capacidade única de destrinchar e traduzir um tema árido para uma linguagem leve e acessível ao público. “A coluna diária foi meu ‘pau de barraca’ profissional. Com ela desbravei o economês, vulgarizei a informação econômica e fui chamado nos meios acadêmicos de Chacrinha da economia”, disse em artigo publicado em seu site. Nos anos 1970, Joelmir foi precursor do jornalismo de economia na tevê, tendo introduzido a análise dos fatos econômicos em linguagem acessível. Foi comentarista das tevês Gazeta (no ano de sua fundação), Bandeirantes e Globo. Ao mesmo tempo, atuava nas emissoras de rádio desses grupos. Ídolo de toda uma geração, Joelmir também não se furtou a lutar pelos jornalistas, quando chamado. Num momento difícil da vida sindical, integrou como vice-presidente a chapa de Gabriel Romeiro na diretoria do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, ali permanecendo por três anos. Edição 840A Página 11 Especial – Dia do Jornalista luís nassiF Economia “Sempre tive medo da estabilidade” Luís Nassif decidiu alçar voo próprio em 1987 por um motivo que ele define como simples: “Não tenho traquejo para lidar com hierarquia. Só aceitava chefes que tinham ascendência sobre mim. Por isso deixei a redação”. Naquele ano, deixou de dar expediente na Folha de S.Paulo para fundar a Agência Dinheiro Vivo, de informações e negócios. Sua primeira experiência jornalística foi aos 13 anos de idade, editando o jornal do Grupo Gente Nova, de Poços de Caldas. Entrou na grande imprensa por Veja, onde começou como estagiário e em que foi depois repórter de economia e responsável pelo caderno de finanças. Em 1979 transferiu-se para o Jornal da Tarde, como pauteiro e chefe de Reportagem de economia. Lá, criou a seção Seu Dinheiro, primeira experiência de economia pessoal da imprensa brasileira, e o caderno Jornal do Carro, o maior sucesso do diário e ainda hoje seu carro-chefe, ao lado do então caderno de Esportes. Em 1983 mudou-se para a Folha de S. Paulo, onde no fim do ano criou a seção Dinheiro Vivo e participou do projeto de criação do Datafolha. Nos anos 1980, especializou-se em inflação. No começo, firmou-se em economia para pessoas físicas, o assalariado. Até que, em 1987, começou a falar para o mercado. “Eu sofro da síndrome dos quatro anos. Sempre tive medo da estabilidade. Recusei convite da Globo porque quis preservar a minha opinião”. Em 1991, Nassif voltou à Folha como colunista de economia, função que manteve até 2006, quando seu contrato não foi renovado: “Em 2005 (ano do Mensalão) houve um pacto dos jornais com o [José] Serra. Aquilo criou uma homogeneidade maluca, que reduziu o espaço dos colunistas. Sempre fiz o contraponto no jornal, mas aquilo secou”. Recentemente encampou um confronto com Veja, na defesa de um jornalismo ético, plural e independente, o que lhe valeu um processo movido pela revista, ainda em curso. Apaixonado por música brasileira, tem pelo chorinho uma predileção especial, que pode ser conferida em alguns saraus e canjas das quais costuma participar a convite de amigos, com seu inseparável cavaquinho. Ao passar a carreira a limpo, Nassif é taxativo: “Se eu tivesse feito algo de forma diferente, não seria quem eu sou”. MiriaM leitão obo rdeal/TV Gl “Nasci fadada à profissão que amo tanto” Zé Paulo Ca “Nasci fadada à profissão que amo tanto”, diz Miriam Leitão, que veio ao mundo exatamente num 7 de abril, Dia do Jornalista. Uma das principais comentaristas de economia do País, produziu recentemente o especial Uma história inacabada, que narra a trajetória do ex-deputado Rubens Paiva, que desapareceu depois de ser preso em janeiro de 1971 por agentes de segurança da ditadura militar. Miriam traduz um pouco da atual fase de sua carreira ao analisar o momento do jornalismo brasileiro: “O casamento entre a experiência e o conteúdo, com a diversidade de plataformas”. Ela iniciou na profissão nos anos 1970 e passou por veículos como Gazeta Mercantil, Veja e Jornal do Brasil, antes de desembarcar nas Organizações Globo, onde hoje atua em TV Globo, CBN e O Globo, além de seu próprio blog. “O jornalismo vive um tempo de mudanças radicais. A profissão passou um bom tempo sem mudar, mas agora vive isso de forma rápida”. Conectada às tecnologias, Miriam afirma que o ofício faz parte integral de sua vida: “Não tenho muito horário, a vida fica a favor dos acontecimentos. Essa ideia de que o jornalista pode trabalhar de acordo com hora estabelecida não é verdade. Mas é bom, sinal de que você ainda se empolga com o que faz”. São tantos e tão significativos prêmios amealhados ao longo da carreira que ela se tornou a vice-campeã da edição inaugural (2011) do Ranking Jornalistas&Cia dos mais premiados jornalistas brasileiros de todos os tempos. Raoni M addalen a Educação gilBerto diMenstein “As pessoas não aceitam que o jornalista seja engajado” Gilberto Dimenstein diz que sua melhor escola é a vida. E o que mais o encanta no jornalismo é “caminhar” pelo mundo. “Eu comecei como office-boy, trabalhava no centro de São Paulo e gostava de descobrir histórias e personagens”. Essas descobertas são percebidas em suas colunas na CBN, nas quais procura revelar personagens e projetos inovadores da capital paulista. Quando solicitado a definir seu estilo, Dimenstein explica que muitas vezes não é compreendido, justamente por seu engajamento em causas cidadãs: “As pessoas não aceitam que o jornalista seja engajado, misturam envolvimento com questões políticas ou ideológicas. Mas eu sou cidadão e tenho o compromisso de me engajar. Apenas tomo cuidado para fazer tudo de forma transparente”. Além da notável trajetória no jornalismo, Dimenstein foi pioneiro no desenvolvimento de projetos de comunicação e educação que o levaram a ser referência internacional, chegando a ser exemplo em Harvard. “O que mais me marca na carreira, ainda que eu tenha ganhado vários prêmios como escritor, educador e jornalista, é que saí do Planalto para a Planície”. Com a analogia, Dimenstein explica que deixou o centro do poder para apurar um Brasil profundo e violento onde os mais vulneráveis eram as crianças. Formado na Faculdade Cásper Líbero, Dimenstein chegou a chefe de Redação da Folha de S.Paulo em Brasília, além de correspondente do jornal em Nova York. Passou por Jornal do Brasil, Correio Braziliense, Última Hora e Veja. Os reconhecimentos não foram poucos; entre eles, o Prêmio Nacional de Direitos Humanos e o Maria Moors Cabot, da Universidade de Columbia. Anuário Brasileiro de Comunicação Corporativa Clientes, Agências e Fornecedores / Edição 2012 A mais completa radiografia da Comunicação Corporativa brasileira, incluindo: n Indicadores setoriais n Análise de desempenho e tendências n Ranking das Agências de Comunicação n Guias Brasileiros das Agências de Comunicação, das Áreas de Comunicação Corporativa de Empresas e Organizações, de Fornecedores, e de Consultores n Quadro quem atende quem em Assessoria de Imprensa Fechamento Comercial: 5 de abril de 2012 Coquetel de Lançamento: 30 de maio de 2012, no Congresso Mega Brasil de Comunicação Edição impressa: tiragem 5 mil exemplares Contatos: Sílvio Ribeiro ([email protected]) ou Oswaldo Braglia ([email protected]) ou 11-5576-5600 Edição 827 Página 12 Especial – Dia do Jornalista José traJano Esportes Agora em versão light José Trajano está mais leve do que nunca. Desde que deixou o comando da ESPN e enfartou, felizmente sem consequências mais sérias, o carismático (e, dizem, mal-humorado) jornalista de esporte parou de fumar, emagreceu sete quilos, abandonou a cerveja e aderiu aos esportes na prática. “Tirei o peso do estresse”, diz. Sua principal fonte de nervosismo, hoje, é o América do Rio (ou Ameriquinha, como gosta de chamar), o time do coração. “Estou me acostumando com isso de não ser mais chefe. Hoje me divirto fazendo o programa Pontapé inicial, que criei pensando em mim”, confessa. Trajano começou a carreira aos 16 anos, em 1963, no melhor momento da história do Jornal do Brasil. De lá, passou por Folha de S.Paulo, Rádio Globo, IstoÉ, Band, Cultura e foi o número 1 da ESPN no Brasil, cargo que deixou no ano passado. “Como poucos, posso dizer que trabalhei com os grandes nomes da imprensa brasileira: Mino Carta (ver pág. 8), Claudio Abramo (ver pág. 4), Sérgio de Souza, Hamilton Almeida...”. Quando questionado sobre a fama de mal-humorado, rebate. “Não sou mal-humorado. Sou só meio bronquinho. Na verdade, sou um indignado...”. Como disse Antero Greco certa vez em seu blog, Trajano é “explosivo, temperamental e não tem meias palavras. Mas, sobretudo, é uma incansável usina de criatividade”. O que o faz diferente numa das mais concorridas atividades jornalísticas? Certamente sua capacidade de fazer jornalismo independente, crítico e sério, sem deixar de levar em consideração em seus comentários e textos a paixão que o esporte desperta nas pessoas. o Divulgaçã JuCa KFouri Um ‘aparelho’ para chamar de seu Não há quem ignore o nome de Juca Kfouri. Jornalista de opiniões firmes e apurado senso crítico, ele se destaca entre tantos outros do meio esportivo porque não teme os donos da bola, da mídia, de onde for. Intrepidez que lhe é característica desde os tempos de estudante de Ciências Sociais e de militante da Aliança Libertadora Nacional (ALN). Juca só não pegou em armas porque o jornalismo o pegou antes. Estava prestes a se alistar voluntariamente no Exército para aprender a atirar quando entrou em uma redação: “Minha opção foi por um salário que me permitia sair de casa e ter meu próprio ‘aparelho’, com o que deixava de colocar meus pais e irmãos em risco”. O esporte chegou depois, com um convite para chefiar a Reportagem da revista Placar, onde ficou por 16 anos. Mas foi enquanto dirigia Playboy que viveu o que considera o momento mais marcante de sua carreira, ao desvendar, em uma extensa reportagem, a identidade misteriosa do ilustrador Carlos Zéfiro, conhecido por seus quadrinhos de teor erótico. Não à toa conquistou o reconhecimento de leitores e colegas. Ao refletir sobre isso, afirma que esse é “o maior objetivo que um jornalista pode ter: ser respeitado e ter credibilidade, apesar de todas as dificuldades e de todos os erros que cometemos todos os dias em busca da verdade factual”. Colunista da Folha de S.Paulo e do UOL, comentarista de CBN e ESPN, Juca não tem planos de parar. Ao contrário: “Quero escrever a biografia do Doutor Sócrates e um livro sobre a imprensa esportiva brasileira”. Um de seus orgulhos é o filho André Kfouri, que decidiu seguir a trilha do jornalismo de esporte. Se a guerrilha perdeu um grande combatente, o jornalismo ganhou um grande guerrilheiro. osMar santos O “Pai da Matéria” V Glo Cardeal/T Zé Paulo bo Pelo menos duas cenas de Osmar Santos permanecerão por muito tempo na memória coletiva dos brasileiros: as narrações de futebol comandadas no rádio pelo “Pai da Matéria”, como ficou conhecido, e por sua participação como locutor nos comícios da campanha pelas “Diretas Já!”, em 1984. Formado em Educação Física, Administração e Direito, foi justamente no rádio que esse paulista de Oswaldo Cruz, de 63 anos, notabilizou-se como um dos maiores nomes do radiojornalismo esportivo. Autor de alguns dos mais populares bordões do rádio, como “parou por quê, por que parou?”, “Aí, garotinho!”, “ripa na chulipa” e “pimba na gorduchinha”, passou pelas rádios Jovem Pan, Record e Globo. Na televisão, cobriu duas Copas: a de 1986, na Globo, e a de 1990, pela Rede Manchete. Falar sobre o rádio esportivo, para o publicitário Washington Olivetto, significa resumir a história em dois capítulos: “Antes e depois do Osmar”. Em dezembro de 1994, Osmar viu a carreira encerrada por causa de um grave acidente de carro que afetou a sua fala. Anos mais tarde, passou a dedicar-se à pintura. A dois anos da Copa 14, uma rede de amigos, jornalistas e fãs mobiliza-se nas redes sociais para que a bola da Copa seja batizada de “Gorduchinha”, um dos bordões consagrados em suas épicas narrativas. Aí, garotinho! reginaldo leMe O rosto brasileiro da Fórmula 1 O GP de Fórmula 1 da Inglaterra de 1981, em Silverstone, foi inesquecível para aquele jovem jornalista que desde o começo de carreira decidira abraçar o automobilismo como sua paixão e especialização. Não porque o Brasil, representado à época por Nelson Piquet, tenha ido ao pódio – o primeiro lugar na ocasião foi para o britânico John Watson, pela McLaren –, mas por ter sido sua primeira corrida ao vivo pela TV Globo. Seu nome? Claro, dez entre dez aficionados de Fórmula 1 sabem que é Reginaldo Leme. Desde 1972 cobrindo a modalidade, Reginaldo deu seus primeiros passos no jornalismo no Estadão e em 1978 estreou na TV Globo, onde está até hoje, quase sempre em dupla com o narrador Galvão Bueno. Também apresenta o programa Linha de Chegada no SporTV. Em sua carreira já foram mais de 500 corridas de F1 e de muitas outras categorias, entre elas a Stock Car. Mas também cobriu futebol, foi a diversas Copas do Mundo e estava em campo, como repórter, quando Pelé fez o milésimo gol. Realizado? Em termos. Reginaldo não esconde o desejo de fazer outro tipo de programa, diferente do que apresenta hoje no SporTV. “Um programa menor e com liberdade, em uma tevê aberta, de preferência na Rede Globo. É algo que eu gostaria muito de fazer antes de encerrar a carreira”, já declarou. Além de se dedicar à tevê, Reginaldo edita desde 1992 o Anuário do Automotor, que já está em sua 20ª edição e retrata como foi a temporada do automobilismo no ano anterior, um dos legados que, acredita, vai deixar para as futuras.gerações. O maior, no entanto, será o livro que pretende escrever com tudo o que viu em bastidores, em pista e o que conheceu de pilotos, engenheiros, chefes de equipe e jornalistas. Edição 826 Página 13 Especial – Dia do Jornalista ão Divulgaç Fotografia doMíCio PinHeiro (in memoriam) O fotógrafo do rei “O fotógrafo do rei”. É assim que Domício Pinheiro ficou conhecido, por sua intimidade com o jogador Pelé. Reginaldo Manente, que com ele trabalhou entre 1961 e 1968, no Estadão, lembra que o amigo percebeu o talento do jogador do Santos antes mesmo de ele ser consagrado pela mbrado, mídia e que logo decidiu montar um álbum de fotos do craque, que mais tarde virou um livro. la a o re b so Domício lé Manente recorda da célebre partida que ocorreu em 1974, o jogo de despedida de Pelé, em e P e d dida na despe que Pinheiro subiu no alambrado para fotografar os últimos lances do jogador. “Pinheiro nem gostava muito de fotografar esporte, mas sua relação com Pelé foi de amigo”, conta. Os dois fotógrafos também estiveram juntos na cobertura da Copa de 1986, no México. Manente lembra emocionado que foi lá que recebeu o principal elogio de sua carreira: “Estávamos eu e o Domício revelando nossos filmes em um quarto e ele disse ‘porra, Manente, eu não queria ser seu concorrente não, porque você é muito bom’. Isso marcou muito a minha história”. O amigo recorda ainda que Pinheiro não via a tecnologia com bons olhos e preferia manter seu trabalho com as clássicas técnicas que marcaram o seu trabalho. “Ele não se valia da tecnologia por não ter habilidade com equipamentos novos; usava uma objetiva 85 mm. Para ele era o suficiente”, diz. Domício começou a carreira na Folha Carioca e na Última Hora. A partir de 1954, passou a integrar o grupo de fotógrafos do Estadão, onde ficou até 1989. Nesse período recebeu dois Esso, um 1965 e outro em 1975. Consta que sua fama de “pé frio” – tinha o apelido de toc-toc porque todos “isolavam” batendo na madeira quando ele se aproximava – deve-se principalmente a duas fotos: uma é a da tragédia na Vila Belmiro: em 20/9/1964 o estádio Urbano Caldeira recebia a maior lotação de sua história – 33 mil pessoas – para o jogo entre Santos e Corinthians; enquanto ajustava a lente, ele fotografou o momento em que a arquibancada ruiu – foram mais de cem feridos, mas nenhum morto. A outra, dez anos depois, mostra o exato momento em que o atacante Mirandinha, do São Paulo, quebra a perna num jogo com o América de Rio Preto, pelo Campeonato Paulista. Domício, que de certa forma já carregava a fama, ganhou definitivamente o apelido. Divulgação A história do fotógrafo Evandro Teixeira se confunde com a do mitológico Jornal do Brasil, onde trabalhou entre 1962 e 2010, quando a publicação deixou de circular no papel. Nesse período cobriu copas do mundo, crises mundiais e olimpíadas, mas a pauta que mais o marcou foi o golpe militar no Chile. Atualmente longe da correria da redação, Evandro tem se dedicado a tocar projetos que sempre guardou na gaveta, além de fazer palestras por todo o País: “Quero fotografar o Brasil cada vez mais. Estou cheio de planos na cabeça”. Considerado um ícone da fotografia nativa, Evandro conta que até hoje se pergunta como chegou onde chegou. Nascido nos anos 1930 na pequena Irajuba, no interior da Bahia, tomou gosto pelos retratos criando caixas cinematográficas com lâmpadas para brincar de produtor de cinema. Quando as digitais tomaram conta mercado, demorou a assimilar a novidade. Mas acabou se rendendo. “Ainda uso a câmera analógica e tenho quatro Leicas. Mas não há como resistir às digitais”. No segundo semestre, chega às livrarias uma biografia sua, assinada por Silvana Costa. Em 2004, foi lançado em circuito comercial o documentário Evandro Teixeira – Instantâneos de realidade, que narra sua carreira em 76 minutos. Divulgação evandro teixeira Quatro Leicas na bagagem Gastronomia dias loPes Gosto pela notícia Chef de reportagem Divulgaçã JosiMar Melo o J. A. Dias Lopes já precisou mudar de casa para abrigar os seus livros. Algo em torno de seis a oito mil obras, ele calcula. Mas foi por causa de cinco delas, especificamente, todas de autoria do catalão Néstor Luján, que passou a se dedicar à gastronomia histórica, tema de sua coluna no caderno Paladar, do Estadão, há 11 anos. Lopes, que fez parte da equipe que fundou Veja, trabalhava como correspondente pela revista em Roma quando foi cobrir na Espanha a reeleição do então primeiro-ministro Felipe González. Em um intervalo do trabalho, entrou numa livraria e encontrou o livro História da Gastronomia. Se Luján podia abordar o tema de maneira histórica na Espanha, ele podia fazer o mesmo no Brasil. Antes de pôr a ideia em prática, porém, fez coberturas antológicas, como a primeira greve de mineiros de carvão em 70 anos de comunismo na União Soviética, as primeiras eleições livres na Polônia e a queda do muro de Berlim. Em 1992, assumiu a direção da revista Gula, da qual também era sócio: “Era hora de começar a fazer algo do gênero. As importações foram liberadas e começaram a chegar produtos que não existiam aqui. Os chefs estavam começando a aparecer, trazidos pelos bons hotéis”. Nascia naquele momento um dos profissionais que viriam a abrir caminhos para a gastronomia no jornalismo brasileiro, hoje uma realidade insofismável. Quando Gula foi vendida, ele achou que era hora de abrir sua própria publicação. Nasceu a Gosto. “Nosso enfoque, nossa essência é a comida e a valorização da comida brasileira”, afirma. Quem vê Josimar Melo sentado à mesa dos melhores restaurantes internacionais e nacionais não deve imaginar que antes de se tornar crítico gastronômico ele se dedicava integralmente à militância política: foi presidente do Diretório Central de Estudantes da USP, dirigente da IV Internacional (trotskista, clandestina) e membro do Diretório Nacional do PT até 1985. “Quando cansei da militância profissional 24 horas por dia, resolvi me dedicar a escrever”, recorda. O jornalismo, assim como o gosto pela comida, estava no DNA. Seu pai, Josimar Moreira de Melo, que trabalhou, entre outros, na Última Hora e fundou, em Recife, o jornal Correio do Povo, passava o dia na cozinha fazendo galinha cabidela, feijoada pernambucana, cuscuz... “Havia muito pouco jornalismo de gastronomia quando comecei. O que existia era seção de receitas”, diz. Por isso, considera que sua maior conquista foi justamente ter-se mantido na área e, mais, sobreviver dela: “Tive que me desdobrar em várias atividades para poder ser melhor remunerado, já que abri mão de assumir postos mais altos. Mas isso me permitiu, acho, tornar-me especialista no segmento e ganhar um destaque que na época não se esperaria de uma área tão incipiente”. Crítico da mesma Folha de S.Paulo onde começou na profissão, hoje ainda soma a direção do site Basilico, a apresentação do programa O Guia, no National Geographic, e a autoria de guias e livros sobre a área. E apesar de ter ficado íntimo da alta cozinha francesa e das experiências vanguardistas de Ferran Adrià, admite que não vive mesmo é sem feijoada. Edição 826 Página 14 Especial – Dia do Jornalista Divulgação Humor HenFil (CHarge – in memoriam) Sem medo de ser feliz Quando o corpo do cartunista Henfil foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, em janeiro de 1988, três bandeiras foram colocadas sobre o seu caixão: a do Brasil, a do Flamengo e a do PT, que ainda era apenas um distante projeto de poder. Ao falar desse gênio brasileiro, impossível não fazer um exercício do “se”. Se não fosse hemofílico e se não tivesse sido contaminado pelo vírus da Aids no auge da ferocidade da doença, ele ainda seria um apaixonado petista? Teria sido ministro da Cultura? Quantos outros personagens teria incorporado ao time de Graúna, Ubaldo, Zeferino, Fradin...? Como jornalista, escritor, cineasta e humorista, Henfil não teve medo de criticar o Brasil quando isso era um crime de lesa-pátria. Em uma de suas últimas entrevistas, que seria republicada pela revista Caros Amigos alguns anos depois de sua morte, Henfil, sereno, falou sobre o eminente fim da vida: “Meu plano é esticar a vida o máximo possível – e é possível, desde que eu viva intensamente os meus segundos. Então, tenho urgência”. Além de histórias em quadrinhos e cartuns, Henfil criou a peça de teatro A Revista do Henfil (em co-autoria com Oswaldo Mendes), escreveu, dirigiu e atuou no filme Tanga – Deu no New York Times e teve uma incursão na televisão com o quadro TV Homem, no programa TV Mulher, na Rede Globo. Foi também um dos protagonistas da campanha pela democratização do País, pela anistia aos presos políticos e pelas Diretas Já. E não esqueceu da categoria que abraçou: em 1983 atuou de forma voluntária na campanha que elegeria Gabriel Romeiro (atual Globo Rural, TV Globo) para a presidência da entidade. O esculhambador geral da República ivulgação O esculhambador-geral da República, conhecido também como José Simão, não podia ter nascido em outro país que não o da piada pronta. Largou a faculdade de Direito no terceiro ano quando leu um texto que perguntava: “Se uma árvore do meu terreno dá um fruto no terreno vizinho, de quem é o fruto?” Não sabia e nem queria saber. O que o importava estava nas ruas. Na efervescência do tropicalismo. O jeito observador e a maneira de falar renderam o convite para escrever uma coluna de tevê na Folha. No primeiro dia, apresentou um texto convencional e recebeu como resposta: “Não é isso. Queremos um texto do jeito que você fala”. Logo de cara entendeu que o ritmo é tão importante quanto o conteúdo porque, diz, as pessoas têm um controle remoto na cabeça e mudam de página quando querem. Além da oralidade, os neologismos são marcas registradas do Macaco Simão, algo que aprendeu com Guimarães Rosa: a possibilidade de criar palavras. E dá-lhe tucanês, antitucanês e lulês. Hoje, considera o que faz como “humor jornalístico” e não suporta quando o chamam de piadista. Piada é de loira, de português, do Joãozinho... E não desgruda da televisão, tão pop quanto ele, por considerar que o brasileiro é um povo alfabetizado visualmente, embora contraditoriamente ele mesmo seja tema de mais de 30 dissertações acadêmicas. “Tudo o que escrevo é o que vi na tevê. O presidente foi eleito e caiu por causa da tevê. Se o Galvão Bueno mandar o povo se atirar pela janela, tem gente se que atira”. É, nóis sofre, mas nóis goza. Hoje, só amanhã. Que ele vai pingar seu colírio alucinógeno. Divulgação José siMão (texto) Millôr Fernandes (texto e desenHo – in memoriam) “Para nós, Millôr é um deus. O resto é pesquisa” Claudio CarsugHi Imprensa automotiva O homem da Fórmula 1, mas também das copas “Ouvir a RAI era a única forma de manter um contato rápido com o meu país. No começo eu ia à rádio Panamericana (atual Jovem Pan), usava um receptor de ondas curtas e, em troca do favor, deixava anotações dos resultados dos jogos, marcadores, classificação. Depois consegui comprar um rádio norte-americano Hammarlund e a RAI, a meu pedido, me enviou um livro ensinando a montar uma antena especial para onda curta dirigida para Roma”, conta Claudio Carsughi, que aos 16 anos desembarcou no Brasil. Figura consagrada da imprensa automotiva, paralelamente mantém os dois pés na imprensa esportiva, onde atua como comentarista esportivo da Jovem Pan e do SporTV. Sua história pessoal e profissional, portanto, se confundem. No jornalismo encontrou uma forma de se manter conectado ao país para o qual sempre desejou voltar. O primeiro trabalho na imprensa, por exemplo, foi para o Corriere dello Sport, para o qual cobriu a Copa do Mundo de 1950 em um até então desconhecido Brasil. Foi a primeira de muitas. Carsughi soma 16 Copas no currículo, das quais seis in loco: “A Copa de 1970, no México, foi o momento mais significativo da minha carreira, pela oportunidade de estar em um país muito interessante, de conhecer colegas de várias nações, de sentir como a ditadura era vista na Europa”. Sua paixão esportiva também desembarcou no automobilismo e, por extensão, na imprensa automotiva, com a qual colabora há muitos anos, sendo uma das figuras mais respeitadas e benquistas desse universo profissional. Escreve sobre automóveis com a mesma desenvoltura com que comenta um Corinthians x São Paulo ou uma corrida de Fórmula 1. Sempre há para ele lugar de destaque em eventos como o Salão do Automóvel, nos principais lançamentos automobilísticos do País ou em festas da área. E dá a um jovem recém-formado a mesma atenção e cortesia com que trata os colegas mais experientes. Além de carismático profissional, é um cavalheiro. As experiências ao longo da vida foram tantas que Carsughi afirma que realizou todos os seus projetos, “ao menos os possíveis”, com duas exceções: voltar definitivamente para a Itália, para onde viaja religiosamente todo mês de setembro, e comprar um Ferrari, “um sonho ilógico, ao menos no Brasil... Seria como vestir um smoking para ir à praia”. Arquivo pess oal Cri oro/D stina Isid A produção deste especial caminhava para seu desfecho quando foi divulgada a morte de um dos maiores ícones da nossa lista de 70 nomes: o desenhista, jornalista, dramaturgo e escritor Millôr Fernandes. A notícia pegou o Brasil de surpresa poucos dias depois da morte de Chico Anysio. “É como o Paulo Caruso disse agora há pouco. Para nós, Millôr é um deus. O resto é pesquisa. Ele foi um grande intelectual, livre-pensador, é um grande exemplo para o Brasil”, disse o colega Ziraldo. “Ele soube pensar o Brasil, tinha posições sempre claras, sempre corajosas. Eu acho que, pelo fato de ser rotulado como humorista, talvez muita gente não tenha prestado atenção a esse outro lado dele”, completou Luís Fernando Veríssimo (ver pág. 7). Millôr publicou mais de 50 livros desde 1946 e foi dezenas de vezes premiado como desenhista. Como dramaturgo, escreveu peças antológicas, como Liberdade, Liberdade (1965), com Flavio Rangel, que entrou para a história como emblema de resistência aos militares. Deixou dois filhos, Ivan e Paula, e dois irmãos, Ruth, que mora no Equador, e Hélio, dono do jornal Tribuna da Imprensa. Gênio da raça, sua morte ganhou na mídia (com a qual desde sempre conviveu) espaço de celebridade. Que de fato era. Edição 827 Página 15 Fernando CalMon Imprensa automotiva Na Alta Roda do automobilismo Divulgação Especial – Dia do Jornalista Fernando Calmon orgulha-se de ter participado da primeira transmissão ao vivo de um evento esportivo europeu quando cobria automobilismo pela extinta TV Tupi. Antes dele, somente a Record tinha conseguido a proeza, diretamente das 500 milhas de Indianápolis. Os eventos antecederam a cobertura da Copa do Mundo de 1970, aclamada por poder ser acompanhada em tempo real pelos telespectadores e primeiro evento esportivo com transmissão em cores. Certa vez, ao chegar à cabine de transmissão da corrida 24 Horas de Le Mans, começou a ser muito bem tratado por outro jornalista estrangeiro. Estranhou aquela presteza toda: “Só fui descobrir o motivo na hora de deixar o local. Na porta da sala estava grafado TUPI e o jornalista deve ter imaginado que se tratava do braço ‘television’ da UPI, a maior e principal agência de notícias de então”. Engenheiro de formação, Calmon entrou no jornalismo por causa do gosto pelo automobilismo. Trabalhou, além da Tupi, nas revistas O Cruzeiro e Autoesporte, no Diário de S.Paulo, nas tevês Manchete, SBT e Band e em outras dezenas de veículos até decidir deixar as redações e criar uma coluna própria para ser distribuída entre várias publicações. “Já planejava desde 1994. A abertura das importações estava favorecendo a indústria automobilística e achei que podia focar nesse segmento. Além disso, acreditava que depois da morte do Ayrton Senna o automobilismo não seria mais o mesmo”, afirma. Nos principais eventos da indústria automotiva está sempre às voltas com colegas, discutindo aspectos técnicos dos veículos, favorecido pelos conhecimentos que adquiriu nos tempos de Engenharia e nas leituras e pesquisas que faz diariamente para manter-se atualizado. Não porque queira, mas não há coletiva em que ao lado do presidente ou principal executivo de uma fábrica não esteja Fernando Calmon. Sua presença demonstra o prestígio do evento e a certeza de tratar-se de uma iniciativa de relevância. A coluna Alta Roda passou a ser distribuída em 1999 para 12 veículos. Hoje, 13 anos depois, alcança 98 publicações. res Silvia Linha luiZ Carlos seCCo Cobertura de corpo e alma Ele foi preso várias vezes durante a ditadura, apontou um revólver para um segurança e foi denunciado por um dono de bar. Um desavisado pode achar que Luiz Carlos Secco notabilizou-se como repórter policial ou de política. Mas foi como setorista da área automobilística que construiu sua carreira. As aventuras são resultado de sua entrega ao jornalismo e de sua incessante busca por furos: “Me dedicava mesmo, fazia uma cobertura de corpo e alma. Eu ia a tudo que era canto atrás de informações: casa de piloto, de diretores, boate, barzinho. Pulava muro, subia em telhado. Saia de manhã e não tinha hora pra voltar”. Foi um funcionário da indústria automobilística que o incentivou a começar a cobrir novos projetos que eram trabalhados em segredo pelas empresas. De uma hora para outra ele formou uma rede de fontes que permitiu “saber tudo o que acontecia, até projetos que iam ser lançados no futuro e que ainda não tinham nenhuma formatação”. “Um dia o presidente da Ford me chamou para trabalhar lá. ‘Trazendo você para a Ford nós podemos trabalhar sossegados’, ele falou. Pois eles não tinham sossego mesmo; onde eles estavam, eu estava também”, recorda Secco, que hoje mantém uma consultoria de comunicação para o setor automobilístico junto com o filho. Figura constante no J&Cia Imprensa Automotiva, que está chegando ao seu terceiro ano de vida, Secco é campeão absoluto de indicações da coluna Álbum, de Heloísa Valente, na escolha que os entrevistados fazem de um jornalista referência para homenagear o setor. Não há prova mais real de seu carisma e relevância para esse segmento do jornalismo brasileiro, possivelmente o mais organizado e desejado de todos. Da experiência, ele lembra com carinho: “Era um trabalho muito emocionante, me deu muito alegria. Hoje em dia não tem mais, muitos carros são lançados a toda hora, a indústria perdeu muito”. A imprensa também, quando ele deixou as redações. orte Mario Pati Expert em computador, aos 84 anos o/Autoesp Divulgaçã Mario Pati foi um dos responsáveis por trazer a Fórmula 1 para o Brasil, ao embarcar na ideia do amigo e também jornalista Antonio Carlos Scavone: “Num belo dia de 1947 ele me ligou: ‘Você quer trazer a F1 para o Brasil comigo?’. Achei engraçado, era algo que não correspondia ao que tínhamos aqui em termos de automobilismo, mas aceitei”. O início não foi fácil. “Éramos novatos. Tivemos que ir muito para a Europa assistir às corridas e contratar os pilotos para virem fazer provas no Brasil. Eles perguntavam se aqui tinha cobra”, lembra, rindo. “No fim da primeira corrida senti um alívio ao ver a bandeira cair”. Pati já havia tentado ser piloto, chegando a participar de algumas corridas de carro de turismo, e àquela altura, além de fazer cobertura de automobilismo para o Diário Popular, já era diretor de provas nacionais. Também foi fundador e presidente da Associação Brasileira da Imprensa Automotiva, que contribuiu para uma especialização do setor, vista com bons olhos por Pati: “No início, o jornalista que cobria esporte cobria todas as modalidades e isso foi mudando com o tempo”. Com 84 anos, deixou as redações há apenas sete e diz que sente “uma falta terrível”. Hoje responde pelo site Revista de Automóvel, que se concentra principalmente no automobilismo esportivo e na indústria nacional. “Não sou um hacker, mas sou um expert em computador. Tiro foto, publico texto e mexo em todo o site”, diz, orgulhoso. Nas festas do setor é sempre um dos centros de atenção, com suas tiradas e piadas que fazem a alegria da galera. Ao lado de Claudio Carsughi (ver pág. 14), é a memória viva da imprensa automotiva do Brasil. Separe suas matérias ou planeje suas pautas s Inscriçõe e d ir rt a p a l ri b a 16 de •R$ 102 mil em prêmios líquidos, já descontado o IR •Podem concorrer trabalhos inéditos veiculados entre 1°/9/2011 a 31/8/2012 •Categorias Nacionais – R$ 62 mil nos segmentos Jornal, Revista, Televisão, Rádio e Internet (R$ 10 mil cada); e Imagem – Fotografia e Criação Gráfica (R$ 6 mil cada) •Categorias Regionais – R$ 20 mil (R$ 5 mil para cada uma dos quatro segmentos) •Grande Prêmio – R$ 10 mil •Prêmio Especial para a melhor matéria ou cobertura jornalística da Rio+20 – R$ 10 mil •Prêmios especiais (não remunerados) para Personalidade do Ano em Sustentabilidade, Veículo do Ano em Sustentabilidade e Veículo Especializado do Ano em Sustentabilidade Regulamento no www. premiojornalistasecia.com. br. Outras informações com Lena Miessva, no [email protected] ou 11-2679-6994. Edição 840A Página 16 Divulgação Especial – Dia do Jornalista Jornalismo científico J. reis (in memoriam) Pioneiro da divulgação científica SBT Em 1929, o médico José Reis realizou estudos sobre doenças em galinhas e aves. Satisfeito com os resultados, começou a visitar pequenos produtores para informá-los sobre os avanços científicos e o tratamento adequado em aviários. Iniciava, assim, sua longa e árdua trajetória em favor da divulgação científica. Titular da Cátedra Unesco de Comunicação, José Marques de Melo (ver pág. 2) não poupa elogios ao se referir a J. Reis, como era conhecido: “Ele é um ícone do jornalismo científico no Brasil, deixou um legado que serve de modelo aos que se dedicam atualmente à área e que sinaliza como paradigma aos que ainda se envolverão com ela”. Autor de inúmeros artigos, só em 1948 J. Reis foi convidado a trabalhar na Folha da Manhã (atual Folha de S.Paulo). No jornal, passou a comandar a editoria de Ciências e chegou a diretor de Redação, em 1962. “Ele não apenas publicava artigos assinados, mas estimulava a cobertura de atividades de fomento científico”, comparecendo, inclusive, a feiras de ciências em escolas, lembra Melo, no livro História do Jornalismo. O catedrático, que conheceu Reis em 1970, afirma, no entanto, que sua maior contribuição para a área é fruto da reflexão crítica sobre a prática jornalística e divulgação científica, cujos princípios para o exercício, publicados em 1961, circularam em todo o mundo. Falecido em 2002, aos 94 anos, José Reis corre o perigo, segundo Marques de Melo, “de ser tragado pela amnésia nacional”: “Apesar de figurar como patrono de núcleos, prêmios, cátedras, sua obra dispersa sobre jornalismo científico até agora não foi reunida”. E nem, por mais contraditório que seja, divulgada. Jornalismo investigativo antonio Carlos Fon “Comunista até hoje” Ao receber o telefonema de J&Cia para participar deste especial, Antonio Carlos Fon foi logo dizendo na lata: “Não sou ícone”. Mas aos 66 anos, aposentado, tem uma trajetória profissional e de vida que o desmente. Durante a ditadura militar, foi secretário de Agitação e Propaganda do PCB, de onde foi expulso por defender a luta armada. “Eu era o único que aceitava sair na rua com um pacote de jornais do partido”. Em 1967, foi preso e torturado. Doze anos depois, publicaria na revista Veja a primeira reportagem denunciando a tortura no País: “Esse foi o momento mais importante da minha carreira”. Na década de 1990, Fon marcou seu nome na história do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, quando a entidade fez suas primeiras greves desde 1979. “Criamos o piso para assessoria de imprensa e recuperamos as finanças do Sindicato”. Ao lado de José Hamilton Ribeiro (ver pág. 20), participou da junta governativa que assumiu a entidade por algumas semanas com o objetivo de convocar eleições gerais, transformando-se na sequência respectivamente em candidato e presidente do Sindicato. Sob seu comando e por iniciativa de Zé Hamilton, o até então sazonal jornal Unidade veio para ficar. E foi ali, em março de 1991, que surgiu a coluna Moagem, assinada por Eduardo Ribeiro, que daria, cinco anos depois, origem ao FaxMOAGEM, hoje Jornalistas&Cia. Obstinado e apaixonado pelas causas sociais, Fon consegue também arranjar tempo para curtir a neta e para cultivar seu passado e seus ancestrais chineses. Alguns anos atrás descobriu ser o patriarca de sua família e foi à China para conhecer os familiares e se inteirar de sua origem. Coisa típica de um repórter investigador de sua extirpe. Nos anos 1980 ajudou a fundar o PT, mas deixou o partido em 1995: “Sempre fui militante e me considero comunista até hoje”. oCtavio riBeiro, o Pena BranCa (in memoriam) Caso de polícia Octavio Ribeiro, o Pena Branca, por Mário Cesar “Malandro pra cá, malandro pra lá”, é assim que Tão Gomes Pinto lembra o jeito de Octavio Ribeiro falar. “O maior repórter policial do Brasil, não existiu outro. Ele era respeitado pelas autoridades policiais e pelos marginais porque falava a língua da rua”, continua Gomes, editor de Pena Branca, como Ribeiro também era conhecido, em suas passagens por Veja e IstoÉ, nos anos 1970. Ele mesmo confessava sua especialidade: “Você, Tão, é bom nas pretinhas [teclado da máquina de escrever], eu sou bom no asfalto”. Ninguém ousava duvidar. No Rio de Janeiro, conseguiu uma entrevista com um dos piores bandidos da época, no momento em que ele ameaçava se suicidar. De quebra, evitou uma tragédia. “Chefia”, ele dizia, “vamos para o Rio. Lá neguinho conversa mais e a gente consegue ter mais história para contar porque eu tenho meus acessos...”. Era preciso coragem para acompanhar Pena Branca nas vielas das favelas, às quais tinha livre acesso. Tim Lopes dizia inspirar-se em Ribeiro e nele também foi inspirado o seriado Plantão de Polícia, da Globo, em 1981. Conquistou uma de suas fontes, o tira carioca Paulo Copacabana, “livrando a cara” do sujeito ao não “caguetá-lo”, lembra Tão Gomes. Copacabana tinha ajudado a prender um ladrão que carregava pedras semipreciosas. O “marginal” e as pedras foram apresentados em uma coletiva de imprensa. Na hora de guardá-las, o policial escorregou algumas para dentro do bolso. Ribeiro viu e foi falar com ele. Copacabana explicou: estava construindo uma garagem para a sogra e precisava do dinheiro para terminar a reforma. Seu silêncio lhe rendeu boas informações até sua morte, prematura, aos 54 anos. É autor de Barra Pesada (Codecri, 1977), livro no qual descreveu, com um estilo marcante, que inclui gírias e expressões da malandragem da época, seus então 15 anos trilhando caminhos “traiçoeiros e espinhosos” na cobertura policial. “Nele não curti os condimentos mágicos da literatura. Apenas colei as consoantes nas vogais, tentando separar o bem do mal, como as grades separam o bandido dum policial…”, escreveu ele sobre o livro. Perfis biográficos dos jornalistas brasileiros e o noticiário com o vaivém profissional www.portaldosjornalistas.com. br Edição 840A Página 17 Janete Lo ngo Especial – Dia do Jornalista Jornalismo literário Fernando Morais “Minha alma é muito dividida” ruy Castro “Nunca quis fazer outra coisa da vida” o Divulgaçã Ruy Castro completa 45 anos de carreira em 2012 como testemunha ocular das principais transformações do Brasil nas últimas décadas. Estava no Correio da Manhã, invadido por militares no AI-5, em 1968; no Jornal do Brasil no começo da abertura, em 1975; na Folha de S.Paulo em plena campanha das Diretas Já, dez anos depois. Acompanhou a Revolução dos Cravos, em Portugal, pela Manchete. Soma a isso tudo o ingrediente que considera mais importante: traquejo de rua, fruto de muitas idas a bares em todos os lugares por que passou. Pronto! A receita foi infalível e o resultado indiscutível: Ruy é hoje um dos principais jornalistas e escritores do País, tendo produzido, entre outras, as biografias de Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda. O balanço de mais de quatro décadas de trabalho? “Tive e tenho muita sorte. Nunca quis fazer outra coisa na vida do que trabalhar com as palavras. Nunca trabalhei em nada que não tivesse vontade de trabalhar”. Pudera: “Aprendi a ler aos 4 anos, no colo da minha mãe, que lia diariamente, em voz alta, a coluna ‘A vida como ela é’. Eu olhava para a página e, um dia, descobri que também sabia ler”, conta, lembrando ainda que o Correio da Manhã, pelo qual se “apaixonou”, era o principal jornal da casa de seus pais. “Decidi que um dia seria jornalista, e do Correio da Manhã”. Conseguiu, aos 19 anos. Aos 64, seus planos agora são outros. Está com dois livros quase prontos: “O melhor da Senhor”, revista dos anos 1960, e “O Vermelho e Negro”, edição atualizada e ampliada do seu trabalho sobre o Flamengo. Em seguida, virão outros: “Há várias coisas borbulhando”. Divulgação A primeira experiência de Fernando Morais como escritor foi em 1970. Depois de produzir uma reportagem para o Jornal da Tarde sobre a Transamazônica, que acabaria premiada com um Esso, ele recebeu de Caio Graco, da Editora Braziliense, o convite para transformar o material em livro. “Foi um negócio espantoso. Eu não achava que era possível ganhar dinheiro com livro. Aquilo me ascendeu uma luzinha”. Cinco anos depois, estava na revista Visão quando recebeu a notícia que finalmente seu visto para Cuba havia sido liberado: “Fiquei três meses fazendo uma pauta que era um grande retrato da revolução cubana, algo que ainda não tinha sido feito. Quando voltei, a revista não quis publicar o material. O Henry Macksoud, que era o dono, achou engajado demais”. Nasceu assim o livro A Ilha, que já vendeu 800 mil exemplares. Mineiro de Mariana, Morais sempre manteve uma vida dupla. Além de escritor e jornalista, foi um político bem sucedido, tendo sido secretário de Governo e deputado. Em 2002, teve uma “recaída” e disputou o governo paulista pelo PMDB, mas acabou desistindo no meio do caminho porque Orestes Quércia queria usar seu tempo de tevê. “Minha alma é muito dividida. Ainda sou um ativista e mantenho atividades políticas informais”. Ao lado do inseparável charuto, herança de seu convívio com Cuba e com o comandante Fidel Castro e sua marca registrada (além, é claro, da barba e da verve ferina), Morais deu a Protagonistas da Imprensa Brasileira a mais longa entrevista da série. Foram quase seis horas de uma conversa com várias revelações inéditas como, por exemplo, a de que seu pai havia colocado para fora de sua casa a tapas um bispo católico que foi tirar satisfações por ele ter matriculado os filhos numa escola protestante. Em tempo: um dos projetos que Fernando espera retomar em breve é a biografia do ex-ministro José Dirceu. Zuenir ventura “Se tivesse que recomeçar, seria sempre repórter” eriKa PaloMino O deadline da moda Rômulo Moda Soares Zuenir Ventura é desses que todo mundo gostaria um pouco de ser. Jornalista dos tempos da boêmia, autor de 1968 – O ano que não terminou, repórter de faro apurado e texto fluido, colunista admirado por leitores e colegas e observador atento da realidade. Se há lacunas em sua carreira, já se tornaram invisíveis diante da qualidade e quantidade de sua produção. “Se tivesse que recomeçar, seria sempre repórter (comecei como arquivista, depois redator e só depois de velho fui para a reportagem), que é a melhor e mais importante parte do jornalismo”, afirma, negando uma nostalgia em relação aos tempos do começo da carreira, embora admita que havia “bons aspectos daquele jornalismo meio amador e semiartesanal”. Um jornalismo sem hora para fechar, sem limite rígido de espaço, com chope até altas horas para comemorar um furo, que foi substituído por maior profissionalização, que ele vê com bons olhos: “Nosso principal ganho foi no plano da ética, uma palavra que até os anos 1960 não existia no vocabulário da imprensa”. Ganhou também a onipresença e onisciência da internet, ainda que a corrida desenfreada por furos traga consequências como uma morte desavisada, como aconteceu com ele mesmo, que durante três horas foi dado como morto por um grande site. Por sorte, um grande mal-entendido, que não nos furtará de ler seu próximo livro, Sagrada família, com lançamento previsto para ainda neste ano. Foram dois anos na Folha de S.Paulo até Erika Palomino ver seus textos sobre moda e comportamento publicados pela primeira vez, em 1990. Valeu a espera. A boa repercussão deu a ela credencial para estrear dois anos mais tarde a coluna Noite Ilustrada, que emplacou em pouco tempo. Carioca “de alma paulistana”, Erika trouxe à luz novidades e tendências em moda, então, badaladas apenas nas “passarelas” da noite de São Paulo. “Ao trazer ao grande público a moda cluber, Erika trouxe esse pessoal mais jovem, alternativo, cheio de informações internacionais da moda”, comenta a consultora Glória Kalil. “Era uma turma que ninguém conhecia. A partir daí, ela estreou em cena pela porta da noite, mas é uma pessoa informadíssima sobre todos os horários da moda”. Autora de livros, Erika Palomino hoje cobre os principais circuitos fashion: Milão, Paris, Nova York e Londres. Em 2001, migrou para a internet – desde 2010 assina coluna no iG – e, em 2006, lançou a revista Key, trabalho que a projetou como uma das principais referências nesse tipo de cobertura. “Sem dúvida. Ela trouxe uma novidade e se integrou à moda; é uma jornalista de boa observação e com um conhecimento muito grande. Por isso, trouxe uma contribuição importante”, acrescenta Glória Kalil. Edição 840A Página 18 oal Especial – Dia do Jornalista Arquivo pess Policial PerCival de souZa O que se recorda para contar O primeiro cronista de Brasília Política Em 2004, pouco mais de um ano depois de Lula chegar ao Palácio do Planalto, seu secretário de Imprensa, Ricardo Kotscho (ver pág. 21), decidiu remodelar o departamento. Além de eliminar divisórias e deixar o espaço com cara de redação, batizou o lugar e colocou ali uma placa com o nome daquele que é considerado o primeiro comentarista político de Brasília: Carlos Castello Branco, o Castelinho. Na ocasião, a família de Castelinho e o próprio presidente Lula participaram da “cerimônia” de inauguração. “Ele foi um dos mais importantes jornalistas brasileiros e o grande jornalista de Brasília. Era o rosto do jornalismo político de Brasília”, lembra Kotscho. Nascido em Teresina, Castelinho fez carreira no Rio de Janeiro, onde assinou por décadas o Informe JB, mais importante coluna de política do Jornal do Brasil – e do Brasil. Durante um curto espaço de tempo, foi, assim como Kotscho, secretário de Imprensa do Governo na gestão Jânio Quadros. Seu subsecretário na época era Evandro Carlos de Andrade, que anos mais tarde se consagraria como um dos mais importantes profissionais de O Globo e da Rede Globo. “Castelinho era um oráculo. Quando já estava velho, como eu estou hoje, e circulava menos, a notícia chegava até ele antes. Os políticos se aconselhavam com ele...”, diz Kotscho. Nos tempos em que Castelinho reinava no jornalismo político brasileiro, não havia autoridade, empresário ou político que saísse de casa sem antes ler sua coluna. Num tempo em que não havia internet e outras facilidades para a commoditização das notícias, ler sua coluna era uma questão de sobrevivência profissional. Fez escola e deixou um excepcional legado de bom jornalismo, ética e valorização da atividade. Arquivo pess Carlos Castello BranCo, o CastelinHo (in memoriam) oal Percival de Souza teve sua morte planejada durante a ditadura militar. Descobriu isso ao entrevistar Ademar de Oliveira, conhecido como Fininho, membro do Esquadrão da Morte paulista, foragido da Justiça, que revelou que ele deveria ter sido morto dois anos antes, por causa de suas matérias que denunciavam que o disfarce de “profilaxia social” encobria uma luta entre traficantes de drogas. Percival chegou ao jornalismo policial pelas mãos de Mino Carta (ver pág. 8), que deu a ele a missão de criar uma nova roupagem a essa editoria no novo diário que estava sendo lançado, o Jornal da Tarde: “Neófito na área, procurei me familiarizar com a estrutura de segurança pública para, aos poucos, ir transformando esse conhecimento profundo em matérias”. Ao longo dos anos aprendeu Direito, tornou-se consultor da Comissão de Segurança Pública da OAB-SP, estudou Criminologia. Especializou-se, dando à reportagem criminal uma dimensão sociológica, filosófica e, por que não, literária. Dessa forma, produziu uma série de matérias que considera a mais marcante de sua trajetória. “Vivi um mês dentro da antiga Casa de Detenção de São Paulo coletando ‘histórias dos homens que vivem do maior presídio do mundo’”, relembra. A série se transformou no livro A Prisão, uma de suas 18 obras. Atualmente comentarista da TV Record e colunista de uma revista especializada em Direito, Percival afirma que gosta mesmo é de escrever: “Quero escrever mais, revelando, documentando. O jornalismo é a minha vida, a minha paixão e nele consegui minha realização profissional, pessoal e afetiva”, completa, citando Gabriel García Márquez: “A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda para contar”. Clóvis rossi Um foca irremediável Ao completar em março 50 anos de profissão, Clóvis Rossi nem pensou em dar férias ao bloquinho: “Se houve algo que me engrandeceu foi a disposição inabalável de estudar e aprender sempre, do primeiro dia como foca irremediável até hoje”. Nascido em 1943, esse paulistano acompanhou de perto momentos importantes da história recente. Possivelmente seja o recordista em coberturas da transição de regimes autoritários para a democracia. Cobriu a abertura política em todos os países de América Latina e América Central, além de Portugal e África do Sul. Rossi, que já trabalhou no Jornal do Brasil e chefiou a redação do Estadão, é colunista, repórter especial e membro do Conselho Editorial da Folha de S.Paulo, onde trabalha desde 1980. Foram muitas as suas andanças, mas, ao eleger o grande momento da carreira, destaca a época como correspondente da Folha na Argentina (1981-1983), durante a ditadura. “Foi a primeira vez que senti que meu trabalho tinha um valor além da notícia, porque servia de balão de oxigênio e muletas aos argentinos exilados no Brasil, conforme depoimento deles próprios”, comentou. Ao todo, são 38 anos como enviado especial. Trajetória iniciada em 1963 na sucursal paulista do Correio da Manhã do Rio de Janeiro, que “desapareceu” por pressão dos militares. “Numa sucursal pequena, como aquela, fazíamos de tudo: rádio-escuta, reportagem, copidescagem, o que aparecesse”. O reconhecimento por seu intenso e relevante trabalho transparece nos vários prêmios que conquistou, entre eles o internacional e cobiçado Maria Moors Cabot. “Ele é bom porque é bom” Milena elio gasPari Antonio “O Elio é o Pelé do jornalismo”, sintetiza Augusto Nunes, colunista da Veja, onde durante sete anos trabalhou com Elio Gaspari. A opinião é unânime entre os colegas, concordem ou não com seus posicionamentos. “Nunca vi alguém igual, com tanta competência em todos os ramos do nosso ofício: reportagem, edição, texto e colunismo”, afirma Aluizio Maranhão, editor de Opinião de O Globo. Da mesma forma se expressa José Roberto Guzzo, do Conselho Editorial da Abril: “Ele é um dos melhores jornalistas que já vi dentro de uma redação. Sempre sabe, realmente, o que está fazendo. É bom no jornalismo político, sua especialidade mais frequente, mas é bom em qualquer outra área. Mais do que ter uma coluna muito lida, ou por ser um jornalista importante, ou por ter escrito livros de sucesso, Elio é bom porque é bom. É bom porque sabe fazer”. Atualmente, Gaspari, que soma passagens, entre outros, por Jornal do Brasil, Estadão e a própria Veja, assina uma coluna na Folha de S.Paulo, replicada para outros jornais como O Globo e Correio do Povo. É também autor de quatro livros sobre os “anos de chumbo”, considerados um valioso documento para entender o regime militar. “Sua contribuição para o jornalismo brasileiro é múltipla. Ele tem um excelente texto, um faro incomparável para notícia e está o tempo inteiro atrás de informação”, diz Nunes. Tudo isso, sem contar seu grau de exigência. “Trombou, trombou”, era a expressão que mais usava dentro das redações. Significava que o texto precisaria ser refeito. E lá iam os repórteres reescrever matérias inteiras para se encaixar no padrão Elio Gaspari de qualidade. É de autoria dele o neologismo privataria, hoje largamente utilizado, que aplicou para descrever em sua coluna o processo de privatizações de empresas estatais iniciado pelo governo FHC (A Privataria Quer Mais Dinheiro, Folha de S.Paulo, 20/8/2000). Edição 840A Página 19 ução Reprod Especial – Dia do Jornalista Política tarso de Castro (in memoriam) O antagonista nair suZuKi Produção e apoio “O jornalismo é um vírus que pega” Oscar Nogu chi Combativo, passional, explosivo, alcoólatra inveterado, vingativo, sarcástico, revolucionário, genial. Todas as passagens da carreira e da biografia do hiperbólico Tarso de Castro harmonizam bem com algum tipo de adjetivo. Morto de cirrose em 1991, ganhou em 2005 uma biografia que coloca sua história no devido lugar. “Apesar de ser um porra-louca, um homem de bar, Tarso era um profissional responsável, um fazedor de muitas coisas. Infelizmente, pouco se fala dele hoje’, disse na ocasião Tom Cardoso, o autor do livro, batizado com o instigante título de 75 kg de músculos e fúria. Tarso foi um dos mais controvertidos jornalistas da imprensa brasileira entre as décadas de 1960 e 1980. Começou a carreira no Rio Grande do Sul, mas tornou-se uma figura nacional quando começou a assinar uma coluna na Última Hora do Rio de Janeiro em que desancava os militares. Na Folha de S.Paulo, Tarso editou a Ilustrada e criou o Folhetim, marco do jornalismo brasileiro dos anos 1970, um caderno recheado com grandes perfis e matérias considerado revolucionário na época. Também foi colunista do jornal e da Folha da Tarde nos anos 1980, mas bateu de frente com a direção do jornal, que decidira repaginar-se. Notabilizou-se ainda como um dos fundadores do Pasquim e pelo texto brilhante e ferino que produzia de forma abundante e eloquente. A editora-chefe de Economia e Negócios do Estadão Nair Suzuki aconselhou a filha a não seguir seus passos. Segundo ela, Naomi entrou na faculdade em um momento em que o jornalismo remunerava mal e explorava os profissionais. Não adiantou: “Mais do que um vírus, o jornalismo é um vírus que pega. Você olha os jornalistas sérios trabalharem e chega à conclusão de que é a melhor profissão do mundo. Entra nela, se vicia e sofre muito. Mas é feliz”. Foram essas as características que, provavelmente, Naomi reconheceu na mãe. “Completo 43 anos de profissão em 2012. Fui crescendo na carreira com as promoções que surgiram como fruto de muito trabalho. Trabalhei em boas empresas. Aposentei-me por tempo de serviço, mas continuo na ativa”, conta Nair, ainda fazendo planos: “Quando me aposentar de fato, quem sabe escrevo um livro ou crio um site”, pensa alto. Nair formou-se na segunda turma de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP), aonde chegou depois de descobrir a facilidade para escrever: “Ao começar a trabalhar em uma redação cheguei à conclusão de que daria para viver do jornalismo e aqui estou até hoje”. Foi setorista de trânsito antes de enveredar, em 1975, para o lado da economia, que nunca mais abandonou. De um lugar privilegiado, viu as “grandes transformações” que o setor sofreu. “Até a década de 1980, o noticiário econômico vinha depois da seção de turfe”. Hoje, tem um caderno só seu. Não há entre as fontes de informação mais importantes da economia brasileira e seus assessores de imprensa quem já não tenha passado pelo crivo de Nair, uma das mais elegantes e pacientes profissionais da chamada retaguarda do jornalismo brasileiro. Nunca está na linha de frente, mas sua presença numa redação é uma segurança para qualquer equipe. E no telefone, sempre gentil, ouve sempre e jamais discrimina ou deixa um interlocutor sem explicação. Foram poucos empregos, entre eles Folha de S.Paulo, Gazeta Mercantil, Fiesp e Estadão. Em alguns esteve por duas vezes. Sempre de forma longeva e consistente. É a profissional que qualquer empresa jornalística e qualquer equipe gostariam de ter. Maurício de Sousa Prod uções Quadrinhos MauríCio de sousa Um bilhão de exemplares Mais que um formador de opinião, Maurício de Sousa é um formador de leitores. O maior do mundo, diga-se. Quando lançou a revista da Mônica, em 1970, foram 200 mil exemplares vendidos. Hoje, seus personagens estão em 50 países e acumulam um bilhão de exemplares publicados. Pode parecer estranho, mas antes de lançar seu primeiro personagens, o cachorro Bidu, aos 24 anos, nos anos 1960, trabalhou como repórter de polícia da Folha da Manhã (atual Folha de S.Paulo). No primeiro dia de trabalho, comprou uma capa, um chapéu e ia para a rua incorporando um Dick Tracy brasileiro. “Aquilo era a glória para um garoto de 19 anos. Quase me desviei do queria mesmo, que era fazer quadrinhos”, disse Maurício recentemente ao apresentador Ronnie Von, no programa que este pilota na TV Gazeta de São Paulo. Glamour à parte, no fundo ele não gostava de cobrir crimes e afins porque aquilo era como cobrir “o fracasso do homem”. Os quadrinhos de Mauricio de Sousa foram adaptados para o cinema, a televisão e videogames. Até um parque temático da Turma da Mônica foi construído em São Paulo. -TV Glo bo CaCo BarCellos Reportagem Jornalismo para os mais pobres Zé Paulo Cardeal Profissão: repórter. Não é preciso dizer mais nenhuma palavra para descobrir sobre de quem se fala. Caco Barcellos é repórter por excelência, daqueles com os solados de sapatos mais gastos. Do primeiro dia de trabalho, em 1973, na Folha da Manhã de Porto Alegre, até hoje, aos 62 anos, na Globo, Caco nunca abandonou a reportagem. E, como se não bastasse, ainda se vê como no primeiro dia, achando que não vai conseguir fazer, que não é capaz, sentindo-se temeroso diante de um desafio muito difícil: “O grande medo que eu tenho é de errar. Isso me angustia muito e me faz trabalhar demais”, já declarou, em diversas oportunidades. Apesar disso, prestes a completar 40 anos de carreira, deixa a modéstia de lado ao assumir que se considera um dos melhores repórteres de televisão. Não é para menos. Caco é reconhecido onde vai, não chega à redação sem ser interpelado e mal sobe no elevador sem que alguém se aproxime. O melhor do trabalho, diz, é o carinho e a atenção, quando alguém lembra algo que ele fez há anos. Jornalista desde que se entende por gente, quando escrevia suas impressões depois de sair de seu bairro à noite para ver como os ricos moravam, ele ainda tentou dar uma desviada no caminho e foi cursar Matemática, o que só durou até começar a escrever para o jornal do Centro Acadêmico. Em Porto Alegre, antes de ir para o jornalismo, atuou por uma temporada como motorista de táxi, atividade da qual se orgulha muito e que sempre cita ao falar de suas origens. Daquela época mantém a defesa do jornalismo para os mais pobres. Segundo ele, é preciso voltar o trabalho ao brasileiro comum, que ganha salário mínimo e que vive longe do poder. “Essa é a grande autoridade a quem devo procurar”, costuma dizer. Edição 840A Página 20 Divulgação Especial – Dia do Jornalista Reportagem eliane BruM Uma historiadora do cotidiano Joel silveira (in memoriam) Ele, a víbora O escritor e jornalista Joel Silveira morreu em 2007 com 88 anos, no Rio de Janeiro, depois de uma longa luta contra o câncer. Não houve velório, nem choro nem vela, a pedido dele próprio. Mas naquele dia 15 do agosto abriu-se uma irremediável lacuna na memória do jornalismo brasileiro. Quando trabalhava para Assis Chateubriand nos Diários Associados, tornou-se o primeiro correspondente de guerra do jornalismo brasileiro ao se juntar à FEB (Força Expedicionária Brasileira). Graças ao estilo afiado, ganhou de Chatô um apelido que o perseguiu pela vida afora: A víbora. Voltou condecorado como herói de guerra, apesar de ter disparado apenas notícias do front. Fez história também em outros fronts. Duas reportagens sobre a sociedade paulistana, Eram assim os grã-finos em São Paulo e A Milésima Segunda Noite da avenida Paulista, estremeceram o PIB paulista. Em 60 anos de carreira, lançou mais de 40 livros. Em 2001, disputou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, no lugar que vago com a morte Jorge Amado. Não conseguiu. Hoje, é duro pensar que figuras que não têm um décimo de seu brilho fazem parte desse panteão. Joel Silveira foi um dos personagens selecionados por este Jornalistas&Cia para fazer parte da galeria dos Protagonistas da Imprensa Brasileira. A entrevista foi originalmente publicada no site de Geneton de Moraes Neto (da TV Globo), que gentilmente cedeu os direitos para republicação. Portal FEB O jornalismo para Eliane Brum é mais do que profissão. É a forma que ela encontrou para estar no mundo: “Vejo o jornalista como um historiador do cotidiano – e nossas reportagens como documentos que, ao mesmo tempo, contam a história em curso e a influenciam”. Repórter premiada, Eliane é incansável em sua busca por contar histórias e sensível na maneira de retratá-las: “O jornalismo me deu acesso a todo tipo de realidade. Muitas vezes me senti como aquele androide de Blade Runner que está no telhado, a poucos minutos da morte, e diz algo assim: ‘Vi estrelas explodindo, vi planetas...’. E vai enumerando o que viveu. A reportagem me permite estar no telhado, perto da morte, povoada por memórias, com a certeza de que vivi”. Certeza também tem de que exerce a profissão com verdade, embora isso não a exima de erros: “Cometi vários, não de informação, mas em momentos em que não compreendi a delicadeza e a fragilidade da vida de alguém cuja história me propus a contar. Acho que nós, jornalistas, falamos muito pouco de nossos erros. Ser jornalista é ter de se perguntar todo dia, de maneiras diferentes, sobre os limites”. Limites que ela testou em cada reportagem. Quando refez, por exemplo, ainda em 1993, a marcha da Coluna Prestes ou quando acompanhou os últimos 115 dias da vida de Alice de Oliveira de Souza e em sua última experiência sobre a Doença de Chagas na Bolívia, que será publicada no livro de 40 anos dos Médicos Sem Fronteiras. Ao “estar no mundo” por meio do jornalismo, Eliane permite que seus retratados também pertençam ao mundo e aos leitores, que extrapolem os seus. Dela não é preciso ir muito longe para saber tratar-se de uma das mais importantes profissionais do jornalismo contemporâneo: aqui mesmo neste J&Cia foi personagem de um especial Entrevista, num singelo e tocante texto de Célia Chaim, e foi apontada como a mais premiada jornalista brasileira de todos os tempos pelo Ranking Jornalistas&Cia. José HaMilton riBeiro “Não adianta lutar contra si próprio” Ele é para muitos o maior repórter brasileiro, capaz de extrair da mais alta autoridade ou do mais simples dos mortais informações que se transformam em ouro jornalístico. Onde seu olhar profissional entra, a notícia flui e a imprensa se valoriza. Simples, sotaque caipira que não renega sua origem de Santa Rosa do Viterbo, no interior de São Paulo, José Hamilton Ribeiro é paradigma para todas as gerações de jornalistas que surgiram no Brasil a partir dos anos 1960, quando ele já ia altaneiro na profissão, como repórter da Folha de S.Paulo. Nunca mais parou e nunca mais abandonou a reportagem, a não ser em curtos intervalos de tempo, quando, dando vazão à inquietude dos que querem ir além, foi trabalhar na imprensa do interior paulista, liderando projetos em Ribeirão Preto e Campinas, no Correio Popular, de Orestes Quércia. Só de Globo Rural são mais de 30 anos. E cada reportagem sua é como uma obra de arte, povoando as manhãs em que o campo adentra a cidade pelas telas da televisão. Zé Hamilton é o inspirador deste Jornalistas&Cia, mentor que foi da coluna Moagem, que introduziu no jornal Unidade, do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, quando, com Antonio Carlos Fon (ver pág. 16), o relançou, em 1991, em versão mensal, para nunca mais deixar de circular. Quatro anos depois, em 1995, nascia o FaxMOAGEM, que mais tarde adotaria o nome de Jornalistas&Cia. Um bom pedaço de sua história de vida e profissional pode ser conferida na longa entrevista que deu a este J&Cia para a série Protagonistas da Imprensa Brasileira (www.jornalistasecia.com.br). Ali ele fala de guerra, de tirisco, de Santa Rosa do Viterbo e reafirma conceitos que sempre transmite nas dezenas de palestras e encontros dos quais participa a cada ano, como o de que “é melhor ser jornalista com uma perna só (em alusão à perda que sofreu ao cobrir a Guerra do Vietnã) do que de quatro”. Zé Hamilton é um dos líderes do Ranking Jornalistas&Cia dos mais premiados jornalistas brasileiros de todos os tempos. Várias de suas premiações, que não haviam sido computadas na primeira edição, o serão na próxima, a ser divulgada em novembro, reposicionando-o entre os líderes. Quando convidado a rebobinar a fita da memória para fazer um balanço da carreira, pega emprestado um pensamento do médico Adib Jatene: “O ideal é você trabalhar no que gosta, mas às vezes isso é impossível. Então você tem que aprender a gostar do que faz, se não a vida vira um inferno. Não adianta lutar contra si próprio”. Mas Zé Hamilton logo ressalta que sim, conseguiu seguir sua vocação, ainda que tenha pago um alto preço por isso. Sobre a cobertura da guerra do Vietnã, quando teve uma perna multilada por uma mina terrestre: “Quem tem vocação aceita os riscos”. Autor de 15 livros-reportagem (o 16º se chama O beabá do jornalismo científico e sairá até o meio do ano) e um dos repórteres mais premiados do Brasil, ele conta que, hoje, a guerra já não povoa seus sonhos: “Ainda falo sobre assunto. Fui convidado pelo Exército para dar palestras aos jovens jornalistas que querem cobrir a guerra. Mas o Vietnã já se dissipou da minha memória”. José Hamilton conta, por fim, que está ativo e cheio de energia para o trabalho no Globo Rural, onde está desde 1980. Descendência? Sim, uma das filhas, Teté Ribeiro, abraçou o jornalismo como profissão e hoje é editora da revista Serafina, da Folha de S.Paulo. Faltava também o genro ser jornalista! E é: Sérgio Dávila, atual editor-executivo da Folha de S.Paulo, que, como o sogro, também tem uma trajetória bem sucedida como correspondente internacional. Edição 840A Página 21 News Record Especial – Dia do Jornalista Reportagem riCardo KotsCHo “A grande imprensa perdeu a importância” Apesar de já ter sido chefe de Reportagem, editor, diretor de Redação e colunista, além do primeiro secretário de Imprensa do Palácio do Planalto na era Lula, Ricardo Kotscho é reconhecido na tribo como um repórter no stricto sensu da palavra. “A cobertura da campanha das Diretas foi um divisor de águas da minha carreira e do Brasil. Acompanhei pela Folha desde o primeiro comício e fiquei amigo de Ulysses Guimarães”, conta. Prestes a completar 50 anos de jornalismo, ele faz análise dura do atual momento da profissão: “O noticiário hoje em dia é fast food, é commodity. Os três grandes jornais são iguais. A grande imprensa perdeu a importância”. Kotscho considera que sua atuação como assessor direto do velho amigo Lula, foi muito “honesta”: “Ninguém discutia com ele mais do que eu. Às vezes, ele virava para mim e perguntava: “Quantos votos você teve na última eleição...?”. Mas nem tudo foram flores nos tempo de Planalto: “Eu não me sentia à vontade no governo. Era como se eu fosse um intruso entre o mar e a pedra. Brigava com os dois”. Várias de suas reportagens são épicos do jornalismo brasileiro. Quem estuda a sério o jornalismo nativo vai trombar com Kotscho em vários momentos. Por exemplo, nos tempos em que foi correspondente do Jornal do Brasil na Alemanha, cargo que conquistou por força de sua origem alemã e em decorrência de dominar o idioma, que sempre foi falado por seus pais em casa. Sem saber exatamente o que devia fazer um correspondente, deu vazão ao seu lado repórter e mandava, de lá, matérias sobre o cotidiano do povo alemão, revelando peculiaridades e curiosidades que jamais um brasileiro teria condições de conhecer. Cada texto seu era um sucesso. Ele cunhou dois dos mais sugestivos termos que hoje toda a imprensa e toda a sociedade brasileira utilizam: mordomias, criado para mostrar o tapa na cara da sociedade que eram as benesses do poder, usufruídas por autoridades que deveriam zelar pelo patrimônio público e serem comedidas em seus gastos; e Califórnia Brasileira, para designar a riqueza da região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Intelectual? Não falem isso para ele. Kotscho é do povo. Um mestre. Entre ir almoçar no Fasano e tomar uma cerveja no botequim da esquina, não se tenha dúvidas de que escolherá o segundo. De preferência na companhia de bons amigos. Nos tempos de Lula, viveu uma espécie de inferno astral, por ter cedido aos apelos do amigo, sem ter estômago para a função, como sempre costuma dizer. Mas isso não impede que cite algumas pérolas do chefe, que, como ele, também gosta das coisas simples e mesmo em ambientes palacianos, mundo afora, desconsertava Kotscho e Cia com suas tiradas bem-humoradas. Orgulhoso pai de Mariana Kotscho, que como ele tem uma bem sucedida trajetória de repórter, é irmão do repórter-fotográfico Ronaldo Kotscho, hoje na ESPN. Sua trajetória esteve presente na série Entrevista deste Jornalistas&Cia, em texto de Célia Chain. Atualmente, Ricardo é blogueiro no portal R7 e comentarista da Record News. Revisteiro tHoMaZ souto Corrêa “Editá-las e vendê-las, explicá-las e defendê-las” Platinum Thomaz Souto Corrêa costuma dizer que aprendeu a escrever com Fidel Castro: “Seus discursos de mais de quatro horas tinham que ser condensados para caber no noticiário internacional do Estadão. E foi com Oliveiros Ferreira, meu chefe de então, que aprendi a editar, separando o que era importante do que era acessório”. Do jornal ele foi para o Grupo Abril, onde tornou-se o mestre revisteiro mais respeitado do Brasil. Lá, chefiou, embalou, criou, editou e produziu diversas revistas. Foi redator-chefe da revista Claudia, diretor de Redação, comandante de várias publicações e vice-presidente do grupo: ”Uma virada importante na minha carreira aconteceu quando acumulei as responsabilidades editoriais e as comerciais, no papel que os americanos chamam de editor & publisher. É quando se tem a visão geral do que é fazer revista. Editá-las e vendê-las, explicá-las e defendê-las”. Depois de tornar-se referência no universo das publicações de papel couché, ele adaptou-se com facilidade à era digital: “Hoje, no comecinho na era digital – é tudo tão recente que nem sabemos ainda o ângulo da curva de crescimento do novo meio –, vejo como maior desafio a convivência do impresso, ainda com longa vida pela frente, com o impacto da revolução eletrônica, cuja única certeza é a de que cresce mais rapidamente do que conseguimos prever. No papel ou nas telas, o preço da vitória é a busca incessante da qualidade editorial”. Thomaz foi outro dos personagens escolhidos por este Jornalistas&Cia para integrar a série Protagonistas da Imprensa Brasileira, quando teve a oportunidade de contar, com muitos e interessantes detalhes, sua trajetória no jornalismo, desde que saiu de Mirassol, no interior de São Paulo, para a capital. Só ficou triste num período em que esteve afastado, por circunstâncias empresariais, da linha de frente da Abril. Ato falho, a Abril o reconduziu novamente ao posto de consultor-mor de suas publicações. Pergunte-se a qualquer dos editores de revistas da empresa o que é enfrentar El Paredón, uma extensa parede na ampla sala de Thomaz no Edifício Abril, que ele usa para afixar as revistas em processo de edição. Se não estiverem no padrão Abril e não cumprirem os mandamentos do bom jornalismo, não há a menor chance de irem para as bancas ou casas dos assinantes. É respirar fundo, voltar à redação e refazer o que não ficou bom. Sustentabilidade andré trigueiro Sustentabilidade ao alcance de todos “O jornalista não pode ter a pretensão de ser um especialista em meio ambiente, mas precisa ter abertura e conhecimento para perceber que os assuntos ambientais estão presentes nas diversas editorias”, diz André Trigueiro, cujo trabalho foi e é fundamental para a percepção de que o tema vai muito além de tragédias e projetos de grandes corporações. Trigueiro, cujo interesse pelo assunto intensificou-se quando fez a cobertura do Fórum Global, paralelo à Rio 92, defende que não é mais possível fazer jornalismo hoje como se vem fazendo nas últimas décadas: “As notícias requerem uma nova abordagem. Precisamos oxigenar dentro da redação a nossa visão sobre o que importa noticiar, mas, também, sobre de que jeito o fazer”. Ele lembra que há jornalistas experientes que sofreram com o estigma de “ecochatos”, mas que o preconceito só revela a ignorância sobre a ordem de grande parte dos assuntos ambientais, ao achar que se trata apenas de preservar baleia, floresta e água e que, embora a cobertura precise avançar, não dá para negar que “há uma mudança em curso nas redações”, com o tema sendo tratado por editorias como economia e política. Além de dedicar-se aos estudos sobre a área, Trigueiro publicou quatro livros e criou o curso de Jornalismo Ambiental na PUC-RJ, “para suprir as demandas de informação que eu tinha na época de estudante”. Apresentador do premiado Cidades e Soluções, da Globo News, ele deixou recentemente a bancada do Jornal das Dez do mesmo canal para, ainda neste mês, começar a produzir matérias especiais para os principais telejornais da Globo. Será a sustentabilidade ao alcance de todos. Edição 840A Página 22 Especial – Dia do Jornalista Telecom e TI etHevaldo siqueira Um repórter obediente Quando o jovem repórter Ethevaldo Siqueira chegou à redação do Estadão, em 1967, para o primeiro dia de trabalho, seu primeiro chefe, Clóvis Rossi (ver pág. 18), deu-lhe uma ordem direta e definitiva: “Acabaram de criar um Ministério da Comunicação. Portanto, de agora em diante você será setorista de telecomunicações. E vai fazer isso o resto da vida. Você é foca e não tem escolha...”. Quarenta e cinco anos depois, Ethevaldo, que ainda está no Estadão, reconhece: “Fui obediente”. Depois dessas mais de quatro décadas cobrindo um setor que evolui em velocidade estonteante, ele jura que nunca lhe faltaram pautas: “Em tecnologia, não existe isso de repetir o assunto. Estou agora fazendo um livro multimídia sobre o século 20, com 2.500 ilustrações e vários links”. Filho de mãe telegrafista e pai engenheiro eletrônico, Ethevaldo foi aluno do professor José Marques de Melo (ver pág. 2) na primeira turma da USP, onde também cursou Ciências Sociais: “Mas minha vocação sempre foi mesmo a tecnologia”. Foi na universidade que viu pela primeira vez na vida um computador: “Achei fascinante. Meu primeiro e-mail foi da rede Bit Net, da USP. Funcionava por linha telefônica”. Atualmente, além de assinar uma coluna no Estadão, Ethevaldo é comentarista da CBN e autor de livros: “O divisor de águas de minha carreira aconteceu quando eu tinha 35 anos. Até então, além de jornalista, eu era professor e bancário. Foi então que decidi fazer apenas o que gostava”. Arquivo pessoal Tempo narCiso verniZZi (in memoriam) “Não ponha a roupa no varal hoje porque vai chover” Uma grande massa de ar seco manteve o tempo ensolarado e quente na maior parte do Sudeste em 11 de julho de 2005, dia em que o Homem do Tempo morreu. Narciso Vernizzi começou a trabalhar em 1963 com a previsão meteorológica, uma prestação de serviço inédita no rádio brasileiro. Com informações sempre corretas, tornou-se o nome mais importante da área e levou seu trabalho para a tevê, onde durante 20 anos apresentou o boletim na Record. Vernizzi foi o melhor tradutor da linguagem meteorológica no rádio, tendo criado o Instituto Jovem Pan. Milton Neves, companheiro de emissora, lembra que suas previsões eram como uma conversa informal de vizinhos, sempre com uma dica para a dona de casa: “Olha, não ponha a roupa no varal hoje porque vai chover”. Seu filho Celso Vernizzi, que seguiu os passos do pai, assim como seu irmão Sérgio, disse na época de sua morte que “é impossível dissociar a imagem de ‘Seu Narciso’ da história do rádio brasileiro”: “Quando ele começou, não havia quase nada sobre o assunto. Aprendeu tudo sozinho, sem faculdade. Até curso por correspondência com a Nasa ele fez”, contou Celso. Narciso trabalhou durante 57 anos na Jovem Pan, onde apresentou programas de esportes e chefiou o Plantão Esportivo, também pioneiro por ser o primeiro permanente do rádio. Em 1973, Milton Neves o substituiu na apresentação do Plantão. Pouco antes de morrer, aos 86 anos, ele deu um depoimento no qual afirmou que nos seus mais de 50 anos de carreira “nunca recebi uma reclamação sequer de qualquer diretor sobre o meu trabalho”. Sua empresa ou instituição quer criar um prêmio ou dar um up-grade em algum já existente? Consulte a solução integrada Gestão do Reconhecimento Uma parceria Jornalistas&Cia e Maxpress que oferece e garante Ligue ou escreva para agendar um horário Jornalistas&Cia – 11-3861-5288 – Oswaldo Braglia ([email protected]) ou 11-3861-5283 – Silvio Ribeiro ([email protected]) Maxpress – 11-3341-2800 – Sérgio Franco ([email protected]) ClassiFiCados anunCie nos ClassiFiCados de J&Cia Um espaço nobre para quem procura profissionais de qualidade Entre em contato com Silvio Ribeiro – [email protected] / 11-5572-9700) CLASSIFICADOS (apenas texto, enviado a parte) Opção A – 1 Coluna 4,5 cm largura X 2,5 cm altura (até 5 linhas de 30 caracteres cada) Opção B – 1 Coluna 4,5 cm largura X 5 cm altura (até 10 linhas de 30 caracteres cada) 1 inserção R$ 370,00 1 inserção R$ 680,00 Jornalistas&CiaéuminformativosemanalproduzidopelaJornalistasEditoraLtda.•Tel11-3861-5280•Diretor:Eduardo Ribeiro ([email protected]. br)•Editor-Executivo:Wilson Baroncelli([email protected])•Editor:Igor Ribeiro ([email protected])•Editor-assistente:Fernando Soares ([email protected])•Assistentederedação:Mariana Ribeiro ([email protected])•Editora-regionalRJ:Cristina Vaz de Carvalho,21-2527-7808([email protected])•Correspondentes:Emanuel Mattos (RS), 51-9181-1314 ([email protected]); Kátia Moraes (DF), 613347-3852([email protected])•DiagramaçãoeProgramaçãovisual:Paulo Sant’Ana([email protected])•Assinaturas:Silvio Ribeiro, 11-3861-5283 ([email protected])•Novosnegócios:Oswaldo Braglia Jr. ([email protected]).
Download