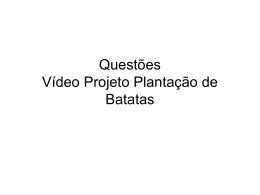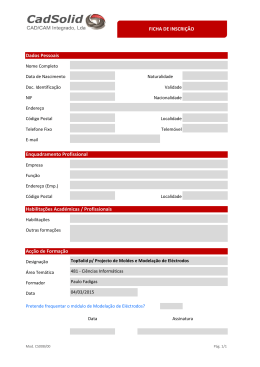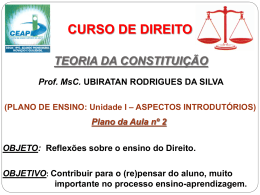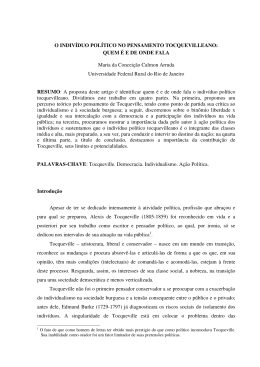Capital social e desenvolvimento local Augusto de Franco (15/05/04) Todas as evidências empíricas sobre a relação entre capital social e desenvolvimento foram recolhidas em localidades. Em sentido positivo, em localidades que apresentaram incrementos em seus índices de desenvolvimento em virtude da existência de redes sociais, de organizações voluntárias da sociedade civil e outras formas de sociabilidade motivadas por emocionalidades cooperativas. De tudo o que se fale ou do que já se falou sobre o tema deve-se reter apenas uma coisa fundamental: capital social é rede social. Redes sociais são, em essência, os múltiplos caminhos existentes entre indivíduos e grupos. Capital social se refere, portanto, à configuração móvel das conexões internas de um corpo coletivo de seres humanos, incluindo não apenas a sua morfologia, mas também o “metabolismo” que parece lhe ser próprio (ou, pelo menos, possível); ou seja, a democracia. Assim, capital social não é um conceito econômico (como poderia sugerir o termo ‘capital’), nem sociológico (como poderia sugerir o termo ‘social’). É um conceito político, que tem a ver com os padrões de organização e com os modos de regulação praticados por uma sociedade. Do ponto de vista da genealogia do conceito, capital social é uma noção tocquevilliana, jacobsiana e putniana. Tocquevilliana porque tem a ver com a sugestão da existência de um nexo conotativo entre sociedade civil e democracia que aparece, pela primeira vez de maneira mais clara, nas observações de Tocqueville sobre a sociedade americana de meados do século 19 (1). Jacobsiana porque tem a ver com a sugestão da existência de um nexo conotativo entre desenvolvimento e rede social que aparece, pela primeira vez com o sentido que hoje atribuímos ao conceito, nas observações de Jane Jacobs sobre a “morte” e a “vida” das cidades americanas em meados do século 20 (2). E putniana porque tem a ver com a sugestão da existência de um nexo conotativo entre os graus de associacionismo, confiança e cooperação atingidos por uma sociedade democrática organizada do ponto de vista cívico e cidadão e a boa governança e a prosperidade econômica, que aparece – não pela primeira vez, senão pela primeira vez divulgada de uma maneira mais ampla – nas observações de Robert Putnam sobre o desenvolvimento das localidades italianas nas últimas décadas do século 20 (3). Mas é preciso ver que Tocqueville não escreveu um livro chamado "A Economia na América". Robert Putnam, que empreendeu, 140 anos depois, uma viagem tocquevilliana em sentido inverso – do novo para o velho mundo – não escreveu um livro chamado "Para que a economia funcione". Quando Tocqueville quis explicar a efervescência da sociedade americana em termos da sua predisposição para o desenvolvimento, cunhou a expressão 'governo civil', que se referia à capacidade daquela sociedade, em meados do século 19, pelo menos na Nova Inglaterra, de gerar ordem espontaneamente a partir da cooperação. 'Governo civil' (e não 'empresa civil') é o antepassado em linha direta do conceito de capital social (4). Sim, o mesmo conceito que Putnam utilizou para explicar porque determinadas localidades italianas do Norte apresentavam prosperidade econômica e boa governança em contraste com outras localidades, do Sul, que não possuíam esses atributos do que chamamos de desenvolvimento (5). O olhar de Tocqueville era político. Por isso, ele escreveu, na década de 1830, "A Democracia na América" (6). O olhar de Putnam era político (ele é um cientista político, não um economista). Por isso, ele escreveu, em 1993, um "Para que a democracia funcione" (7). Jane Jacobs, no final da década de 1950, estava preocupada com um fenômeno que ocorria nas cidades americanas: algumas pareciam vivas, florescentes, enquanto que outras pareciam que estavam morrendo, fenecendo. Ela publicou um clássico, no início dos anos 60, intitulado "Morte e vida das grandes cidades americanas" (8). Jacobs descobriu que nas cidades que estavam "vivas", sempre existiam, nos seus bairros e distritos, pessoas conectadas com pessoas (P2P) segundo um padrão de rede, ocupadas com os assuntos públicos. Ela chamou essas redes de capital social. Ela responsabilizou esse capital social (e não o capital físico ou financeiro, o produto ou a renda; e não o capital empresarial, a riqueza) – uma externalidade, portanto, do ponto de vista do pensamento econômico – pela vitalidade das localidades americanas em termos de desenvolvimento. Jacobs foi a primeira pessoa que empregou a expressão ‘capital social’ com o sentido com que a empregamos hoje, com o sentido com que Putnam empregou o termo, com o sentido com que Tocqueville cunhou a expressão governo civil. Todas essas pessoas – Tocqueville, Jacobs e Putnam – estavam falando de desenvolvimento e estavam falando de sociedade. Em conjunto, estavam estabelecendo um nexo conotativo entre desenvolvimento, sociedade civil e democracia. Estavam vislumbrando uma relação intrínseca entre desenvolvimento e o modo como a sociedade se estrutura e regula seus conflitos. Estavam dizendo que desenvolvimento, ao contrário do que pensam muitos policymakers e estrategistas cujas consciências foram colonizadas pelos economistas, tem, sim, a ver e muito a ver, com rede e com democracia. Uma concepção de desenvolvimento compatível com a noção de capital social Por falar em democracia, o grande estadista grego Péricles (495-429 a. C.) – considerado, aliás, um dos pais da democracia – usava a palavra “idiotes” para designar os atenienses que, alegando ter de cuidar de seus próprios assuntos, não participavam das reuniões para tratar de questões de interesse coletivo. É incrível como, dois mil e quinhentos anos depois, continuamos cultuando uma cultura econômica que produz idiotas (no sentido grego – e original – do termo). Tal é a cultura, ainda predominante, do desenvolvimento. Imaginamos que desenvolvimento é o resultado de crescimento econômico que se atinge em virtude de um dinamismo que se instala na sociedade quando cada indivíduo se lança na busca desenfreada pela satisfação de seus interesses materiais egoístas. Modernamente justificamos essa crença lançando mão de uma teoria (darwiniana) da evolução, baseada em um modelo variacional da mudança. Na minha opinião, trata-se de uma perspectiva mercadocêntrica, quer dizer, centrada no mercado e que imagina que a “lógica” e a racionalidade do mercado dão conta de explicar o funcionamento das outras esferas da realidade social (ou dos outros tipos de agenciamento), como o Estado e a sociedade civil. O problema é que a outra teoria que se contrapõe ao modelo variacional adota um modelo transformacional em termos antigos, quer dizer, a interpretação de que uma transformação social só acontece se houver, além da predisposição (ou das condições objetivas), um agente organizado para desencadeá-la, um centro promotor, um sujeito revolucionário (o fator subjetivo, portanto). Então, se a primeira decalca a “lógica” do mercado, a segunda tenta impor a racionalidade de um ente de vontade cuja atuação estratégica seria capaz de “puxar o fio” desenrolando a meada. Com efeito, desenrolar tem o mesmo sentido de desenvolver. Vamos ver melhor o que é isso. O modelo variacional, segundo Lewontin (1998), se opõe ao modelo transformacional da mudança. Richard Lewontin (9) aborda tal diferença da seguinte maneira: “O termo desenvolvimento é uma metáfora que traz consigo um compromisso anterior quanto à natureza do processo. Desenvolvimento (development em inglês; Entwicklung em alemão; desarrollo em espanhol e sviluppo em italiano) é, literalmente, o desdobrar ou o desenrolar de algo que já está presente e em certo sentido pré-formado. Essa mesma palavra é utilizada em inglês para nomear o processo de revelar uma imagem fotográfica. A imagem já está imanente no filme, no interior da câmera, e o processo de revelação – development, em inglês – simplesmente torna visível a imagem latente. É exatamente essa a visão da biologia do desenvolvimento a respeito do desenvolvimento de um organismo. A moderna biologia do desenvolvimento é totalmente concebida em termos de genes e organelas celulares, cabendo ao ambiente apenas fazer as vezes de cenário. Considera-se que os genes no ovo fertilizado determinam o estado final do organismo, enquanto o ambiente em que o desenvolvimento ocorre é tão-somente um conjunto de condições propícias a que os genes se expressem, assim como o filme fotográfico, ao ser exposto, produzirá a imagem que nele já está imanente, quando colocado nos líquidos apropriados e na temperatura adequada” (10). Lewontin prossegue afirmando que “o emprego do conceito de desenvolvimento para designar as mudanças pelas quais um organismo passa durante a sua vida não é simplesmente um caso em que a linguagem disponível influencia o conteúdo das idéias. Quando se decidiu transformar uma língua antiga, o hebreu, em língua moderna, dotada de vocabulário técnico, a palavra escolhida para designar o desenvolvimento de um organismo – Lehitpateach – foi a mesma que se escolheu para nomear o processo de revelação de um filme, mas na forma reflexiva, de modo que um organismo literalmente “desenvolve a si próprio”. Além disso, a palavra evolução tem o mesmo significado original de desdobramento, e por essa razão Darwin não a empregou na primeira edição da “Origem das Espécies”. Antes de Darwin, toda a história da vida na Terra era vista como uma progressão ordenada de estágios imanentes. Ainda que Darwin tenha libertado a teoria desse elemento de predeterminação, sua história intelectual deixou a sua marca na palavra. O uso desses termos reflete um comprometimento profundo com a idéia de que os organismos, tanto em suas histórias individuais de vida como em sua história evolutiva coletiva, são determinados por forças internas, por um programa interno, do qual os seres vivos reais são apenas manifestações exteriores. Esse comprometimento é uma herança da visão tipológica da natureza, de origem platônica, segundo a qual eventos materiais reais, que podem diferir uns dos outros em graus variados, são realizações imperfeitas e acidentais de tipos idealizados. O real é o ideal visto “através de um espelho, indistintamente”. Essa foi a visão das espécies que predominou até o século XX. Cada espécie era representada por uma descrição de “tipo” e um espécime real era depositado em alguma coleção como representativo desse tipo, enquanto todos os outros indivíduos da espécie, variando com relação ao “tipo”, eram vistos como realizações imperfeitas do ideal subjacente. O problema da biologia consistia, então, em dar uma descrição anatômica e funcionalmente correta dos “tipos” e explicar as suas origens. A biologia evolutiva moderna rejeita esses ideais platônicos e sustenta que a variação efetiva entre os organismos é a realidade que precisa ser explicada. Essa mudança de orientação é conseqüência da ascensão da visão darwiniana de que a variação efetiva entre os organismos é a base material de que depende a mudança evolutiva. O contraste entre a teoria platônica moderna do desenvolvimento e a teoria evolutiva darwiniana reflete o contraste entre duas maneiras de explicar as modificações dos sistemas através do tempo. O desenvolvimento é uma teoria transformacional da mudança. Nas teorias transformacionais todo o conjunto dos objetos modifica-se porque cada objeto individual sofre durante o seu tempo de vida os efeitos de uma mesma história geral. O cosmos evolui porque todas as estrelas que têm a mesma massa inicial passam pela mesma série de modificações termonucleares e gravitacionais em um caminho que as leva a uma posição previsível na seqüência principal. Como grupo, as pessoas de setenta anos são mais grisalhas e mais esquecidas do que o conjunto das que têm 37 anos, porque a mente e o corpo de todos os indivíduos envelheceram. Por outro lado, a teoria darwiniana da evolução orgânica baseia-se em um modelo variacional da mudança. O conjunto dos indivíduos modifica-se não porque cada indivíduo passe por desenvolvimentos paralelos durante a vida, e sim porque existe variação entre os indivíduos e algumas variantes produzem mais descendentes do que outras. Assim, o conjunto como um todo se modifica por causa de uma alteração na representação proporcional das diferentes variantes, cujas propriedades específicas permanecem inalteradas. Se os insetos estão se tornando mais resistentes aos inseticidas não é porque cada indivíduo adquire níveis cada vez mais altos de resistência durante a sua vida, mas sim porque as variantes resistentes sobrevivem e se reproduzem, enquanto os organismos suscetíveis morrem" (11). Lewontin, portanto, defende a idéia de que “o organismo não é determinado nem pelos seus genes, nem pelo seu ambiente, nem mesmo pela interação entre eles, mas carrega uma marca significativa de processos aleatórios” (12). Mas o fato de que ele possa ter razão no que tange a evolução de organismos, não significa que teorias transformacionais da mudança não se apliquem às sociedades humanas. Pode significar, simplesmente, que sociedades humanas não são como organismos que evoluem segundo um modelo variacional. E que sociedades humanas passam por processos transformacionais de mudança. Ora, como ele mesmo ressalta, “o desenvolvimento é uma teoria transformacional da mudança”. E, ou admitimos que o desenvolvimento se aplica a sociedades humanas ou, então, é melhor abandonar o conceito de desenvolvimento. Afirmei que o modelo variacional, quando aplicado a sociedades humanas, corresponde a uma perspectiva mercadocêntrica, porque é possível que modelos variacionais se apliquem, dentro de certos limites, a algumas realidades sociais, como mercados. É mesmo possível, ademais, que Darwin tenha se aproximado de uma hipótese variacional a partir da observação do que ocorria em sociedades humanas sob forte influxo da dinâmica mercantil, como a sociedade inglesa da sua época. E que, então, sua compreensão da evolução biológica tenha sido, em alguma medida, decalcada dessa observação, como sugere a idéia de luta pela vida com toda aquela visão competitiva embutida. Por outro lado, outras visões biológicas – como, por exemplo, as de Humberto Maturana (13), Lynn Margulis (14), Richard Strohman (15) e Mae-Wan Ho (16) –indicam que para explicar a mudança evolutiva não se pode olhar somente para o organismo ou para o gene e sim para as redes que regulam tal mudança. Tais redes celulares são sistemas complexos, com múltiplos laços de realimentação que fazem com que os padrões de atividade genética mudem continuamente com a mudança das circunstâncias, para manter o tempo todo uma congruência dinâmica com o meio, sem o que não poderia haver o que chamamos de vida. Assim, é possível que mesmo a teoria variacional não explique totalmente o que acontece na evolução biológica e tenhamos que lançar mão do modelo das redes reguladoras. E que tal modelo possa também se aplicar a redes sociais para explicar o fenômeno chamado de desenvolvimento. Neste caso, o desenvolvimento social seria um fenômeno próprio das redes sociais: sistemas complexos que apresentam características formalmente semelhantes às redes celulares. Segundo essa perspectiva, os padrões de comportamento surgiriam e se modificariam na interação com o meio, sem o que não poderia haver isso que chamamos de cultura. Ou seja, a forma e o comportamento culturais manifestar-se-iam como propriedades que emergem da dinâmica complexa das redes sociais. Portanto, pode existir um outro modelo para a mudança, além do modelo variacional e do modelo transformacional: o modelo sistêmico regulacional, que não exclui, no caso dos organismos biológicos, nem os genes, nem o ambiente, nem a interação entre eles, nem os processos aleatórios. Mas que acrescenta um outro elemento: as redes compostas por genes, proteínas, hormônios, enzimas e complexos moleculares. A diferença é que o “programa” não estaria arquivado no genoma e sim nessa rede. No caso das sociedades humanas, haveria também essa rede, composta, é claro, por outros nodos; e. g., pessoas e organizações. A rede não predetermina o que vai acontecer, mas combina e recombina, continuamente, eventos e relações já existentes com novos eventos e novas relações introduzidas pelas mudanças endógenas e exógenas. E não importa se tais alterações são ou não casuais. O programa regulador – que “roda” na rede e não nos organismos, nas partes de organismos ou em outros nodos que a compõem – tende a assimilar as alterações casuais de tal sorte a tornálas adequadas à conservação da adaptação do organismo ao meio. Esse programa é autopoiético e também vai se modificando para dar conta de exercer o seu papel regulador em circunstâncias que vão se modificando. Ou seja, a rede aprende. A rede aprendendo é o sujeito e não o organismo evoluindo Se adotarmos esse ponto de vista, deixamos para trás a questão de se deve ou não deve haver um paralelo entre o desenvolvimento (social) e a evolução (biológica) e se tal paralelo seria ou não seria legítimo em termos epistemológicos. Sociedades humanas nada têm a ver com organismos, partes de organismos ou ecossistemas a não ser enquanto são, igualmente, reguladas por redes – sistemas complexos que apresentam, como tais, características e propriedades análogas. Desenvolvimento – um conceito aplicado a sociedades humanas – seria, então, um processo de mudança, regulado pelas redes sociais, que depende de estímulos internos e externos, múltiplas interações entre alterações internas e externas, aleatórias ou não, cujo “propósito” é assegurar a conservação dinâmica dessas próprias redes e, nessa medida, dos elementos que a compõem. Essa é uma concepção de desenvolvimento – talvez a única – compatível com a noção de capital social. Mas as concepções correntes de desenvolvimento ainda estão muito longe disso, como veremos a seguir. A surpresa com o “milagre chinês” denuncia uma concepção arcaica de desenvolvimento Alguns ficam surpresos com o fato de sociedades hierárquicas e autocráticas, como a China atual ou como o Brasil dos tempos da ditadura militar, terem produzido um "milagre" em termos de crescimento econômico. Mas não deveria haver tanta surpresa. É possível ir a China e escrever um livro chamado "A Economia na China", mas esse livro não poderá ter uma inspiração tocquevilliana (por motivos óbvios não é possível escrever um “A Democracia na China”). É possível estudar a China e escrever um livro chamado "Para que a economia funcione", mas esse livro não terá nada do enfoque de Robert Putnam (estudando a China, por mais que nos esforcemos, não conseguiremos escrever um “Para que a democracia funcione”). É possível explicar por que uma Xiang-Tsé (imaginária, mas bem poderia ser Shenzhen ou Zhuhai) pareça viva enquanto que uma Xing-Po (também imaginária, mas poderia ser Yumen ou Golmud) pareça morta, mas essa explicação será totalmente diferente daquela que foi elaborada por Jane Jacobs. O florescente capitalismo chinês não tem a ver com a dinâmica de suas redes sociais. Por quê? Simplesmente porque aqui estamos falando de crescimento e não de desenvolvimento. Por isso não deveria haver tanta surpresa. Tocqueville, Jacobs, Putnam e os teóricos do capital social que proliferaram a partir da década de 1990, estavam e estão, sim, falando de desenvolvimento, inclusive de desenvolvimento econômico, mas não estavam nem estão falando de crescimento; ou melhor, não estavam e não estão possuídos pelo mito de que crescimento gera automaticamente desenvolvimento. A China vem sendo considerada uma maravilha em termos econômicos. Mas sua posição no ranking do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano, que mede o capital humano) é muito pior do que a do Brasil (que, por sua vez, já é péssima). Ela ocupa a 94ª posição com 0,745 enquanto que o Brasil ocupa a 72ª com 0,775. Se houvesse um ranking de IDS (um Índice de Desenvolvimento Social, que medisse o capital social), Deus a livre! O lugar da China seria lá no final da lista. A China está crescendo, sim. Mas nós também crescemos na década de 1970. Crescemos como? Crescemos como a China está crescendo: concentrando renda, riqueza, conhecimento, poder e não nos preocupando muito com o meio ambiente. Isso significa crescer de maneira não sustentável (ainda que tal crescimento possa ser sustentado, para usar um termo menor incorporado pelos economistas). Não é muito difícil produzir esse tipo de milagre quando se escolhe 15% da população para prosperar. Ou melhor, quando se decreta que 85% da população não vão prosperar. Um mercado de bens duráveis para a minoria próspera vai, certamente, prosperar. Os resultados da convivência dessas duas economias nós já conhecemos. Não é por acaso que as pessoas fiquem embasbacadas com a China. Elas estão apenas querendo confirmar sua crença de que desenvolvimento é a mesma coisa que crescimento; ou que, pelo menos, crescimento gera automaticamente desenvolvimento. Por trás dessa crença existe uma determinada concepção do processo de mudança social que interpretamos como desenvolvimento. Recentemente, vem ficando mais claro que o "milagre" econômico chinês caminha para a catástrofe ambiental. "Cinco das dez cidades mais poluídas do mundo ficam na China; cai chuva ácida em um terço do nosso território; metade da água dos dez maiores rios da China está completamente inaproveitável; um quarto dos nossos cidadãos não tem acesso à água potável; um terço da população urbana respira ar poluído; menos de um quinto do lixo nas cidades é tratado e processado de maneira ambientalmente sustentável". Quem traça esse cenário não é um dissidente, mas o vice-ministro do Meio Ambiente chinês, Pan Yue, em entrevista a Der Spiegel reproduzida pelo site OpenDemocracy (17). Outro impasse no caminho do crescimento é de natureza política. "Quanto mais rápido cresce a economia, mais depressa correremos o risco de uma crise política se as reformas políticas não avançarem no mesmo ritmo. Se a distância entre pobres e ricos aumentar, regiões inteiras dentro da China e a sociedade como um todo se tornarão instáveis. Se nossa democracia e nosso sistema legal ficarem para trás do desenvolvimento econômico, vários grupos da população não terão como defender seus interesses" (18). Desenvolvimento e crescimento Intoxicados pela ideologia econômica dos dois séculos passados, em geral relacionamos o conceito de desenvolvimento com processos de crescimento de uma parte dos bens e serviços que são produzidos por um tipo determinado de sociedade, particularmente por uma sociedade separada das demais pelas fronteiras do Estado-nação. Economistas heterodoxos – como Hazel Henderson (19) – vêm nos alertando, há muito, para as incongruências desse tipo de abordagem. Todavia, tais economistas, ao que parece, ainda não se libertaram completamente da visão reducionista daquilo que, na língua inglesa, se chama de “economics”. Alguns, como a própria Henderson, criticam a identificação de desenvolvimento com crescimento do PIB, entre outras coisas porque o processo de cálculo do PIB não leva em conta uma série de atividades ‘socialmente produtivas’ (como o trabalho doméstico e o trabalho voluntário) e ambientalmente necessárias à sustentabilidade da sociedade humana (como a absorção dos custos da poluição e a reciclagem de efluentes) (20). Outros, como Paul Ormerod, indo mais a fundo, criticam os fundamentos da economia ortodoxa, quando observam que “a idéia de que a sociedade é constituída por indivíduos que agem a partir do cálculo racional de seus interesses pessoais impregna as teorias modernas... [a tal ponto que] na verdade, para um economista, assim como para Mrs. Thatcher, isso que chamam de sociedade é algo que não existe, só existem os indivíduos que a constituem” (21). Há quem, cavando ainda mais fundo, tente mostrar que a economia ortodoxa é uma economia que só vale para o modelo de crescimento, podendo haver, entretanto, um modelo estacionário (de ‘crescimento zero’), supostamente – sob certas condições ambientais lato sensu – mais sustentável para as sociedades humanas. Por último, em meados dos anos 90, apareceram aqueles que, como Brian Arthur, tomando a sociedade (e a economia) como um sistema complexo, questionam dogmas universalmente aceitos, como a famosa Lei dos Retornos Decrescentes de Turgot (1767), mostrando que tais retornos podem sim ser crescentes e, muito além disso, abrindo um novo referencial conceitual e introduzindo novos instrumentos analíticos para estudar as múltiplas interações (e retroalimentações) que se dão nesse tipo de sistema (22). Desenvolvimento não é a mesma coisa que crescimento Não é a hora, nem o lugar, de fazer um inventário mais sistemático desses questionamentos aos fundamentos ideológicos ou teóricos do pensamento econômico ainda predominante. Basta observar que eles são predominantes, como fez Ormerod, quando constatou que, se os economistas raramente se põem de acordo, todas as suas dissensões “dizem respeito ao comportamento da economia no nível global, no macronível, e não no micronível do comportamento individual. O micronível é que é descrito pelo modelo de equilíbrio da economia marginal e que é fundamental para a visão de mundo dos economistas ortodoxos, independentemente de quaisquer diferenças que possam ter sobre a condução da política macroeconômica” (23). É assim que, por exemplo, freqüentemente se observa que (quase) todos os economistas, não obstante sua opção partidária ou coloração ideológica, prescrevem receituários extremamente parecidos quando se trata de indicar aos governos (sua tarefa preferida) como eles devem se comportar para promover o desenvolvimento das nações. A solução universal é sempre o crescimento que, por virtude de mecanismos intra-econômicos, traria como conseqüência o desenvolvimento humano e social. Depois eles discordam em quase tudo sobre a posologia. O remédio, contudo, é consensual. Isso não ocorre por acaso. O crescimento é um fenômeno típico da revolução industrial. É uma invenção do século 18. E a economia é uma disciplina construída para explicar um fenômeno que não existia de modo significativo nos milênios anteriores. Só para dar um exemplo, estima-se que entre 500 e 1500 d. C, o PIB do mundo cresceu em média apenas 0,1% ao ano, se é que tanto. A coisa só começou a exigir explicação no século 18, quando a Grã-Bretanha passou a crescer a taxas, dramáticas, de 1% ao ano (24). Foram pessoas fascinadas com esse fenômeno – como Adam Smith (1776) e Thomas Malthus (1798), entre tantas outras – que revolveram inventar uma ciência para explicá-lo. Por isso, a ciência econômica vigorante é uma ciência do crescimento. Surgiu para explicar uma coisa e, a partir daí, se pôs a explicar todas as coisas através de uma coisa única (o crescimento). E por isso é legítima a dúvida de Melvin Reder, da Universidade de Chicago, de se a economia é realmente uma ciência ou uma “ideologia disfarçada” (25). Assim, existem muitas teses que são dadas como certas pelo pensamento econômico, mas que não estão “provadas” por critérios científicos e se assemelham mais a crenças. Vejamos alguns exemplos. Um primeiro exemplo é a confiança absoluta “na primazia do mecanismo de mercado, ao supor que as preferências dos consumidores são reveladas por suas escolhas de bens e serviços e que o mecanismo de mercado garante a satisfação dessas preferências” (26). Isso só se verifica sob certas condições ideais que, em geral, não se reúnem perfeitamente em sociedades reais. Além disso, as escolhas individuais freqüentemente não são apenas racionais, mas dependem de expectativas de recompensa emocional. E, ainda, os “átomos de interesse” são condicionados por padrões de comportamento coletivos (das “moléculas de convivência”) que se replicam pelo simples fato de que são replicáveis culturalmente e não em virtude de qualquer maximização voluntária e racional da satisfação de interesses individuais. Se não fosse assim não se explicaria por que se gasta, nos Estados Unidos, cerca de 60 bilhões de dólares em produtos de beleza e, no Reino Unido, mais de 1 bilhão de libras em comida para animais de estimação, enquanto as pessoas resistem tanto a investir em sistemas de saúde e educação ou, mesmo, na melhoria do ambiente social e natural onde vivem, o que, racionalmente, aumentaria a qualidade da sua vida e de suas famílias. Um segundo exemplo pode ser dado pela crença de que “a mão invisível do mercado” possa promover mais equidade em sociedades onde todas as (ou várias das) variáveis do desenvolvimento (como o conhecimento e o poder ou empoderamento, para além da renda e da riqueza) estão concentradas. Um terceiro exemplo é a ênfase atual na idéia de ‘competitividade sistêmica’ como se fosse uma verdade inquestionável ou uma descoberta universalmente aceita e demonstrada pela ciência contemporânea, quando tal conceito não passa de um modo-de-ver, de uma interpretação. Nada contra as dinâmicas competitivas características do mercado, da sua “lógica” e racionalidade próprias, mas tal idéia freqüentemente faz transbordar a dinâmica mercantil (competitiva) para a dinâmica social, levando à perigosa concepção de que sociedades devem ser competitivas, quando, ao que parece, sociedades competitivas não constituem bons ambientes para mercados competitivos. Pelo contrário, todas as evidências mostram que uma economia competitiva consegue se sustentar melhor em sociedades cooperativas. Ou seja, a economia pode – e deve – ser “de mercado”, mas a sociedade não. E, para citar um quarto e último exemplo, o argumento – prisioneiro de uma circularidade fatal – de que crescimento leva inexoravelmente a desenvolvimento; ou de que crescimento econômico leva a desenvolvimento social e redução da pobreza se houver distribuição da renda. Ora, como já argumentei no meu livro “Pobreza e Desenvolvimento Local” (2002), “para distribuir a renda em um patamar que, supostamente, seja suficiente para promover o desenvolvimento social necessário para sustentar o crescimento é necessário ter um nível de crescimento a altas taxas e mantê-lo durante um certo tempo. A pergunta é: como fazer isso, se o alcance e a manutenção dessas taxas exigem níveis de desenvolvimento social que só podem ser atingidos quando tais taxas forem praticadas por certo tempo? Repetindo... a circularidade do argumento econômico é a seguinte: como fazer crescer o PIB a altas taxas, continuadamente e por um tempo suficiente, para que seja possível uma distribuição significativa da renda, se, para tanto, é necessário partir de patamares de capital humano e de capital social que [para tal raciocínio] só seriam alcançados com um crescimento continuado do PIB a altas taxas?” (27). Ao final da primeira década da segunda metade do século 20 foi colocada a questão da sustentabilidade do crescimento, ou melhor, da própria sociedade humana no modelo do crescimento. Grande parte do então nascente movimento ambientalista se constituiu a partir da constatação de que não poderia haver crescimento ilimitado em um mundo finito, o que coloca um limite para a economia enquanto ciência do crescimento. Seria uma “ciência temporária”, ou seja, suas hipóteses só seriam válidas enquanto não se chegasse ao limite dos recursos, limite a partir do qual nem a explicação nem a receita do crescimento seriam válidas ou aceitáveis. Só muito recentemente as pessoas (diante de realidades como a pobreza e a desigualdade em certas nações, que teimam em não diminuir em virtude do crescimento) começaram a se perguntar sobre os objetivos do crescimento, sobre ‘para quê’ e ‘para quem’ ele deveria ser promovido. Foi assim que começou a entrar em debate a temática do desenvolvimento humano. E, mais recentemente ainda, a temática do desenvolvimento social. Desenvolvimento humano não é a mesma coisa que desenvolvimento social Absorver a temática do desenvolvimento humano não foi tão difícil assim para uma parte dos economistas. Afinal, o fator humano pode sempre ser visto como um fator individual, pilar sobre o qual se assenta toda a construção econômica ortodoxa: são indivíduos que, agindo a partir do cálculo racional de seus interesses egoístas, ao fim e ao cabo constituem a sociedade. Portanto, de um ou outro modo, são os (ou alguns dos) indivíduos que, ao se desenvolverem (no caso, ao prosperarem economicamente em seus empreendimentos – como donos, sócios, acionistas ou empregados – ou ao auferirem marginalmente os resultados do crescimento geral da economia) desenvolvem as nações e, ao mesmo tempo, se desenvolvem a si próprios em termos humanos (aumentando seus níveis de renda, de escolaridade, de saúde, de expectativa de vida e de outros fatores que porventura queiramos introduzir na composição do chamado “capital humano”). Todavia, absorver a temática do desenvolvimento social não está sendo tão fácil, na medida em que a compreensão de que ‘o comportamento do sistema pode ser bem diferente daquilo que é possível prever a partir da extrapolação do modelo de comportamento dos indivíduos’ exige uma certa superação da abordagem mecanicista que ainda predomina entre os economistas e em todos aqueles cuja consciência foi colonizada pela sua visão de sociedade. Quando os economistas falam em desenvolvimento social estão, em geral, pensando em desenvolvimento humano a partir de uma racionalidade econômica. E quando os policymakers (cuja consciência foi colonizada pelos economistas) falam em desenvolvimento social estão falando em usar superávits de crescimento (recolhidos em geral na forma de impostos) para fazer investimentos em saúde, educação, saneamento, habitação, alimentação e nutrição, transporte, segurança, emprego e renda e estão falando na perspectiva de que o Estado, ao fazer isso, estaria promovendo as condições necessárias e suficientes para que as pessoas pudessem ter acesso ao mundo do desenvolvimento econômico. Não estão tratando exatamente de desenvolvimento social, mas de igualdade de oportunidades para os indivíduos a partir de uma racionalidade econômica. Ademais, em geral as pessoas confundem desenvolvimento humano com desenvolvimento social porquanto imaginam que o que chamamos de social seja apenas um sinônimo para ‘coletivo de gente’, denominação para um conjunto de elementos humanos (indivíduos) co-presentes sobre um território por longo tempo. Não percebem que o conceito de ‘social’ se aplica a um sistema complexo (a sociedade), que não significa apenas a reunião ou a soma dos indivíduos e cujas funções (que explicam o chamado comportamento social) não podem ser derivadas daquelas que são desempenhadas pelos indivíduos. O primeiro requisito para compreender o que se chama de desenvolvimento social é partir da premissa de que a sociedade existe. É por isso que é tão difícil para o pensamento econômico ortodoxo aceitar a idéia de desenvolvimento social (na medida em que ele se baseia em uma premissa contraditória com a premissa da existência da sociedade ao supor que o comportamento do sistema econômico como um todo possa ser inferido da mera soma das suas partes individuais). Ora, como o pensamento econômico ortodoxo virou uma espécie de “religião laica”, cujos dogmas são ensinados nas escolas e reproduzidos em toda parte, sobretudo pelos noticiários, em geral as pessoas são conduzidas a pensar nos seus termos. Desenvolvimento é sempre desenvolvimento sustentável As mesmas dificuldades para compreender o desenvolvimento social (empregando o termo ‘social’ para designar os sistemas complexos que chamamos de sociedade humana) se revelam em relação à compreensão do desenvolvimento sustentável. Porque a sustentabilidade é uma função de integração, é um comportamento emergente em um sistema complexo que viabiliza a conservação da sua adaptação ao meio. Os ecologistas chegaram a essa compreensão a partir da observação do comportamento dos organismos vivos e, sobretudo, a partir do estudo dos ecossistemas. Começaram a ver que o que mantinha vivos tais sistemas era o resultado de miríades de atividades em uma rede reguladora e não da condução exercida centralizadamente por um centro diretor. Tais atividades visavam estabelecer e restabelecer, continuamente, congruências múltiplas e recíprocas com o meio. Se essas congruências fossem rompidas – ou seja, se a adaptação não fosse conservada – o organismo não permaneceria vivo e, portanto, o sistema não seria sustentável. Aqui também se revela, portanto, a impotência do pensamento mecanicista para compreender e operar sistemas complexos. O importante não é fazer crescer as variáveis do desenvolvimento e sim fazê-las atingir valores ótimos (ou, mais precisamente, flutuar em intervalos mutuamente correspondentes em torno de valores ótimos) para que o efeito de conjunto possa ser a capacidade de conservar a adaptação. Assim, para o desenvolvimento sustentável, o relevante é a configuração dos fatores do desenvolvimento em seu conjunto (como a renda, a riqueza, o conhecimento, o poder ou o empoderamento e a interação com o meio ambiente natural) e não os valores dessas variáveis tomados isoladamente. Maximizar isoladamente o valor de uma dessas variáveis levará por certo à insustentabilidade – hipótese muito difícil de ser aceita pelos ideólogos do crescimento, para os quais a coisa funciona sempre na base do ‘quanto mais melhor e não importa o resto’. Mantidos os padrões atuais de produção e consumo (cuja conformação tem a ver com a relação entre vários outros fatores do desenvolvimento), uma renda per capita, por exemplo, de cem mil dólares poderia levar uma sociedade (ou as outras sociedades) ao colapso, como qualquer pessoa inteligente pode desconfiar, mas para eles seria algo assim como o céu. Do ponto de vista da sustentabilidade, o desenvolvimento é, assim, sempre uma espécie de “coevolução”, de desdobramento de um condomínio interativo de fatores. E torna-se inclusive redundante utilizar a expressão ‘desenvolvimento sustentável’ na medida em que um desenvolvimento que não fosse sustentável poderia até ser crescimento (de uma ou de várias variáveis), mas não seria desenvolvimento. Desenvolvimento local e capital social As dificuldades de compreensão do desenvolvimento como um fenômeno sistêmico também se revelam em relação ao chamado desenvolvimento local. Como tudo foi pensado para uma localidade (quer dizer, para um único tipo de localidade), particular e separada das demais, ou seja, aquela contida pelas fronteiras do Estado-nação, muitas pessoas não vêem sentido na expressão desenvolvimento local. Ou melhor, compreendem o desenvolvimento local (quando se trata de localidades sub-nacionais) sempre como um resultado decorrente do (ou intimamente associado ao) desenvolvimento nacional. Ontem, Adam Smith escreveu sobre “a riqueza das nações” e não sobre a riqueza de uma localidade qualquer. Hoje, já no declínio da era das nações-Estado, as pessoas continuam considerando apenas o desenvolvimento nacional, se bem que agora como o resultado de políticas macroeconômicas acertadas (que levem à estabilidade e ao crescimento), mas cujas medidas não podem ser tomadas em nível sub-nacional, em pequenas localidades pelas quais não trafegam os grandes fluxos de recursos do mundo econômico. Não é à toa que essa gente ande tão nervosa nos últimos anos, ao constatar que o processo de globalização retira também boa parte da autonomia macroeconômica do Estadonação, que, em alguns casos, vira uma localidade tão periférica no mundo econômico global quanto os pequenos municípios do interior de um país que sempre desprezaram. As pessoas em geral têm dificuldades para compreender como é que promovendo o desenvolvimento de localidades periféricas e com baixíssimo PIB pode-se lograr um impacto ponderável no processo de desenvolvimento do País. Comparece aqui, por certo, além do preconceito econômico original (o “pecado original” do pensamento econômico, que identifica crescimento com desenvolvimento), o preconceito macroeconômico (ou dos policymakers econômicos) segundo o qual a unidade que deve ser desenvolvida é o Estado-nação e, portanto, só existe uma localidade que conta de fato. Ora, isso é uma escolha política (motivada por uma visão ideológica: o estatismo como ideologia legitimadora da construção política chamada Estado-nação) que nada tem a ver com qualquer coisa que se queira chamar de ciência. Por que não se pode pensar em uma localidade supranacional (em uma união de países, como, por exemplo, a União Européia)? E se a prática mostra que se pode pensar, nestes termos, em uma unidade de desenvolvimento supranacional, por que não se poderia pensar em uma unidade infranacional (como uma microrregião ou um município)? O mesmo preconceito também se verifica entre os que aceitam a idéia de desenvolvimento local (aplicada a unidades infra ou subnacionais) sem terem se livrado ainda da ideologia econômica. Dentre estes há os que sustentam, por diversos caminhos argumentativos, que o fundamental é promover o desenvolvimento econômico das localidades, seja para fortalecer o mercado interno, seja para aumentar o volume ou promover a distribuição da riqueza pela multiplicação do número de proprietários produtivos, seja para – em uma época de globalização – se refugiar em espaços ainda não devastados pelos fluxos financeiros do capitalismo global para, ali então, nesses pequenos “esconderijos da história”, iniciar processos virtuosos de acumulação primitiva de capital autóctone. Ora, a simples ênfase da palavra ‘econômico’ na expressão ‘desenvolvimento econômico local’ revela, em geral, uma incompreensão do desenvolvimento como fenômeno sistêmico. Revela aquele preconceito economicista, tão comum nas cartilhas dos dois séculos passados, segundo o qual é o econômico que “puxa” o resto e, portanto, deve ser o ponto de partida, pois que é ele que determina o comportamento das demais variáveis do desenvolvimento (e isso quando se admite que existam outras variáveis na equação do desenvolvimento, uma vez que, em geral, todos os demais fatores, além do capital físico e financeiro, são tratados como externalidades e, quando são assim tratados, são considerados também como não-centralidades). Muitas pessoas que pensam dessa maneira em geral assumem o desenvolvimento local quando se convencem de que isso será útil para gerar trabalho e renda. Mas não se trata de multiplicar experiências de geração de trabalho e renda a partir de uma racionalidade exclusiva ou predominantemente econômica, como ocorreu nos anos 80 e em boa parte dos anos 90 do século passado. Como disse Caio Márcio Silveira, “o grande diferencial das experiências de desenvolvimento local, iniciadas ao final da década [de 1990], é justamente constituir uma matriz de projetos no território (o que chamo de "usina social de projetos"), onde se combinam articulação interinstitucional e participação social (ou novos "arranjos sócioinstitutucionais" ou "novas institucionalidades", vinculando ampliação da esfera pública e oferta de serviços territorializados). Como sabemos, este diferencial de ambiente não é apenas um "aspecto contextual", mas é o núcleo do processo, é aí que se dá o salto do pontual para o sistêmico” (28). Todas as dificuldades de compreensão comentadas acima têm a ver com a ausência de visão sistêmica na medida em que, sem essa visão, não é possível perceber as múltiplas interações entre as localidades e, nem mesmo, o que significa ‘local’ – e isso para não falar da percepção do processo em curso de localização no sentido “forte” do conceito e da hipótese que o sustenta (29). Ademais, sem a visão sistêmica não se consegue perceber as múltiplas interações entre os diversos fatores de desenvolvimento dentro de cada localidade. Do ponto de vista sistêmico, cada localidade é única porquanto apresenta uma combinação particular de fatores do desenvolvimento, um arranjo próprio de diversos capitais; para usar uma linguagem metafórica: o capital físico-financeiro e o capital empresarial – i.e., a propriedade produtiva –, o capital humano, o capital social e o capital natural. Assim, para caracterizar um lugar, desse ponto de vista, as configurações particulares dos fatores de desenvolvimento devem ter a durabilidade necessária para gerar um padrão capaz de replicar. Ou seja, as variáveis devem flutuar, durante um tempo suficiente, em torno de certos valores relativos e, portanto, é isso o que caracteriza o desenvolvimento daquela localidade. Para a visão sistêmica não há, portanto, nenhuma variável a ser maximizada isoladamente, nem há qualquer variável que possa ser responsabilizada por produzir o efeito de conjunto chamado desenvolvimento. Em determinada localidade o valor da variável ‘capital humano’ pode ser muito maior do que em outra e isso não significa que tal localidade é mais desenvolvida do que a outra. Valores menores de ‘capital humano’ podem ser “compensados” por valores maiores de ‘capital social’. Se não fosse assim o Brasil seria um país muito menos desenvolvido do que a Argentina. Ou valores menores do PIB podem ser “compensados” por altos valores do ‘capital humano’. Se não fosse assim a Islândia ou a Suíça seriam países muito menos desenvolvidos do que os Estados Unidos. As pessoas que não vêem isso em geral confundem desenvolvimento com pujança econômica ou, às vezes, infelizmente, com capacidade político-militar de se impor ao mundo, unilateralmente, a partir de posições e argumentos de força. Ora, estamos falando de desenvolvimento ou de capacidade de dominar e de mandar nos outros? Se ambas são a mesma coisa, ou se uma leva inexoravelmente à outra, então se poderia medir o grau de desenvolvimento de uma localidade pelo número de ogivas nucleares e mísseis balísticos operacionais que possui em estoque e não deveríamos ficar perdendo tempo e quebrando a cabeça com a elaboração de índices humanos, sociais ou ambientais de desenvolvimento. Mas não me consta que, apesar de seu número de ogivas e mísseis intercontinentais, alguém em sã consciência prefira viver na Rússia a viver no Canadá baseado no cálculo de que lá, na primeira, exista mais desenvolvimento. Mas há um fator ou variável na equação do desenvolvimento que, quando se trata de desenvolvimento local (quer dizer, quando queremos olhar o desenvolvimento como desenvolvimento local, encarando, portanto, o fenômeno real que acontece sempre em uma localidade concreta e não no mundo abstrato da “máquina econômica” inventada pelos economistas), se distingue dos demais, não pela sua capacidade de determiná-los (papel que se atribui tradicionalmente ao fator econômico em virtude, entre outras coisas, da (com)fusão entre crescimento e desenvolvimento) e sim pelo seu papel “ambiental”, por assim dizer; ou seja: pelo fato de estar implicado na própria geração daquilo que chamamos de localidade. Tal fator é o capital social, ou o ‘poder social’, ou a capacidade de um coletivo humano estável de se mover, de alterar suas relações internas (compreendendo que, se desenvolvimento implica sempre mudança, tal mudança é também, sempre, uma mudança social, uma vez que o conceito de desenvolvimento se aplica a sociedades humanas e não a quaisquer outros sistemas ou coleções de objetos vivos ou inanimados). De certo modo, o conceito de capital social só pode surgir (e só faz sentido) quando encaramos o desenvolvimento como desenvolvimento local. Com efeito, muitas pessoas, sobretudo a partir da década de 1990, têm procurado trabalhar com novas categoriais analíticas – exteriores ao mundo do pensamento econômico – para tentar explicar por que comunidades tecidas por redes e redes de comunidades estão se constituindo como ambientes mais favoráveis ao desenvolvimento. O que está acontecendo é que as pessoas estão descobrindo que as redes sociais têm muito mais a ver, do que antes se imaginava, com o que chamamos de desenvolvimento. Mas essa descoberta não se deu a partir da observação das novas dinâmicas sociais introduzidas pelo funcionamento das grandes redes mundiais, como a Internet, em meados da década de 1990. Ela é anterior. A percepção das relações intrínsecas entre rede (como padrão de organização) e desenvolvimento (como “movimento” social) data do início dos anos 60, conquanto somente nos anos 90 tenha sido possível interpretar mais completamente o fenômeno. Foi no estudo das dinâmicas sócio-políticas de pequenas localidades que antropólogos e urbanistas – como Jane Jacobs –, ainda nos anos 60, começaram a desconfiar que as redes sociais constituíam um fator decisivo para o desenvolvimento local, como se fossem uma espécie de “capital” (e imagino que a expressão ‘capital social’ tenha sido introduzida metaforicamente por Jacobs não para mercantilizar uma dimensão social da vida comunitária e sim para dizer que tratava-se de uma internalidade (e de uma centralidade), de um fator tão importante quanto o capital propriamente dito, físico ou financeiro) (30). É significativo, porém, que as relações entre rede e desenvolvimento tenham sido descobertas no local (no caso de Jacobs, em bairros e distritos que se pensavam, cada qual, como um local em termos de desenvolvimento). É preciso ver, entretanto, se esse é um elemento fortuito ou se tais relações só poderiam ter sido descobertas no local. Contrariando, talvez, uma parte dos teóricos do capital social, opto pela segunda alternativa; ou seja, o capital social é produzido (e acumulado e reproduzido) sempre em um local. Quer dizer, em um coletivo humano estável que pensa a si próprio (e é assim visto pelos demais) como um sujeito caminhante em direção a um futuro desejado. Todas as evidências empíricas sobre a relação entre capital social e desenvolvimento foram recolhidas em localidades. Em sentido positivo, em localidades que apresentaram incrementos em seus índices de desenvolvimento em virtude da existência de redes sociais, de organizações voluntárias da sociedade civil e outras formas de sociabilidade motivadas por emocionalidades cooperativas. E, por inferência, em sentido negativo, naquelas localidades que ficaram paralisadas (ou retrocederam) em relação aos seus índices de desenvolvimento em virtude da predominância de padrões hierárquicos de organização e de modos autocráticos de regulação (como, por exemplo, um padrão vertical de relação entre Estado e sociedade e a prática do clientelismo). Redes abertas, que não se constituem como sujeitos, não fornecem evidências suficientes de serem usinas de capital social. Ou, para usar os nossos termos, redes não localizadas não são produtoras de capital social (ou, pelo menos, com tal quantidade e/ou qualidade capaz(es) de ensejar a percepção desse “processo de produção”). Em suma, tudo indica que capital social é produzido por comunidades. A ampliação social da cooperação, que dá origem a (ou co-origina) esse fator do desenvolvimento chamado de capital social, ocorre (ou exclusivamente, ou predominantemente) em comunidades. Ora, comunidades são ‘mundos pequenos’ que atingiram certo grau de “tramatura” do seu tecido social e, portanto, adquiriram mais ‘poder social’ para usinar padrões de comportamento (programas) capazes de se replicar. Esse ‘poder social’ dá a medida do capital social que ela é capaz de produzir (e é o próprio conteúdo da expressão ‘capital social’). O que chamamos de capital social, mal-comparando, é algo assim como se fosse o “combustível” que alimenta a geração de identidade e a replicação de características (que podem ser vistas como softwares que instruem a construção de comportamentos) das peculiares identidades geradas. Dessarte, em virtude de geração por repetição e replicação por imitação, se constrói o mundo como uma rede holográfica de miríades de comunidades. E o “combustível” ou a “energia social” para isso tudo não vem de outra fonte senão da cooperação. Por aqui, ao meu ver, começa a se desvendar a relação mais íntima entre capital social e desenvolvimento local. NOTAS E REFERÊNCIAS (1) Tocqueville, Aléxis (1835-1840). A democracia na América. São Paulo: Martins Fontes, 1998. (2) Jacobs, Jane (1961). Morte e vida de grandes cidades. São Paulo, Martins Fontes, 2000. (3) Putnam, Robert (1993). Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. (4) Cf. Tocqueville: op. cit; p. 27. (5) Putnam: op. cit. (6) Tocqueville: op. cit. (7) Putnam: op. cit. (8) Jacobs: op. cit. (9) Lewontin, Richard (1998). A tripla hélice. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. (10) Idem. (11) Idem-idem. (12) Ibidem. (13) Cf. Maturana, Humberto e Varella, Francisco (1973). De máquinas e seres vivos – autopoiesis: a organização do vivo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997 e Maturana, Humberto e Luzoro, Jorge (1985). “Herência y medio ambiente” in Maturana, Humberto (1985). “Desde la biologia a la psicologia”. Santiago de Chile: Editorial Universitária, 3ª ed., 1996. (14) Cf. Margulis, Lynn (1998). O planeta simbiótico: uma nova perspectiva da evolução. Rio de Janeiro: Rocco, 2001. (15) Cf. Strohman, Richard (mar., 1997). “The coming kuhnian revolution in biology”, Nature Biotechnology; vol. 15. (16) Cf. Ho, Mae-Wan e S. W. Fox, orgs. (1988). “Evolutionary processes and metaphors”. London: Wiley, 1988 e Ho, Mae-Wan (1998). “Genetic engineering: dream or nightmare?” Bath: Gateway Books, 1998. (17) Cf. Lorenz, Andreas. “China’s environmental suicide: a government minister speaks”. OpenDemocracy: www.opendemocracy.net (06/04/05). A entrevista conduzida por Andrea Lorenz e traduzida do alemão por Patrick Kessler, foi publicada orginalmente na edição em inglês do Der Spiegel. (18) Idem. (19) Henderson, Hazel (1999). Além da globalização: modelando uma economia global sustentável. São Paulo: Cultrix/Amana-Key, 2003. (20) Idem. (21) Ormerod, Paul (1994). A morte da economia. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. (22) Arthur, W. Brian (1996). “Increasing returns and the new world of business”, Harvard Business Review, jul-ago. (23) Ormerod; op. cit. (24 Idem. (25) Cit. por Henderson (1999). Cf. Reder, M. (1999). Economia: a cultura de uma ciência controversa. Chicago: Chicago University Press, 1999. (26) Ormerod; op. cit. (27) Franco, Augusto (2002). Pobreza & Desenvolvimento Local. Brasília: AED, 2002. (28) Comunicação pessoal ao autor, em 2003. (29) Abordo essa hipótese da localização no meu livro A revolução do local: op. cit. (30) Jacobs: op. cit.
Baixar