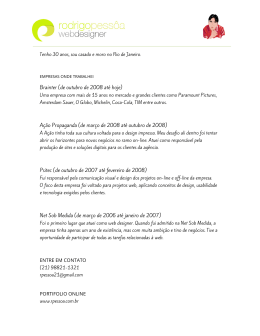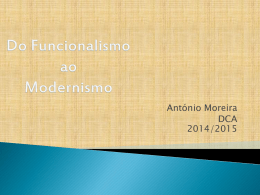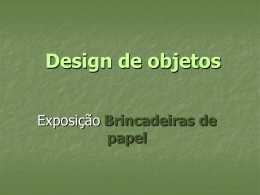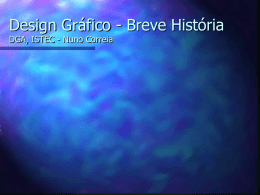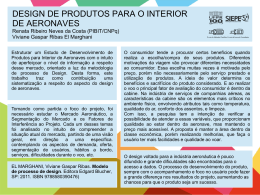Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
d e sign . in t ro
UM DOCUMENTO HIPERMÉDIA - UMA INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO
JOAQUIM FERNANDO PINTO GONÇALVES DA SILVA
Mestrado em Educação Multimédia
2002
4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN (s.d.). Do Desenho ao Design. Lisboa, Autor.
BAUDRILLARD, Jean (1995). Para uma Crítica da Economia Política do Signo. Lisboa,
Edições 70. (Trabalho original em francês publicado em 1972)
BERGER, John (1982). Modos de Ver. Lisboa, Edições 70. (Trabalho original em inglês
publicado em 1972)
BONSIEPE, Gui (1992). Teoria e Prática do Design Industrial. Lisboa, Centro Português de
Design. (Trabalho original em italiano publicado em 1975)
DORFLES, Gillo (1989). Introdução ao Desenho Industrial. Lisboa, Edições 70. (Trabalho
original em italiano publicado em 1963)
DROSTE, Magdalena (1992). Bauhaus. Colónia, Taschen.
FIELL, Charlotte & FIELL, Peter (2000). Design do Século XX. Colónia, Taschen.
FIELL, Charlotte & FIELL, Peter (2001). Design Industrial A-Z. Colónia, Taschen.
69
FISKE, John (1993). Introdução ao Estudo da Comunicação. Porto, Asa. (Trabalho original em
inglês publicado em 1990)
GYMPEL, Jan (1996). História da Arquitectura. Colónia, Könemann.
GÖSSEL, Peter & Leuthäuser, Gabriele (1996). Arquitectura do Século XX. Colónia, Taschen.
HAUFFE, Thomas (1998). Design: a Concise History. Londres, Laurence King.
HISTÓRIA VISUAL (1994). Invenções. Lisboa, Verbo. (Trabalho original em inglês, Dorling
Kindersley: Autor)
HOLLIS, Richard (1994). Graphic Design: a Concise History. Londres, Thames and Hudson.
JULIER, Guy (1997). Dictionary of 20th-Century Design and Designers. Londres, Thames and
Hudson.
KHAN, Hasan-Uddin (1999). Estilo Internacional. Colónia, Taschen.
MALDONADO, Tomás (1999). Design Industrial. Lisboa, Edições 70. (Trabalho original em
italiano publicado em 1991)
MANZINI, Ezio (1993). A Matéria da Invenção. Lisboa, Centro Português de Design.
(Trabalho original em italiano publicado em 1986)
MOLES, Abraham (1994). O Kitsch. São Paulo, Perspectiva. (Trabalho original em alemão
publicado em 1971)
MUNARI, Bruno (1990). Artista e Designer. Lisboa, Presença.
MUNARI, Bruno (1993). Das Coisas Nascem Coisas. Lisboa, Edições 70. (Trabalho original
em italiano publicado em 1981)
OATES, Phyllis Bennett (1991). História do Mobiliário Ocidental. Lisboa, Presença. (Trabalho
original em inglês publicado em 1981)
70
PAPANEK, Victor (1997). Arquitectura e Design. Lisboa, Edições 70. (Trabalho original em
inglês publicado em 1995)
PULLMAN, Chris (1998). Some Things Change... In Steven Heller (Dir.), The Education of a
Graphic Designer. Allworth Press.
SEMBACH, Klaus-Jürgen (1996). Art Nouveau. Colónia, Taschen.
SOUTO, M. H. e al (2000). 100 Anos de Design Português. In O Tempo do Design, Anuário
2000, n.º 21 / 22, pp. 34 - 87, Lisboa, Centro Português de Design.
TAMBINI, Michael (1997). A Imagem do Século. Lisboa, Diário de Notícias.
VATTIMO, Gianni (1991). A Sociedade Transparente. Lisboa, Edições 70. (Trabalho original
em italiano publicado em 1989)
71
2 000 000 anos - Pedra lascada.
7000 a.C. - Metalurgia
Descoberta da ferramenta como extensão da
Invenção da técnica de martelar o cobre a frio
mão humana.
até obter a forma desejada.
600 000 - Fogo
6000 a.C. - Tijolo
Passagem do cru para o cozido.
Material de construção feito de lama, moldado à
mão e seco ao sol usado na Mesopotâmia.
45 000 a.C. - Pintura rupestre
Fabrico de pigmentos: negro com o carvão,
5000 a.C. - Mó
vermelho com óxido de ferro, amarelo com
Moagem dos grãos de cereais entre duas pedras.
carbonato
de
ferro...
misturavam-se
com
gordura animal, água, sangue ou urina.
5000 a.C. - Zigurates
Arquitectura sagrada do povo sumério.
30 000 a.C. - Cerâmica
Endurecia-se o barro cozendo-o ao fogo.
4000 a.C. - Escrita
Dada como a primeira, a escrita cuneiforme da
Suméria feita em tabuinhas de barro.
30 000 a.C. - Arco e flecha
A técnica do arremesso.
4000 a.C. - Vela
25 000 a.C. - Boomerang
Os navios à vela surgem pela primeira vez
Forma aerodinâmica do projéctil.
representados na região do Mediterrâneo.
12 000 a.C. - Fogo por percussão
3500 a.C. - Espelho
Técnica de bater uma pedra contra outra até
Uma superfície metálica plana e muito polida
obter faísca.
feita para reflectir.
12 000 a.C. - Domesticação do cão
3500 a.C. - Bronze
Pela domesticação o
homem cria
novas
Liga de cobre e estanho.
espécies.
3500 a.C. - Arado
10 000 a.C. - Fim da Idade do Gelo
Havia a enxada, colocando-lhe um peso
aumentava-se a eficiência e com umas pegas
10 000 a.C. - Rede de pesca
atreladas a um boi optimizava-se o trabalho da
Uma malha pode ser uma armadilha.
terra.
8000 a.C. - Navio
3200 a.C. - Roda
Embarcação capacitada para viagens marítimas
Aparece após a roda do oleiro e vem melhorar
longas.
os transportes.
50
3000 a.C. - Vidro
Sistema hidráulico assírio para levar a água à
Surge como uma imitação das pedras preciosas.
cidade de Nínive.
2900 a.C. - Pirâmide de Quéops
620 a.C. - Moeda
Construída em Gizé no Egipto. A grande
Moedas de peso padronizado encontradas na
"maravilha" arquitectónica do mundo antigo.
Lídia.
2500 a.C. - Domesticação do cavalo
605 a.C. - Jardins Suspensos da Babilónia
Pela primeira vez entre os povos da Àsia
Central.
550 a.C. - Mapas
Mapas de viagem gregos com grandes áreas
2000 a.C. - Palácio de Minos
representadas.
Em Cnossos, Creta. Onde se situava a morada
(labirinto) lendária do Minotauro.
528 a.C. - Buda
Fundador da religião budista.
1900 a.C. - Fundição do ferro
Extração do metal do minério por meio do fogo,
457 a.C. - Partenon
necessitando de mais combustível do que no
A civilização grega conhece a sua "idade de
cobre utilizado para fazer o bronze.
ouro" das artes e arquitectura.
1700 a.C. - Alfabeto
215 a.C. - Grande Muralha da China
Primeiros caracteres silábicos na Fenícia (22
A única estrutura artificial humana visível do
letras).
espaço.
1500 a.C. - Garrafa de vidro
190 a.C. - Pergaminho
Técnica de mergulho de um saco cheio de areia
A pele era raspada, limpa com uma lima,
numa tina de vidro derretido que revestia o saco
esticada numa armação e deixada a secar. Era
e assim tomava forma. Esvaziada a areia
um material de registo mais resistente que o
obtinha-se a garrafa.
papiro.
1190 a.C. - Cavalo de Tróia
100 a.C. - Sopragem do vidro
Estratégia que assegura a épica vitória dos
Técnica síria de soprar um pedaço de vidro
gregos sobre os troianos.
fundido com um tubo até obter uma bolha que
se pode moldar.
973 a.C. - Templo de Salomão
Mandado construir pelo rei Salomão.
0 - Era Cristã
690 a.C. - Aqueduto
100 - Papel
51
Técnica chinesa de misturar plantas lenhosas
1000 - Leme
com água até obter uma polpa fibrosa que se
Fixado á popa do navio e comandado com uma
entrelaça e seca-se sobre uma rede.
barra horizontal fixada no topo do leme.
337 - Cristianismo
1096 - I Cruzada
O imperador Constantino I institucionaliza o
Cruzada à Terra Santa declarada pelo Papa
cristianismo como religião do estado romano.
Urbano II.
395 - Cisão do Império Romano
1266 - Império Mongol
Fundado por Kublai Khan.
400 - Alquimia
Sua expansão na Europa.
1266 - Óculos
Os
600 - Xadrez
vidreiros
venezianos
poliam
lentes
concebidas para a facilitação da leitura.
Jogo estratégico de origem indiana.
1290 - Perspectiva
610 - Maomé
Giotto usava a luz, a sombra e a cor para criar
Fundador da religião islâmica.
uma sensação de profundidade do espaço.
650 - Moinho de vento
1348 - Peste Negra
Os primeiros foram encontrados na Pérsia.
Causa uma devastação na Europa.
680 - Zero
1400 - Pintura a óleo
Introduz um grande avanço na matemática.
Mistura dos pigmentos com óleo de linhaça.
700 - Impressão
1450 - Prensa tipográfica
Desenvolvimento da impressão sobre papel
Desenvolvimento da técnica do tipo móvel
utilizando peças de madeira móveis na Coreia,
atribuído a Gutenberg. Impressão dos primeiros
Japão e China.
livros europeus. Revolução Cultural.
860 - Alfabeto cirílico
1470 - Astrolábio
Introduzido na Europa Oriental.
Instrumento de navegação utilizado pelos
portugueses para determinar a latitude das terras
950 - Pólvora
e a posição do navio no mar.
Explosivo de origem chinesa.
1492 - Descobrimento da América
950 - Córdova
Cristovão Colombo "descobre" o que julgava
Torna-se o centro europeu do conhecimento.
ser as Índias.
52
1498 - Vasco da Gama
1764 - Máquina de fiar
Descobrimento do caminho marítimo para a
O inglês Hargreaves inventa uma máquina de
Índia. Início da globalização pelos portugueses.
fiar automática permitindo a um trabalhador fiar
oito bobinas de fio em vez de uma.
1569 - Mapa de projecção de Mercator
Método de projecção para cartografar grandes
1765 - Máquina a vapor
áreas.
James Watt inventa um engenho que condensa o
vapor no interior de um cilindro.
1588 - Invencível Armada
Derrota da Espanha pela Inglaterra.
1774 - Shakers
Primeira comunidade Shaker estabelece-se na
1590 - Microscópio e telescópio
América. A exigência de um design simples e
Duas lentes nas extremidades de um tubo num
funcional.
caso e duas lentes sobrepostas noutro.
1776 - Independência dos EUA
1620 - Mayflower
Desembarque de colonos na América do Norte.
1776 - Ciência económica
Adam Smith publica "The Wealth of Nations".
1623 - Calculadora
Calculadora alemã de mecânica simples para
1781 - Racionalismo
efectuar somas.
Immanuel Kant publica a "Crítica da Razão
Pura."
1656 - Relógio de pêndulo
Huygens utilizou a oscilação do pêndulo para
1782 - Máquina a vapor rotativa
medir o tempo de forma regular.
James Watt inventa uma máquina a vapor com
uma acção de rotação. Revolução Industrial.
1712 - Caixão pneumático
Utilizado na Inglaterra para escavar fundações
1783 - Balão de ar quente
de pontes, empregava ar comprimido para
Montgolfier fez subir um saco de seda
expulsar a água duma área do leito do rio para
enchendo-o de fumo.
se poder trabalhar a seco.
1789 - Revolução Francesa
1743 - Prata Sheffield ou casquinha
O calor e a pressão une uma película de prata ao
1789 - Guilhotina
cobre.
Máquina inventada por Guillotin para decapitar
os aristocratas franceses.
1752 - Electricidade
Benjamin Franklin descobre a electricidade.
1798 - Litografia
53
Senefelder inventa a técnica litográfica. Fazem-
Faraday usou um fio conduzindo energia
se gravações numa pedra de mármore polido e
eléctrica que rodava em torno de um íman
com uma tinta de cera repele-se a água mas
resultando energia cinética.
atrai-se a tinta a óleo.
1824 - Hino da Alegria
Beethoven completa a Sinfonia n.º 9.
1798 - Demografia
T.
R.
Malthus
publica
"An
Essay
on
Population".
1827 - Fotografia
Niépce (e depois Daguerre) usou uma lente,
1800 - Bateria
uma câmara escura e material sensível á luz.
O italiano Volta com um pilha de placas de
Formação da imagem numa placa de estanho
zinco e cobre intercaladas com tecido embebido
coberta de betume, lavando-a com óleo de
em água salgada inventa uma célula eléctrica.
alfazema removia-se o alcatrão que não
endureceu com a acção da luz.
1803 - Locomotiva
Máquina a vapor sobre rodas de aço agarradas a
1823 - Máquina de calcular
carris do mesmo metal inventada na Inglaterra.
Babbage apresenta o primeiro computador
programável,
1804 - Napoleão
uma
máquina
de
calcular
mecânica.
Coroa-se a si próprio imperador.
1829 - Máquina de costura
1807 - Iluminação a gás
Só Isaac Singer umas décadas mais tarde
Primeiros candeeiros públicos a gás em
encontraria
Londres.
"industrializando" assim o trabalho doméstico.
1811 - Comida enlatada
1830 - Caminho de ferro
Appert aquecia os alimentos em boiões de vidro
A primeira ligação ferroviária entre Manchester
e tapava-os com tampas de cortiça. Mais tarde
e Liverpool.
um
esquema
de
as
vender
substituía os boiões por latas.
1831 - Dínamo
1818 - Revólver
Faraday com um íman em movimento gera uma
Carregamento de balas num cilindro rotativo.
corrente eléctrica num fio.
1820 - Estradas de macadame
1831 - Transformador
Com McAdam as estradas foram sobrelevadas,
Faraday com duas bobinas de fio de cobre
drenadas e feitas de brita e cascalho. A partir de
enroladas num anel de ferro descobre que pode
1830 passou-se a adicionar o alcatrão.
converter a corrente de alta tensão em baixa e
vice-versa.
1821 - Motor eléctrico
54
1837 - Telégrafo eléctrico
1850 - Conquista do Oeste
Cooke e Wheatstone iniciam a era eléctrica das
Expansão colonial e genocídio dos índios norte-
comunicações.
americanos.
1839 - Negativo fotográfico
1851 - Grande Exposição de Londres
Talbot
descobre
o
processo
fotográfico
Celebração da "Indústria de todas as Nações" no
negativo-positivo.
Palácio de Cristal.
1839 - Velocípede
1851 - Sistema de construção modular
Veículo de Macmillan. Só duas décadas mais
Paxton, baseando-se nas estufas de ferro e
tardde as bicicletas começaram a ser fabricadas
vidro, projecta o Palácio de Cristal para a
industrialmente.
Grande Exposição de Londres. As vigas de ferro
fundido prefabricadas eram montadas no chão e
depois içadas com guindastes.
1840 - Peças intermutaveis
Prática de fabrico que se tornaria de uso comum
na
indústria.
As
espingardas
foram
dos
1851 - Singer
primeiros produtos a seguir este procedimento
Produção da mais famosa máquina de costura
estandardizado.
doméstica. A fábrica entra em casa.
1844 - Código Morse
1854 - Tubo de vácuo
As letras são traduzidas num código de pontos e
Invenção de Plücker que está na origem dos
traços.
tubos de raios catódicos dos ecrãs de televisão.
Samuel
Morse
envia
o
primeiro
telegrama.
1854 - Cadeira Thonet
1846 - Lâmpada de arco
Thonet começa a produzir as suas primeiras
Tecnologia inventada por Staite para criar uma
cadeiras com moldagem da madeira. Em 1859
faísca contínua ou arco, usando dois elétrodos
introduz a popular cadeira n.º 14.
de carvão que encostados produziam faísca
embora o calor os consumisse rapidamente,
1855 - Abre-latas
mas, com um dispositivo que mantinha uma
Yeats inventa o abre-latas em forma de garra.
distância constante, tornavam-se práticos.
Na América seria fornecido juntamente com a
carne de vaca enlatada.
1848 - Pré-Rafaelismo
Rossetti funda a Irmandade Pré-Rafaelita em
1855 - Bico de Bunsen
Inglaterra.
Ao gás de carvão a arder mistura-se ar para
obter uma chama mais quente (consiste num
1848 - Comunismo
simples orifício na base do tubo regulando a
Karl Marx em colaboração com Engels, editam
entrada e a saída).
o "Manifesto Comunista".
55
1856 - Corante de anilina
Mistura de cortiça moída, resina, cola, corantes
Usavam-se pigmentos naturais para tingir, até
e óleo de linhaça sólido inventada por Walton.
um inglês chamado Perkin, por acaso, inventar
um corante sintético quando tentava obter
1861 - Fotografia a cores
quinino a partir da anilina química. Resultou
O físico Maxwell fotografou uma fita três vezes
uma pasta preta que fervida dava uma solução
através de recipientes com água colorida que
de cor púrpura. Entrada desta cor na moda.
serviam de filtros e projectando as imagens
reveladas
1856 - Processo Bessemer do aço
através
dos
mesmos
filtros
reconstitui-o as cores num ecrã.
Processo de fabrico do aço inventado por
Bessemer. Um conversor rotativo para receber o
1861 - Plásticos
ferro fundido e para receber o ar injectado.
Parkes fabricou um plástico a partir de algodão
em rama e cânfora. Embebeu o algodão em
1859 - Máquina de combustão interna
ácido nítrico e fez nitrocelulose, adicionou-lhe a
Lenoir inventa um engenho que consumia uma
cânfora e obteve uma substância que podia ser
mistura de gás e de ar. Está na origem de todos
moldada. Mais tarde, Hyatt, aperfeiçoou o
os motores de combustão.
invento e chamou-lhe celulóide.
1859 - Jugend
1862 - Pasteurização
Publicação da revista de divulgação da art
Ao elevar a temperatura a 70 graus, Pasteur
nouveau alemã Die Jugend.
impedia a propagação das doenças mortais da
tuberculose e da brucelose, conservando o leite
1859 - The Red House
fresco por mais tempo.
Influenciado pelo livro "A Natureza do Gótico"
de Ruskin (1855), William Morris com o seu
1865 - Prensa rotativa
amigo Phillip Webb, constrói esta sua famosa
Com a energia do vapor a impressão tornou-se
moradia, ex-libris do movimento de reforma
mais rápida. Introduziu-se papel contínuo
Arts and Crafts. Em 1861, Morris funda nesta
através do uso do rolo. Incrementava-se as
casa a firma Morris, Marshall, Faulkner and Co,
grandes tiragens dos jornais diários.
tornando-se o seu único sócio em 1875.
1865 - "O outro lado do espelho"
1859 - Thonet
Lewis Carroll publica "Alice no País das
A mais famosa cadeira de produção industrial, a
Maravilhas". Metáfora da imersão na Realidade
cadeira Thonet n.º 14.
Virtual.
1860 - Linóleo
1867 - Betão armado
Usado como cobertura do chão, mais barato que
O jardineiro Mounier usa redes de arame com o
o tapete e mais resistente que a lona pintada.
betão e verifica que este reforço dava maior
resistência ao cimento.
56
1867 - Dinamite
1879 - Lâmpada eléctrica incandescente
Misturando à nitroglicerina o diatomito, Nobel
Edison produziu uma lâmpada de filamento de
obteve uma pasta mais estável que não detonava
carvão de alta resistência e comercialização
sob choque.
viável.
1871 - Chapas fotográficas
1880 - As conferências de Morris
Maddox produz industrialmente chapas cobertas
Entre 1880 e 1890 situam-se a maioria das
com uma camada de gelatina sensível á luz.
conferências de William Morris. Época em que
nasceram
em
Inglaterra
cinco
sociedades
1872 - Pastilha elástica
voltadas para a produção artesanal e que se
A partir da seiva do chicle, uma planta usada
tornaram as estruturas organizacionais do
pelos índios para mascar, Adams adicionou-lhe
movmento Arts and Crafts.
um licor e colocou o chewing gum à venda.
1881 - Central hidroeléctrica
1873 - Impressionismo
A primeira central hidroeléctricausava a água
Monet pinta "Impression, soleil levant" e um
que corria através de turbinas instaladas num
crítico chama-lhe impressionista.
velho moinho de curtumes inglês.
1873 - Máquina de escrever
1881 - Linótipo
Invento de Sholes. Para impedir que as teclas
Margenthaler inventa a máquina linótipo que
encravassem, deslocaram-se as letras mais
permitia aos tipógrafos digitarem o texto num
usadas para posições difíceis de atingir, o que
teclado.
levou à disposição QWERTYUIOP na linha
superior. Remington foi o primeiro grande
1883 - Zaratustra
produtor.
Nietzsche publica "Thus Spake Zarathustra":
1876 - Telefone
1884 - Motor a gasolina
Descoberto
acidentalmente
quando
Bell
Daimler faz evoluir o motor de combustão
procurava uma maneira de transmitir várias
interna do vapor para uma fonte de enegia
mensagens telegráficas por um único fio.
utilizável em veículos de estrada.
1877 - Fonógrafo
1885 - Automóvel
Edison gravou o som numa fita de folha de
O veículo de Benz nos primórdios dos
estanho enrolada num cilindro. Ao dizer "Alô"
automóveis com motores a gasolina.
fez vibrar uma membrana e uma agulha presa
gravou um sulco ondulante à volta do cilindro,
1886 - Coca-cola
quando a agulha percorreu de novo o sulco
O farmacêutico Pemberton lança no mercado
rodando-se o tambor, ouviu-se de novo o som.
uma fenomenal "bebida tónica estimulante
57
cerebral e intelectual" que viria a tornar-se na
Röntgen descobriu que uma folha de papel
bebida mais vendida em todo o mundo.
pintada com cristais brilhava quando ele
accionava uma válvula de vácuo e fez a
radiografia da sua mão.
1888 - Cinema
Edison surge com o cinetoscópio e os irmãos
Lumière com o cinematógrafo.
1897 - Aspirina
O ácido acetilsalicílico do salgueiro (planta de
1889 - Exposição Universal de Paris
uso medicinal) foi isolado quimicamente e
Celebração da electricidade (a "cidade-luz") e
assim inicia-se a indústria farmacêutica.
da engenharia da torre Eiffel.
1897 - Secessão Vienense
1891 - Planador
Ou a Wiener Sezession, movimento conotado
Voo do planador de Lilienthal. Um planador
com a arte nova de Viena da Áustria.
controlável que fez centenas de voos.
1899 - Clip
Foi comercializado pela companhia do mesmo
1892 - Escola de Chicago
Louis
Sullivan
editou
"Ornamento
em
nome.
Arquitectura", ele foi o mestre da Escola de
Chicago,
representativa
da
art
nouveau
americana, onde começou Frank Lloyd Wright.
1900 - Metropolitano de Paris
Inaugurado aquando da Exposição Universal de
Paris. O primeiro metropolitano foi o de
1893 - Casa Tassel
Londres (1890), mas as entradas art nouveau
Victor Horta desenha a casa Tassel em
desenhadas por Guimard conferem ao de Paris
Bruxelas. Inicia o estilo art nouveau do meio
uma referência especial.
francófono.
1900 - Estação de S. Bento
1894 - Ponte de betão
Inauguração da estação e gare ferroviária na
Hennebique foi o pioneiro do betão armado em
cidade do Porto. Obra do arquitecto Marques da
grandes estruturas.
Silva.
1895 - Art Nouveau
1901 - Aspirador
Este é considerado o ano de apogeu deste estilo.
Booth colocou o seu lenço de linho sobre a boca
e aspirou a poeira do tapete.
1895 - Rádio
Marconi com um transmissor rudimentar e
1901 - Reconhecimento da Máquina
criando faíscas para emitir ondas de rádio
Frank Lloyd Wright publica "The Art and Craft
inventou as comunicações sem fios.
of the Machine".
1895 - Raios X
1903 - Edifício em cimento armado
58
O primeiro edifício em cimento armado está
empresários na tarefa de criar um design
atribuído a Perret e encontra-se em Paris.
industrial alemão de qualidade.
1903 - Wiener Werkstätte
1908 - Denúncia do ornamento
Data da fundação desta importante oficina que,
O arquitecto e designer austríaco Adolf Loos
dando continuidade às ideias da Secessão,
escreve a obra "Ornamento e Crime" onde
desempenha um importante papel na promoção
considera que a ornamentação é um desperdício
da qualidade do design. Funcionou até 1932.
de trabalho.
1903 - Avião
1908 - Montblanc
Os irmãos Wright resolvem os três grandes
A
problemas do voo: sustentação, controlo e
recarregável.
primeira
caneta
de
tinta
permanente
potência.
1909 - Manifesto Futurista
1904 - Os grandes armazéns
Marinetti ataca o romantismo do seu tempo e
O arquitecto Louis Sullivan constrói o edifício
exalta o mundo da velocidade das máquinas.
dos Grandes Armazéns de Chicago.
1909 - Baquelite
1904 - O pioneiro da Deutsche Werkbund
Baekeland cria o primeiro plástico artificial. Era
Hermann Muthesius escreve sobre a sua
um pó que endurecia depois de ser aquecido e
experiência inglesa "Das Englische Haus".
moldado. Não era condutor de calor nem de
electricidade o que o tornou no melhor isolador
nos equipamentos eléctricos.
1905 - Expressionismo
Programa dos artistas Die Brücke (a Ponte).
1910 - Instauração da República Portuguesa
1905 - Identidade Corporativa
Peter Behrens faz o design da identidade
1910 - Aço tubular
corporativa da fábrica alemã de material
Usado no avião de combate Fokker-Spider
eléctricoAEG. Também considerado o primeiro
Mark 1.
designer industrial.
1913 - Ford T
1906 - Cubismo
Foi o primeiro automóvel produzido com o
Picasso pinta a obra precursora do cubismo Les
sistema da linha de montagem.
Demoiselles d´Avignon.
1913 - Cidade futurista
1907 - Werkbund
Sant´Ella apresenta La Cittá Nuova, uma visão
Fundação da Deutsche Werkbund (Associação
futurista da cidade dominada pela técnica.
Alemã
do
Trabalho)
que
reúne
artistas
1914 - Máquina fotográfica de 35 mm
59
Este tipo de máquina só se tornou acessível aos
Movimento holandês de arquitectura e design
fotógrafos a partir de 1920 com a Leica
com influência de Mondrian.
Compacta.
vermelha e azul de Gerrit Rietveld.
1914 - Fecho éclair
1918 - Fim da I Guerra Mundial
Sundback inventa o primeiro tipo de fecho
20 milhões de mortos.
A cadeira
éclair funcional.
1919 - Bauhaus
1914 - I Guerra Mundial
Fundada em Weimar por Walter Gropius.
1915 - Suprematismo
1921 - Chanel
Malewitch lança o Manifesto do Suprematismo.
Coco Chanel comercializa o Chanel n.º 5.
1915 - Pyrex
1921 - Insulina
Esta empresa alcançou o sucesso com o seu
Extraindo a hormona de insulina do pâncreas do
trem de cozinha em vidro resistente ao calor que
porco, Banting e Best descobriram o tratamento
contém grande quantidade de bórax (borato de
para a diabetes. Em 1966, Katsoyannis e outros,
sódio) para diminuir a dilatação.
produziram insulina artificialmente.
1916 - Relatividade
1921 - Auto-estrada
Einstein publica a sua "Teoria da Relatividade
A primeira foi construída em Berlim.
Geral".
1922 - Fascismo
Mussolini toma o poder em Itália.
1916 - Dada
O movimento dadaísta apresenta-se em Zurique
para subverter o conceito de arte.
1923 - Funcionalismo
Le Corbusier escreve "Vers une Architecture".
1917 - Revolução Russa
Em 1925 concebe o Plano Voisin que previa
Lenine e os bolcheviques tomam o poder.
arrasar Paris para edificar uma cidade moderna.
1917 - Construtivismo
1924 - Surrealismo
No
cenário
da
Revolução
russa
a
arte
construtivista emerge para renovar a vida. Em
André Breton publica o Manifesto Surrealista e
lança o movimento.
1920 Tatlin concebe um monumento para a III
Internacional que nunca chegou a ser realizado.
1925 - Art Déco
Estilo cuja denominação deriva da Exposicão
1917 - De Stijl
des Arts Décoratifs et Industriels inaugurada em
Paris.
60
1925 - Bauhaus em Dessau
1928 - Motor a jacto
A Bauhaus muda-se para um edifício desenhado
Idealizado por Whittle que construiria o
por Gropius em Dessau. Breuer desenha a
primeiro protótipo em 1937, mas o primeiro a
cadeira Wassily. A Werkbund publica a revista
voar foi construído na Alemanha em 1939.
Die Form.
1929 - MOMA
1925 - Metropolis
Abertura do Museum of Modern Art de Nova
Filme de Fritz Lang que descreve a cidade
Iorque.
futurista como uma entidade totalitária.
1929 - Grande Depressão
1926 - Salazar instaura o Estado Novo em
A mais grave crise económica e social do século
Portugal
XX.
1926 - Televisão a preto e branco e a cores
1930 - A cadeira
Ainda de modo incipiente, o escocês Baird
Desde que começou a ser produzida em 1859 na
demonstrou
Alemanha venderam-se 50 milhões de cadeiras
experimentalmente
que
havia
possibilidades para a televisão.
Thonet n.º 14.
1927 - Universal
1931 - A tipografia moderna
Herbert Bayer realiza o design do tipo sem
Eric Gill publica "An Essay on Typography".
serifas "Universal".
1931 - Empire State Building
1928 - Dymaxion
Com 380 m de altura foi o edifício mais alto do
O conceito de habitação de Buckminster Fuller.
mundo. Símbolo do poder financeiro de Nova
Iorque.
1928 - CIAM
Acrónimo do Congresso Internacional de
1932 - Streamlined form
Arquitectura Moderna. O primeiro foi realizado
Loewy, Bel Geddes e Dreyfuss desenham
em Paris. A influência de Le Corbusier para o
(styling) locomotivas aerodinâmicas para uma
Estilo Internacional.
América futurista porque "o feio vende-se mal".
1928 - Domus
1932 - Estilo Internacional
Famosa revista de arquitectura e design publica-
Como passa a ser conhecido a partir da
se em Itália.
exposição no MOMA.
1928 - Antibióticos
1932 - Bauhaus em Berlim
Fleming
descobre
a
penicilina
investigava as propriedades dos fungos.
quando
A Bauhaus muda-se para Berlim devido à
perseguição nazi em Dessau. Apesar da
61
despolitização levada a cabo por Mies van der
Raymond Loewy, guru do Styling, projecta o
Rohe encerra em 1933.
frigorífico Coldspot.
1933 - Nazismo
1935 - Gravador de fita
Hitler toma o poder na Alemanha.
A AEG criou um magnetofone que gravava e
reproduzia uma fita magnética.
1933 - Mapa do London Underground
Henry Beck concebe o design do mapa do
1936 - Helicóptero
metropolitano de Londres. Uma simplificação
Focke inventou o primeiro helicóptero funcional
que acabaria por exercer uma importante
que tinha dois rotores que giravam em sentidos
influência nos sistemas de sinalética.
opostos.
1933 - Carta de Atenas
1936 - As bases do Wellfare State
O IV Congresso Internacional de Arquitectura
Maynard Keynes publica "The General Theory
Moderna (CIAM) propõe um modelo universal
of Employment, Interest and Money".
de cidade funcional com base nas quatro
funções: habitar, trabalhar, circular, lazer.
1936 - Teoria do Design
Nikolaus Pevsner publica "Pioneers of the
Modern Movement".
1933 - Radar
Kühnhold demonstrou que os sinais de rádio
revelavam e existência de aviões e navios antes
1938 - Volkswagen
de estes serem vistos. A Inglaterra construiu o
Desenhado por Porsche a Alemanha nazi produz
primeiro sistema de defesa com radar em 1935.
o popular "carocha".
1933 - Polietileno
1938 - Exílio
Gibson experimentando com o gás etileno criou
Mies van der Rohe e Herbert Bayer, como
o polietileno, um plástico resistente, flexível e
tantos outros, mudam-se para os EUA. Moholy-
de
Nagy funda a New Bauhaus de Chicago.
longa
duração.
Causa
de
problemas
ecológicos, pois, este plástico não apodrece.
Muitos dos sacos de compras hoje usados ainda
1938 - Esferográfica
existirão daqui a mais de cem anos.
O jornalista Lazio Biro usou uma tinta de
secagem rápida aplicada num pequeno tubo com
1934 - Nylon
uma esfera rotativa na ponta. Mais tarde a Bic
Carothers, investigador da Du Pont descobriu
iria comercializar este invento.
uma seda artificial a partir do plástico. As meias
de nylon foram lançadas no mercado feminino
1938 - Fotocopiadora
em 1940.
Carlson inventou a fotocopiadora usando a
electricidade estática para colar as partículas do
1934 - O frigorífico Coldspot
toner preto às folhas de papel de cópia de modo
62
capaz de formar um padrão semelhante ao do
1942 - Reactor nuclear
documento original.
Fermi concebe na Universidade de Chicago o
primeiro reactor nuclear para produção de
1939 - DDT
energia com uma pilha de blocos de grafite e
Müller está na origem do primeiro insecticida
urânio radioactivo. Os neutrões libertados pela
sintético
desintegração dos átomos de urânio aceleravam
que
comercialmente
ecológicos
iria
e
muito
mundializar-se
que
causou
graves,
desastres
a desintegração de outros átomos de urânio
também
vizinhos que libertavam ainda mais neutrões
pois,
envenenava a fauna que se alimentava dos
desencadeando
insectos
Actualmente (e depois de Chernobyl), o que
que
eliminava,
acabando
por
contaminar a cadeia alimentar.
uma
reacção
em
cadeia.
resta de optimismo em relação a esta fonte de
energia está completamente desacreditado.
1939 - Citroën 2 CV
Produção do automóvel mais popular francês.
1945 - Bomba de Hiroshima
Com o fim da II Guerra Mundial contam-se 60
1939 - II Guerra Mundial
milhões de mortos.
1940 - Exposição do Mundo Português
1946 - Vespa
António Ferro consegue a colaboração de
Este popular motociclo começa a ser produzido
arquitectos e artistas para edificar uma cultura
em Itália pela Piaggio.
de propaganda nacionalista.
1946 - Computador
1941 - Aerosol
O primeiro computador electrónico funcional
Método de atomizar líquidos e pós em spray
foi o ENIAC, uma máquima enorme construída
utilizando um gás propulsor no conteúdo da
pelos americanos Eckert e Mauchly. Possível
lata. Os gases CCF acabariam por originar uma
porque havia os trabalhos seminais de Turing,
das mais graves catástrofes planetárias por
Shannon e von Neumann.
afectarem a camada de ozono.
1946 - Forno microondas
Spencer reparou que uma barra de chocolate
1942 - Organic Design
A
exposição
Organic
Design
in
Home
derretera no seu bolso quando estava ao pé de
Furnishings no MOMA revela outros modos de
um magnetrão, apercebendo-se de que as
entender o design. Os Eames e Eero Saarinen
microondas podiam ser usadas para cozinhar.
destacam-se.
1947 - Transístor
1942 - T-shirt
Nos laboratórios Bell construiu-se o primeiro
As forças armadas americanas conceberam
transístor com uma minúscula peça de liga
camisolas interiores em algodão com gola
metálica de germânio com impurezas que
rodada e mangas curtas a que chamaram Tipo T.
amplificava um sinal cem vezes.
63
1947 - Plano Marshall
Os investigadores americanos provaram que se
O Plano Marshall ajuda a reconstruir a Europa
podia controlar a fertilidade com hormonas
do pós-guerra.
artificiais.
1948 - Bikini
1955 - Citröen
O bikini toma os primeiros banhos.
Entra em produção o famoso veículo francês
Citröen DS.
1949 - Cúpula geodésica
Buckminster Fuller cria a cúpula geodésica com
1956 - Gravador vídeo
módulos triangulares.
Pontiatoff descobriu uma forma de gravar um
programa de televisão numa fita magnética.
1949 - Realismo Socialista
Esta estética de propaganda política é imposta
1956 - Fiat 600
na Europa de Leste.
Produção do automóvel italiano mais popular.
1950 - Escola de Ülm
1956 - Novos grafismos
A influência desta escola é determinante na
Saul Bass cria o genérico do filme "The Man
qualidade do design industrial alemão. Encerra
with the Golden Arm".
em 1968.
1956 - Túlipa
1950 - Cartão de crédito
Eero Saarinen apresenta a sua cadeira túlipa (só
Aparece o primeiro dinheiro de plástico quando
uma perna), editada pela Knoll.
o empresário Schmeider lança o Diners Club.
1956 - Equipa Dez
1952 - Cidade Radiante
Durante o X CIAM a Equipa Dez propõe
Em Marselha Le Corbusier combina todas as
hereticamente uma arquitectura baseada na
funções num edifício de 18 andares.
cultura nacional.
1952 - Biblioteca de Saynatsalo
1957 - CEE
Alvar Aalto constrói a biblioteca de Saynatsalo
O Tratado de Roma estabelece a União
recorrendo ao tijolo e à madeira para suavizar a
Económica Europeia.
dureza do modernismo.
1957 - Helvetica
1954 - Univers
Max Miedinger cria o design do tipo Helvetica.
Adrian frutiger cria o tipo Univers.
1957 - Olivetti
1954 - Pílula contraceptiva
Ettore Sottsasse colabora no design industrial da
Olivetti.
64
1957 - GK
1962 - Satélite de comunicações
A Industrial Design Associates do Japão.
Produzido nos laboratórios da Bell a partir de
uma ideia do escritor de fc Arthur C. Clarke.
1957 - Satélite artificial
Recebe sinais e retransmite-os para receptores
Os cientistas russos lançam o Sputnik, primeiro
no solo.
satélite artificial para a exploração do espaço.
12 anos mais tarde a missão Apolo chega à Lua.
1963 - Archigram
Reconhecimento deste importante grupo de
1958 - New Graphic Design
design da Grã-Bretanha.
Zurique.
1963 - Total Design
1958 - Austin
Representativo do design de Amsterdão.
Produção do popular automóvel Austin Mini.
1963 - Icograda
1958 - Torre Seagram
Mies van der Rohe projecta a torre Seagram em
1963 - Mini-saia
Nova Iorque inaugurando um novo estilo de
Mary Quant põe em moda a mini-saia.
arranha-céus em vidro e alumínio.
1964 - O poster polaco
1959 - Museu Guggenheim
A Bienal Internacional de Varsóvia revela a
Frank Lloyd Wright realiza uma das suas obras
originalidade da ilustração polaca.
mais emblemáticas em Nova Iorque.
1964 - Pop music
1960 - Braun
A emergência de grupos como os Beatles e os
Dieter Rams torna-se director do departamento
Rolling Stones consolidam a corrente de uma
de design da Braun.
cultura da juventude.
1960 - Design do Leste
1964 - Processador de texto
Fundação da Council of Design and Industrial
Era a máquina de escrever eléctrica com fita
Output Aesthetics na Europa de Leste.
magnética produzida pela IBM.
1960 - Yuri Gagarini
1965 - Holograma
O cosmonauta soviético é o primeiro homem no
Gabor
espaço.
tridimensionais. Uma das suas utilizações
usando
laser
criou
hologramas
práticas é a leitura com um feixe laser do código
1961 - Laser
de barras usado nos produtos de consumo. O
Maiman consegue sincronizar um feixe das
varrimento do feixe é feito com espelhos
ondas de luz.
holográficos giratórios.
65
A IBM criou a disquete para armazenamento de
1966 - Pós-Modernismo
Robert
Venturi
publica
"Complexity
and
dados. Os microcomputadores popularizaram-
Contradiction in Modern Architecture".
na.
1967 - Media
1971 - Real World
Marshall McLuhan publica "The Medium Is the
Victor Papanek publica "Design for the Real
Message".
World".
1968 - Post-it
1972 - Las Vegas
Geoff Nicholson, um empregado da 3M, aplicou
Defendendo uma arquitectura de fantasia Robert
uma cola que não deixava resíduos, inventada
Venturi e Denis Scott publicam "Learning from
cinco anos antes pela empresa, a pequenos
Las Vegas".
quadrados de papel amarelo.
1972 - Pentagram
Importante grupo de design da Grã-Bretanha.
1968 - Crise do funcionalismo
Werner Nehls escreve "The Sacred Cows of
Functionalism Must Be Sacrificed".
1972 - Jogo vídeo
O primeiro foi de Baer com uma simulação do
jogo de ténis de mesa.
1968 - Uma odisseia
Stanley Kubrick realiza "2001 - Odisseia no
Espaço".
1972 - Calculadora de bolso
Surgem os primeiros objectos nómadas.
1969 - ARPANet
Rede
de
computadores
militares
norte-
americana que deu origem à Internet.
1973 - Crise do petróleo
Os países árabes produtores do petróleo
quadruplicam o preço desencadeando uma crise
1969 - Woodstock Music Festival
económica.
A maior manifestação de cultura alternativa
representada pela juventude.
1973 - Energia solar
A UNESCO incita os arquitectos a desenharem
1969 - Design industrial francês
casas que recorram à fonte de energia solar.
Fundação do Centre de Création Industrielle em
Paris.
1974 - 25 de Abril
A Revolução dos Cravos restaura a democracia
1969 - Na Lua
em Portugal.
Armstrong é o primeiro homem na Lua.
1975 - Carta de Amsterdão
1970 - Disquete
66
No interesse da protecção do património
1983 - Telefone sem fios
histórico colocava-se a questão do ordenamento
Mais um objecto nómada em circulação.
das antigas áreas habitacionais.
1984 - Macintosh
1979 - Disquete
Lançamento do primeiro computador Macintosh
A disquete (disco magnético flexível numa
da Apple.
bolsa protectora) torna-se um processo corrente
de guardar dados de computador.
1983 - Swatch
Os relógios baratos e de colecção fazem furor.
1979 - Alchimia
O Studio Alchimia de Milão desafia os cânones
1983 - TV satélite
da good form com um provocador antidesign.
A
empresa
americana
US
Satellite
Comunications começa a transmitir cinco
canais.
1978 - Computador pessoal
Jobs e Wozniak apresentam o Altair 8000, o
primeiro
computador
pessoal
a
ser
1984 - Net
comercializado. Em 1981 lançam o Apple II
Estabelecimento da rede de computadores
pronto a funcionar e dispondo de um teclado e
NSFNet (National Science Foudation Computer
um ecrã a cores.
Network) a partir da ARPANet, precursora da
Internet.
1979 - Walkman
A Sony lança um micro leitor de cassetes
1985 - CD-ROM
portátil com uns auscultadores muito leves.
O CD-ROM promete substituir a disquete no
armazenamento de dados.
1979 - Ergonomia sueca
A Ergonomi Design Gruppen da Suécia
1985 - Edição electrónica
relembra a importância da ergonomia.
Warnock e Brainerd criam um software que
ajuda os editores e os gráficos a paginar livros,
1980 - Memphis
jornais e revistas no ecrã do computador
Fundação do grupo Memphis de design italiano.
pessoal.
1981 - SIDA
1986 - Chernobyl
Primeira detecção de casos.
Catástrofe nuclear na Ucrânia.
1982 - Energia eólica
1987 - QuarkXPress
A Quinta do Vento nos EUA usa turbinas de
Lançamento do mais famoso programa de
vento geradoras de energia eléctrica. Mastros
edição gráfica profissional para computadores
com pás de 90 m geram 2,5 MW de potência.
pessoais.
67
1988 - Cobi
(HyperText Mark-up Language) desenvolvida
Javier Mariscal cria o design da mascote Cobi
pelo engenheiro Tim Berners-Lee.
para os Jogos Olímpicos de Barcelona.
1998 - Expo´98
1989 - Queda do Muro de Berlim
Exposição Universal de Lisboa.
1989 - Museu do Design
1998 - iMac
Abertura do Museu do Design de Londres.
A Apple Computer lança o computador iMac.
1990 - Juicy Salut
1999 - Linux
Philip Starck cria o design do espremedor de
Surge um sistema operativo verdadeiramente
citrinos "Juicy Salut" para a Alessi.
"alternativo".
1990 - CAD
2000 - WAP
Desenho Assistido por Computador (CAD).
Torna-se mundialmente disponível a tecnologia
dos telefones móveis Wireless Application
Protocol (WAP).
1991 - Fim da Guerra Fria
A dissolução da União Soviética e a fé no
capitalismo liberal.
2001 - Ameaça
Um ataque terrorista da organização de Bin
Laden destrói as Twin Towers de Nova Iorque.
1992 - Tóquio
É a cidade mais densamente povoada do mundo
com 30 milhões de habitantes. Em Tóquio a
2002 - Euro
torre do Milénio chega aos 800 m.
Entrada em circulação da moeda única na União
Europeia.
1992 - União Europeia
O Tratado de Maastricht fortalece a União
Europeia.
1993 - Era do Design
Exposição "Design: Espelho de uma Era" no
Grand Palace de Paris.
1993 - Pentium
É lançado o processador Pentium.
1994 - WWW
Rápida expansão da World Wide Web a partir
da
linguagem
de
programação
HTML
68
3 - TÁBUA CRONOLÓGICA DO DESIGN
Figura 18. Ecrã inicial da "Cronologia".
49
2 - TEXTO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DO PROTÓTIPO
2. 1
O QUE É DESIGN?
Figura 1. Primeiro ecrã "O que é Design?".
Atitude Projectual - A palavra inglesa "design" descende do italiano "disegno",
conceito utilizado, sobretudo a partir da Renascença, para definir uma metodologia,
uma atitude projectual, um processo de concepção. Assim, design, designa a atitude
3
projectual. Considera-se que mesmo o homem do paleolítico resolvia um problema de
design, quando lascava uma pedra que utilizava como uma extensão tecnológica do seu
corpo, afim de responder às suas necessidades de caça.
Projecto - Projecto é uma palavra de origem latina para significar aquilo que era
"lançado" - o projéctil - e assim, metaforizou-se passando a significar o lançamento de
uma concepção que se quer ver realizada, nomeadamente, através do desenho e com
uma intenção de resolver problemas concretos.
Metodologia Projectual - Com a Revolução Industrial e os movimentos de
Reforma do séc. XIX investidos na melhoria da qualidade do nosso ambiente de vida
quotidiana, a noção de design afirmou-se de modo cada vez mais racional no século
XX, particularmente no design industrial. Estabelece-se uma metodologia projectual de
resolução de problemas que se enuncia numa sequência de fases de organização do
projecto, por exemplo: definição do problema; análise de soluções existentes;
alternativas de solução; levantamento dos meios e dos materiais; avaliação de
alternativas; desenvolvimento da alternativa escolhida; protótipo; pré-série; produção.
Criatividade - A atitude projectual de Leonardo da Vinci faz dele um dos
primeiros designers da Idade Moderna. Ao reinterpretar, corrigindo, as medidas das
proporções humanas, com o quadrado e o círculo que Vitruvio estabelecera na
Antiguidade, da Vinci foi um pioneiro da moderna antropometria. Com os projectos de
máquinas voadoras, entre outros engenhos, da Vinci foi um genial antecipador de
possibilidades tecnológicas que só no século XX se tornaram uma realidade prática. Os
seus engenhos reflectem a aplicação de um método científico (ostinato rigore) que em
tudo dá um exemplo do que deve ser design: imaginação, conceito e projecto.
Sistema Artificial - Na paisagem artificial que o homem criou para organizar a
vida social, são as estruturas e as leis da natureza que estão presentes. Os sistemas
naturais servem de modelos para a criação de máquinas artificiais que funcionam como
extensões do corpo humano multiplicando a sua capacidade transformadora.
4
Áreas do Design - As áreas onde o design se pode exprimir são múltiplas e
variadas, embora possamos interrelacionar muitas dessas áreas, pode-se particularizar as
seguintes: design de comunicação visual, historicamente relacionado com as artes
gráficas e onde hoje podemos incluir o design de identidade corporativa, a sinalética, o
vídeodesign, o webdesign e o de multimédia; o design urbano, de interiores, de
ambientes, de mobiliário; o design industrial, de equipamento, de produto. Entretanto,
novas áreas estão a ser definidas, pela urgência: o ecodesign.
Relações - O design, além de, obviamente, estabelecer relações transversais com
as artes plásticas, a arquitectura e a engenharia, recorre a disciplinas como a
antropometria, a ergonomia, a biónica, a ecologia e a usabilidade, entre outras.
Interpretação - No essencial, o design equaciona uma relação problemática de
forma - função em três dimensões: sintáctica; pragmática e semântica. Ou seja, tem em
conta o peso relativo de cada uma destas funções: estética; utilitária e simbólica, que
exprime valorizando mais uma ou outra, interpretando uma escolha e um certo esprit du
temps.
Atitude Kitsch - O kitsch encontra-se nos antípodas do funcionalismo. O
objecto kitsch exibe uma desmedida função simbólica. Representa uma estética de logro
(regra geral, de boa fé), sentimentalista e / ou ordinária. Um fenómeno multiplicado
pela democratização do objecto resultante da Revolução Industrial. O pós-modernismo
relê o kitsch com ironia. "O kitsch é permanente como o pecado" - Abraham Moles.
Design Anónimo - Não se pode falar de design sem referir o design anónimo.
Aqueles objectos que foram criados por gente anónima que, de tão simples, quase não
valorizamos, mas que foram geniais invenções. São objectos que evoluíram mais pela
necessidade prática do que pela preocupação estética. Objectos «sem adjectivos» porque
não pertencem a nenhum estilo. Objectos como a mola da roupa, o guarda-chuva, o clip,
a rolha de cortiça, a garrafa de vinho, o alfinete de segurança, o fecho éclair, o pioné, o
parafuso...
5
Forma - Fruição - Talvez se possa afirmar que com o pós-modernismo o design
superou a velha querela entre formalismo (primeiro a forma, depois a função) e
funcionalismo ("a forma segue a função"). O pós-modernismo admite que com o
funcionalismo resultou um formalismo. O paradigma da complexidade tornou-se uma
referência contemporânea. Em vez de forma - função, e decerto com uma dimensão
lúdica, o design equaciona um problema de forma - fruição.
2. 2
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Figura 2. Um ecrã de "Revolução Industrial".
Máquina a Vapor - Em 1765 James Watt inventa a máquina a vapor, é o
começo de uma era titânica que caracterizará as sociedades modernas ferindo a
produção artesanal com o estigma económico do subdesenvolvimento.
Sistema Económico - Com os engenhos mecânicos incrementou-se a exploração
mineira do carvão e a produção do ferro e do aço. Estabeleciam-se as condições da
produção industrial em massa. Surgiam novos sistemas de transporte mais rápidos como
a locomotiva sobre caminhos de ferro e o barco a vapor. Verificava-se o crescimento
das cidades onde se concentravam as fábricas. Era a grande oportunidade para o
desenvolvimento do capitalismo no comércio mundial. Os artesãos cediam o lugar a
6
uma classe proletária que laborava diariamente 12 a 14 horas em competição com o
poder da máquina por um salário miserável. Explorava-se o trabalho feminino nos
teares e o infame trabalho infantil nas minas de carvão. Na segunda metade do século
XIX, os operários organizam-se em sindicatos e partidos para lutarem pela defesa dos
seus direitos.
Do Artesanato à Produção Industrial - O que distingue a produção industrial
da produção artesanal é, sobretudo, o seu carácter iterativo. Enquanto no modo de
produção artesanal dificilmente se poderá encontrar uma peça exactamente igual a outra
dentro da mesma série - o que torna cada peça um artefacto único - na produção
industrial qualquer diferença na série é considerada um defeito.
Grandes Exposições Mundiais - A competição pela liderança económica no
mercado mundial encontra nas grandes exposições universais a ocasião para as nações
exibirem o seu poderio industrial e a sua capacidade de inovação. A primeira Exposição
Mundial foi a de Londres, inaugurada em 1851 no Crystal Palace. Mais do que pelos
produtos que lá se exibiam (o mau gosto criticado por Ruskin e Morris), foi pelo
conceito do Palácio de Cristal que ela atingiu maior notoriedade. Patton, um construtor
de estufas, concebeu para aqui uma extraordinária arquitectura de ferro e vidro que
marcaria, a par das pontes, a engenharia do século XIX. Patton utilizou, pela primeira
vez na história, estruturas pré-fabricadas que se montavam no local. Neste edifício de
ferro e de vidro dissolvia-se a separação entre interior e exterior. O Palácio de Cristal do
Porto, onde se realizou uma exposição internacional em 1865, era uma modesta resposta
ao Crystal Palace de Londres e foi lamentavelmente demolido em 1952.
Engenharia do Ferro e do Vidro - Esta arquitectura e engenharia do ferro teve
igualmente em Gustave Eiffel o seu génio, cuja obra mais famosa é a Torre Eiffel em
Paris, ícone da Exposição Mundial que se realizou em 1889. Especialista das pontes de
ferro, Eiffel foi o construtor da ponte D. Maria e foi também um seu discípulo
"renegado" que construiu a ponte D. Luís, pontes que ligam Porto e Gaia. Refira-se a
utilização do ferro nas estruturas dos edifícios da época. As gares ferroviárias são
igualmente um bom exemplo de arquitectura e engenharia do ferro e do vidro como as
das estações de S. Bento no Porto e Santa Apolónia em Lisboa.
7
O Problema da Forma - Os avanços tecnológicos verificados no século XIX,
os novos meios de produção de então, não eram acompanhados de novos conceitos
estéticos, parecia um século sem estilo, por defeito, todos os estilos históricos eram
arbitrariamente misturados, a ornamentação excessiva era moda, os produtos de
manufactura industrial tentavam imitar os produtos de manufactura artesanal, a classe
média emergente tentava imitar o gosto da antiga aristocracia. A democratização do
objecto anunciada pela Revolução Industrial abria o caminho a uma cultura da imitação
que funda o gosto kitsch. Foi contra este estado da arte que pessoas como John Ruskin e
William Morris ergueram a sua crítica.
Estandardização e Produção em Massa - O design da cadeira n.º 14 de Thonet
(1859) seria uma referência europeia quanto a eficácia produtiva e comercial de um
artefacto que não passava de moda. Venderam-se para cima de 30 milhões de
exemplares, constituindo esta cadeira um modelo pioneiro dos princípios da
estandardização da produção (outro famoso exemplo foi a pistola Colt). A
estandardização consiste numa iterativa uniformização dos componentes (que poderão
ser intermutáveis entre produtos) e do processo de produção em série. A Thonet deve-se
o desenvolvimento da técnica de moldagem a vapor da madeira sólida.
Linha de Montagem - Um contributo importante na aceleração da era industrial
seria dado pela introdução da linha de montagem na produção em massa (o fordismo)
quando Henry Ford em 1913 produz o famoso Ford T, "o automóvel que podia ser feito
com qualquer cor desde que fosse preto". O sistema da linha de montagem (inspirado na
indústria carniceira), permitindo o aumento da produção, estimulava a sociedade de
consumo. Com a taylorização da produção o operário passava definitivamente a ser
mais uma peça na máquina industrial, métodos de produção que foram caricaturados no
filme de Charlot "Tempos Modernos" e que só seriam ultrapassados na actualidade com
a robotização da produção gerida por sistemas CIM (computer integrated
manufacturing).
Taylorismo - F. W. Taylor desenvolveu e implementou o conceito de gestão do
tempo de trabalho, notando que a produtividade era maior se as tarefas dos
8
trabalhadores fossem divididas nas suas partes constitutivas e eliminando os
desperdícios de tempo e de movimentos. Estes princípios de mecanização e
automatismo do trabalho humano que ele considerava "científicos" estão descritos no
seu livro The Principles of Scientific Management (1911)
2. 3
ARTS AND CRAFTS
Figura 3. Último ecrã de "Arts and Crafts".
Movimento de Reforma - O movimento de Reforma inglês Arts and Crafts
(1850 - 1900) deve-se à acção do artista, poeta e agitador social William Morris.
Quando a produção industrial se tornava já um facto consumado, ele sentia nos sinais da
época, o domínio do mau gosto, a desumanização progressiva das condições de trabalho
e um futuro de poluição ambiental. Esta situação levou-o a defender pela acção política
e artística a promoção qualitativa da produção artesanal contra a produção industrial.
Morris está considerado como o grande pioneiro da noção moderna de design. Morris e o movimento Arts and Crafts - não se distraía com meras ornamentações e chamava a
atenção para os problemas orgânicos de forma e estrutura.
Design como Programa - Morris é o responsável pela noção de que o design é
um instrumento decisivo de melhoria da qualidade de vida, nas suas dimensões material
9
(pela função prática) e espiritual (pela função estética). Morris colocava a produção
artesanal em oposição ao produtivismo industrial, meramente fundado no interesse
económico, cujos produtos, na altura, denotavam um confrangedor mau gosto. A
excessiva ornamentação, historicista e sem estilo coerente, dos objectos de manufactura
industrial, foi em primeira mão denunciada pelo escritor John Ruskin.
Revivalismo Neo-Gótico - Muito revolucionariamente, Morris e Ruskin
reclamavam para as actividades então subestimadas das ditas artes aplicadas a mesma
dignidade criadora que gozavam as mui académicas belas-artes. No estilo gótico
vislumbravam um expoente de criação cultural europeia que estranhamente se
esquecera, um tempo em que arte e produção andavam associadas. Pretendiam
recomeçar no ponto onde o gótico e as suas guildas de artesãos acabara, ou seja, na
época de Rafael, segundo o pensamento da Irmandade Pré-Rafaelita (na qual o
movimento Arts and Crafts espiritualmente se integrava). A casa de Morris, a "Red
House" (1859), tornou-se ex-libris do movimento.
Influência do Arts and Crafts - William Morris pelo seu papel nos
movimentos de Reforma social e na educação do gosto, é considerado muito justamente
o grande pioneiro do design moderno. A sua acção política e estética ajudou a construir
a reputação de qualidade que o design britânico representou para a modernidade. Raúl
Lino, a cuja figura ficou associada a imagem da "casa portuguesa", foi um fidedigno
seguidor das teses orgânicas de Morris, no seu alento de reinterpretar as características
formais do nosso património. Na sua preferência pelas formas simples e orgânicas da
natureza, Morris e o movimento Arts and Crafts inspirou a Art Nouveau
intercontinental, a Deutsch Werkbund e o movimento Bauhaus.
Escola de Glasgow - Participando, romanticamente, numa era em que os
dilemas historicistas dominavam, o movimento Arts and Crafts decidia-se por um
revivalismo neo-gótico mas que
caminhava
para a autonomia modernista.
Nomeadamente com a Escola de Glasgow (uma original tendência Art Nouveau, de
estilo geometrizante) onde pontificaram os "quatro mac´s", destacando-se dentre eles,
pela sua enorme influência, em particular, na Secessão Vienense, o arquitecto e designer
Charles Rennie Mackintosh.
10
Shakers - Um outro exemplo, muito referido, sobre influências pioneiras no
design moderno quanto a requisitos de simplicidade, funcionalidade e objectividade, é o
do movimento religioso protestante dos Shakers (que se estabeleceram em 1774 na
América). Para os Shakers a estética não poderia andar longe da ética quando
elaboraram o conceito de que "o que é prático é belo".
2. 4
ART NOUVEAU
Figura 4. Um ecrã de "Art Nouveau".
Um Proto-Modernismo - O movimento Arts and Crafts exerceu, sem dúvida,
uma influência decisiva no continente, no estilo que veio a ser conhecido por Art
Nouveau, o qual, seguindo os princípios fundamentais daquele movimento britânico,
veio a ser uma tentativa pioneira de encontrar um estilo moderno.
Tendências Nacionais - Por Arte Nova (1893 - 1914) - partilha de um interesse
moderno pela beleza orgânica - designam-se diversas tendências nacionalistas, umas
mais afins que outras. Nesta vasta corrente destacam-se as Escolas de Bruxelas, de Paris
e de Nancy (francófonas), o Jugendstil alemão, a Escola de Glasgow, a Secessão
Vienense, a Escola de Chicago ou ainda a excentricidade do catalão Antoni Gaudí.
11
Design Orgânico - A Arte Nova continuou o desenvolvimento do conceito de
"orgânico", no design e arquitectura, inspirando-se nas formas naturais. A ornamentação
já não era empregue arbitrariamente, como no historicismo, nascia organicamente a
partir da construção e da função do objecto. Como características importantes que esta
linguagem "moderna" trouxe para a arquitectura e design, saliente-se a exploração da
linha fluída, ondulada ou chicotada, a composição assimétrica e, sobretudo, pela
elegância das formas dinâmicas, o ritmo visual. A inspiração também buscava-se no
celtismo, em certos casos, ou no japonismo, nas tendências que preferiam uma linha
geometrizante, como a Escola de Glasgow e a Secessão Vienense.
Belle Époque - O estilo chamava-se art nouveau porque o nome da loja
parisiense mais conhecida, especializada na venda de artigos modernos (do estilo),
chamava-se "Chez l´Art Nouveau". Com a Escola de Bruxelas de Vitor Horta e Henry
van de Velde nasceu o estilo linear ondulado que, igualmente, caracterizaria as Escolas
de Paris e de Nancy. Este estilo tinha diversas designações, conforme os países, Art
Nouveau em França, Liberty em Inglaterra, Jugendstil na Alemanha, Modernismo na
Espanha, Stile Liberty em Itália e Arte Nova em Portugal.
Obra de Arte - Henry van de Velde exigia que uma sala fosse uma obra de arte
total. Os artistas Art Nouveau eram arquitectos e designers. Na boa tradição arts and
crafts, a Arte Nouveau opunha-se ao processo industrial, mas a sua defesa radical da
produção artesanal tornava os seus preços proibitivos, permitindo só a uma classe rica e
culta o desfrute dos seus artigos.
Artistas - O melhor representante da Art Nouveau parisiense foi Hector
Guimard, autor das entradas em ferro forjado do Metro de Paris (1900). O seu estilo alia
o mais bem sucedido design artístico com a técnica moderna. Na América, Tiffany foi
famoso pelo seu estilo de trabalhar o vidro. Louis Sullivan, com quem Frank Lloyd
Wright trabalhou, foi o mestre da dita Escola de Chicago, cidade populosa onde os
arranha-céus começaram a levantar-se graças às possibilidades técnicas das estruturas
de aço. Atribui-se a Sullivan a máxima do funcionalismo "a forma segue a função".
12
Mucha - Talvez o mais famoso artista gráfico da Art Nouveau. De origem
eslava (checo) emigrou para Paris onde se estabeleceu e alcançou grande sucesso, em
parte, devido ao trabalho contínuo com a actriz Sarah Bernardth, para quem fazia os
cartazes, anúncios de espectáculos de teatro, invariavelmente exibindo a figura da actriz
que ele ajudou a endeusar representando-a em poses majestáticas, com uma aura neopagã. As belas mulheres de Mucha ajudaram a criar o estilo de vida Art Nouveau.
Antoni Gaudí - Catalão de Barcelona, é talvez o mais original dos artistas Art
Nouveau. Mais conhecido pela estranheza do projecto inacabado da Catedral da
Sagrada Família em Barcelona. O Parque Güell e a casa Batló, na mesma cidade, são
outros dois belos exemplares da sua prolífica obra. O seu expressionismo único inspirase nas formas orgânicas de modo extremamente fantasista, o telhado da casa Batló
sugere o dorso de um fantástico dragão. Gaudí modelava os seus edifícios como se
fossem esculturas.
Charles Rennie Mackintosh - Arquitecto e designer escocês, representativo da
Escola de Glasgow, caracteriza-se por um estilo de formas e ritmos enfaticamente
geométrico. A requintada depuração da cadeira de Hill House (1903) poderia facilmente
passar por uma obra nossa contemporânea. Com o seu geometrismo e concentração no
ritmo, Mackintosh influenciou muito directamente o estilo da Secessão Vienense e da
Wiener Werkstäat graças a uma exposição da sua obra em Viena.
13
2. 5
WERKBUND
Figura 5. Um ecrã (full screen) de "Werkbund".
Deutsche Werkbund - A Associação Alemã do Trabalho foi fundada em 1907
por um grupo de arquitectos, designers e empresários que tinham estado, de alguma
maneira, ligados ao Jugendstil (Arte Nova Alemã). Atribui-se a Hermann Muthesius o
papel decisivo da sua fundação.
Muthesius - Em 1886, o governo prussiano enviou Muthesius como adido
diplomático para a Inglaterra, onde permaneceu seis anos. No fundo, a sua missão era
espiar as razões do sucesso do design britânico, em especial, visitando as oficinas do
movimento Arts and Crafts. Mas, enquanto nas Ilhas Britânicas se defendia a qualidade
da produção artesanal, Muthesius entendia que os ganhos de produção seriam maiores
se se aplicassem esses mesmos critérios estéticos subordinados a uma estrita produção
industrializada, confiando, obviamente, na utilização da máquina. Aposta ganha, não
sem polémica interna, porque a Deutsche Werkbund dividia-se entre os partidários de
Muthesius e os de Henry van de Velde, um arquitecto designer belga que produzia e
ensinava em Weimar, que gozava de respeitável influência entre os seus colegas
alemães, como ele mais conectados com as características conceptuais de produção
artesanal da Arte Nova. Contudo, a tendência defendida por Muthesius acabou por
prevalecer.
14
Poder Industrial - A Werkbund contribuiu, pela sua indústria, para a
reconhecimento internacional da arte e da técnica alemãs, retirando à Grã-Bretanha a
liderança industrial mundial. Não se demitindo das prerrogativas produtivistas, a
Werkbund queria demonstrar que era possível atingir um elevado nível de qualidade na
produção industrial, reconhecendo no design a inteligência e na máquina uma
formidável ferramenta de trabalho.
Ornamento é Crime - Os países germânicos foram mais sensíveis ao eco de
Adolf Loos que em 1908 publicava o livro Ornamento e Crime, um libelo radical contra
a ornamentação que o autor (também arquitecto e designer) considerava um desperdício
de tempo e de recursos, trabalho inútil.
Escola de Weimar - Apesar das circunstâncias, Henry van de Velde não
abdicou e continuou - tal como os seus discípulos - a seguir os princípios Jungendstil de
produção artesanal, princípios que considerava proporcionarem maior liberdade artística
para designers e artesãos. A van de Velde deve-se a arquitectura da Escola de Artes
Aplicadas de Weimar, escola onde se instalou a Bauhaus. Walter Gropius (que também
era membro da Werkbund) sucedeu a van de Velde na direcção dessa escola. Por causa I
Guerra Mundial, Henry van de Velde, por ser belga, teve que abandonar a Alemanha.
Durante este período de guerra a escola de Weimar permaneceu encerrada.
Peter Behrens - Entre os membros da Werkbund destaca-se o nome de Peter
Behrens, arquitecto e designer, que mereceu a reputação de primeiro designer industrial
e primeiro a criar uma cultura de identidade corporativa. Saído das fileiras do
Jugendstil, Behrens acabou por acreditar na mensagem de Muthesius. Foi contratado
pela fábrica de material eléctrico AEG para director do que seria um precursor
departamento de design. Na AEG, Behrens trabalhou o design em todas as suas
dimensões, projectou uma moderna fábrica de turbinas (uma tipologia depressa
imitada), recriou o logotipo e toda a identidade corporativa da empresa, encarregou-se
da arte gráfica publicitária e ainda trabalhou o design de produto industrial. Produtos
tais como ventoinhas eléctricas, chaleiras eléctricas, candeeiros e tantos outros que
ficaram com a sua marca.
15
"Na tecnologia eléctrica não se pode mascarar as formas com adições
decorativas, porque a tecnologia eléctrica é uma nova área, devemos encontrar formas
que representem o novo carácter da tecnologia" - Peter Behrens.
2. 6
VANGUARDAS
Figura 6. Um ecrã (full screen) de "Vanguardas".
Ruptura - Os desenvolvimentos tecnológicos da era industrial transformavam a
sociedade profundamente, parecia que já nada no mundo era como dantes, se o sistema
social, mesmo que contraditoriamente, rompia assim com o passado histórico, porque
não havia a arte de romper com os cânones estéticos e arriscar outros modos de
produção e recepção que correspondessem ao novo ambiente?
Nova Era, Nova Estética - Num mundo dominado pela tecnologia, pelo poder
impressionante da máquina, os artistas dos movimentos de vanguarda viam nas
possibilidades de transformação social a dinâmica criadora de uma estética para uma
nova era.
16
Utopia - A importância de uma nova arte e design já se tinha tornado clara no
decorrer do século XIX (com William Morris, p. ex.), muitos esperavam que um design
inteligente de produção de bens para as massas ajudaria as reformas sociais, impunha-se
uma "utopia de resgate estético do quotidiano" (Vattimo) através da optimização da
forma dos objectos e do aspecto do ambiente. Pela revolução articulava-se uma
ideologia da unificação estética da existência de que hoje já não resta grande coisa,
disseminando-se aquele desejo de experiência estética como experiências de
comunidade ou uma "heterotopia" (Vattimo).
Escândalo - Uma das primeiras rupturas com o academismo no campo da arte
foi Impression, Soleil Levant de Monet (1873) a que um crítico chamou
"impressionista". Em 1888, o cinematógrafo é apresentado pelos irmãos Lumière. Em
Paris, os fauvistas, como Matisse, afirmam agressivamente a autonomia da cor e o
programa expressionista dos artistas Die Brücke ("A Ponte") surge em 1905, para quem
o que conta é a expressão das emoções em toda a sua pujança subjectiva, uma via
iluminada pelo "suicidado" Van Gogh. Um ano depois, Picasso apresenta a sua obra
marcada pela arte africana, Les Demoiselles d´Avignon e que anuncia a relatividade
"cinematográfica" de ponto de vista do cubismo.
Provocação - Em 1909, Marinetti apresenta ao mundo o Manifesto Futurista
onde promete arrasar com o romantismo, matar o luar e afundar Veneza de uma vez por
todas, proclamando uma estética da era da máquina onde a expressão da violência e da
velocidade da vida moderna são temas preferidos. Em Zurique, a partir de 1916, os
dadaistas do Cabaret Voltaire, manifestam a sua "anti-arte" ou arte da abolição pois,
para Tristan Tzara, Dada não significa nada. Uma contribuição que, juntamente com
uma freudiana e patafísica interpretação dos sonhos, inspiraria Breton na elaboração do
Manifesto do Surrealismo de 1924. Artaud diria do surrealismo que "é uma extensão do
invisível".
Revolução - Enquanto decorria a I Guerra Mundial, em 1917, na Rússia, Lenine
conduz a Revolução de Outubro. A ideologia comunista do "futuro radioso" obceca o
mundo e para muitos artistas ao serviço da revolução, a arte em estreita aliança com a
técnica desempenha um papel emancipador na construção do "novo homem",
17
trabalhando para a transformação social. Em 1920, Tatlin, segundo os princípios do
construtivismo russo, apresenta o seu projecto de monumento à III Internacional, onde
usa a espiral para simbolizar o movimento revolucionário de libertação da humanidade.
Os artistas de vanguarda celebram a estética da Era da Máquina e na esteira do
suprematismo de Malevich, também Kandinsky traça o rumo duma arte que partiu da
representação objectiva para culminar na "espiritualidade" da arte abstracta.
Modernidade - O construtivismo russo, que se definia como uma cultura dos
materiais e da organização estética da vida, onde se salientam Tatlin, Rodchenko e El
Lissitzky, também influenciou a Bauhaus e o movimento holandês neoplasticista De
Stijl ("o Estilo"), de Mondrian, Doesburg e Rietveld. Estes encaminharam-se para uma
abstracção pura, pretendendo melhor exprimir a modernidade da sociedade industrial
criando uma harmonia independente da natureza, contribuindo deste modo, e em
paralelo com a actividade da Bauhaus, para a formação dos ideais do funcionalismo.
2. 7
BAUHAUS
Figura 7. Um ecrã de "Bauhaus".
Manifesto - Antes de fundar a escola da Bauhaus, Walter Gropius foi membro
da Werkbund, ainda a viver a disputa entre os que seguiam a tendência industrial de
18
Muthesius e aqueles que resistiam na tendência artesanal do belga Henry van de Velde.
Gropius conciliou o melhor destas tendências com esse programa que foi o Manifesto
da Bauhaus. Esta escola foi o maior centro do modernismo e do funcionalismo.
Funcionalismo - Primeiro estabelecida em Weimar no ano de 1919, mudou-se
para Dessau em 1925 e acabou em Berlim onde acabou por fechar perseguida pelos
nazis em 1933. Na Bauhaus pontificavam as vanguardas do século XX, artistas como
Kandinsky, Klee, Moholy-Nagy, Mies van der Rohe, entre outros, foram aí professores
influentes. Nesta escola trabalhava-se o dispositivo do funcionalismo, expresso no
axioma "a forma segue a função", sem dúvida, uma corrente que marcaria a imagem do
século XX.
Walter Gropius - Nos anos da crise alemã do pós-guerra, na República de
Weimar, Walter Gropius foi nomeado director da antiga escola de van de Velde, reuniu
as escolas de Belas-Artes e a das Artes Aplicadas. Gropius via na experimentação
artesanal e artística os instrumentos de pesquisa, ensino e aprendizagem ideais para criar
um novo design, dirigindo o projecto para a produção em série. As tecnologias
industriais vocacionadas para a produção em massa efectivariam uma eficaz
democratização do design. Esta era a convicção de Gropius.
Currículo - Gropius rodeou-se de colaboradores como: Johannes Itten,
responsável em grande medida pela concepção do programa curricular; Lyonel
Feininger, o qual desenhou a capa do manifesto; e Gerhard Marcks. Os professores
eram os "mestres" e os alunos "discípulos". O ensino preliminar na Bauhaus centrava-se
na experimentação com a cor, a forma e os materiais. Dava-se igual importância à arte e
ao artesanato. Cada oficina tinha dois directores, um artista que desempenhava o cargo
de "mestre da forma" e o outro denominava-se "mestre das artes aplicadas". A primeira
fase da Bauhaus foi expressionista e depois, a partir de 1922, com a influência do
movimento holandês De Sijl e de Moholy-Nagy, um construtivista húngaro que veio
para substituir Itten, entretanto saído, a escola passou a denotar uma direcção mais
racional e tecnicamente orientada.
19
Laboratório - A Bauhaus procurava uma síntese das vanguardas artísticas que
revolucionavam a arte moderna. Foi o movimento Dada, com as suas propostas
conceptuais anarquizantes de "anti-arte" que enfatizavam as experiências com os
grafismos e os materiais; o futurismo de Marinetti que fazia o mesmo mas cantando a
velocidade e a maquinaria da civilização moderna, propondo um "homem antiromântico"; o construtivismo russo que adaptava as teses futuristas, reconhecendo novas
possibilidades estéticas no uso das novas tecnologias, vendo na Máquina um
instrumento de libertação ao serviço da construção do "novo homem" do futuro
comunista e ainda as tendências abstraccionistas ou neo-plásticas do movimento
holandês De Sijl.
Mestres - Foram também professores na Bauhaus pintores famosos como Paul
Klee e o emigrante russo Wassily Kandinski. Podemos ainda referir Marianne Brandt na
oficina de equipamento; Schlemmer que dirigiu a oficina de teatro; Gunta Stölzl na
tecelagem; Marcel Breuer no mobiliário, devendo-se a este a "descoberta" do tubo
metálico como material de mobiliário; Heartfield que utiliza a fotomontagem nos seus
cartazes. No domínio da tipografia a Bauhaus deu um enorme contributo para a
construção mediática da "imagem do século", através da sua oficina de tipografia e
publicidade, dirigido por Herbert Bayer o qual criou novos tipos de letra sem serifas que
inspirariam o Helvetica.
Adversidade - Após desistência de Gropius (que emigrou para a América
devido à perseguição nazi), foi novo director da Bauhaus, o arquitecto Hannes Meyer
(1928). Quando Dessau passou a ser politicamente controlada pelos nazis, a Bauhaus
viu-se obrigada mais uma vez a mudar-se, desta vez para Berlim onde permaneceu até
1933, data em que os nazis ganharam as eleições. Neste período foi director o arquitecto
Mies van der Rohe, o qual, muito pragmaticamente, reformulou o plano curricular e
retirou todas as conotações políticas das actividades da escola, mas que não foi
suficiente para acalmar a sanha anti-bauhaus dos nazis.
Nova Bauhaus - A partir de 1933 emigraram para os EUA, para além de Walter
Gropius, a maioria dos mestres da Bauhaus, entre os quais, Mies van der Rohe, MoholyNagy, Herbert Bayer e Marcel Breuer que fundaram em Chicago uma Nova Bauhaus
20
exercendo uma importante influência neste país. Mies foi na América um arquitecto
muito admirado pelo seu inovador conceito de arranha-céus, como o do edifício
Seagram em Nova Iorque.
2. 8
ART DÉCO
Figura 8. Um ecrã de "Art Déco".
Luxo - A Art Déco reflectia um gosto pelo luxo que acompanhou a expansão do
poder económico numa época plena de contrastes como foi a de entre as duas guerras
mundiais. O jazz, Hollywood e Coco Chanel são os novos símbolos populares de um
certo estilo de vida moderna. A denominação deste estilo, Art Déco, deriva da
Exposição das Artes Decorativas de Paris de 1925. Os objectivos do modernismo
funcionalista que a Bauhaus e Le Corbusier preconizavam, estão aqui arredados, A Art
Déco colocava a sua ênfase no valor decorativo.
Eclectismo - A Art Déco é um novo eclectismo, recolhe influências tanto do
classicismo como dos movimentos vanguardistas que por essa altura impressionavam,
tais como o cubismo e o futurismo. Os artistas déco punham em moda a estilização
geométrica abstracta , as linhas em zig-zag, usavam ritmos lineares verticais para
enfatizar a monumentalidade, ritmos lineares horizontais para sugerir dinamismo (do
21
automóvel ou da vida cosmopolita). Combinando todas estas influências com o típico de
culturas exóticas filtradas pelos novos media (as revistas, o cinema e a rádio), como as
reportagens da exploração colonial e arqueológica que davam a conhecer a arte précolombiana, a africana, a asiática e a do Antigo Egipto. Recorde-se o sucesso que foi a
descoberta do túmulo de Tutankamon cuja "maldição" assombrou o imaginário popular.
Modernidade como Moda - Este estilo cresceu passando progressivamente
duma produção artesanal para a adopção de processos e materiais industriais próprios
para a produção em massa. Formava-se um gosto que se tornou muito popular. Pelo
valor simbólico a Art Déco denotava elegância e modernidade. Na produção industrial
este estilo combinava novos materiais, como a bakelite, em produtos tais como rádios,
telefones, e outros mais. Um exemplo de sucesso é a cafeteira Mocha, feita em alumínio
e com uma típica forma hexagonal ao gosto art déco e que continua a vender-se.
Decorativismo - Na tipografia, a Art Déco gerou igualmente inúmeros tipos de
letra bastante representativos da "Golden Age", como ficou conhecida a época. As
formas déco traduzem um eclectismo cosmopolita que enfatiza sempre os aspectos
decorativos, o abstraccionismo geométrico só interessa precisamente pelos padrões
decorativos que proporciona. Na estatuária decorativa, a mulher fatal, numa pose
dinâmica e geralmente vestida com um figurino orientalista, era um tema recorrente.
Monumentalidade - Uma das principais características da Art Déco é a sua
exaltação da monumentalidade, muito de acordo com o novo-riquismo da "Golden Age"
americana. Esta atracção pelo monumental está bem patente no cartaz de Cassandre que
enfatiza a dimensão titânica do transatlântico Normandie. Era uma era onde o poder
industrial das máquinas e a expansão capitalista servia uma sociedade afluente dedicada
ao lazer. No edifício Chrysler (1930) em Nova Iorque, a arquitectura moderna dos
arranha-céus combina-se fantasticamente com elementos neo-góticos, não só pela
ênfase colocada nas linhas verticais, mas igualmente pelas gárgulas carrancudas que o
decoram,
o
motivo
radiante
do
pináculo
é
tipicamente
déco.
Há
uma
complementaridade entre a Arte Déco norte-americana e a tendência aerodinâmica do
Styling.
22
2. 9
STYLING
Figura 9. Um ecrã de "Styling".
O Feio Vende Mal - O Styling foi um estilo, sobretudo industrial, que
proporcionou a arrancada da sociedade de consumo norte-americana, e que se
desenvolveu no período dos anos 1920 e anos 1950. Como Raymond Loewy, o seu
maior guru, dizia, "o feio vende-se mal", mais do que no valor funcional, a maior
importância era dada ao valor simbólico do objecto. Vivia-se então em pleno optimismo
tecnológico e, numa singular versão do futurismo de Marinetti, a mitologia popular
americana fazia circular a ideia utópica de que pelo final desse século os americanos
andariam a fazer turismo pelos planetas do sistema solar em espectaculares naves
espaciais.
Aerodinamismo - Styling era a noção americana para design industrial,
fundamentalmente uma maneira de estilizar as formas. Nesta altura, a chave para o
Styling era a ideia de velocidade, o aerodinamismo, temas que emergem com a própria
produção industrial de barcos, comboios, automóveis e aviões, e sob o impacte da
investigação científica nas formas aerodinâmicas, daí o estilo ser também designado por
streamlined form. Tudo parecia mostrar a configuração de uma nave espacial de ficção
científica, os automóveis... e até um humilde agrafador.
23
Novos Visionários - Bel Geddes concebeu, com a participação de um
engenheiro aeronáutico alemão emigrado, Otto Koller, um protótipo de hidroavião
aerodinâmico que nunca chegou a ser produzido, a ser feito teria as dimensões de um
navio transatlântico, com piscina, restaurante e salão de festas, era mais um projecto
visionário que não encontrava investidor.
Simbólica - Este conceito de Styling surgiu após a Grande Depressão, quando a
indústria americana precisou de recuperar as vendas e promover o consumo. A
simbólica do Styling foi um dos pilares do american way of life e concorria
decididamente com os princípios do funcionalismo europeu, princípios representados
pela Bauhaus, que via no funcionalismo um critério universal de emancipação social.
Envolvido pelo marketing, não cabia ao Styling americano preocupar-se com questões
sociais suspeitas... O aguça lápis (1933) concebido por Raymond Loewy, que aqui
mostramos, à primeira vista talvez não pareça o que realmente é, mas esse objecto
traduz muito bem a importância do valor simbólico para o Styling ou no estilo
streamlined form. Muito mais do que se reduzir a valores técnicos e funcionais, a forma
do afiador destaca um valor simbólico. Até um banal aguça pode ser uma réplica das
naves espaciais de Buck Rogers em deambulações marcianas.
Loewy - Raymond Loewy é talvez o mais destacado e influente designer do
american way of life. Tal como o pioneiro Peter Behrens, na Alemanha, Loewy
absorveu todas as áreas do design na sua actividade. Francês, Loewy emigrou para a
América ainda jovem, e aqui, no novo mundo, rapidamente alcançou notoriedade. Entre
os seus mais conhecidos trabalhos está o redesign da garrafa Coca Cola, do logotipo da
Shell, e o do logotipo e embalagem dos cigarros Lucky Strike. Onde Loewy tocava as
vendas subiam. Loewy encarregava-se do design de identidade corporativa das
empresas para quem trabalhava. Desenhou automóveis, autocarros, locomotivas e
muitos outros produtos industriais, também se encarregava do design de ambientes
domésticos e de grandes escritórios. Foi a ele que a NASA, nos anos sessenta, recorreu
para conceber o ambiente funcional dos satélites espaciais assim como o fato dos
astronautas. Loewy foi abandonando o estilo streamlined, que ajudou a criar, e à sua
maneira adaptou-se a cânones mais funcionais.
24
Dreyfuss - Outro norte-americano que alcançou notoriedade no Styling
industrial foi Henry Dreyfuss, responsável pelo design de tantos produtos industriais
que fizeram a imagem da sociedade da abundância norte-americana: frigoríficos,
máquinas fotográficas da Kodak, tractores para a Deere, telefones para a Bell
Corporation, e muitos outros objectos de uso quotidiano.
Antropometria - Henry Dreyfuss também se consagrou a estudos muito sérios
de antropometria numa altura em que praticamente nada havia no meio industrial que
relacionasse esta disciplina com os princípios ergonómicos. Dreyfuss procurou
estabelecer cientificamente valores antropométricos estáticos e dinâmicos. As tabelas
antropométricas de Dreyfuss, têm uma incontornável importância para o design
industrial da época, e assinalam, de igual modo, o abandono gradual da simbólica
streamlined, a favor de uma abordagem mais funcional.
Marketing - Raymond Loewy, Norman Bel Geddes, Henry Dreyfuss e ainda
Walter Teague, são os mais famosos representantes do estilo streamlined (linha
aerodinâmica) que teve os seus anos de glória no Styling norte-americano. Nos anos 50,
plena era de prosperidade, os industriais e os designers do Styling norte-americano
incrementam estrategicamente a cultura da obsolescência para garantir uma produção
constante e um mercado em crescimento, estratégia onde as campanhas publicitárias
desempenham o mais importante papel. Marketing que continua a condicionar o
mercado.
25
2. 10 ESTILO INTERNACIONAL
Figura 10. Último ecrã de "Estilo Internacional".
CIAM - Le Corbusier foi sem dúvida o arquitecto mais influente do século XX.
Às suas teses arquitectónicas e de design ele chamava L´Esprit Nouveau. Os
Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna (CIAM) - que contribuíram para
definir o dito Estilo Internacional - foram uma iniciativa sua e em todos era visto como
o "guru", papel que ele não desdenhava. Com os CIAM impunha-se uma gramática
rigorosa na arquitectura, o Estilo Internacional fazia-se intérprete severo dos princípios
do funcionalismo.
Princípios - Princípios definidos pelo trabalho experimental da Bauhaus e por
Le Corbusier que estabeleceram os cânones de um modernismo de vocação
universalista. O funcionalismo desfaz-se da ganga decorativista, baseando-se na
composição volumétrica, preferencialmente rectilínea, na planta como princípio
gerador. Confere-se um primado racional. Os princípios do Estilo Internacional foram
estabelecidos por Le Corbusier no seu livro Vers une Architecture publicado em 1922.
O famoso e visionário Plano Voisin de Le Corbusier propunha arrasar Paris para aí
construir uma cidade totalmente moderna.
26
Máquina de Habitar - O termo Estilo Internacional deve-se a uma exposição
com a mesma denominação, organizada por dois arquitectos americanos no Museu de
Arte Moderna de Nova Iorque (MOMA) que examinava a arquitectura internacional a
partir de 1922. No funcionalismo, a atitude projectual dominante procura retirar o
melhor partido do jogo dos volumes, investindo na racionalização do espaço e do
aproveitamento da luz, utilizando o betão armado, a planta livre, facilitando-se o bemestar e a vida prática das pessoas. Propõe-se uma "máquina de habitar" construída em
série enquanto se reivindica um humanismo para o "Homem Moderno".
Internacionais - Os arquitectos do Estilo Internacional, aliás na melhor tradição,
assumem a casa como um todo, como tal, não descuram o design dos equipamentos e o
design do mobiliário. A cadeira Grand Confort de Le Corbusier é um exemplo dos de
maior êxito. Entre os grandes arquitectos do Estilo Internacional incluem-se, para além
de Le Corbusier; Mies van der Rohe; Alvar Aalto, que acabou por aproximar-se de um
estilo mais orgânico; Oscar Niemeyer, o arquitecto que projectou a cidade de Brasília
chegando aí a explorar uma tendência dita de arquitectura escultural. Também Le
Corbusier, nos anos 50, rompeu com o funcionalismo de pura geometria a favor de um
estilo mais orgânico, notável na Capela de Ronchamp (1950 - 54).
Siza - Álvaro Siza Vieira é tido como um dos nossos melhores intérpretes do
Estilo Internacional. Siza é o arquitecto português mais reconhecido e popular
internacionalmente. A Siza associa-se a denominada Escola do Porto, onde se incluem
os arquitectos Fernando Távora e Souto Moura entre outros. Entre as suas maiores obras
incluem-se o Pavilhão de Portugal para a Expo´98, o Museu de Serralves e a
recuperação do edifício do Chiado.
Utopia e Distopia - O funcionalismo do Estilo Internacional, de qualquer modo,
ameaçava tornar-se mais um outro novo tipo de formalismo. Tínhamos mais uma
atitude moderna que não deixava de esteticizar e funcionar como símbolo de status de
uma elite intelectual e económica. Por outro lado, os princípios sociais do
funcionalismo depressa começaram a ser mal interpretados (ex. a estrutura "Dom-ino"),
favorecendo uma "eficiente" construção para as massas identificada nos dormitórios
suburbanos onde visivelmente a qualidade de vida se degrada.
27
2. 11 ORGANIC DESIGN
Figura 11. Um ecrã (full screen) de "Organic Design".
Lloyd Wright - Antigo colaborador de Sullivan e saído da Arte Nova da Escola
de Chicago, Frank Lloyd Wright fez um dos percursos mais extraordinários na
arquitectura e no design modernistas, ocupando um lugar mítico entre os arquitectos
mais influentes do século XX. Autor do ensaio Art and Craft of the Machine a ele
associa-se a depuração da tendência organicista. Lloyd Wright considerava a casa um
todo artístico e preocupava-o tanto o seu exterior como os seus interiores, incluindo o
equipamento. Punha um especial cuidado em fazer os seus projectos de acordo com a
personalidade dos seus clientes. Na planta livre colocava a lareira como ponto central da
casa e, atendendo a razões de perímetro, organizava séries assimétricas de salas com
funcionais pontos de vista. Para Lloyd Wright a casa devia estar organicamente
embebida na natureza, aberta à paisagem ou próxima da rua, estabelecendo sempre uma
rigorosa conexão com o espaço envolvente.
MOMA - Em 1940, o MOMA (Museum of Modern Art de Nova Iorque)
inaugurou uma exposição sob o título Organic Design in Home Furnishings, revelando
novas formas de mobiliário doméstico e equipamento afim que denotavam pouco
interesse pelas severas formas geométricas do funcionalismo, mas um notável interesse
na linha fluída que estabelecia uma relação intrínseca com o corpo humano.
28
Conceito Orgânico - O casal Charles e Ray Eames e também Eero Saarinen,
foram os que nessa exposição mais se notabilizaram com um organic design que viria a
marcar as próximas décadas, notável no modo como se integrou na Plastic Wave.
Algumas das obras destes autores mencionados pelo MOMA, pareciam inspirar-se nos
modelos de artistas como Henry Moore, que já explorava um conceito de escultura
orgânica.
Novos Materiais - Eero Saarinen e Charles e Ray Eames trabalhavam com
materiais como o poliester, o alumínio e o contraplacado, e desenvolveram novas
técnicas de produção com a madeira e novos materiais sintéticos. Com estas técnicas e
materiais exploraram a manufactura de formas curvilíneas
e suaves. Saarinen
notabilizou-se também com uma arquitectura orgânica extraordinariamente escultural.
Diversidade - Algum design italiano do pós-guerra também revelava uma
tendência orgânica e que, de alguma maneira, denunciava uma irreverência que fazia
pressentir a atitude pós-moderna, como nas experimentações com o mobiliário de Carlo
Mollino, veja-se a mesa Arabesque (1949) cuja forma curvilínea parece uma
homenagem à Art Nouveau.
Design Escandinavo - O design escandinavo dos anos 50 e 60 também alcançou
proeminência com suas formas orgânicas características. Designers como Arne
Jacobsen e Verner Panton produziram clássicos como, respectivamente, a cadeira Ovo e
a cadeira V (sorvete), e arquitectos como Alvar Aalto que, a partir do funcionalismo,
preferiram explorar a dimensão orgânica nos seus projectos.
29
2. 12 GOOD FORM
Figura 12. Primeiro ecrã de "Good Form".
Pós-Guerra - Após a Segunda Guerra Mundial, e sobre os escombros da
Europa, o assim chamado american way of life, influenciou praticamente todas as áreas
da vida e da cultura, música e arte, padrões de consumo e estilos de vida do planeta. O
Plano Marshall norte-americano ajudou a reconstruir a Europa devastada pela guerra.
Os países vencidos, a Alemanha, a Itália e o Japão, recuperavam a sua dinâmica
industrial, era o "milagre económico". Enquanto o design americano estava
decididamente orientado para o mercado, o design alemão tendia a ser intelectual e o
design italiano mostrava jeito para a improvisação.
Afirmação Italiana - A linea italiana mostrava ao mundo uma expressão
internacional e um estilo de vida cosmopolita. Bebia-se café espresso. Surgiam Vespas
e Lambrettas e o Fiat 500. Pininfarina denunciava as formas poderosas dos Alfa Romeo,
o Lancia e o Ferrari. Os italianos tinham uma certa alegria na experimentação que os
conduzia para formas dinâmicas e individualizadas. Os irmãos Castiglioni apresentavam
assentos que não eram alheios ao conceito de ready-mades de Duchamp e nessa atitude
faziam pressentir a vocação pós-moderna do design italiano.
30
Materiais Sintéticos e Baratos - Nos anos 1950, os laminados, como a formica,
faziam a sua entrada no mercado, a sua utilização foi muito explorada no revestimento
dos painéis contraplacados, dando um aspecto padronizado e muito colorido às
superfícies do mobiliário barato que caracterizava o mercado de grande consumo.
Design Puro e Duro - Na Alemanha, tomavam-se medidas sérias para a
promoção do design, os valores da simplicidade e do funcionalismo tinham tradição e
rejeitavam-se tanto as tendências historicistas como as formas orgânicas. Na Alemanha,
o lema era a Good Form. Esta não era só uma estética, era ao mesmo tempo um
julgamento moral, um dogma que durou até aos anos 70 e que ajudou a criar a imagem
duma tecnologia alemã objectiva, de qualidade, durável, ergonómica e funcional.
Academia de Ulm - Max Bill foi o obreiro da Good Form. Foi ele o primeiro
director da Academia de Design de Ulm (1953), uma academia pensada para ser uma
sucessão da Bauhaus. Bill acreditava que o design desempenhava um importante papel
social. A esta academia acorriam professores e alunos de todo o mundo. Tomás
Maldonado foi outra figura da Academia de Ulm que exerceu uma respeitável
influência no design industrial alemão. Maldonado, como teórico, rejeitava o papel da
arte no design, esta posição levou à resignação de Max Bill. A Academia de Ulm
chegou a trabalhar em estreita cooperação com empresas como a Braun. As ideias de
produto da Braun eram adoptadas por empresas como a Siemens, AEG, Telefunken,
Krups e outras. Apesar de ter encerrado em 1968, o neo-funcionalismo da Academia de
Design de Ulm constituiu um modelo para o ensino do design moderno em muitas
escolas de todo o mundo. Dieter Rams é talvez o designer industrial mais famoso que
saiu da academia de Ulm.
Dogma - O design alemão dos anos 60 fez do funcionalismo da Good Form
princípios estilísticos que ganharam a força do dogma. As suas repercussões
expandiam-se por todo o mundo industrial. Mas o dogma iria ser criticado, as formas
tinham-se tornado duras, muito angulares, os objectos pareciam menos imaginativos.
Bel Design - Em Itália, o que mais se aproximava da Good Form chamava-se
Bel Design. Os produtos da Olivetti eram emblemáticos do melhor design industrial
31
italiano. Muitos designers italianos distinguiam-se com clássicos tais como Marco
Zanusso e a televisão portátil Aldol (1962), Ettore Sottsass e a máquina de escrever
Valentine (1969). Mario Bellini ganhou o prémio Compasso d´Oro por seis vezes.
Hegemonia Criativa - Em 1972, a exposição Italy: the New Domestic
Landscape no MOMA consagrava a hegemonia criativa do design italiano. Nesta
exposição, o design mainstream e o antidesign iam lado a lado, elegância e
experimentação, o clássico e o agitador.
2. 13 EXPERIMENTAÇÃO
Figura 13. Um ecrã de "Experimentação".
Plastic Wave - Os materiais sintéticos, como havia acontecido com a baquelite,
identificavam-se com design moderno, em 1952, o italiano Giulio Natta, com outros
colaboradores, inventou o polipropileno. Esta invenção revolucionou a arte de fazer
mobiliário. Agora podiam-se fazer mesas e cadeiras duráveis, com qualquer forma
possível e da maneira mais barata. Outros materiais sintéticos se podiam juntar tais
como o poliuretano, o poliester, o nylon, e também a fibra de vidro. Uma das mais
inovadoras empresas italianas dedicadas à produção de objectos plásticos foi a Kartell
(1949) que apostava no design. Entre os seus mais populares designers colaboradores
32
contam-se Zanuso, Sapper e Joe Colombo (anos 1960), na década de 1980, a Kartell
produzia objectos de design assinados por Philip Starck.
Crise - Com a crise do petróleo de 1973, os limites do crescimento económico
pareciam ter sido alcançados, a vulnerabilidade económica e ambiental tornava-se
evidente, a plastic wave passava por uma ressaca, o plástico já não parecia tão moderno
e o rótulo de material barato tornava-o desprestigiante, ainda por cima era antiecológico. Mas foi precisamente esta imagem barata que agradou a grupos como
Memphis e a uma posterior onda tão pós-moderna como foi o New Design (anos 1980).
Contra-Cultura - A tendência dogmática do design funcionalista representavase na Good Form. Parecia então que a gramática do design só deveria obedecer às
recomendações estritas do funcionalismo, mas, nos anos 1960, os tempos eram de
experimentação e de questionamento dos valores da sociedade moderna, a cultura pop
afirmava-se e com ela outras expressões alternativas de vida avassalavam as
mentalidades e os valores estéticos da arte conquistam o design.
Subversão - Os movimentos radicais despontavam nos E.U.A., na Inglaterra, na
Alemanha, na Itália, e colocaram o funcionalismo em crise. Lançavam-se os
fundamentos do pós-modernismo. Era a vaga do Pop Design, os princípios da
reciclagem traduzidos no Alternative Design, e a provocação italiana do Antidesign,
onde grupos como o Archizoom ou o Alchimia atreviam-se a colocar a ênfase heurística
sobretudo na expressão, chegando mesmo a subestimar as determinações funcionais dos
objectos. A vida quotidiana podia abrir-se para o lúdico, reagia-se à monotonia duma
linguagem moderna que se tornara cada vez mais ideológica.
Pop - A cultura jovem dos anos sessenta representava uma revolta contra os
padrões de comportamento tradicionais e a pop art representava uma rebelião contra as
normas estéticas. Os objectos banais da vida quotidiana, tais como as embalagens,
hamburgers, comics e anúncios publicitários eram utilizados como arte por artistas que
parodiavam a sociedade de consumo, casos de Roy Lichtenstein, Andy Warhol e Claes
Oldenburg entre outros.
33
Hedonismo - Com o kitsch e as fantasias da ficção científica os movimentos
radicais reformulavam um gosto que misturava a nostalgia, o exótico e o pronto a
consumir numa reinterpretação estética supostamente delirante. Ao contrário do
anguloso funcionalismo fundado nos valores racionais, as novas maneiras de viver
pareciam sobretudo responder às necessidades emocionais e sensoriais dos
consumidores. Era todo um novo eclectismo espúrio a reformular todos os nossos
códigos culturais.
Sottsass - Designers como Ettore Sottsass, com obra feita no Bel Design,
ousavam repensar a sua atitude projectual concebendo objectos que mais pareciam
peças escultóricas, instalações, autênticas obras de arte.
Antidesign - O Antidesign italiano escarnecia do paradigma funcionalista.
Sentia-se a crise profunda do funcionalismo. Os valores estéticos, lúdicos e poéticos do
design pareciam doravante mais importantes, o design é uma obra aberta. Na poltrona
com otomana de Pesce que representa uma mulher sentada, podemos perceber como o
valor simbólico recupera um primado provocador, o que se vê já não é apenas a
dimensão utilitária do objecto, é a auto-expressão, o humor que está na base do design
antidesign do grupo Alchimia (fundado em 1976). Afirmações que evoluíram para o
pós-modernismo.
34
2. 14 PÓS-MODERNISMO
Figura 14. Um ecrã (full screen) de "Pós-Modernismo".
Manifesto do Bolor - "A arquitectura funcional provou estar no caminho errado,
é como pintar com uma régua... Só depois das coisas estarem criativamente cobertas de
musgo, com o qual temos muito a aprender, teremos uma nova e maravilhosa
arquitectura". Este extracto do "Manifesto do Bolor Contra o Racionalismo em
Arquitectura" de Hundertwasser é um dos primeiros programas pós-modernos.
Less is Bore - Outro pioneiro foi Robert Venturi que ao "less is more" do
funcionalismo opunha o "less is bore". Venturi propunha o vernáculo ou uma
arquitectura de banda desenhada, ecléctica, ambígua, bem-humorada e despretensiosa,
"aquilo que as pessoas realmente gostam".
Diversos Universos - As influências estéticas do Pop Design e de movimentos
como o Antidesign geraram entre os consumidores um largo espectro de gostos, uma
corrente diversificada de estilos de vida em contradição completa com o programa
unificador do funcionalismo ou dos conceitos da Good Form.
Oposição - A tomada de consciência de que havia vários universos de gosto
abriu o caminho para a consciência das insuficiências emocionais do funcionalismo que
35
insistia em determinar o que era "bom" e o que era "mau" e quais as funções que um
objecto pode desempenhar. Esta situação gerou uma onda de oposição ao modernismo,
questionando-se os padrões e os valores preestabelecidos.
Forma - Fruição - Com a cultura pop dos anos 1960, nas esferas culturais
começava-se decididamente a rejeitar as divisões entre "good" e "bad design", entre
"good form" e "kitsch", entre cultura erudita e cultura popular. A própria equação
problemática do design, a relação forma - função, deixava de ser aceite, para o pósmodernismo o problema punha-se nas condições de uma relação forma - fruição.
Alchimia - Admite-se que os primeiros objectos de design deliberadamente pósmodernos foram os dos grupos italianos Archizoom (1966), Alchimia (1976) e
Memphis (1981). Entre os membros do grupo Alchimia salientam-se Ettore Sottsass e
Alessandro Mendini. No seu programa pretendiam afirmar-se como um "pós-radical
forum de discussão". Em vez de se concentrarem num design voltado para a produção
em massa ou sobre a utilidade dos objectos, eles voltavam-se para uma expressiva,
imaginativa, poética e irónica atitude projectual.
New Design - O grupo Memphis (1981) levava os coloridos laminados plásticos
(formica, melamina) dos bares e cafés dos anos 1950 para o ambiente doméstico. A
intenção era estabelecer uma comunicação espontânea entre o objecto e o utilizador. Os
grupos Alchimia (1976) e Memphis (1981) foram os catalisadores do denominado New
Design (anos 1980), uma larga frente de desenvolvimentos anti-funcionalistas na Itália,
Espanha, Alemanha, França, Grã-Bretanha, EUA e Japão.
Designers Pop-Stars - Entre os designers pós-modernos do New Design
refiram-se os nomes dos italianos Sottsass, Mendini, Gaetano Pesce, o americano
Michael Graves, os ingleses Jasper Morrison, Ron Arad e Tom Dixon, o francês Philip
Starck, o espanhol Javier Mariscal, os japoneses Kuramata e Umara, e muitos outros
poderiam ser citados. O design pós-moderno sente-se livre de escolher e combinar a
gramática modernista com elementos historicistas, a ornamentação e o minimalismo, o
neo-barroco e o abstracto, os materiais nobres e o kitsch, a produção em massa, a série
limitada ou a peça única.
36
High Tech - Pode-se ainda referir uma tendência High Tech que enfatiza o
aspecto tecnológico, notável na arquitectura do Centro Pompidou em Paris (1977) de
Renzo Piano e Richard Rogers, e do Banco de Hong Kong e Xangai (1985), de Norman
Foster. Aqui reconhecemos uma gramática que quer tornar visível as estruturas e
elementos de construção, os suportes e os tubos, o aço e o vidro, o aspecto mecânicoindustrial da forma.
Nanotecnologia - Na área tecnológica, os próximos passos serão cada vez mais
na direcção da miniaturização, a rápida evolução dos computadores conduz-nos para
uma era de nanotecnologia. Isto terá como resultado levar a uma virtual desaparição
dos objectos, a uma desmaterialização da tecnologia. Na era digital, o design defrontará
novas tarefas, como na área do design de interfaces. O desenho assistido por
computador, a produção assistida por computador (sistemas CAD / CAM), torna-se
habitual. Não é já a aparência das formas tangíveis que conta mais, mas a informação, a
desmaterialização.
2. 15 FACTORES ECONÓMICOS
Figura 15. Um ecrã (full screen) de "Factores Económicos".
37
Criação de Necessidades Artificiais - O consumidor é induzido a sentir
necessidades que não sentia antes. O papel do design na economia capitalista tem sido
criticado por muitos prestigiados autores, que denunciam o modo como o design é
utilizado para seduzir o consumidor, induzindo-o a comprar produtos que não necessita.
Atraindo-o com novas formas que põe em moda e trabalhando em estreita colaboração
com os departamentos de marketing. Muito frequentemente produzem-se coisas que
terão pouco a ver com a sua real utilidade e cujo único fito é estimular as vendas.
Quando assim acontece o design costuma denominar-se styling.
Imagem de Marca - Em princípio, a maior parte dos bens de consumo parecem
adequados, um produto de uma marca será tão bom quanto outro de outra marca, então,
em tais circunstâncias, que mecanismos têm as empresas ao seu dispor para distinguir
os seus produtos num mercado concorrencial? Em primeiro lugar o design de identidade
da empresa. Os produtos devem comunicar a imagem da empresa que os fabrica. Para
além do design do produto, um logotipo e um símbolo, a sua cultura de imagem, a
embalagem. E depois, o marketing, as suas estratégias de vendas, as campanhas
publicitárias.
Swatch - Um exemplo: a Swatch. Este fabricante suíço de relógios alcançou o
sucesso graças a uma bem concebida estratégia de marketing. A empresa assumiu que o
design é uma questão relativa à natureza transitória da moda. Os seus relógios são
baratos, dado o uso despretensioso do plástico, enfatizam o aspecto e variando a oferta
de modelos e de detalhes parecem oferecer ao cliente um design individualizado. Mas,
sem dúvida, um design de acento estético, convidando designers famosos como
Mendini ou artistas famosos como Keith Haring e Mimmo Paladino a conceber
motivos.
Design de Gestão - Estas estratégias colocam-nos uma outra dimensão a
conhecer, que é o design de gestão. Aqui incluem-se não só as questões de forma e
planeamento de produto, mas também os aspectos organizacionais, económicos, legais e
de marketing. Quando se fala de identidade, quer dizer que a empresa deve investir em
todos os pormenores da sua individualização, investir na construção da sua imagem.
Enfim, uma cultura que possa ser facilmente identificada pelo consumidor alvo.
38
Obsolescência Planeada - Eis um assunto altamente controverso, onde design
industrial, consumismo e sustentabilidade se envolvem. A obsolescência planeada
começou na América dos anos 1950. A ideia consiste na limitação intencional da vida
dos produtos para levar os consumidores a consumir mais, um programa de
manipulação dos consumidores, economia do desperdício e agressão ambiental,
portanto. No livro The Waste Makers (1960), Vince Packard identifica as três esferas da
obsolescência: função, qualidade e atracção. De função quando a tecnologia é
ultrapassada; de qualidade quando os componentes são fabricados deliberadamente para
falharem ao fim de certo tempo; de atracção quando o produto passa de moda
(intervenção das estratégias de publicidade e marketing).
Avaliação de Custos - No âmbito da metodologia projectual, o processo de
avaliação de produto, naturalmente, não se reduz a uma dimensão estética e funcional,
entrando a avaliação de custos como um factor de ordem económica fundamental na
tomada de decisões. A avaliação de custos é uma estimativa de despesas e encargos a
assumir nas diversas fases do projecto e da produção. Todo este processo condiciona o
produto final.
Valores e Funções - Os objectos têm um valor de uso e um valor de troca. Tais
valores são fundamentos da produção e do mercado. O objecto escapa muito depressa
ao seu valor de uso para adquirir valor simbólico, essa é uma condição para ganhar
valor de troca. Pelo valor o objecto torna-se signo. Função principal do objecto:
desempenhar o uso para que foi nomeado; função secundária: a que for designada por
um uso acrescentado.
39
2. 16 FACTORES HUMANOS
Figura 16. Um ecrã (full screen) de "Factores Humanos".
Ergonomia - A ergonomia (do grego ergon: trabalho; e nomos: leis) estuda as
interacções entre os utilizadores e objectos, sistemas e ambientes, estudo desenvolvido
com o auxílio da antropometria. A ergonomia envolve factores anatómicos, fisiológicos
e psicológicos, considera o comportamento humano, as suas capacidades e limitações.
Com estes estudos a ergonomia proporciona um design de soluções para um melhor
desempenho, mais seguras e mais amigáveis para o utilizador. A ergonomia acrescenta
ao trabalho eficiência, mais produtividade e maior conforto.
Ergonomia e Saúde - A ergonomia acrescenta mais valias consideráveis para a
saúde dos utilizadores. Uma cadeira mal proporcionada, se utilizada muitos dias e
muitas horas, pode ocasionar problemas de saúde que a medicina dificilmente corrigirá.
A legislação actual sobre saúde e segurança, em especial, a que concerne os ambientes
de trabalho, garante que os factores ergonómicos sejam tidos em consideração pelos
designers e fabricantes.
Ergonomia e Segurança - A segurança é um fenómeno relativamente recente
dentro da história do design industrial. O homem que mais se bateu por este aspecto foi
o americano defensor do consumidor Ralph Nader, que levou a tribunal a General
40
Motors, que na altura gastava 700 dólares em styling e 23 cêntimos em segurança com o
seu automóvel Chevrolet Corvair. O fabricante sueco Volvo foi quem mais desenvolveu
dispositivos de segurança para os seus automóveis. Noutra esfera de produtos, outro
exemplo, são os brinquedos, cujo fabrico tem que estar de acordo com Directivas
Europeias. A segurança no trabalho é uma outra área problemática com normas
estabelecidas que nem sempre são cumpridas.
Ergonomi Design Gruppen - Este é um dos maiores consultores de design
ergonómico da Escandinávia. O EDG desenvolve produtos para servir o utilizador.
Combinando conhecimento teórico e experiência prática o EDG estuda o
comportamento, aptidões e limitações humanas. Com esses estudos o EDG desenvolve
produtos manuseáveis e com um design que implementa a performance do utilizador e a
sua satisfação. Os produtos que concebem vão de simples ferramentas a equipamento
complexo e maquinaria pesada.
Sistema - Entre o homem e a máquina (ou um dado sistema) interpõe-se um
dispositivo que permite ao utilizador ou operador exercer uma interacção com a
máquina ou um sistema. Uma consola, um ecrã, um controlo remoto... são interfaces
que permitem controlar o funcionamento de um sistema. Pela interface o processamento
humano interage com um processamento mecânico e informativo. Um sistema é o
conjunto utilizador / operador; interface; dispositivos; ambiente.
Antropometria - Consiste numa sistemática compilação e correlação de
medidas (baseadas em médias estatísticas) globais e parcelares do corpo humano . O
sistema das medidas pode subdividir-se nos subsistemas de medidas estáticas e de
medidas dinâmicas, estáticas quando as medidas se referem a valores estruturais,
dinâmicas quando as medidas se referem a valores de acção.
Origem da Antropometria - Os primeiros estudos antropométricos datam do
final do século XIX quando os cientistas sociais estudam as diferenças dos grupos
raciais e a antropometria criminal juntava na ficha fotográfica o retrato do detido, de
frente e de perfil e as medidas antropométricas de aspectos parcelares, tidos por
significativos, do crâneo, da face (tentavam também identificar nas características
41
físicas propensões para o crime). A antropometria só se tornou um factor de design nos
anos 1920, quando pioneiros designers escandinavos como Kaare Klint relacionaram
aspectos da forma humana com o design de objectos. Também as forças armadas
exploraram os dados antropométricos para a produção dos mais diversos equipamentos
militares.
Desenvolvimento da Antropometria - Enquanto designer industrial, Henry
Dreyfuss foi um importante proponente da antropometria e da ergonomia como factores
essenciais para o design, o seu livro Designing for People (1955) ilustra numerosas
medidas que utilizou no design de produtos desde assentos de tractor a telefones. As
investigações antropométricas de Dreyfuss tiveram continuidade no livro The Measure
of Man: Human Factors in Design (1960) onde se estabelece a aplicação dos dados
como prática estandardizada. Mais tarde, a investigação na antropometria, em
complementaridade com a ergonomia, foi desenvolvida por grupos de design
escandinavos, como o Ergonomi Design Gruppen. Hoje, a antropometria é uma
ferramenta indispensável em muitas áreas do design.
Percentil - O percentil é uma categoria da percentagem e indica qual a medida
das tabelas antropométricas deve ser utilizada por relação a um grupo humano que
esteja na média, ou acima, ou abaixo duma média. Exemplifique-se com a altura das
pessoas, respectivamente, o 50º percentil diz respeito à média, o 95º percentil respeita
aos 5% de pessoas mais altas, o 5º percentil responde aos 5% de pessoas mais baixas.
Assim, se se estiver a projectar uma porta, as suas dimensões terão que respeitar o 95º
percentil.
Utilizadores - Consideramos os utilizadores a três níveis: primários; secundários
e terciários. Veja-se a sala de aula como exemplo: os utilizadores primários são os
alunos e professores; os secundários são o pessoal da limpeza e os encarregados da sua
manutenção; os terciários são os que se servem da sala para outras finalidades distintas
da aula (reuniões ou festas).
Usabilidade - A usabilidade define o modo como as interfaces são ou não
usáveis do ponto de vista do utente consumidor. A melhor avaliação de usabilidade é
42
feita por amostras de utentes que, mediante os factores a medir, de eficiência, facilidade
de uso e interface amigável, contribuem pelo seu feedback, em diferentes fases do
desenvolvimento, para o sucesso do produto. A usabilidade alcançou particular
actualidade no desenvolvimento e implementação de software e de web sites.
Metodologia Projectual - O processo do design é, como muitas outras
actividades, metodológico. Analisam-se soluções existentes, começa-se por formular
uma ideia e visualizar uma ou mais hipóteses, até dar forma a uma solução que,
entretanto, nos surge como ideal ou possibilidade para responder a uma necessidade, a
um pedido ou, simplesmente, a uma aspiração, seguidamente há que estudar os
pormenores do objecto que se pretende (forma final, dimensões, etc.), escolher os
materiais e as ferramentas, avaliar e encontrar a melhor forma de o produzir, testar um
protótipo e então passar à produção em série. Trata-se, portanto, duma sequência de
fases (com feedback) que pode variar, conforme os diversos autores, produtores e
finalidades.
CAD (Computer Assisted Design, Desenho Assistido por Computador) - A
utilização de meios tecnológicos de desenho mais sofisticado, como o computador, pode
permitir uma visualização mais fácil do objecto em estudo e antecipar muitas correcções
que, de outro modo, só seriam possíveis depois do produto fabricado.
Comunicação - O design é uma actividade fundada na comunicação humana.
Segundo um esquema muito básico, a comunicação implica um emissor - um meio - a
mensagem - um receptor, neste processo pode considerar-se o feedback (retroacção) e a
intervenção de ruído. A mensagem implica a partilha de códigos (uso de signos e sua
significação). Fala-se de denotação quando a mensagem tem nível objectivo e de
conotação quando a mensagem tem nível mais subjectivo, é assim: se denota, o sentido
resulta de uma convenção, se está conotado, quer dizer que há outros sentidos que
dependem da interpretação do intérprete.
Critérios Não Utilitários - Por critérios não utilitários entende-se o valor
simbólico ou cultural que acompanha inerentemente o objecto. Estes critérios são
bastante explorados na criação de necessidades artificiais. Os objectos comunicam
43
connosco segundo determinados códigos de consumo e de recepção, e comunicam de
muitas maneiras, segundo a classe do consumidor, e pelo valor acrescentado do produto
que, em muitos aspectos, resulta do marketing das marcas comerciais. Os objectos
detêm uma função simbólica que ganha contornos não só utilitários (podem até não
existir) mas também políticos e religiosos.
2. 17 FACTORES AMBIENTAIS
Figura 17. Um ecrã de "Factores Ambientais".
Limites do Crescimento Económico - Com a crise do petróleo de 1973, a
sociedade ocidental despertou para os limites do crescimento económico, e o bom senso
apelou para a urgência de um crescimento sustentado, assunto que o sistema capitalista
não gosta muito de ouvir falar, tendo sido uma árdua luta sensibilizar a consciência dos
responsáveis económicos para os problemas ecológicos ou ambientais que derivam da
actividade industrial.
Poluição - A sociedade industrial é o maior factor de poluição. Resíduos
radioactivos, pesticidas, metais pesados, dioxinas, contam-se entre os poluentes mais
perigosos já disseminados pela cadeia alimentar, podendo-se encontrar animais
contaminados mesmo em lugares remotos como a Antárctida.
44
Desflorestação - Mais de um terço das florestas virgens desapareceram, e as
existentes estão ameaçadas. Algumas das que restam em África são alvo de uma política
desbragada de exploração económica por causa das madeiras preciosas. Na Amazónia
fazem-se queimadas que atingem a dimensão de Portugal. Um design consciente deve
evitar utilizar madeiras exóticas ou consideradas raras.
Ameaças à biodiversidade - 10% das espécies de árvores do mundo estão
ameaçadas de extinção. A saúde dos ecossistemas naturais está a deteriorar-se. O WWF
(World Wide Fund for Nature) afirma que, desde 1970, o LPI (Índice do Planeta Vivo)
sofreu um declínio de cerca de 30%.
Buraco do ozono - O ozono existente na estratosfera protege a vida da radiação
ultravioleta. Os gases CFC utilizados em diversos produtos industriais são apontados
como os principais responsáveis pela degradação do ozono originando o famoso buraco.
Situação cujo agravamento pode comprometer a vida no planeta.
Aquecimento global - Os gases resultantes duma excessiva actividade
industrial, o tráfego automóvel, em suma, o combustível fóssil utilizado como principal
fonte de energia nestas actividades, o petróleo, origina um constante aumento de
emissões de monóxido de carbono e óxidos de enxofre causando o famigerado efeito de
estufa.
Energias Alternativas - As matérias-primas não são uma reserva infinita.
Muitas fontes de energia alternativa podem ser incrementadas: a solar, a eólica, o gás,
entre as principais. No consumo doméstico e de trabalho podem ser usadas, com
vantagem económica, as lâmpadas de baixo consumo. Os veículos eléctricos e movidos
a gás também são alternativas viáveis.
Biónica - Com a biónica o mundo dos fenómenos naturais, dos organismos
vivos e das formas estruturais que se encontram na natureza, serve de modelo para a
criação de sistemas e produtos artificiais. Muitas soluções engenhosas são o resultado
da observação e da capacidade de imitação da natureza pelo homem.
45
Design Ambiental - Ou o Green Design. O mais famoso pioneiro foi o norteamericano Richard Buckminster Fuller que nos anos 1920, definiu uma «ciência de
design» capaz de conceber «o máximo com o mínimo». Contra a civilização do
desperdício, Vitor Papanek, autor de Design for a Real World (1971) e de Arquitectura
e Design (1995) foi quem primeiro estabeleceu a relação entre design e consciência
ecológica.
Ciclo de Vida do Produto - Contra a prática da obsolescência planeada, o
design ambiental tem em conta o ciclo de vida do produto, o ciclo que vai desde a
matéria-prima até à deposição do produto numa lixeira, considerando-se o impacto
ecológico de todo este processo. Aumentar a durabilidade de um produto minimiza o
desperdício e o consumo de energia. Por outro lado, a recuperação de componentes e a
reciclagem pode efectivamente minimizar danos ambientais, mas também pode
favorecer a perpetuação de uma cultura do descartável.
Ecodesign - Um bom produto de design cuida dos recursos naturais e do
ambiente. Os consumidores tornaram-se cada vez mais sensíveis aos problemas
ambientais e mostram-se cada vez mais incomodados com produtos que são
ecologicamente perigosos. As toneladas de papel branqueado com cloro, as tintas
tóxicas, e tanto lixo derivado dos materiais e processos de produção, são da
responsabilidade dos produtores e também dos designers. O design deve demonstrar
consciência social e ambiental.
Eco-produto - Para ser ecológico, um produto, para além do seu aspecto
estético, deve ser durável e reciclável. Começam a aparecer empresas que na sua cultura
adoptam uma política do ambiente. Na área da embalagem, muitos fabricantes norteamericanos de pipocas, em vez do poliestireno, usam o milho na produção de
embalagens. Ora o milho é completamente biodegradável. O eco-produto torna-se uma
referência cultural da imagem da empresa. O cuidado das empresas com o ambiente,
não se deve reduzir a uma estratégia de vendas, se isso ajudar, tanto melhor para elas,
fazem a diferença, mas, sobretudo, é uma responsabilidade e uma necessidade que o
processo de produção e o produto sejam ecologicamente amigáveis.
46
Produto Sustentável - Uma alternativa ao design irresponsável e poluente
reside no design de produto sustentável em que se utilizam desperdícios ou materiais
biodegradáveis. Começam a aparecer no mercado produtos que seguem estes princípios.
Materiais que se podem considerar no design de produto sustentável: papel sem ácidos;
plástico reciclado; cola sem formaldeído; embalagem sem poliestireno (esferovite);
pilhas recarregáveis; metal reciclado; revestimentos sem solventes; pneus usados;
borracha reciclada; fibra de madeira reciclada; pigmentos sem metais pesados; papel
reciclado sem cloro...
Bioplásticos - A empresa alemã Biotec em colaboração com o fabricante
holandês de descartáveis De Ster, estão a substituir o plástico pela fécula de batata. Pela
primeira vez este material único foi usado num produto que substitui o plástico
convencional. A fécula é um biopolímero que tem as mesmas propriedades que os
plásticos convencionais, com ele podem-se utilizar as técnicas de injecção de moldes. A
grande vantagem destes descartáveis é eles serem biodegradáveis, tornam-se composto
orgânico para a agricultura e poderão mesmo ser reciclados para produzir ração para
gado.
Tintas - As tintas e vernizes incluem-se entre os produtos mais tóxicos. Os
solventes orgânicos utilizados nas tintas são substâncias cancerígenas, os pigmentos
empregam metais pesados. A empresa Hoechst afirma que para produzir 100 quilos de
corantes sintéticos resultam 600 quilos de lixo tóxico. A indústria gráfica inclui-se, em
Portugal, entre os maiores produtores de lixo tóxico.
Biotintas - São a alternativa. Os seus componentes naturais são biodegradáveis
ou recicláveis, a sua composição inclui óleos de linhaça e resinas vegetais, cera de
abelha, goma-laca, álcool de fermentação, giz, pó de talco, argila, látex, pigmentações
terrosas.
Papel Reciclado - O papel branqueado com cloro é um dos produtos que está na
origem das dioxinas que contaminam a cadeia alimentar. O papel branqueado com
ozono e o papel reciclado são apontados como alternativas. O papel reciclado aproveita
47
os resíduos, reduz a contaminação atmosférica gasta menos 35% de água e 64% de
energia. Contudo, há que ter em conta que existem processos de reciclagem do papel
que utilizam técnicas de extracção das tintas que causam danos ambientais.
Política dos 3 Rs - Como qualquer cidadão, e ainda mais porque o design
começa ao lado do produtor, deve o designer ser responsável em relação às
consequências ambientais dos projectos em que se envolve. A política dos 3 Rs são
medidas básicas que visam minimizar os danos da poluição e do desperdício, estas
medidas são: reduzir; reutilizar; reciclar.
Reduzir - Reduzir resíduos, reduzir no desperdício de materiais, reduzir no
consumo de energia. Na área de produto e embalagem implica evitar volumes
exagerados, utilizar menos material e sempre reciclável.
Reutilizar - Encarar sempre a possibilidade da reutilização dos produtos e
embalagens. A reutilização de produtos e de materiais pode gerar novos produtos. Não
utilizar materiais que possam causar danos ambientais e preferir sempre materiais que
possam ser reutilizáveis e / ou recicláveis.
Reciclar - Reciclar consiste em transformar material inutilizado de novo em
material utilizável. Começa a ser comum reciclar o vidro, papel, metal e também
plásticos. Os produtores e os designers devem prever a reciclagem dos materiais
utilizados nas mercadorias que produzem. Um problema actual de reciclagem prendese com a reciclagem dos componentes (alguns tóxicos) dos computadores que se deitam
fora.
48
1 - INTRODUÇÃO
Neste anexo apresenta-se, dada a sua particular relevância, o texto científicopedagógico das lições contidas no protótipo evolutivo design.intro, assim como, uma
cronologia organizada para o mesmo e, para concluir, as suas referências bibliográficas.
Impunha-se, deste modo, registar estes conteúdos em suporte de papel e facilitar a sua
consulta por este meio sempre que se entender necessário.
Aproveita-se, igualmente, a oportunidade desta introdução para aqui resumir o
teor do texto de esclarecimento que no protótipo segue designado como "Leia-me".
Apresenta-se design.intro como uma versão beta de site educacional que se destina a
apoiar alunos e professores dos cursos de design e artes em geral. São estes o seu
público-alvo. Contudo, pode, com vantagens, julga-se, apoiar eventualmente projectos
de educação visual e também servir todos os que se interessem pelo assunto. O
objectivo do autor é contribuir para a compreensão do design.
Disposições legais do documento hipermédia design.intro:
1) O conteúdo pedagógico apresentado em design.intro é propriedade do seu
autor.
1
2) Ao abrigo do disposto no artigo 75º alíneas e), f), e g) do Código de Direitos
de Autor declara-se que todos os recursos fotográficos, musicais ou outros
utilizados destinam-se a fins exclusivamente didácticos. design.intro não tem
qualquer carácter comercial.
3) Se uma qualquer entidade reconhecer direitos de propriedade sobre qualquer
um dos recursos fotográficos, musicais ou outros, por favor, contactar via email <[email protected]> e imediatamente o objecto digital será
retirado.
2
ÍNDICE
ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................
IV
1
INTRODUÇÃO ..................................................................................................
1
2
TEXTO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DO PROTÓTIPO ..........................
3
2.1
O que é Design? ..........................................................................................
3
2.2
Revolução Industrial ...................................................................................
6
2.3
Arts and Crafts ............................................................................................
9
2.4
Art Nouveau ................................................................................................
11
2.5
Werkbund ....................................................................................................
14
2.6
Vanguardas .................................................................................................
16
2.7
Bauhaus .......................................................................................................
18
2.8
Art Déco ......................................................................................................
21
2.9
Styling .........................................................................................................
23
2.10 Estilo Internacional .....................................................................................
26
2.11 Organic Design ...........................................................................................
28
2.12 Good Form ..................................................................................................
30
2.13 Experimentação ...........................................................................................
32
2.14 Pós-Modernismo .........................................................................................
35
2.15 Factores Económicos ..................................................................................
37
ii
2.16 Factores Humanos .......................................................................................
40
2.17 Factores Ambientais ....................................................................................
44
3
TÁBUA CRONOLÓGICA DO DESIGN .........................................................
49
4
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................
69
iii
ÍNDICE DE FIGURAS
1.
Primeiro ecrã "O que é Design?"
3
2.
Um ecrã de "Revolução Industrial"
6
3.
Último ecrã de "Arts and Crafts"
9
4.
Um ecrã de "Art Nouveau"
11
5.
Um ecrã (full screen) de "Werkbund"
14
6.
Um ecrã (full screen) de "Vanguardas"
16
7.
Um ecrã de "Bauhaus"
18
8.
Um ecrã de "Art Déco"
21
9.
Um ecrã de "Styling"
23
10. Último ecrã de "Estilo Internacional"
26
11. Um ecrã (full screen) de "Organic Design"
28
12. Primeiro ecrã de "Good Form"
30
13. Um ecrã de "Experimentação"
32
14. Um ecrã (full screen) de "Pós-Modernismo"
35
15. Um ecrã (full screen) de "Factores Económicos"
37
16. Um ecrã (full screen) de "Factores Humanos"
40
17. Um ecrã de "Factores Ambientais"
44
18. Ecrã inicial da "Cronologia"
49
iv
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
ANEXO
design.intro
UM DOCUMENTO HIPERMÉDIA - UMA INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO
JOAQUIM FERNANDO PINTO GONÇALVES DA SILVA
Mestrado em Educação Multimédia
2002
APÊNDICE 1
QUESTIONÁRIO
Gostaríamos que registasse os seus comentários a respeito deste
programa com o objectivo de realizarmos as correcções necessárias.
Esta avaliação é confidencial, portanto, não é necessário identificar-se
ou assinar.
-<>-
Diga-nos qual a sua primeira impressão acerca deste programa
colocando um X na seguinte escala:
MUITO MAU
I.
1
2
3
4
5
MUITO BOM
Quanto ao conteúdo do programa:
1
2
3
4
5
Interessante
Bem organizado
Criativo
Lógico
Informativo
Apresentado de modo correcto
Com grau de dificuldade adequado
Impressão global
1
II.
Ensino - aprendizagem:
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Faculta um modo agradável de aprender
Permite aprender mais depressa
Facilita a aprendizagem
Contribui para a compreensão do assunto
Torna acessível os temas do assunto
Variedade de modelos
Uso de reforços
Auxílios úteis
Facilidade de compreensão
Encadeamentos correctos
Impressão global
III.
Ecrã:
a) Apresentação do ecrã
Layout
elementos visuais
Densidade do texto
b) Imagem
Qualidade
Uso apropriado
c) Cor
Uso apropriado
Boa selecção de cores
Ambiente atractivo
Facilita a legibilidade
Impressão global
2
IV.
Matriz multimédia:
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Variedade de modelos
Interesse pedagógico
Animação suficiente
Interface eficaz
Facilidade de navegação
Impressão global
V.
Estilo de escrita:
Vocabulário adequado
Auxilia a aprendizagem
Motivador
Impressão global
VI.
Usabilidade:
Fácil de aprender
De uso eficiente
Fácil de relembrar
Pouco sujeito a erros
Agradável de usar
Impressão global
-<>-
3
Observações:
- Diga o que gostou mais neste programa.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
- Diga o que não gostou ou gostou menos neste programa.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Caracterização
1. Sexo:
Masculino
2. Idade:
18-25
26-35
Feminino
36-45
46-55
+de 56
3. Curso:________________________________________________
4. Situação profissional:____________________________________
5. Níveis de ensino que lecciona:
só secundário
3º ciclo + secundário
3º ciclo
6. Grupo:_______________________________________________
7. Disciplinas que lecciona:_________________________________
8. Escola:_______________________________________________
4
10 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AFONSO, Ana Paula (2001). Comunidades de Aprendizagem: um Modelo para a Gestão da
Aprendizagem. In Paulo M. B. da Silva Dias & Cândido V. de Freitas (Org.s), Desafios
2001 / Challenges 2001 – Actas da II Conferência Internacional de Tecnologia da
Informação e Comunicação na Educação, Centro de Competência Nónio Século XXI da
Universidade do Minho.
ANIDO, L. & al. (2000). Creating Collaborative Environments for Web-based Training
Scenarios. In Actas do 2º Simposio Internacional de Informática Educativa. Puertollano.
ANDRADE, António & MACHADO, Altamiro B. (2001). Comunidades de Aprendizagem do
Urbanismo à Gestão. In Paulo M. B. da Silva Dias & Cândido V. de Freitas (Org.s),
Desafios 2001 / Challenges 2001 – Actas da II Conferência Internacional de Tecnologia
da Informação e Comunicação na Educação, Centro de Competência Nónio Século XXI
da Universidade do Minho.
APPIGNANESI, Richard & GARRATT, Chris (1997). Pós-Modernismo para Principiantes.
Lisboa, Publicações Dom Quixote. (Trabalho original em inglês publicado em 1995)
ARONSON, Daniel (1998). Introduction to Systems Thinking. Thinking Page, URL:
<http://www.thinking.net/Systems_Thinking_to_ST/intro_to_st.html>
104
AUGÉ, Marc (1998). Não-Lugares. (2.ª ed.) Lisboa, Bertrand. (Trabalho original em francês
publicado em 1992)
AUGÉ, Marc (1998). A Guerra dos Sonhos. Oeiras, Celta. (Trabalho original em francês
publicado em 1997)
BACHELARD, Gaston (1976). Filosofia do Novo Espírito Científico. (2.ª ed.) Lisboa,
Presença. (Trabalho original em francês publicado em 1934)
BAKALI, (2002, Março). A Fábula dos Quanta. Exame Informática, 81, p. 22.
BARBIER, René (s.d.). La Recherche-Action Existentielle. Université Paris 8, URL:
<http://www.fp.univ-paris8.fr/recherches/RAInternet.Html>
BARRETT, Maurice (1982). Educação em Arte. Lisboa, Presença. (Trabalho original em inglês
publicado em 1979)
BASKERVILLE, Richard L. (1999). Investigating Information Systems with Action Research.
Communications of the Association for Information Systems, vol. 2, art. 19, October. URL:
<http://www.cis.gsu.edu/~rbaskerv/CAIS_2_19/CAIS_2_19.html>
BAUDRILLARD, Jean (1991). Simulacros e Simulação. Lisboa, Relógio d´Água. (Trabalho
original em francês publicado em 1981)
BENJAMIN, Walter (1992). A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica. In Sobre
Arte, Técnica, Linguagem e Política. Lisboa, Relógio d´Água. (Trabalho original em
alemão publicado em 1955)
BINDÉ, Jérome (2002, Março). O Devir do Tempo. Le Monde Diplomatique, 36, pp. 10-11 (ed.
portuguesa).
BLAKE, William (1996). Os Portões do Paraíso. Lisboa, Antígona. (Trabalho original em
inglês publicado em 1793)
BONNAL, Nicolas (2001). Internet. A Nova Via Iniciática. Lisboa, Piaget. (Trabalho original
em francês publicado em 2000)
105
BONSIEPE, Gui (1992). Teoria e Prática do Design Industrial. Lisboa, Centro Português de
Design. (Trabalho original em italiano publicado em 1975)
BORGES, Natacha (2001, Outubro). Usabilidade. Page, n.º 27, pp. 36-53, Lisboa.
BOTTINO, Rosa Maria (2000). Advanced Learning Environments: Changed Views and Future
Perspectives. In Actas do 2º Simposio Internacional de Informática Educativa. Puertollano.
BRUNER, Jerome (1960). The Process of Education. (24ª ed.) Cambridge, Harvard University
Press.
CARDINAL, Pierrette & MORIN, André (s.d.). La Modélisation Systématique Peut-Elle se
Concilier avec la Recherche-Action Intégrale?. URL:
<http://www.fse.ulaval.ca/fac/tem/reveduc/html/vol1/no2/morin.html>
CARREIRA, Medina (1996). O Estado e a Educação. Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa e Público.
CARRILHO, Manuel Maria (1989). Itinerários da Racionalidade. Lisboa, Dom Quixote.
CARVALHO, Ana A. A. (2001). Princípios para a Elaboração de Documentos Hipermédia. In
Paulo M. B. da Silva Dias & Cândido V. de Freitas (Org.s), Desafios 2001 / Challenges
2001 – Actas da II Conferência Internacional de Tecnologia da Informação e
Comunicação na Educação, Centro de Competência Nónio Século XXI da Universidade
do Minho.
CARVALHO, Maria (1995). O Computador no Ensino Artístico. O Jogo da Interactividade na
Construção da Significação da Imagem - uma Aplicação Prática. Tese de Mestrado
inédita. Braga, Universidade do Minho, Instituto de Educação.
COELHO, Sónia M. M. (2001). Educação, Imaginário e Cultura dos Media: um Desafio. In
Paulo M. B. da Silva Dias & Cândido V. de Freitas (Org.s), Desafios 2001 / Challenges
2001 – Actas da II Conferência Internacional de Tecnologia da Informação e
Comunicação na Educação, Centro de Competência Nónio Século XXI da Universidade
do Minho.
106
COTTON, Bob & OLIVER, Richard (1997). Understanding Hypermedia 2000 : Multimedia
Origins, Internet Futures. Phaidon.
DEPARTAMENTO DO ENSINO SECUNDÁRIO (2000). Revisão Curricular no Ensino
Secundário. Lisboa, Ministério da Educação.
DEWEY, John (1938). Democracy and Education. The Project Gutenberg etext, URL:
<http://promo.net/pg/>
DIAS, Paulo, GOMES, M. J. & CORREIA, Ana P. S. (1998). Hipermédia & Educação. Braga,
Casa do Professor.
DICK, Bob (2000). Occasional Pieces in Action Research Methodology. URL:
<http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arm/>
DOSSIER: Home Appliances (2002, Março). Bit, 42, pp. 70-75: Autor.
ECO, Umberto (1991). Apocalípticos e Integrados. Lisboa, Difel. (Trabalho original em italiano
publicado em 1964)
FIRMINO, Teresa (2001, 7 de Dezembro). O bosão de Higgs não dá sinais de existência.
Público, p. 38.
FOSNOT, C. T., GREENE, M. & al. (1999). Construtivismo & Educação. Lisboa, Instituto
Piaget. (Trabalho original em francês publicado em 1996)
GAGO, Mariano (2002, Março). Entrevista à Exame Informática, 81, pp. 26 - 28.
GLASERSFELD, Ernest von (1996). Construtivismo Radical. Lisboa, Instituto Piaget.
(Trabalho original em inglês publicado em 1995)
GOWAN & al. (2001, Outubro). Os Motores de Busca Internacionais. PC World, 228, pp. 2835.
HEIDEGGER, Martin (1995). Língua de Tradição e Língua Técnica. Lisboa, Vega. (Trabalho
original em alemão publicado em 1962)
107
HERÁCLITO (1997). Fragmentos. Paris, Farândola (1992). (Trabalho original em grego, 540 470 a.C.)
HÕLDERLIN (1991). Poemas. Lisboa, Relógio d´Água. (Trabalho original em alemão, 1770 1843).
KELLNER, Douglas (s.d.). Baudrillard: a New Mcluhan?. Illuminations, URL:
<http://www.uta.edu/huma/illuminations/kell26.htm>
KERCKHOVE, Derrick de (1997). A Pele da Cultura. Lisboa, Relógio d´Água. (Trabalho
original em inglês publicado em 1995)
KETELE, Jean-Marie & ROEGIERS, Xavier (1999). Metodologia da Recolha de Dados.
Lisboa, Instituto Piaget. (Trabalho original em francês publicado em 1993)
LAGE, Fernando J. & al. (2000). Design Methodology and Educational Software Development:
Some Critical Points. In Actas do 2º Simposio Internacional de Informática Educativa.
Puertollano.
LE MOIGNE, Jean-Louis (1996). Teoria do Sistema Geral. Lisboa, Instituto Piaget. (Trabalho
original em francês publicado em 1994a)
LE MOIGNE, Jean-Louis (1999). O Construtivismo – dos Fundamentos. Lisboa, Instituto
Piaget. (Trabalho original em francês publicado em 1994b)
LESLÉ, François & MACAREZ, Nicolas (1998). Le Multimédia. Paris, Presses Universitaires
de France.
LESSARD-HÉBERT, Michelle, GOYETTE Gabriel & BOUTIN, Gérald (1994). Investigação
Qualitativa: Fundamentos e Práticas. Lisboa, Instituto Piaget. (Trabalho original em
francês publicado em 1990)
LÉVY, Pierre (2001). O que é Virtual?. Coimbra, Quarteto. (Trabalho original em francês
publicado em 1998)
LIMA, Isabel & CHAVES, José H. (2001). Imagem: “Os Caminhos que se Bifurcam”. In Paulo
M. B. da Silva Dias & Cândido V. de Freitas (Org.s), Desafios 2001 / Challenges 2001 –
108
Actas da II Conferência Internacional de Tecnologia da Informação e Comunicação na
Educação, Centro de Competência Nónio Século XXI da Universidade do Minho.
LOURENÇO, Eduardo (1998). O Esplendor do Caos. Lisboa, Gradiva.
LYOTARD, Jean-François (1989). A Condição Pós-Moderna. (2.ª ed.) Lisboa, Gradiva.
MCLUHAN, Marshall (1979). Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. São
Paulo, Editora Cultrix. (Trabalho original em inglês publicado em 1964)
MCLUHAN, Marshall & FIORE, Quentin (1967). The Medium is the Massage. Gingko Press
(Reimpressão, 2001).
MCLUHAN, Marshall & FIORE, Quentin (1968). War and Peace in the Global Village.
Gingko Press, (Reimpressão, 2001).
MOREIRA, Vasco da Costa (2001). As Novas Tecnologias para uma Escola de Sedução: a
Cultura de Coabitação no Ciberespaço. In Paulo M. B. da Silva Dias & Cândido V. de
Freitas (Org.s), Desafios 2001 / Challenges 2001 – Actas da II Conferência Internacional
de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, Centro de Competência Nónio
Século XXI da Universidade do Minho.
MORIN, Edgar (2001). Introdução ao Pensamento Complexo. (3.ª ed.) Lisboa, Instituto Piaget.
(Trabalho original em francês publicado em 1990)
NEGROPONTE, Nicholas (1996). Ser Digital. Lisboa, Caminho. (Trabalho original em inglês
publicado em 1995)
NIELSEN, Jacob & al. (2001). Make it Usable. URL:
<http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2671180-92,00.html>
PANOFSKY, Erwin, (1993). A Perspectiva como Forma Simbólica. Lisboa, Edições 70.
PAPANEK, Victor (1997). Arquitectura e Design. Lisboa, Edições 70. (Trabalho original em
inglês publicado em 1995)
109
PAPERT, Seymour (1997). A Família em Rede. Lisboa, Relógio d´Água. (Trabalho original em
inglês publicado em 1996)
PEREIRA, Duarte Costa (2001). Construtivismo(s) e as Tecnologias de Informação e
Comunicação em Educação. Relatório preparado para a II Conferência Internacional de
Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação - Desafios 2001 / Challenges 2001,
Centro de Competência Nónio Século XXI da Universidade do Minho.
PIAGET, Jean (1973). Problemas Gerais da Investigação Interdisciplinar e Mecanismos
Comuns. Lisboa, Livraria Bertrand. (Trabalho original em francês publicado em 1970)
PIAGET, Jean (1972). Psicologia e Epistemologia. Lisboa, Dom Quixote. (Trabalho original
em francês publicado em 1970)
PIAGET, Jean (1972). Problemas de Psicologia Genética. Lisboa, Dom Quixote.
PONTE, João (1992). O Computador – um Instrumento da Educação. (6.ª ed.) Lisboa, Texto.
POSTMAN, Neil (1993). Tecnopolia. Lisboa, Difusão Cultural. (Trabalho original em inglês
publicado em 1992)
PULLMAN, Chris (1998). Some Things Change... In Steven Heller (Dir.), The Education of a
Graphic Designer. Allworth Press.
RAMONET, Ignacio (1998). Geopolítica do Caos. (2.ª ed.) Petrópolis, Vozes. (Trabalho
original em francês publicado em 1997)
ROBINSON, Dave & GROVES, Judy (1999). Filosofia para Principiantes. Lisboa, Dom
Quixote. (Trabalho original em inglês publicado em 1995)
ROMANYSHYN, Robert D. (2000). The Dream Body in Cyberspace. The C. G. Jung Page.
URL: <http://www.cgjungpage.org/psychtech/rrdreambody.html>
SANTOS, Boaventura de Sousa (1987). Um Discurso sobre as Ciências. (12ª ed., 2001) Porto,
Afrontamento.
SAVATER, Fernando (1997). O Valor de Educar. Lisboa, Presença.
110
SENGE, Peter & O´NEIL, John (1995). On Schools as Learning Organizations: a Conversation
with Peter Senge. Educational Leadership, Vol. 52, n.º 7, Abril. URL:
<http://www.ascd.org/readingroom/edlead/9504.html>
SMITH, Mark K. (2001). Peter Senge and the Learning Organization. The Encyclopedia of
Informal Education, URL: <http://www.infed.org/thinkers/senge.htm>
SPRINTHALL, Norman A.; SPRINTHALL, Richard C. (1993). Psicologia Educacional.
Lisboa, McGraw Hill. (Trabalho original em inglês publicado em 1990)
UNDERSTANDING COMPUTERS (1985). Computer Basics. Time-Life Books: Autor.
VALÉRY, Paul (1994). Apontamentos. Lisboa, Pergaminho. (Trabalho original em francês
publicado em 1910)
VALIATI, Eliani & al. (2000). Utilizando Professores como Avaliadores Heurísticos de
Interfaces de Software Educacionais. In Actas do 2º Simposio Internacional de Informática
Educativa, Puertollano.
VARELA, Francisco (1995). Sobre a Competência Ética. Lisboa, Edições 70. (Trabalho
original em francês publicado em 1992)
VARELA, Francisco & SCHARMER, C. Otto (2000). The Three Gestures of Becoming Aware,
Conversation with Francisco Varela. Dialog on Leaders, URL:
<http://www.dialogonleadership.org>
VATTIMO, Gianni (1991). A Sociedade Transparente. Lisboa, Edições 70. (Trabalho original
em italiano publicado em 1989)
VEIGA, Pedro (2002, Março). Correcção de um artigo publicado. Exame Informática, p. 8.
VIRILIO, Paul (1993). A Inércia Polar. Lisboa, Dom Quixote. (Trabalho original em francês
publicado em 1990)
VIRILIO, Paul (2000). A Velocidade de Libertação. Lisboa, Relógio d´Água. (Trabalho original
em francês publicado em 1995)
111
VIRILIO, Paul (2000). Cibermundo: A Política do Pior. Lisboa, Teorema. (Trabalho original
em francês publicado em 1996)
VYGOTSKY, Lev S. (2001). Pensamento e Linguagem. Vol.. 1, V. N. Gaia, Estratégias
Criativas. (Trabalho original em russo publicado em 1934)
WATZLAWICK, Paul (1991). A Realidade é Real?. Lisboa, Relógio d´Água.
112
9 - UM PROTÓTIPO EVOLUTIVO: DESIGN.INTRO
Por fim, maduro o ovo, ele sai da casca
William Blake
9.1
Objectivos do Protótipo design.intro
9.1.1
Domínio Pedagógico
O público-alvo principal de design.intro são os alunos do ensino secundário da
área das artes, com idades situadas entre os 16 e os 18 anos, mas também quer-se aberto
a outros públicos interessados na compreensão do design.
O uso de material multimédia, incluindo texto, áudio, vídeo e animação, os
ambientes hipermédia, oferecem aos estudantes ambientes envolventes que suscitam
realmente maior motivação e entusiasmo. Este facto é ainda mais notável se for a
Internet o suporte hipermédia utilizado. A capacidade hipermédia da navegação cria um
ambiente em que o aprendiz é guia da sua própria aprendizagem. Esta possibilidade já
foi apontada por diversos autores (cit.s in Anido & al., 2000) que constataram que os
estudantes aprendem mais rapidamente quando são estimulados com meios tecnológicos
interactivos.
89
O processo de ensino e aprendizagem baseado em computador contribui para
que o aprendiz seja o centro do processo, explorando ambientes e construindo o seu
conhecimento. A universalidade da Web faz dela uma plataforma ideal para fazer chegar
ao aprendente material educativo, em qualquer parte em qualquer altura, com ambientes
interactivos.
O ponto de partida pedagógico situa-se na abordagem construtivista da
educação, com adequados ambientes de aprendizagem (Greene, 1996):
A aprendizagem faz-se com muito mais sucesso em ambientes onde existe intercâmbio e
descobertas partilhadas. Tem de haver pessoas que possam revelar aquilo que ainda não foi observado
nem escutado, pessoas que possam estimular os jovens a ir mais longe. Ir mais além é compreender que
existe uma tradição e uma comunidade de conhecedores e de pesquisadores, mas nenhum deles com
respostas conclusivas a qualquer questão e todos eles empenhados numa construção comum do
conhecimento.
design.intro é um ambiente de aprendizagem, um projecto de hiperdocumento,
uma ferramenta referencial para apoiar a construção do conhecimento, a compreensão
do design. Um ambiente para uma comunidade de aprendedores (onde se inclui o
professor) empenhados na acção, no debate, na reflexão e na concepção.
Sobretudo apresentando-se como um produto online, porque «o multimédia será
predominantemente um fenómeno online» (Negroponte, 1995), design.intro não se fixa
a um único tipo de utilização, poderá servir para apoio multimédia da aula, pode estar
em casa do aluno que estiver ligado à Web, pode ser uma sequência de aulas, poderá
estar disponível para a consulta dos alunos na escola, enfim, deseja ser tão flexível
quanto um computador. Também se deixou em alternativa, a sua apresentação em
suporte CD.
Papert (cit. in Ponte, 1992) distingue dois tipos de aprendizagem, a sintónica e a
dissociada. «Na aprendizagem sintónica o aluno empenha-se profundamente,
relacionando o que está a aprender (...) Na aprendizagem dissociada intervém a
memorização». Para Papert o computador facilita a aprendizagem quando se trabalha
com um propósito definido, facilita a aprendizagem sintónica.
90
O uso da teoria de Bruner (1960) diz-nos que o aprendiz constrói a
aprendizagem com a sua própria experiência. As actividades propostas na forma de
roteiro, jogos ou testes, também contribuem para uma aprendizagem significativa e de
um modo que pode ser completamente autónomo.
Como documento hipermédia, design.intro tanto funciona online, na Internet,
como em suporte CD. Aqui pode prestar-se como mais um instrumento da comunidade
de aprendizagem, onde as pessoas se conhecem no mundo físico e utilizam a tecnologia
e, estando online, no ciberespaço, pode ir ao encontro de pessoas que não se conhecem
que poderão estabelecer uma comunidade virtual de aprendizagem. A possibilidade em
aberto de implementar páginas de fórum e de chat funcionaria nesse sentido.
As comunidades virtuais têm os seus próprios atributos que se podem sintetizar a
partir da tipologia de Carver (1999, cit. in Andrade & Machado, 2001), são: aespaciais;
acorporais; anastigmáticas (i.e. não temos quaisquer dados físicos dos participantes, a
não ser que se implemente a videoconferência); anónimas (permitindo desenvolver a
fluidez da identidade); assíncronas (os contactos ocorrem sem ser em tempo real).
9.1.2
Domínio Multimédia
Quando os elementos da matriz multimédia, tais como texto, imagem, áudio,
vídeo e animação, são entregues por um meio através do qual o utilizador pode navegar,
denominam-se hipermédia. «O multimédia não inclui necessariamente a utilização do
computador» (Dias & al., 1998). Estes ambientes multimédia estruturalmente ligados
pelo mesmo meio são, portanto, conhecidos por sistemas hipermédia. A sua maior
particularidade, proporcionada pela navegação, consiste na capacidade de fazer dos
aprendizes, os guias da sua própria aprendizagem.
Neste domínio, procura-se oferecer texto e imagem, sobretudo porque este é um
objectivo prioritário, tratando-se de um documento hipermédia com carácter
educacional, dedicado à compreensão do design. Mas, como não podia deixar de ser,
também se oferece áudio e animação, prevendo-se, ou sugerindo para futuras versões, a
inclusão de vídeo e, dado o incremento possível da interactividade, de fórum e de chat.
91
9.1.3
Domínio Lúdico
Platão na República denunciava o uso da força como forma de educar as
crianças e propunha que elas deveriam ser ensinadas jogando. Também Celestin Freinet
e Maria Montessori incorporaram esta perspectiva lúdica nos seus métodos pedagógicos
(Savater, 1997). Se a criança pelo jogo aprende sem para tal sentir-se obrigada, que
melhor caminho para educar que este podemos conceber?
Ora, o jogo é uma actividade fundamental tanto para crianças como para adultos,
segundo Huizinga (cit. in Savater, 1997) o homem também é homo ludens. Embora se
reconheça que a educação não possa necessariamente reduzir-se ao jogo, pode,
sobremodo, ver-se nas actividades lúdicas um incentivo muito estimulante para iniciar
as aprendizagens. Aproveitando a inclinação das pessoas para o jogo é possível ensinar-lhes muitas coisas.
Os jogos podem ser um meio de fomentar o interesse pelo computador e, se se
incluem numa aplicação educacional, como é este o caso, podem intervir de modo
essencial para o crescimento cognitivo e social. Nos jogos electrónicos há
interactividade. Com os jogos e passatempos propostos em design.intro procurou-se
retirar alguma "gravidade", inerente a alguma utilização de carácter sumativo, que
eventualmente lhe venha a ser dada. Chamou-se jogos a testes de escolha múltipla
porque a ênfase na tarefa de avaliação foi deixada ao utilizador que, porventura, verá
aqui novos desafios de auto-avaliação. Aliou-se o lúdico ao formativo como estratégia.
Sabendo-se como a avaliação desempenha um papel de consolidação de conhecimentos
adquiridos, deixou-se ao utilizador essa tarefa de, recreando-se, também se auto-avaliar
ludicamente.
O facto de design.intro se apresentar em suporte tecnológico multimédia, já lhe
acrescenta um carácter lúdico e interactivo, isto se se considerar que a sua usabilidade
foi alcançada. Extrapolando o famoso conceito de Papert (1996), dir-se-ia que
design.intro quis idealizar-se como um «micromundo», útil, coerente, atractivo,
«suficientemente limitado para ser exaustivamente explorado e completamente
compreendido» (p. 92).
92
9.2
Arquitectura de design.intro
9.2.1
Dimensão temática
O design envolve os nossos estilos de vida de um modo que frequentemente é
ignorado, ele reveste uma dimensão da economia, do quotidiano, dos equipamentos e
dos meios de comunicação que exige pois a sua compreensão e estudo, em particular
para aqueles que dele fazem uma escolha profissional e de formação académica.
Elegeu-se, portanto, esta temática como leit motiv de um protótipo multimédia
educacional. A importância da teoria do design reconhece-se no facto de esta permitir o
desenvolvimento da capacidade de análise e de crítica do quotidiano, ampliando e
aprofundando uma visão global do papel do design e do designer na sociedade. Esta
formação é fundamental num aluno orientado para as artes, quer dos cursos gerais quer
dos tecnológicos.
Pretendeu-se atribuir características de manual de teoria do design online /
offline, respondendo-se às recomendações curriculares e estruturais do Programa de
Teoria do Design do Ministério da Educação. Este protótipo poderá evidentemente vir a
ser enriquecido, tanto na sua dimensão multimédia como na sua dimensão didáctica,
com novos desempenhos, novos conteúdos e um maior aprofundamento dos temas
tratados.
Após uma página de introdução à matéria denominada: "O que é Design?";
abordam-se em primeiro lugar os conteúdos históricos inerentes à evolução do design,
com as páginas denominadas: "Revolução Industrial I"; "Revolução Indistrial II; "Arts
& Crafts"; "Art Nouveau"; "Werkbund"; "Vanguardas"; "Bauhaus"; "Art Déco";
"Organic Design"; "Estilo Internacional"; "Styling"; "Good Form"; "Experimentação";
"Pós-Modernismo". As páginas restantes introduzem os factores mais importantes que
informam a teoria e a prática do design, tais como: "Factores Humanos I" que continua
em "Factores Humanos II"; "Factores Económicos"; "Factores Ambientais I" com
continuação em "Factores Ambientais II". Com as doze páginas da "Cronologia"
procurou-se assinalar os marcos mais importantes da evolução do design (cf. anexo). As
páginas de "Jogos e Passatempos" pretendem assumir um carácter lúdico na avaliação
93
de conhecimentos, tornando esta tarefa mais aliciante para o interessado. O "Roteiro"
propõe pistas para uma investigação na Internet de conteúdos da teoria do design.
O recurso à imagem é fundamental enquanto expõe de maneira ilustrativa a
teoria para que a forma evidencie o conteúdo. Procurou-se uma apresentação, sempre
que possível, contextualizada, assim como a simplificação da informação.
Na estruturação de design.intro procurou-se atingir objectivos de simplificação e
clarificação de conteúdos, indo ao encontro das expectativas tanto de alunos como de
professores. Pretende-se igualmente responder a necessidades de formação e de
actualização num meio e num mercado que manifesta carências nesta área.
9.2.2
Dimensão Tecnológica
Conforme já foi dito e referido, a aplicação design.intro foi concebida para
correr na Web (cf. URL: <http://nautilus.fis.uc.pt/cec/designintro>) e igualmente como
software em suporte CD com inclusão da função de arranque automático.
Na concepção das páginas do site procurou-se mantê-las leves de forma a
permitir o seu carregamento online em menos de 20 segundos. As páginas maiores terão
à volta de três ecrãs. Sempre que a informação necessária de um qualquer tema excede
este limite, apresenta-se a sua continuidade em páginas seguintes, sempre assinaladas
quanto ao seu número e localização actual. Pretendeu-se uma navegação facilitada e
capaz de diminuir a ocorrência de equívocos. «À potencialidade dos hipertextos de
organizarem a informação de forma não linear está subjacente o conceito de dois
elementos básicos: o nó (node) de informação e a ligação (link)» (Dias & al. 1998).
Na página "Roteiro" incluiu-se o motor de busca Google (search engines),
considerado por muitos especialistas o favorito no seu género (Gowan & al., 2001,
Outubro). A Web serve muitos milhões de páginas de informação e, por isso, torna-se
necessário um motor de busca poderoso para encontrar aquilo que procuramos. A
tecnologia de pesquisa evoluiu, e é notório que alguns motores de busca proporcionam
maiores probabilidades de colocarem o link relevante no topo da primeira página de
resultados, ou próximo. Com efeito, o Google continua a merecer um certo favoritismo
94
por melhor responder a critérios de relevância, funções avançadas, actualidade de
resultados e facilidade de utilização. Os motores de busca podem indexar milhões de
páginas Web utilizando um programa conhecido como spider. Estas informações são
compiladas num índice muito semelhante a um ficheiro de cartões de uma biblioteca e
depois procura links com páginas que pareçam condizer com o termo pesquisado.
Com a inserção da tecnologia Google na página do "Roteiro" o utilizador pode
realizar pesquisas directamente a partir de design.intro.
Javascript é uma linguagem de criação de scripts desenvolvida pela Netscape
Communications e pela Sun Microsystems. Utiliza-se para adicionar aplicações e
funções básicas às páginas. Trata-se de uma linguagem limitada no seu desempenho em
comparação com o Java, mas é mais fácil e insere-se facilmente em conjunto com o
código HTML. Utilizaram-se diversos scripts freeware disponíveis no site
<http://javascript.internet.com>, entre outros, que foram alterados e, na maioria dos
casos, adicionados de forma a poder corresponder às necessidades do projecto de cada
uma das páginas que utilizam esta linguagem, como a página de rosto, a home page e as
páginas ditas de "Jogos". Outra intervenção nesta área que será conveniente referir
incidiu na modificação dos estilos e dos conteúdos dos scripts utilizados.
Entre as ferramentas utilizadas na concepção e desenvolvimento das páginas de
design.intro, destacam-se da Macromedia, o Dreamweaver na programação HTML e
inserção de media; o Fireworks no desenho de imagens para logotipos e alguma
tipografia; O Photoshop da Adobe no tratamento e edição de imagens; o Quicktime da
Apple como plug-in para correr a música de formato MP3.
9.2.3
Dimensão organizacional
Seguindo os preceitos da usabilidade, dadas as características educacionais do
projecto, procurou-se cumprir os aspectos mais funcionais, segundo a boa e velha
máxima de que «a forma segue a função». Também um documento hipermédia enfatiza
a interactividade, o que «proporciona ao utilizador controlo sobre o documento»
(Carvalho, 2001). Assim, a usabilidade, a interactividade e a temática do documento
constituem-se principais percursores organizacionais deste protótipo evolutivo.
95
9.2.3.1 Metodologia
Como metodologia seguiu-se uma sequência de etapas definidas para
incrementar o ciclo de vida do protótipo, nomeadamente:
-
exequibilidade. Ponderando-se vantagens e desvantagens;
-
requisitos. Onde se consideraram as funcionalidades, interfaces e design necessário
para o desenvolvimento da aplicação;
-
design do protótipo. O que incluiu a pesquisa e a elaboração de todo o conteúdo
textual; a pesquisa e recolha de imagens; um plano organizacional;
-
design detalhado. Entende-se aqui o modo como a informação é estruturada ou
coreografada, a construção de uma identidade gráfica, a interface e características
da navegação;
-
desenvolvimento do protótipo. A codificação processou-se com o recurso a
ferramentas de edição como a Dreamweaver, a Flash e a Fireworks da Macromedia;
a Photoshop da Adobe e igualmente a linguagem de programação Javascript;
-
implementação e avaliação. No âmbito desta investigação-acção houve uma
primeira implementação (cf. cap.º 7) e avaliação em Dezembro de 2001 (cf. cap.º 8).
Esse feedback permitiu a modelização que ora se apresenta como obra em processo
evolutivo;
-
design e implementação final. Por "final" refere-se esta última implementação com
os ajustamentos entendidos por necessários mais os melhoramentos e a optimização
do protótipo actual;
-
manutenção do projecto. Para lá da manutenção e das correcções que
eventualmente possam ser feitas, os objectivos estabelecidos podem ser repetidos
em qualquer altura, prevendo as possíveis transições para sucessores da aplicação
design.intro.
96
Procurou-se produzir um produto de instrução que se presume de acordo com
uma perspectiva construtivista de metáfora participativa. design.intro dá ao utilizador a
possibilidade de navegar pela aplicação da forma que mais desejar, aleatória, deliberada
ou sequencialmente, permitindo-se uma gestão do tempo de aprendizagem e em função
das necessidades. A arquitectura de design.intro procura reflectir a sua finalidade, o tipo
de aprendizagem pretendido, as tarefas que se poderão realizar, o destinatário, o
assunto. A versão que se apresenta é constituída por 45 páginas que incluem 253
imagens e 8 ficheiros de som.
9.2.3.2 Navegação
A página de rosto de design.intro mostra uma animação em código javascript
com astronautas e uma imagem espacial do planeta Terra. Tem talvez um carácter
contemplativo e poderá eventualmente funcionar como screensaver, quando se deseja
uma pausa offline. Porquê o astronauta no espaço numa aplicação dedicada ao design?
Há uma sequência no filme 2001 Odisseia no Espaço onde se vê um antropóide a
arremessar um fémur para o ar, através de um efeito de raccord, esse osso transforma-se
numa estação espacial em órbita terrestre. Esta simples sequência, obra-prima de elipse
narrativa, traduz a evolução, porque complementares, tanto da tecnologia como do
design.
Figura 43. A página de rosto do site.
97
Por outro lado, a página de rosto de design.intro introduz o utilizador no que se
entende por ciberespaço, aqui os astronautas são a metáfora dos cibernautas. Ver figura
43. «O astronauta, como um corpo preparado para partir da terra, é a transformação
deste sonho de distância para o evento da partida» (Romanyshyn, 2000). O espaço
cósmico devém ciberespaço, onde o corpo do cibernauta flutua feito imagem de um
sonho. Imersos na Web, e mais ainda, com a Realidade Virtual, o ciberespaço torna-se
espaço onírico.
Da página de rosto que funciona como recepção e pausa, clicando no planeta,
entra-se então para a home page, onde se apresenta um menu geral que permite aceder a
todo o conteúdo do site. Ver figura 44. Esta home page exibe uma animação interactiva
de imagens alternativas1 tratadas com filtros Photoshop e foi concebida em javascript
(como uma mão que lança os dados). Embora o interesse desta animação seja
proporcionar um ambiente visual que caracterize a diversidade expressiva da imagem,
clicando acede-se muito simplesmente a ficheiros de som.
Título
Informações
Página anterior
Menu das lições
Restantes ligações
Figura 44. Home page com menu geral.
1
A partir de uma imagem modelo que é a primeira à esquerda mostrada na figura 44.
98
O menu apresenta-se subdividido em três grupos convencionais, na parte
superior indicam-se dois links, um para a página anterior já referida, o outro para uma
página de informação do site que inclui os créditos, as disposições legais e designa-se
"Leia-me". Em seguida mostra-se o menu fundamental que reúne as lições propriamente
ditas, ligadas numa estrutura não-linear, em rede, com qualquer uma acessível segundo
a conveniência. Ver figura 45. Aqui a navegação processa-se no início e no fim de cada
página. O último grupo do menu remete o utilizador para: uma cronologia muito geral
que se julga de interesse para a compreensão do design, também ela organizada numa
estrutura em rede; um roteiro de exploração da Internet com acesso directo ao motor de
busca da Google; um link para um menu de actividades lúdicas de avaliação e
entretenimento que se descreverá a seguir e, por último, uma ligação para uma página
aberta ao feedback do utilizador dita de respostas para as perguntas mais frequentes ou
FAQ (frequently asked questions).
Figura 45. Exemplo do menu no início duma página das lições.
"Jogos e Passatempos" organiza-se numa estrutura hierárquica, parte-se do geral
para o particular, achou-se esta a solução mais adequada para evitar a dispersão de
quem está concentrado na resolução de um desafio. Dispõe-se um menu com sete
propostas. Ver figura 46. Sugerem-se três questionários interactivos do tipo de escolha
múltipla e que facultam uma avaliação imediata, sendo designados como "Factos do
Design", "Loja dos Estilos" e "Questões Ambientais"; no questionário "Factores
Humanos" exige-se do utilizador que siga uma ordem sequencial de respostas que
99
deverá teclar correctamente para passar para uma pergunta seguinte e poder finalizar;
"Mestres do Design" é um jogo de tentativas com as letras, um puzzle que desafia o(s)
utilizador(es) a adivinhar nomes de designers e arquitectos famosos que foram referidos
nas lições; "Cobra Mensageira" é um puro exercício visual interactivo.
Figura 46. Menu dos Jogos e passtempos.
"Máximas" pretende, com o seu ambiente visual e musical, proporcionar um
espaço para a contemplação e reflexão, onde com um clique obtém-se algumas das
frases mais assertivas relativas ao mundo do design e não só. Ver figura 47. Acerca
deste último "passatempo" pode dizer-se que é a única página que tem uma óbvia
conexão ambiental com a página de rosto, pois, in abstracto, quis-se fechar mais ou
menos como se começou, com o onírico «evento da partida».
A página "FAQ" dedicada ao estabelecimento de uma relação de contacto com o
utilizador, procura responder, portanto, às perguntas mais frequentes (frequently asked
questions). Enquanto documento que apresenta uma lista de perguntas frequentemente
colocadas com as respectivas respostas, o utilizador permite-se, caso nenhuma resposta
o satisfaça, aceder, sem sair da página, à sua aplicação de e-mail e colocar ao autor a sua
questão.
100
Figura 47. Ecrã do passatempo "Máximas".
9.2.3.3 Identidade
O design de identidade de design.intro define-se em alguns elementos visuais
fundamentais tais como a cor, a tipografia e objectos de composição gráfica (barras,
linhas e outros detalhes), mas também com o seu logotipo e símbolos. Ao nível do
símbolo destaca-se o espaço metafórico da aventura (hiper)espacial a que já se fez
referência (cf. p. 98), espaço onde o astronauta (design de equipamento) desempenha
este sonho da imersão no ciberespaço. A série de imagens animadas interactivas
contidas na home page visam acrescentar uma alusão à multiplicidade das expressões
necessariamente própria a um panorama do design. O logotipo foi construído com a
fonte Arial em cor vermelha com uma sombra cinzenta quando sobre fundo preto. Os
títulos que se apresentam nas margens superior e inferior das páginas sobre uma barra
preta recorrem à fonte Courier em cor laranja. Toda a restante tipografia dos menus e da
que informa as manchas de texto assentam exclusivamente na fonte Arial. Na tipografia
dos menus e em destaques tomou-se a liberdade de utilizar a cor branca, vermelha e
laranja, conforme os casos e conveniência do aspecto visual e organizacional. As
manchas de texto corrido são de cor branca e a cor de fundo, invariavelmente (com as
excepções das duas páginas onde o preto aparece para representar a profundidade do
espaço sideral), assenta no cinzento. A paleta das cores limita-se, portanto, ao preto,
vermelho #FF0000, laranja #FF9900, cinzento #666666 e branco. Com este conjunto de
101
elementos visuais de design de identidade procurou-se proporcionar uma interface
funcional e amigável.
9.3
Considerações Finais
A rede das redes é o futuro das comunicações e a sua implementação nas escolas
começa a apontar no sentido de implicar mudanças profundas, sociais e culturais, que
afectarão igualmente o modo como se ensina e aprende.
A Escola constitui, naturalmente, a primeira escolha de espaço de actuação das
possibilidades pedagógicas oferecidas pelo protótipo design.intro. Dada a flexibilidade
do seu uso, será ao professor que compete determinar como o vai usar. Por outro lado,
não se pode deixar documentos sem o seu arquivo em suporte CD. A possível dupla
utilização - offline / online - caracteriza este protótipo que se quer participativo e aberto.
Na Web estará ao alcance de qualquer pessoa que quiser por design.intro
navegar. Como aplicação concebida para servir as comunidades de aprendizagem, pode
ainda alargar o seu horizonte, através, inclusive, das suas capacidades - previstas - de
incluir vídeo, um fórum e um chat, um motor de busca interno, e vir assim a construir
verdadeiras comunidades de aprendizagem virtuais.
O protótipo design.intro desenvolveu-se como uma investigação-acção. Neste
contexto, o modelo de ciclo de vida que o orienta será o dos «protótipos evolutivos»
(Lage & al., 2000), com sucessivos aperfeiçoamentos. O modelo dos protótipos
evolutivos enquadra-se nos processos de investigação-acção, quando os ciclos de
avaliação, reflexão e implementação são o objectivo procurado. O protótipo design.intro
assume-se como projecto inacabado (caso contrário, não faria sentido o processo da
investigação-acção), mas aberto a sucessivos melhoramentos, que acrescentem novas
funcionalidades, uma usabilidade mais eficiente, novos conteúdos e incremento da
interactividade.
Com esta investigação-acção e o seu corolário, o protótipo evolutivo
design.intro, ao longo do seu ciclo de vida, ir-se-á incorporar sugestões do público-alvo,
102
realizando revisões e apuramentos numa via que seja uma tentativa de chegar ao
produto instrumental e pedagogicamente adequado, claro que aqui se insiste na ideia de
tentativa, numa irrepreensível busca da qualidade.
Encara-se, igualmente, a possibilidade estratégica de fazer chegar ao
conhecimento do maior número possível de professores da área das artes o documento
hipermédia design.intro, através de alguma editora de livros escolares ou organização
institucional, porventura interessadas e dispostas a investir na sua promoção.
103
8 - A AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO PROPOSTO
O rigor só se alcança através do arbitrário
Paul Valéry
8.1
Enquadramento da Avaliação
No âmbito desta investigação, e de acordo com a metodologia da investigaçãoacção, submeteu-se uma proposta / protótipo para avaliação, apresentada no capítulo
precedente,
e
que
entretanto
foi
colocada
online
no
seguinte
endereço:
<http://planeta.clix.pt/designintro/home.html> a uma amostra do grupo-alvo dos
professores. Contaram-se 11 professores participantes nessa «avaliação heurística»
(Nielsen, 1997, cit. in Valiati & al., 2000) que, doravante, neste trabalho serão referidos
como avaliadores, na sua maioria da área das artes e que leccionam nos ensinos básico e
secundário em diversas escolas do Concelho de Vila Nova de Gaia, incluindo-se um do
Concelho de Matosinhos.
O referido grupo encontrava-se a frequentar uma acção de formação de
professores no Centro da Formação de Associação de Escolas Gaia-Sul intitulada
65
"Aplicação Prática do Computador em Educação Visual". Os objectivos desta acção de
formação orientada pelo formador João Manuel Pereira eram os seguintes:
-
«conhecer as capacidades do computador para a concepção de material
didáctico;
-
desenvolver atitudes de exploração pessoal dos meios informáticos e sua
aplicação pedagógica».
Assim, e como um tal contexto enquadrava-se nos objectivos desta investigaçãoacção, por sugestão do autor, o formador fez o convite para que numa sessão de três
horas fosse avaliado pelos professores formandos a proposta / protótipo design.intro. Os
avaliadores estão caracterizados no Quadro 1. A acção decorreu no dia sete de
Dezembro de 2001.
Quadro 1
Caracterização de Amostra de 10 Professores de Escolas do Concelho de Vila Nova de
Gaia e um de Escola do Concelho de Matosinhos
n.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Curso
Pintura
Arquitectura
Escultura
Design
Pintura
Design
Educação Artística
Educação Visual
Engenharia Civil
Engenharia Electrotécnica
(s. d.)
Situação
P. Q. N. D.
P. Q. N. D.
P. Q. N. D.
P. Q. N. D.
P. Q. N. D.
P. Q. N. D.
P. Q. N. D.
P. Q. N. D.
P. Q. N. D.
P. Q. N. D.
P. Q. N. P.
Grupo
5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º
12º
12º
12º
Disciplinas
EV, DGD, TD
EV, DGD
EV, DGD
EV
EV
EV
EV
EV
ET
ET
EVT
Legenda: na coluna Situação indica-se a situação profissional do professor na escola:
P.Q.N.D. - Professor do Quadro de Nomeação Definitiva; nas Disciplinas que os professores
leccionam os acrónimos usados têm os seguintes significados: EV - Educação Visual; EVT Educação Visual e Tecnológica; ET - Educação Tecnológica; DGD - Desenho e Geometria
Descritiva; TD - Teoria do Design.
Após a apresentação e uma breve demonstração, os avaliadores dedicaram-se à
exploração do protótipo e no final foi distribuído por todos eles um questionário instrumento de avaliação do protótipo - consistindo em 40 perguntas fechadas e 2
perguntas abertas (ver apêndice 1) que foi devolvido com as respostas.
66
8.2
Descrição do Questionário
Os conjuntos de perguntas fechadas utilizam escalas de likert. Estas escalas
destinam-se a medir as atitudes dos avaliadores e estruturam-se num número ímpar de
opções:
-
repulsa forte;
-
repulsa;
-
indiferença;
-
adesão;
-
adesão forte.
A estas opções deu-se um valor qualitativo descrito no questionário numa escala
que vai do muito mau ao muito bom e correspondente a um valor quantitativo que vai
de um a cinco. A respectiva correspondência apresenta-se no Quadro 2.
Quadro 2
Correspondência e descrição da escala de avaliação utilizada no questionário
Valor qualitativo
Valor quantitativo
Opções
Repulsa forte
Repulsa
Indiferença
Adesão
Adesão forte
Muito mau
Muito bom
1
2
3
4
5
Os conjuntos de perguntas fechadas apresentados no questionário encontram-se
distribuídos pelas seguintes grelhas:
Impressão global;
I. Quanto ao conteúdo da aplicação;
II. Ensino - aprendizagem;
III. Ecrã
a) apresentação do ecrã;
b) imagem;
c) cor;
IV. Matriz multimédia;
V. Estilo de escrita;
VI. Usabilidade
67
Para este último conjunto referente à usabilidade recorreu-se a Nielsen (1990,
cit. in Dias & al., 1998). A eficiência relativa das ferramentas de apoio à navegação
passa pela avaliação do seu grau de usabilidade. Nielsen (1990) propõe cinco
parâmetros (ou perguntas) que, dada a sua adequação à área educacional, foram os
seguidos no questionário.
As duas perguntas abertas apresentadas no questionário como observações
questionam os avaliadores quanto ao que gostaram mais e quanto ao que não gostaram
ou gostaram menos, tratando-se, portanto, de um registo de opiniões sobre o protótipo.
O questionário termina com uma caracterização anónima dos avaliadores (ver
questionário no apêndice 1).
8.2.1 Esclarecimento
Logo no início do questionário pede-se uma avaliação global do protótipo,
apresentando-se uma escala simples de modo a informar imediatamente do significado
dos valores quantitativos indicados (ver apêndice 1). Indo do muito mau ao muito bom,
numa escala de avaliação de um a cinco, convida-se o avaliador a classificar
globalmente a sua impressão acerca do protótipo1.
Como este questionário servia para medir as atitudes dos avaliadores em relação
ao protótipo, as não-respostas ou omissões, seguem equiparadas a uma atitude de
indiferença e, portanto, assumiu-se cada omissão2 como uma indiferença à qual é dado
um valor igual a três.
1
Adaptou-se esta estrutura a partir de Maria Carvalho, 1995.
Para um melhor esclarecimento, procurou-se assinalar no texto as omissões a par das indiferenças,
contudo, estes dados vão somados no apuramento estatístico.
2
68
8.3
Tratamento dos Dados; Perguntas fechadas
8.3.1
Impressão global
Na amostra de 11 avaliadores apuraram-se os resultados - contando-se dois
avaliadores que omitiram este item - que se apresentam no Quadro 3.
Quadro 3
Respostas apuradas na avaliação global
Escala:
1
2
3
4
5
Nº respostas:
2
4
5
0
0
Estes dados representam um total de 4 adesões (36%), 5 adesões fortes (46%), 2
omissões / indiferenças (18%) e podem ser analisados nas figuras 15 e 16 onde se
verifica globalmente que a adesão é explícita.
escala
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
número de respostas
Figura 15. Impressão global acerca do protótipo.
18%
indiferença
46%
adesão
adesão forte
36%
Figura 16. A primeira impressão em percentagem.
69
8.3.2
Conteúdo da Aplicação (Conjunto I)
As respostas relativas ao conjunto I: conteúdo da aplicação (onde se esperavam
88 respostas), estão apuradas no Quadro 4.
Quadro 4
Respostas apuradas no conjunto I relativo ao conteúdo da aplicação (com 88 respostas
esperadas)
Escala:
Número de respostas:
a) Interessante
b) Bem organizado
c) Criativo
d) Lógico
e) Informativo
f) Apresentado de modo correcto
g) Com grau de dificuldade adequado
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
5
4
4
4
3
6
4
6
7
5
7
8
5
6
Impressão geral
0
0
0
4
7
Total
0
0
3
34
51
Assinalam-se 1 omissão no parâmetro relativo ao grau de dificuldade e 2
indiferenças no parâmetro criativo (3%), 34 adesões (39%) e 51 adesões fortes (58%)
relativamente a todos os parâmetros (ver figuras 17, 18 e 19). Talvez aqui a indiferença
faça a diferença e no parâmetro da criatividade tenha que investir mais.
n.º de respostas
10
1
2
3
4
5
8
6
4
2
0
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
perguntas
Figura 17. Resultados do conjunto I: conteúdo da aplicação.
70
escala
5
3
0
1
0
2
4
6
8
número de respostas
Figura 18. Impressão geral do conjunto I: conteúdo da aplicação.
3%
indiferença
39%
adesão
58%
adesão forte
Figura 19. Resultados em percentagem do conjunto I.
8.3.3
Ensino-Aprendizagem (Conjunto II)
As respostas relativas ao conjunto: ensino-aprendizagem (onde se esperavam
121 respostas), estão apuradas no Quadro 5.
Quadro 5
Respostas apuradas no conjunto II relativo ao ensino-aprendizagem (com 121
respostas esperadas)
Escala:
Número de respostas:
a) Faculta um modo agradável de aprender
b) Permite aprender mais depressa
c) Facilita a aprendizagem
d) Contribui para a compreensão do assunto
e) Torna acessível os temas do assunto
f) Variedade de modelos
g) Uso de reforços
h) Auxílios úteis
i) Facilidade de compreensão
j) Encadeamentos correctos
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3
3
3
1
1
5
5
5
4
5
4
4
3
4
5
6
4
6
7
6
4
4
5
6
5
Impressão geral
0
0
1
4
6
Total
0
0
14
48
59
71
Registam-se 9 respostas omissas e 5 indiferenças (11%), 48 adesões (40%) e 59
adesões fortes (49%). Ver figuras 20, 21 e 22.
n.º de respostas
8
1
2
3
4
5
6
4
2
0
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
perguntas
Figura 20. Resultados do conjunto II: ensino - aprendizagem.
escala
5
3
0
1
0
2
4
6
8
número de respostas
Figura 21. Impressão geral do conjunto II: ensino-aprendizagem.
11%
indiferença
49%
adesão
40%
adesão forte
Figura 22. Resultados em percentagem do conjunto II.
8.3.4
Ecrã (Conjunto III)
Para melhor explicitação dos componentes que interessam avaliar, o conjunto
ecrã, subdividiu-se em três partes, ou subconjuntos, denominados no questionário por
alíneas: a) apresentação do ecrã; alínea b) imagem; e alínea c) cor.
72
As respostas relativas ao subconjunto a) apresentação do ecrã (onde se
esperavam 33 respostas), estão apuradas no Quadro 6.
Quadro 6
Respostas apuradas na parte a) apresentação do ecrã, do conjunto III relativo ao ecrã
(com 33 respostas esperadas)
Escala:
Número de respostas:
a) Layout
b) Elementos visuais
c) Densidade do texto
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
2
0
0
3
4
6
2
7
5
4
Total
0
2
3
12
16
No parâmetro relativo à densidade do texto assinalam-se 2 repulsas (6%) e 3
indiferenças (9%), a todos os parâmetros registam-se 12 adesões (36%) e 16 adesões
fortes (49%). Ver figuras 23 e 24. Tal como se verá nas conclusões, no parâmetro da
densidade do texto será reconhecida a necessidade de aligeirar a mancha de texto.
n.º de respostas
8
1
2
3
4
5
6
4
2
0
a)
b)
c)
perguntas
Figura 23. Resultados do subconjunto: a) apresentação do ecrã.
6%
9%
repulsa
indiferença
49%
adesão
36%
adesão forte
Figura 24. Resultados em percentagem do subconjunto:
a) apresentação do ecrã.
73
As respostas relativas ao subconjunto b) imagem (onde se esperavam 22
respostas), estão apuradas no Quadro 7.
Quadro 7
Respostas apuradas na parte b) imagem, do conjunto III relativo ao ecrã (com 22
respostas esperadas)
Escala:
Número de respostas:
a) Qualidade
b) Uso apropriado
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
4
4
7
7
Total
0
0
0
8
14
Quanto à imagem os dados recolhidos apontam para 8 adesões (36%) e 14
adesões fortes (64%). Ver figuras 25 e 26.
n.º de respostas
8
1
2
3
4
5
6
4
2
0
a)
b)
perguntas
Figura 25. Resultados do subconjunto: b) imagem.
36%
adesão
adesão forte
64%
Figura 26. Resultados em percentagem do subconjunto: b) imagem.
As respostas relativas ao subconjunto c) cor, onde se esperavam 44 respostas,
estão apuradas no Quadro 8.
74
Quadro 8
Respostas apuradas na parte c) cor, do conjunto III relativo ao ecrã (com 44 respostas
esperadas)
Escala:
Número de respostas:
a) Uso apropriado
b) Boa selecção de cores
c) Ambiente atractivo
d) Facilita a legibilidade
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
1
5
6
5
4
2
4
3
6
2
Total
0
2
10
17
15
A todos os parâmetros registam-se para além das duas repulsas referidas (5%), 1
omissão e 9 indiferenças (22%) , 17 adesões (39%) e 15 adesões fortes (34%). Ver
n.º de respostas
figuras 27 e 28;
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
a)
b)
c)
d)
perguntas
Figura 27. Resultados do subconjunto: c) cor.
5%
21%
34%
repulsa
indiferença
adesão
adesão forte
40%
Figura 28. Resultados em percentagem do subconjunto: c) cor.
Cumpre assinalar no parâmetro relativo à facilitação da legibilidade 2 repulsas
(18%) e regista-se 1 omissão e 4 indiferenças (46%) com vantagem em relação ao
75
número de adesões (18%) e adesões fortes (18%). Este resultado tão deceptivo
apresenta-se na figura 29 para melhor visualização . Parece óbvio que no parâmetro da
legibilidade a facilitação não foi plenamente conseguida.
18%
18%
repulsa
indiferença
18%
adesão
adesão forte
46%
Figura 29. Resultados no parâmetro da facilitação da legibilidade.
A impressão geral relativamente ao ecrã é claramente de adesão (ver Quadro 9)
com 7 adesões (64%), 3 adesões fortes (27%) e 1 indiferença (9%). Ver figuras 30 e 31.
Quadro 9
Respostas apuradas no parâmetro da impressão geral relativo ao conjunto III: ecrã
(com 11 respostas esperadas)
Escala:
Número de respostas:
Impressão geral
1
2
3
4
5
0
0
1
7
3
escala
5
3
0
1
0
2
4
6
8
número de respostas
Figura 30. Impressão geral do conjunto III: ecrã.
76
9%
27%
indiferença
adesão
adesão forte
64%
Figura 31. Resultados em percentagem na impressão
geral do conjunto III: ecrã.
O Quadro 10 mostra o total de respostas no conjunto III: ecrã, este total inclui o
total de cada uma das três partes e mais a impressão geral. Um total que perfaz 110
respostas.
Quadro 10
Este Quadro mostra o total das partes a; b; c que integram o conjunto III: ecrã (com
110 respostas esperadas)
Escala:
Número de respostas:
Total
8.3.5
1
2
3
4
5
0
4
14
44
48
Matriz Multimédia (Conjunto IV)
As respostas relativas ao conjunto IV: matriz multimédia (onde se esperavam 66
respostas), estão apuradas no Quadro 11.
Quadro 11
Respostas apuradas no conjunto IV relativo à matriz multimédia (com 66 respostas
esperadas)
Escala:
Número de respostas:
a) Variedade de modelos
b) Interesse pedagógico
c) Animação suficiente
d) Interface eficaz
e) Facilidade de navegação
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
2
2
1
3
3
6
5
3
4
7
3
4
7
Impressão geral
0
0
4
3
4
Total
0
0
14
23
29
77
Neste conjunto apuraram-se 12 omissões e 2 indiferenças explícitas (21%), 23
adesões (35%), 29 adesões fortes (44%). Ver figuras 32, 33 e 34. Nas conclusões tentase explicar este elevado número de omissões.
n.º de respostas
8
1
2
3
4
5
6
4
2
0
a)
b)
c)
d)
e)
perguntas
Figura 32. Resultados do conjunto IV: matriz multimédia.
escala
5
3
0
1
0
1
2
3
4
5
número de respostas
Figura 33. Impressão geral do conjunto IV: matriz multimédia.
21%
indiferença
44%
adesão
adesão forte
35%
Figura 34. Resultados do conjunto IV em percentagem.
8.3.6
Estilo de Escrita (Conjunto V)
As respostas relativas ao conjunto V: estilo de escrita (onde se esperavam 44
respostas), estão apuradas no Quadro 12.
78
Quadro 12
Respostas apuradas no conjunto V relativo ao estilo de escrita (com 44 respostas
esperadas)
Escala:
Número de respostas:
a) Vocabulário adequado
b) Auxilia a aprendizagem
c) Motivador
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
6
3
5
5
5
Impressão geral
0
0
0
6
5
Total
0
0
3
21
20
Assinalam-se 3 indiferenças no parâmetro relativo a uma escrita motivadora
(7%) e em todos os parâmetros registam-se 21 adesões (48%) e 20 adesões fortes
(45%). Ver figuras 35, 36 e 37.
n.º de respostas
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
a)
b)
c)
perguntas
Figura 35. Resultados do conjunto V: estilo de escrita.
escala
5
3
0
1
0
2
4
6
8
número de respostas
Figura 36. Impressão geral do conjunto V.
79
7%
indiferença
45%
adesão
adesão forte
48%
Figura 37. Resultados do conjunto V em percentagem.
8.3.7
Usabilidade (Conjunto VI)
As respostas relativas ao conjunto VI: usabilidade (onde se esperavam 66
respostas), estão apuradas no Quadro 13.
Quadro 13
Respostas apuradas no conjunto VI relativo à usabilidade (com 66 respostas esperadas)
Escala:
Número de respostas:
a) Fácil de aprender
b) De uso eficiente
c) Fácil de relembrar
d) Pouco sujeito a erros
e) Agradável de usar
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
2
3
3
3
2
8
8
7
7
8
Impressão geral
0
0
1
2
8
Total
0
0
5
15
46
No geral assinalam-se 5 indiferenças (7%), 15 adesões (23%) e 46 adesões fortes
(70%). Ver figuras 38, 39 e 40.
80
10
1
2
3
4
5
n.º de respostas
8
6
4
2
0
a)
b)
c)
d)
e)
perguntas
Figura 38. Resultados do conjunto VI: usabilidade.
escala
5
3
0
1
0
2
4
6
8
10
número de respostas
Figura 39. Impressão geral do conjunto VI.
7%
23%
indiferença
adesão
adesão forte
70%
Figura 40. Resultados do conjunto VI em percentagem.
8.3.8
Totais
Neste ponto ver-se-á o total das respostas nos conjuntos de perguntas fechadas.
Como revela o Quadro 14, a atitude de adesão forte (valor 5) prevalece com 51% de
respostas; a atitude de adesão (valor 4), representa 37% de respostas; a atitude de
indiferença (valor 3), representa 11%; e a atitude de repulsa (valor 2) representa apenas
81
1% das respostas. Ver também as Figuras 41 e 42. Não se registaram atitudes de repulsa
forte.
Quadro 14
Apresentação do total de todas as respostas (506) do questionário
Escala:
1
2
3
4
5
Total
0
4
55
189
258
escala
5
3
1
0
50
100
150
200
250
300
número de respostas
Figura 41. Total das respostas do questionário.
1% 11%
repulsa
indiferença
51%
37%
adesão
adesão forte
Figura 42. Total das respostas do questionário em percentagem.
8.4
Tratamento de Dados; Perguntas Abertas
No que se refere às duas perguntas abertas apresentadas como um registo de
observações dos avaliadores, na primeira perguntou-se pelo que mais se gostou no
programa e na segunda perguntou-se pelo que não se gostou ou se gostou menos no
programa.
82
No geral anotaram-se cinco omissões, cinco avaliadores que numa ou noutra
pergunta aberta, ou ainda em ambas, preferiram nada escrever.
8.4.1 Primeira pergunta
Quanto à primeira pergunta, acerca do que se gostou mais, foram estas as
respostas obtidas (em número de 10):
-
«Gostei de tudo.
-
Selecção das imagens.
-
Gostei de tudo, o tema, a apresentação, a aparente simplicidade, o conteúdo
da informação.
8.4.2
-
A organização adaptada ao nível etário dos destinatários.
-
Organização gráfica das páginas.
-
Aspecto gráfico geral, o tema.
-
Ser ordenado.
-
A sua objectividade.
-
Ser um site específico sobre teoria do design.
-
Os temas tratados e o modo de apresentação».
Segunda pergunta
Em relação à segunda pergunta, acerca do que não se gostou ou se gostou
menos, registaram-se as seguintes opiniões (em número de sete):
-
«Gostei do programa no seu todo, sugeria um pouco mais de animação,
movimento e som para despertar ainda mais interesse.
-
Cor de fundo. Cor amarela das letras.
-
A letra do texto podia ser ligeiramente maior. Cansa bastante a leitura do
texto.
-
Tipo, tamanho e espaçamento da letra.
-
O tipo de letra e o entrelinhado, a cor do texto torna este muito brilhante por
isso algo cansativo.
83
-
Deverá reformular o tipo, tamanho ou cor dos textos, por forma a torná-los
menos cansativos.
-
8.5
A dificuldade de leitura».
Observações
Durante a acção, que decorreu num período de três horas, registaram-se os
seguintes comentários considerados mais relevantes por que vinham a propósito e foram
proferidos espontaneamente por alguns avaliadores:
-
«Com este tipo de informação (o documento hipermédia) os alunos ficam
mais interessados;
-
(o assunto) ganha outro interesse;
-
as letras amarelas (não eram amarelas mas de cor laranja) sobre fundo negro
tornam a leitura mais cansativa;
-
o tipo de letra times roman torna a leitura mais pesada, um tipo melhor seria
o arial».
8.6
Conclusões
A impressão dos avaliadores relativamente ao protótipo proposto denota
globalmente uma atitude de adesão.
8.6.1 Conteúdo da Aplicação (Conjunto I)
Em relação ao primeiro conjunto de perguntas fechadas, relativo ao conteúdo da
aplicação, pode-se, talvez, subentender uma sugestão de que mais criatividade seria
necessária, uma sugestão que se aceita, considerando-se a criatividade um potencial de
relativa subjectividade, como incentivo para se fazer o melhor possível.
84
8.6.2 Ensino-Aprendizagem (Conjunto II)
No segundo conjunto, sobre ensino-aprendizagem encontraram-se nove
respostas omissas que se podem atribuir, em parte, a alguma redundância e pouca
clareza das últimas cinco perguntas. Um problema que se deve procurar resolver na
elaboração de um próximo questionário.
8.6.3 Ecrã (Conjunto III)
No terceiro conjunto, relativo ao ecrã, subdividido em três partes, verifica-se no
parâmetro relacionado com a apresentação do ecrã e relativo à densidade do texto, um
problema particularmente sensível na proposta de protótipo que urge resolver no sentido
de aligeirar o peso da mancha de texto nas páginas. Também afim a este problema, há o
parâmetro relacionado com a cor e que diz respeito à facilitação da legibilidade, também
aqui um problema de tipografia que se relaciona com a maioria das opiniões
desfavoráveis manifestadas na segunda pergunta aberta.
8.6.4 Matriz Multimédia (Conjunto IV)
No quarto conjunto, relativo à matriz multimédia, encontram-se doze respostas
omissas, são muitas, que se poderá tentar explicar pela relativa dificuldade de alguns
avaliadores acerca do significado da matriz multimédia, um conjunto de perguntas a
clarificar num próximo questionário sem desvirtuar a pertinência dos parâmetros deste
conjunto.
8.6.5 Estilo de Escrita (Conjunto V)
No quinto conjunto, relativo ao estilo de escrita, verifica-se apenas a indiferença
de alguns actores no parâmetro da motivação.
8.6.6 Usabilidade (Conjunto VI)
Para terminar os conjuntos de perguntas fechadas temos o sexto conjunto,
relativo à usabilidade do protótipo havendo aqui pouco a assinalar.
85
8.6.7
Perguntas Abertas e Observações
Nas perguntas abertas e observações notadas verifica-se que o que os avaliadores
mais gostaram foi a temática abordada (o design) e da sua simplicidade, organização e
objectividade. O que menos gostaram foi da tipografia que pareceu dificultar a leitura.
8.7
Reflexão crítica
Os expressivos resultados obtidos, comprovam a importância dos professores
como colaboradores potenciais no processo de avaliação de projectos multimédia /
hipermédia com objectivos educativos. Além de serem capazes de encontrar problemas
específicos de interface, são competentes na detecção de problemas relacionados com a
forma da sua apresentação e quanto a estratégias de ensino-aprendizagem relativamente
aos conteúdos propostos.
Os avaliadores não apenas identificaram problemas, algumas sugestões foram
feitas para possíveis soluções. As suas participações foram importantíssimas para a
reflexão e elaboração de um novo protótipo.
Os resultados obtidos demonstram a fácil aprendizagem e aplicação do método
de avaliação utilizado, assim como, a validade da preparação e da adaptação da
metodologia aos avaliadores / professores. Tais metodologias podem ser reutilizadas em
futuras avaliações de produtos educativos multimédia / hipermédia, incluindo-se novas
implementações do protótipo evolutivo design.intro.
Considerando que neste processo de desenvolvimento de um documento
hipermédia e tratando-se aqui do primeiro ciclo de avaliação de um processo de
investigação-acção, passou-se para uma fase de redefinição do problema onde se
estabeleceram as seguintes estratégias de melhoramento:
-
identificar estratégias de resolução;
-
melhorar a eficiência, a facilidade de uso e a aprendizagem da interface;
86
-
mudar a fonte times roman para arial;
-
alterar a cor amarelo alaranjado da mancha de texto sobre fundo negro;
-
reduzir a densidade de texto por parágrafo;
-
facilitar a legibilidade;
-
procurar oferecer uma interface mais amigável;
-
optimizar a usabilidade.
O problema da dificuldade na leitura é, de facto, um problema de usabilidade.
Em relação a este parâmetro alguns cuidados devem ser tomados. Ler através de um
ecrã é um processo que os especialistas consideram 25 vezes mais lento do que através
de um jornal. Neste sentido, um particular empenho foi investido na versão última que
agora se apresenta, de modo a tornar as páginas mais legíveis, mais leves e mais
funcionais.
Todo este processo permitiu, então, investir na nova versão design.intro muito
mais recursos, nomeadamente, em javascript, com páginas baseadas em formulários e
recursos de máquina dedicadas à avaliação e à navegação que se procurou dotar de um
forte carácter lúdico, notável mais em certos casos que noutros, colocando-se aqui uma
especial ênfase num entretenimento formativo (edutainement). A ideia consiste em
proporcionar alguma diversidade que poderá no futuro vir a enriquecer-se. Também na
nova página de rosto e numa outra intitulada "máximas" foi acrescentado um ambiente
musical em formato MP3.
Compete acrescentar que todo o texto dos conteúdos foi em grande parte
rescrito, no sentido de melhorar a sua fluência e dimensão científica. Assim como,
foram acrescentadas outras áreas de estudo do design que não estavam contempladas na
versão submetida a avaliação, áreas que abrangem os factores humanos, económicos e
ambientais. Tudo implementações que tornaram esta nova versão muito maior,
objectiva e talvez mais amigável que se apresenta e se fundamenta no capítulo nove.
87
8.8
Acerca da Usabilidade
Por usabilidade entende-se o modo como as interfaces são ou não usáveis do
ponto de vista do utente consumidor. A melhor avaliação de usabilidade é feita por
amostras dos utilizadores que, ao avaliarem factores de eficiência, facilidade de uso e
interface amigável, contribuem com o seu feedback, em diferentes fases do
desenvolvimento, para o sucesso do produto. A «avaliação heurística» (Nielsen, 1997,
cit. in Valiati & al., 2000) da usabilidade alcançou particular actualidade no
desenvolvimento e implementação de software e de web sites. Em grande parte deve-se
a Jakob Nielsen, já apelidado de "guru da usabilidade" (Borges, 2001), o mérito da
chamada de atenção para a importância da facilidade de utilização, tanto em software
como na Web.
A avaliação da usabilidade insere-se com justeza no processo de investigaçãoacção pelo ciclo de desenvolvimento que implica. O feedback resultante da avaliação da
usabilidade vem permitir realizar melhoramentos notáveis no protótipo, pela redefinição
do problema, pela reestruturação do projecto, pelo arranjo dos aspectos que não
funcionavam bem. «Quanto mais cedo se recolher dados e se responder ao feedback do
utilizador, melhor será para o site» (Nielsen, 2001). Determinando o perfil do utilizador,
escolhendo avaliadores de um grupo-alvo e integrando o feedback do utilizador no
desenvolvimento do processo.
A usabilidade é uma característica importante das interfaces mas, muito
frequentemente, é um dos aspectos mais negligenciados nos web sites. Assim, seguindo
recomendações de Nielsen (2001), com a proposta de protótipo evolutivo, tratou-se de
procurar feedback para melhor implementar a usabilidade do site em projecto:
design.intro versão beta.
88
7 - O PROTÓTIPO PROPOSTO PARA AVALIAÇÃO
Não há no mundo maior dificuldade do
que pôr a serviço toda a invenção própria
Paul Valéry
7.1
Descrição Geral do Protótipo Proposto para Avaliação
O protótipo que foi submetido a avaliação, feita pelo grupo-alvo dos professores,
no processo de investigação-acção, segue aqui descrito nas suas partes constituintes:
-
home page;
-
uma página de informações;
-
doze lições de teoria do design (forma - função);
-
um teste global de avaliação dos conhecimentos adquiridos na forma de
teste de escolha múltipla concebido em javascript;
-
um roteiro de exploração da Internet.
Cf. URL: <planeta.clix.pt/designintro/home.html>
58
Disponibilizou-se, através do home page e na página de roteiro, um ícone com
ligação ao motor de busca Google. Pretende-se facilitar a procura de informações
relativas a tarefas de pesquisa ou de qualquer outro assunto relevante na Internet.
A home page dá acesso a todas as páginas e contem uma pequena e simples
animação concebida em Flash da Macromedia. O conteúdo da página de informações
apenas justifica e informa sobre o sentido do protótipo proposto. Existe em todas as
páginas das lições uma barra de navegação que permite a interligação das mesmas.
7.2
Descrição dos Conteúdos
-
A primeira lição denomina-se: "O que é Design?" Serve de introdução ao
design.
Figura 1. O que é Design?
-
A segunda lição denomina-se: "Revolução Industrial". Apresenta a
importância da Revolução Industrial para o design.
Figura 2. Revolução Industrial.
59
-
A terceira lição denomina-se: "Arts and Crafts". Introduz a importância
pioneira deste movimento para o design.
Figura 3. Arts and Crafts.
-
A quarta lição denomina-se: "Art Nouveau". Apresenta numa sequência
histórica uma introdução a este estilo.
Figura 4. Art Nouveau.
-
A quinta lição denomina-se: "Art Déco". Um estilo que teve a sua plena
afirmação no período de entre as duas guerras mundiais do séc. XX.
Figura 5. Art Déco.
60
-
A sexta lição denomina-se: "Werkbund". Trata da importância pioneira
desta associação alemã para o design industrial.
Figura 6. Deutsche Werkbund.
-
A
sétima
lição
denomina-se:
"Bauhaus".
Apresenta
o
papel
revolucionário que esta escola desempenhou na definição do design
moderno.
Figura 7. Bauhaus.
-
A oitava lição denomina-se: "Organic Design". Introduz o conceito
formal de "orgânico" na arquitectura e design modernistas.
Figura 8. Organicismo.
61
-
A nona lição denomina-se: "Estilo Internacional". Apresenta a corrente
internacional que ficou conotada com o funcionalismo.
Figura 9. Estilo Internacional.
-
A décima lição denomina-se: "Styling". Introduz o estilo formal que se
identifica com a ascensão económica dos EUA.
Figura 10. Styling.
-
A décima primeira lição denomina-se: "Antidesign". Apresenta um
movimento pioneiro da atitude pós-moderna.
Figura 11. Antidesign.
62
-
A décima segunda lição denomina-se: "Pós-Modernismo". Introduz a
mudança radical de atitudes no "estado da arte".
Figura 12. Pós-Modernismo.
-
"Teste". Apresenta um teste global de escolha múltipla (em javascript)
para avaliar conhecimentos adquiridos.
Figura 13. Teste.
-
"Roteiro". Centra-se nas possibilidades oferecidas pelo motor de busca
Google na resolução de tarefas de exploração na Internet.
Figura 14. Roteiro.
63
Reconhecidamente uma ferramenta de grande utilidade, entendeu-se que o
Google poderia contribuir construtivamente no desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem. Por conseguinte, e coerentemente com o protótipo proposto, elaboraramse oito tarefas de pesquisa de informação relativas a alguns conteúdos tratados nas
lições. São tarefas destinadas a aprofundar conhecimentos e que o aluno apresentaria
sob a forma de relatórios sintéticos ou dossiers temáticos. Isto permitiria ao aluno
habituar-se a navegar na Web de um modo útil e consequente, descobrindo os sites mais
atractivos e interessantes. As tarefas seriam distribuídas no tempo, em diferentes fases
do processo de ensino-aprendizagem, à medida que os conteúdos fossem sendo
abordados. Este seria o sentido do roteiro de exploração.
Feito este resumo do protótipo proposto, abordar-se-á, então, no capítulo
seguinte, a avaliação propriamente dita.
64
6 - METODOLOGIA: A INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO
Em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo
Heráclito
6.1
O que é?
Pode descrever-se a investigação-acção como uma metodologia de pesquisa
assente em fundamentos pós-positivistas que encara na acção uma intenção de mudança
e na investigação um processo de compreensão. Com a investigação há uma acção
deliberada de transformação da realidade, um duplo objectivo, portanto, «transformar a
realidade e produzir os conhecimentos que dizem respeito às transformações realizadas»
(Hugon & Seibel, 1988, cit. in Barbier, s.d.).
O processo da investigação-acção alterna ciclicamente entre a acção e a reflexão
crítica que, de um modo contínuo, apura os seus métodos, na recolha de informação e
na interpretação que se vai desenvolvendo à luz da compreensão da situação em causa.
Trata-se, portanto, de um processo emergente que toma forma num progressivo
entendimento do problema e que, sendo iterável, converge para uma melhor
compreensão do que acontece. «Define-se então na sua relação com a complexidade da
46
vida humana vista na sua totalidade dinâmica» o que poderá exigir uma abordagem
multireferencial: «a multireferencialidade está ligada a esta assunção de um vazio
criador na complexidade do objecto» (Barbier, 1997, cit. in Barbier, s.d.).
Na maioria das suas modalidades a investigação-acção é participativa, esta é a
sua forma mais típica. A mudança torna-se exequível quando aqueles que por ela são
afectados nela se encontram qualitativamente envolvidos (Dick, 2000). Com esta
metodologia os investigadores não só observam, também participam nos fenómenos que
estudam. A participação é uma necessidade objectiva na investigação-acção, onde
também no seu processo de avaliação se pode contar com a colaboração de todos os
participantes.
A investigação-acção é um método de investigação que se estabeleceu no âmbito
das ciências sociais e médicas desde meados do século vinte. Atribui-se a Kurt Lewin a
sua origem moderna quando nos anos quarenta ele desenvolveu uma versão de
investigação-acção em psicologia social no Centro de Pesquisa em Dinâmica de Grupos
da Universidade de Michigan. Também o Instituto Tavistock, independentemente,
desenvolveu uma versão operacional de investigação-acção no estudo de desordens
psicológicas e sociais entre os veteranos da guerra. Lewin e Tavistock acabariam por
trabalhar conjuntamente e inspirarem uma vasta corrente de investigações-acções.
Depois de alguma marginalização científica amadureceu-se um reconhecimento de que
a investigação-acção operava com uma epistemologia alternativa à da ciência
tradicional. Nos anos noventa verificou-se um crescimento da sua popularidade nas
ciências da educação, na investigação em sistemas de informação e na aprendizagem
das organizações (organizational learning). Porque assenta na acção prática o método
tem produzido relevantes resultados na resolução de problemas (Baskerville, 1999).
A investigação-acção situa-se entre dois paradigmas, de um lado as
metodologias quasi-experimentais e de outro as metodologias qualitativas. Ela
representa uma alternativa às metodologias positivistas, uma concreção epistemológica
e metodológica do paradigma da complexidade.
As características da investigação científica, «tais como o reducionismo, a
reprodutibilidade e a refutabilidade não são para a investigação-acção ideais de
47
conhecimento válido» (Checkland, 1981, cit. in Baskerville, 1999). O investigador-actor
assume à partida que os grupos sociais, pela sua natureza complexa e variegada, não
podem ser reduzidos para estudo, parte-se simplesmente do princípio que a acção trará
conhecimento. Nem tão pouco são reprodutíveis, «não é com efeito minimamente
admissível aqui: nada em sociedade é jamais igual algures» (Le Moigne, 1994). Nas
ciências da educação, como em grande parte das ciências humanas, a investigação
experimental revela-se demasiado limitada para ser relevante e demasiado penosa para
ser aplicável na maioria das situações onde o objectivo é atingir mudanças válidas no
campo da educação.
Não é reduzindo para análise um complexo sistema social que se obterá
resultados significativos. Sabendo-se que as organizações, enquanto contextos,
interagem com tecnologias de informação, o contexto só pode ser entendido como um
todo. Como poderemos então compreender a interacção entre a escola, enquanto
organização social complexa, e os sistemas de informação? Uma convicção
fundamental da investigação-acção consiste em inferir que os processos complexos
podem ser melhor estudados «introduzindo mudanças nesses processos e então observar
os efeitos produzidos por essas mudanças» (Baskerville, 1999). As mudanças referemse a objectivos, assim, para o efeito, estabelecem-se critérios adequados. Critérios de
investigação e acção assentes num processo cíclico de alternância de acção e reflexão
crítica.
O ciclo da acção alternando com a reflexão, é o ponto em que a investigação acção e a aprendizagem pela experiência se tocam, pois este ciclo é também uma
característica da aprendizagem-acção. A acção sustenta-se numa teoria implícita e o
propósito da reflexão crítica é tornar a teoria explícita. Sendo a investigação-acção uma
metodologia qualitativa e participativa - senão não seria investigação-acção - adopta no
processo orientado para a mudança um ponto de vista interpretativo subjacente a uma
explicitação teórica.
Na investigação-acção dever-se-á ser crítico da própria acção, crítico em relação
a todos os quesitos do projecto de investigação, e assumir a consciência de que o
pensamento crítico opera com teorias, como lembrava o semiólogo Hayakawa (cit. in
Dick, 2000): «o mapa não é o território». Esta simples asserção traduz muito bem o
48
entendimento de que um modelo teórico não é a realidade e que se pode sempre rever os
modelos à luz da experiência. Pode-se então pensar mais criticamente acerca das nossas
interpretações emergentes e estar mais abertos para aprender com outras contribuições.
A investigação-acção segue uma lógica da inferência, realiza operações que
visam produzir sentido, teoricamente. Toda a teoria é um processo de abstracção. Para
Korzybski (cit. in Dick, 2000) o processo de abstracção assenta em três níveis:
-
um nível do acontecimento onde as coisas são como são (tal como a física
procura compreender);
-
um nível do objecto quando pela percepção tenta-se extrair algo do
acontecimento (e não se sabe até que ponto esta percepção pode ser
completa);
-
um nível da categoria que consiste nos conceitos que se aplicam ao nível do
objecto (a linguagem pode não traduzir toda a nossa experiência perceptual).
Claro que pode haver outros níveis e outra maleabilidade esquemática, mas o
mais importante é reconhecer que não se pode reduzir definitivamente a realidade às
nossas abstracções.
Gradualmente, mais teorias abstractas e abstractizadas surgem à medida que se
avança por uma «rede de factos» (Dick, 2000), partes diferentes de uma rede de factos
extensiva implicam diferentes metodologias. Tais teorias podem assumir todas as
qualidades lógicas. A teoria dos sistemas geral ou sistémica (paradigma interaccionista
ou construtivista) é preferida a uma teoria da análise (paradigma positivista). A
modelização sistémica junta à investigação-acção uma dimensão teleológica (Cardinal
& A. Morin, s.d.). A modelização sistémica possibilita «organizar a descrição das
diferentes componentes das metodologias qualitativas utilizadas nas ciências humanas a
partir de uma perspectiva que ultrapassa o debate entre qualitativo e quantitativo»
(Lessard-Hébert & al., 1990). À teoria dos sistemas interessa o modo como cada parte
estudada interage com os restantes componentes do sistema. Os problemas que trabalha
envolvem casos complexos, vão no sentido de tornar possível ver melhor um número
cada vez maior de interacções. Nas áreas onde a teoria dos sistemas tem provas dadas
incluem-se:
49
-
«os problemas complexos onde se pretende ajudar os actores a perceber o
quadro global (the big picture) do problema e não apenas a pequena parte
dele;
-
aqueles problemas recorrentes que pioram com o tempo mesmo quando se
pretende arranjá-los;
-
casos onde uma acção afecta (ou é afectada) o ambiente envolvido no caso,
seja um ambiente natural ou um ambiente competitivo;
-
problemas cujas soluções não são óbvias» (Aronson, 1998).
A teoria dos sistemas, portanto, ajuda a alcançar a compreensão necessária
quando a dificuldade maior está em ver o quadro global do problema (the big picture).
Pode-se reconhecer aqui a importância de todas as partes envolvidas para encontrar a
melhor solução, pois é com base no feedback que se poderá rectificar uma dada
situação. Aos modelos e teorias que tratam com o comportamento de pessoas em
interacção, Checkland (1981, cit. in Baskerville, 1999) chama-lhes «sistemas de
actividade humana».
O ciclo da investigação-acção será necessariamente interminável - a acção
alternando com a reflexão - em ciclos dentro de ciclos, em espiral. Mas é esta situação
sempre inacabada que permite agir com a flexibilidade necessária para melhor enfrentar
a complexidade de sistemas que implicam grupos de pessoas ou sistemas sociais,
sistemas de actividade humana. A sua natureza cíclica é a principal qualidade da
investigação-acção. Os ciclos obrigam a investigação-acção a ser flexível e rigorosa,
cada ciclo da acção implicando uma reflexão crítica, cada ciclo consistindo num
planeamento e uma consequente acção.
A investigação-acção enquadra-se perfeitamente no campo epistemológico do
construtivismo, dado o relevo que coloca na modelização, no «princípio da acção
inteligente» (Simon, cit. in Le Moigne, 1994b), «um processo cognitivo exprimindo um
conhecimento-processo: o acto de conceber, o acto de compreender podem talvez
entender-se nesta espiral aberta» (Le Moigne, 1994).
50
A investigação-acção é uma metodologia emergente. Emergência de
flexibilidade, de respostas adequadas, de mudança. O seu processo ajusta-se às
exigências da situação em toda a sua complexidade. A sua atitude de abertura ao
conhecimento permite à investigação-acção proporcionar uma mais efectiva mudança, a
qual, por sua vez, estimula uma mais efectiva compreensão do problema. Com a
investigação-acção enceta-se a aprendizagem-acção. Há nesta metodologia um
incontornável cariz pragmático, em sentido construtivista. Intenta-se ajudar as pessoas a
mudar uma situação concreta, a resolver-se numa nova situação, em suma, a
compreender e a mudar.
6.2
Trabalho de Campo com uma Proposta / Protótipo
Com a presente investigação-acção interessou colocar a questão: como mudar
qualitativamente a educação? Especialmente nesse espaço privilegiado: a escola?
Procurou-se estabelecer relações estreitas com os nossos informantes avaliadores, deste
modo, pode-se agir com as pessoas envolvidas nas actividades sem perder de vista o
objectivo que é proposto alcançar.
A interpretação dos dados é fundamental para conduzir o processo tanto no que
respeita a reduzir omissões ou a evitar uma compreensão errada do problema, como a
corrigir a implementação do projecto. As interpretações que se desenvolvem a partir dos
dados dos informantes visam clarificar a compreensão possível do objecto da
investigação e se a mudança acontecer, tanto melhor. Tanto quanto possível é de todo o
interesse procurar envolver os informantes nas interpretações e encorajá-los a sugerir
exemplos de resolução.
A compreensão do problema que se procura resolver cresce à medida que se
avança no processo e constrói-se com a experiência ganha nas situações cíclicas de
acção e reflexão crítica.
51
A teoria da investigação-acção assenta no esquema (Dick, 2000):
-
na situação S, para produzir os resultados O1, O2, ..., tentamos as acções A1,
A2, ...
A interpretação integra o subjectivo e o objectivo. Cada participante investe com
as suas impressões, o seu quadro de referência e assim, tanto a teoria como o projecto
ganham objectividade, ao serem avaliadas através da acção, pragmaticamente.
Desenvolve-se a teoria e o projecto a partir da experiência. Apresentando um
conjunto de questões que ajudam a preparar a acção e depois um outro conjunto para
analisar o que aconteceu. A recolha e o tratamento dos dados é um momento da maior
importância, pois vai permitir fundamentar a reflexão e encetar um novo ciclo de acção.
As questões que se colocam para ajudar a encetar a acção são as do "porquê" e
do "como", questões que serão, então, testadas na acção. Posteriormente realiza-se uma
reflexão crítica e coloca-se a questão basilar: o resultado esperado foi atingido? Nunca o
é totalmente. Daqui parte-se para a implementação de uma nova acção baseados nos
resultados e conhecimentos entretanto adquiridos...
A teoria que aqui importa explicitar assenta na experiência vivida em três níveis
(Dick, 2000):
-
situações;
-
resultados pretendidos;
-
acções pretendidas.
Começa-se por se definir uma metodologia que se desenvolve em três fases
(Barbier, 1997, cit. in Barbier, s.d.):
-
definição do problema e contratualização;
-
planificação e realização espiral (cíclica);
-
teorização, avaliação e publicação dos resultados.
52
Ou, se for preferível, com esta abordagem cíclica proposta por Baskerville
(1999):
-
diagnose;
-
planeamento da acção;
-
acção;
-
avaliação;
-
aprendizagem
Por contratualização entende-se o que serve de plataforma para os actores.
Precisam-se as funções de cada um, as reciprocidades, as finalidades da acção, enfim,
todo um contexto. «A tarefa consiste em manter o frágil equilíbrio entre a abertura e a
livre expressão, por um lado, e o controlo e a estrutura, por outro» (Woods, 1990). Na
investigação-acção que ora se apresenta seguem-se os pressupostos de um contrato
aberto, tal como propõe André Morin (1992), «deve ser aberto em todas as suas
dimensões, tanto na problemática, na análise das necessidades, na definição dos
problemas, nas suas interrogações, como na metodologia que inclui a construção dos
instrumentos de recolha de dados e a revisão da informação respeitante às significações
das acções» (A. Morin, 1992).
Na investigação-acção o investigador age como um facilitador, as pessoas
desenvolvem a acção pretendida, os participantes investem-se na situação como
experimentadores e informantes, com os seus referenciais. O que resulta numa situação,
necessariamente, pode não resultar noutra. Não será tanto a objectividade que se revela
na teoria, antes são generalizações que ajudam a explicar o que aconteceu sempre tendo
em vista encaminhar para o sucesso do empreendimento. Aqui, o sucesso significa que
as acções A... produziram resultados O... na situação S.
Há muitas vantagens em poder exprimir a teoria em termos de situação,
resultados desejados e acções pretendidas. Os participantes poderão então reconhecer
que experimentando o mesmo tipo de acções produzirão resultados semelhantes em
situações semelhantes. A teoria é generalizável pelo menos por efeito de tentativa.
53
Na investigação-acção a ênfase pode estar colocada na acção ou então na
investigação, depende dos objectivos dos investigadores. O mais importante está em
alcançar a melhor compreensão do problema e chegar à sua resolução com uma teoria
explícita, substanciada numa resolução do protótipo.
6.3
Considerações sobre a Validade
A presente tese assenta na validade de duas premissas:
- para se integrar na sociedade de informação a escola implementa as novas
tecnologias de informação e comunicação
- o uso das novas tecnologias de informação e comunicação na escola promove
um processo educativo centrado no aprendiz
Aqui pode desde logo inferir-se uma conclusão:
o uso das TIC dentro e fora da sala de aula, promovendo um processo de ensinoaprendizagem centrado no aprendiz (onde os educadores também assumem que
aprendem), proporciona ambientes de aprendizagem que implementam a construção
duma comunidade de aprendentes.
É o objectivo fundamental que esta tese de investigação-acção, com o seu
produto - um documento hipermédia, um protótipo evolutivo - quis alcançar.
O documento hipermédia resolve-se num protótipo evolutivo, cujo título,
design.intro, sugere por si mesmo uma introdução ao design. O seu objectivo é
contribuir para a compreensão do design. Sempre disponível (e actualizável) na Web.
Na Sociedade de Informação o conhecimento concebe-se sob o paradigma da
complexidade. Cada vez mais, sente-se que o mais importante é «aprender a aprender».
54
Na investigação-acção que se desenvolveu é possível reconhecer uma relação
entre duas simples variáveis:
- a usabilidade do produto educativo hipermédia design.intro;
- a implementação de um ambiente de aprendizagem (neste caso, para facilitar a
compreensão do design).
Mas, em rigor, não se irá medir esta relação. Não é esse um objectivo duma
investigação-acção, porque, numa investigação-acção «não existe dispositivo de
investigação, nem qualquer verificação das variáveis, existem poucas ou nenhumas
medidas e presta-se pouca atenção à validade e à fiabilidade» (Ketele & Roegiers,
1993). A função prioritária desta investigação-acção consiste em tomar consciência das
determinantes da própria acção, com todos os actores (incluindo-se o investigador), no
sentido da sua formação e emancipação. Este objectivo, o do trabalho no terreno, e onde
se espera uma mudança, é muito mais indicado para uma investigação-acção.
A generalização que ensaiamos estende-se a qualquer relação que aplique as
mesmas variáveis em situações semelhantes. Esta relação assim estabelecida poderá até
ser entendida como uma aproximação universalizante. A generalização proporcionada
pelas nossas experiências deve ter alguma universalidade, neste caso, quando as
variáveis investigadas são as únicas variáveis operativas. «As generalizações não podem
ser feitas com base no número de observações (noção estatística), mas antes numa
amostra representativa» (Baskerville, 1999).
A investigação-acção encetada enquadra-se em parâmetros de orientação para a
mudança; espera-se contribuir para a mudança qualitativa do sistema educativo
implementando um documento hipermédia educacional.
Achou-se, e de acordo com muitos dos autores estudados, que a investigaçãoacção específica gerada pode resolver-se combinando outros métodos de investigação.
Procurou-se seguir as distinções de Dick (2000) quando, parafraseando Glaser, entre a
positivista hipótese - fase de testes e as metodologias emergentes, escolhem-se estas
porque não forçamos os dados para que encaixem nas teorias existentes, antes deixamos
55
que a teoria (inerente) possa emergir naturalmente dos dados. Poder-se-ia acabar esta
investigação-acção? «Uma investigação-acção termina assim que o problema inicial for
resolvido, se é que ele pode sê-lo realmente» (Barbier, 1997, cit. in Barbier, s.d.).
Importante será nunca esquecer o aviso de Piaget (1972) de que «o conhecimento é
processo antes de ser resultado».
6.4
Sobre a Recolha de Dados
Concedeu-se aos participantes na avaliação do projecto proposto, o contexto e os
instrumentos para avaliar. Assim, utilizaram-se as informações dos professores
participantes na investigação-acção para procurar melhorar a versão última do projecto.
"A investigação-acção conduz a aperfeiçoamentos na qualidade da educação porque as
mudanças necessárias e as suas interpretações e análises críticas são usadas como uma
base para monitorizar, avaliar e decidir qual o próximo passo a dar no processo de
investigação" (Ainscow, 2000).
Como referem Ketele & Roegiers (1993) "na investigação-acção estamos
essencialmente num processo de avaliação", pois para estes autores esse é o seu eixo
principal, o processo de recolha de informações e respectiva avaliação.
O referencial que se generalizou estará implícito à partida, em toda a sua
complexidade, mas o processo da investigação-acção vem tornar este referencial
explícito para os actores, já que os ciclos de acção e reflexão crítica irão pouco a pouco
construindo-o.
Uma função prioritária estabelecida com a avaliação prende-se com uma função
de formação e emancipação dos actores. É aqui que radica o interesse ou a posição
estratégica da investigação-acção em relação a outras formas de investigação, a sua
capacidade para «ajudar os actores a tomarem consciência das determinantes da sua
acção e a tomarem eles próprios decisões específicas consequentes» (Ketele &
Roegiers, 1993).
56
O referencial que serviu esta reflexão, articula-se nas quatro dimensões
interdependentes desta tese de investigação-acção, a saber: a Educação, a Ciência, a
Tecnologia, o Design. Dimensões que por sua vez já remeteram para aturadas reflexões
acerca da Cultura, das Políticas e das Práticas, numa tentativa de compreender os modos
de emergência das mudanças realizadas e assim contribuir para a produção de
conhecimento sobre os processos de inovação. O corolário é suposto apresentar-se
produtivamente num protótipo evolutivo denominado design.intro, um manual para a
compreensão do design.
Em coerência com o que foi dito, este projecto de investigação-acção, cujo eixo
é o protótipo evolutivo, define-se numa triangulação ponderada do «Ser, do Fazer e do
Devir» (Le Moigne, 1994a). O que é; o que faz; o que devém. De acordo com Whyte
(1991, cit. in Cardinal & A. Morin, s.d.) é um tipo de investigação-acção centrado na
resolução de problemas, neste caso, a implementação de um protótipo educacional.
57
5 - ACTUALIDADE DO DESIGN
As obras que o olho exige das mãos do homem são ilimitadas
Leonardo da Vinci
5.1
Do Objecto ao Projecto
A palavra inglesa design descende do conceito italiano renascentista de disegno
que se usava não apenas para traduzir a acção do desenho mas igualmente para referir
uma metodologia projectual de concepção. Design, traduz uma intenção, uma atitude
projectual. O homem do paleolítico resolvia um problema de design quando lascou a
pedra que utilizaria como sua extensão tecnológica, respondendo com astúcia artificiosa
à sua necessidade de caça.
O design, pela sua metodologia, pela ênfase que coloca no projecto, inscreve-se
expressivamente, ab initio, numa epistemologia construtivista. Não é o design uma
metodologia projectual que a partir de um problema concebe pelo artifício uma
resolução? Quando H. A. Simon define as «ciências do artificial» está a propor uma
alternativa epistemológica ao domínio das ciências naturais. A atitude projectual do
designer não se resigna à análise cartesiana do objecto, antes prefere a fórmula
estabelecida por Bachelard para um Novo Espírito Científico (1934): «A meditação do
38
objecto pelo sujeito toma sempre a forma de um projecto». Esta é a fórmula que faz do
homem de ciência um designer e do designer um especialista da forma artificial.
À semelhança da hipótese teleológica do construtivismo que se exprime nas
ciências da complexidade e que se propõe como alternativa à hipótese determinista do
positivismo, as ciências da concepção, do design, vêem na complexidade não um
objecto que se analisa por redução, mas algo que se concebe para atingir uma
finalidade. Para os homens de génio da Renascença não se distinguia as ciências das
artes, as competências artísticas eram "vocações" da Scienza. Leonardo da Vinci
continua a ser o melhor exemplo desta criatividade, ao seu método ele chamava
«ostinato rigore», à capacidade de modelização, Disegno, conceito italiano
renascentista, portanto, que está na origem do de design. A este método de modelização,
Vico nomeava-o «Ingenium». Ambos, da Vinci e Vico, sabiam que não acedemos
somente à compreensão do universo limitado aos fenómenos naturais, descobriam no
universo dos fenómenos artificiais a sua inesgotabilidade (Le Moigne, 1994b). A
efervescência contemporânea das ciências do artificial manifesta-se no design de
comunicação, de equipamento e de ambientes; nas ciências da cognição e nas ciências
informáticas, nas ciências da gestão, da farmacologia e da química...
Vico, quando propôs a Scienza Nuova, em oposição à análise reducionista
cartesiana, fundamentava-se no conceito de Ingenium, uma arte da invenção, uma
capacidade mental que permitia discernir relações entre as coisas e pressentir uma
teleologia no âmago da acção científica. Um entendimento que não desagradaria a da
Vinci nem aos pioneiros do design moderno.
Le Moigne, fundamentando-se noutros predecessores, como H. A. Simon,
teoriza sobre as «ciências do artificial» insistindo na sua distinção em relação às
«ciências do natural». Desmistificando o método analítico ou reducionista, para os
positivistas, único método científico, recorda-nos as vantagens do método do raciocínio
plausível, um método fundamentado num «paradigma da racionalidade aberta» (Simon,
cit. in Le Moigne, 1994b), aberto a raciocínios plausíveis, reprodutíveis, programáveis,
outros métodos de bem conduzir a razão (Bachelard), nas ciências do artificial, do
artifício, do que artificiosamente é resolvido com engenho. Ciências como a cibernética,
certo, onde o design opera como uma lógica da acção eficaz, mas onde se infere uma
39
compreensão do design, tout court, como uma dimensão criativa das acções humanas
que gera um universo do «artificial», e onde cabe tudo o que é feito pelas mãos do
homem como obra reconhecida.
H. A. Simon, profusamente citado por Le Moigne (1994b), oferece a definição
mais aberta de design, uma heurística, uma atitude de concepção para projectos
plausíveis. Simon convida a um modo de ver o conhecimento diferente: voltar o olhar
dos objectos naturais, presumivelmente independentes dos observadores, para o design
de fenómenos artificiais deliberadamente construídos pelos observadores actores.
Sistemas artificiais, «artificiosas máquinas» (da Vinci) que se situam não na natureza
mas no espírito do homem.
O design, é verdade, procura responder a necessidades, mas há um design de
pesquisa que intencionalmente se volta para explorar o campo dos possíveis. Piaget
propunha que a ciência se fundasse em projectos de conhecimento mais do que em
objectos, o design funda-se em projectos de objectos, não os objectos da análise
cartesiana, mas os objectos de comunicação e da dimensão artificial do quotidiano. Este
design é complementar do design de ciência. Simon caracterizava os objectos artificiais
«em termos de funções, de objectivos, de adaptação» (cit. in Le Moigne, 1994b), pois
todo o objecto artificial é um objecto de design. Simon comparava as obras do
engenheiro, do químico, do organizador, às obras do pintor, do escritor, do arquitecto.
Não isola a arte do engenho nem o engenho da arte, em ambos os campos aplica-se o
seu «princípio da acção inteligente». A concepção como «Science of Design».
Para H. A. Simon não é a causalidade que importa, mas a possibilidade,
colocada pelo projecto, não um postulado determinista, mas um postulado teleológico
(projectivo). Os paradigmas do construtivismo são partilhados pela teoria do design,
quando Simon fala de conceber a modelização, utiliza o conceito de design, avançando
mesmo uma «ciência do design», reflexo duma tradição projectual anglo-saxónica, o
princípio da acção inteligente pode, igualmente, ser entendido neste quadro. «O
processo de construção dos conhecimentos suscitando a compreensão dos fenómenos
talvez não seja apenas um processo de análise e, portanto, de disjunção de um sujeito e
de um objecto; talvez seja igualmente um processo (concorrente, diferente, autónomo)
de concepção (em inglês: design) e, portanto, de conjunção de um sujeito e de um
40
projecto» (Le Moigne, 1994b). Aproximam-se os paradigmas da arte (design) e da
ciência.
Com o axioma de Valéry: «raciocinamos apenas sobre modelos», explica-se a
importância da modelização. A complexidade talvez não esteja na natureza, mas sim no
espírito dos homens. Acedemos aos universos dos fenómenos pela simbolização, a
inteligência deste processo cognitivo de simbolização da complexidade funda o projecto
prometeico de modelização, (Le Moigne, 1994b). Uma conclusão epistemológica de
Glasersfeld: o conhecimento é algo que se constrói «com o objectivo de criar uma
ordem no fluxo da experiência».
O design é sempre um construtivismo, a sua metodologia assenta em projectos,
pensados como problemas plausíveis, desenvolve-se numa heurística dos possíveis e,
finalmente, modeliza uma resolução.
5.2
Da Utopia à Heterotopia1
Com a Revolução Industrial e os então emergentes movimentos de Reforma que
propugnavam melhorias na qualidade do ambiente de vida quotidiana, a noção de
design afirmou-se de modo cada vez mais urgente e racional. A emergência do design
na sociedade moderna, nomeadamente com o funcionalismo, funda-se numa utopia: «o
sonho do resgate estético da quotidianidade através da optimização das formas dos
objectos, do aspecto do ambiente» (Vattimo, 1989). Esta utopia é, no dizer de Vattimo,
a «ideologia do design».
O design sempre acompanhou, de forma dialógica, a crise da arte moderna (ou a
sua série consecutiva de pós-modernismos) desde a crise da representação da realidade,
com Cézanne, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, passando pela apresentação do
inapresentável (abstracção), com o suprematismo, o movimento De Stijl, o
construtivismo russo, o expressionismo abstracto, o minimalismo, até, finalmente, à
não-apresentação (abandono do processo estético), com o conceptualismo. «Quanto
1
Este é o título de um capítulo de A Sociedade Transparente (1989) de Gianni Vattimo que se reutiliza
dada a sua particular relevância.
41
mais a experimentação avançar com êxito no sentido de diminuir a aura e a autonomia
da arte, mais a aura e a autonomia se tornam propriedades exclusivas do poder
exibicional» (Appignanesi & Garratt, 1997). A arte já não se faz, instala-se (foi o jogo
dos ready made de Duchamp). O design apropria-se dos códigos da arte, mas para ele
haverá sempre necessidades porque ao design compete construir um ambiente humano.
As vanguardas do modernismo sonharam com o resgate estético da existência,
sonho em que a arte não podia mais representar o «domingo da vida» de que falava
Hegel. A ideologia do design realiza-se como extensão de uma noção da arte não
separada do concreto da vida quotidiana. Alude-se «a uma sensação de harmonia mais
geral, que tem as suas raízes na utilização dos objectos, no estabelecimento de
equilíbrios satisfatórios entre indivíduo e ambiente» (Vattimo, 1989). Uma utopia
unificadora, a unificação estética da existência. Mas, com a pós-modernidade, esta
ideologia explodiu devido à «impossibilidade de pensar a história como curso unitário»,
pois a cultura de massas não nivelou a experiência estética mas evidenciou a
diversidade cultural, «múltiplas comunidades que se manifestam, se exprimem e se
reconhecem em modelos formais e em mitos diferentes» (Vattimo, 1989).
A experiência estética, afirma Vattimo, «é uma experiência de comunidade»,
ora, num mundo de comunidades onde a experiência estética é vivida diferentemente, a
utopia é «distorcida» e transformada e assim, só se realiza como «heterotopia». A
experiência estética de uma comunidade não se pode identificar com a própria
humanidade, o mundo tornou-se plural e descobrem-se outras possibilidades de
existência. O horizonte do design tal como a possibilidade do mundo actual situa-se na
heterotopia.
5.3
Do Analógico ao Digital
Com a era digital, o design testemunha uma extraordinária mudança de
paradigmas. Em poucos anos o uso do computador mudou definitivamente o modo de
conceber e fazer design. Para ilustrar as mutações verificadas, veja-se agora, com Chris
Pullman (1998), a situação comparada do passado e presente do design gráfico:
42
2D / 4D
Antes, o design gráfico foi plano, estático e a duas dimensões.
Agora implica media híbridos, múltiplos. Já não é só visual, pois envolve uma multiplicidade de
sentidos, mais igual à vida, e que se joga num mundo a quatro dimensões.
Objecto / Experiência
Antes, o que fazíamos era um objecto.
Agora é mais uma experiência.
Composição / Coreografia
Antes, a arte do designer era composição.
Agora é uma coreografia. Num fluído mundo a quatro dimensões, o problema já não é tanto
encontrar a coisa certa, mas arranjar uma elegante sequência de relações. Isto significa
compreender como as convenções da tipografia e a dinâmica estabelecida entre palavras e
imagens muda com a introdução do tempo, do movimento e do som.
Fixo / Fluido
Antes, punha-se um grande cuidado em ter tudo exactamente no sítio certo, com relações
exactas.
Agora, cada vez mais, o que sai é variável, não é constante. Pensa-se no que é que vai parecer as
nossas decisões para Web no monitor de alguém. O problema novo está no design de regras para
as relações entre as coisas, e não numa única e previsível solução.
Artesanalmente baseado / Tecnologicamente baseado
Antes, a profissão encontrava-se organicamente ligada ao antigo trabalho manual, da
encadernação dos livros, do desenho e da gravura.
Agora, nada é tão físico, mas mediado por tecnologia que faz tudo parecer virtual. As
ferramentas básicas mudaram tão depressa que, como McLuhan previu, as coisas que podemos
fazer ou mesmo sonhar, serão completamente diferentes.
43
Isolado, só / Cooperativo, em equipa
Antes, podíamos fazer quase tudo sozinhos. Paul Rand 2 passou a maior parte da sua vida
profissional a trabalhar assim.
Agora, o paradoxo está neste facto: embora o computador pessoal e os custos de software
tenham revitalizado a tradição do homem-dos-sete-instrumentos (uma casa editora e um estúdio
pós-produção em cima da
nossa secretária), a tendência inclina-se para equipas
multidisciplinares e colaborativas de pessoas que trabalham com um objectivo comum. Já não é
só a nossa opinião pessoal que conta. A colaboração reclama um diferente tipo de requisitos, um
diferente tipo de ego, uma tolerância em relação à complexidade e ao consenso.
Uma voz / Muitas vozes
Antes, era possível assumir que havia uma só linguagem (a nossa), uma cultura, um conjunto de
significados.
Agora, as comunicações de massas, que se baseavam nessa noção, as massas, abrem caminho a
comunicações para utilizadores específicos, públicos-alvo, muda o regime do um-para-muitos
para o de muitos-para-um. Um regime onde a linguagem visual e verbal de cada utilizador (end
user) é quase seguramente diferente da nossa própria.
Ingénuo (naïve) / Auto-consciente
Antes, o design não tinha uma história consciencializada. Apenas fazia-se.
Agora, temos uma história e muitas pessoas escrevem sobre o assunto. Ironicamente, poucos
jovens actualmente sabem alguma coisa sobre tal assunto.
Neutral / Pessoal
Antes, pensava-se que a regra dos designers consistia numa mediação neutral entre mensagem e
receptor. Era o estilo modernista. Distanciar-se, ser claro, não obstrutivo, facilitador.
Agora, há mais tolerância, e mesmo uma certa apetência pela interpretação. Os teóricos dizem
mesmo que se torna impossível não trazer a nossa "bagagem" à cena. Reconhece-se e até
celebra-se a intrusão do receptor na mensagem. 3
Este extracto poderá parecer longo, mas valia a pena transcrevê-lo porque não se
pode ser mais sintético, em poucos pontos, Pullman explica o essencial da situação
2
Designer norte-americano (nascido em 1914) que foi director de arte da Esquire e da Apparel Arts,
concebeu capas para a revista cultural Direction, e entre outras coisas, criou o logotipo da IBM em 1956.
3
Pullman refere-se à interactividade.
44
contemporânea do design no "terreno". «A teoria torna explícito e compreensível o que
se encontra implícito na prática do design» (Bonsiepe, 1975).
5.4
Educação em Design
Caminha-se para a desmaterialização. Por outro lado, aquilo que preocupa os
designers, hoje, é mais a dimensão poética e afectiva dos objectos que a própria
funcionalidade, exige-se dos objectos que sejam mais comunicativos, afectivos e
amigáveis. Tal reflexão ajusta-se efectivamente na resolução de problemas de interfaces
e ambientes das aplicações digitais. Mas nesta dimensão de web design, em particular,
para uso educacional, onde as questões de usabilidade assumem um carácter premente,
os aspectos funcionais constituem algo que não poderá ser menosprezado. Aqui «a
forma segue a função».
O design partilha com a arte uma certa convicção de que «a experiência
sensorial é a melhor maneira de saber, pensar e sentir» (Barrett, 1979, p. 55), isto
significa que é preciso ir ao encontro dos sentidos dos utilizadores. Os ambientes
comunicativos que se criam precisam de alcançar a adesão afectiva do seu público,
neste sentido, pode-se arriscar um princípio de que a forma segue a fruição. Aliás,
parece ser na compreensão desta tensão dialógica de problemas de função e fruição que
reside o principal objectivo de uma educação para o design.
Mas uma tal educação obriga-se, hoje, a participar na emergência de um
paradigma ecológico. «As mudanças ambientais no nosso frágil planeta são uma
consequência daquilo que fazemos e dos instrumentos que utilizamos. Agora que as
mudanças que provocamos são tão grandes e tão ameaçadoras, é imperativo que os
designers e arquitectos dêem o seu contributo para ajudarem a encontrar soluções»
(Papanek, 1995, pp. 10-11). Esta é a sensibilidade do design contemporâneo. Perante
um tal estado das coisas, quem faz design precisa de seguir imperativos éticos na sua
actividade. O construtivismo de Francisco Varela (1992) poderá vir aqui em socorro
desta urgência ética quando cita este ditado: «onde os anjos hesitam em pôr o pé... só os
tolos ousam entrar».
45
4 - A RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO
Caminhante, não há caminho,
O caminho faz-se ao caminhar
Antonio Machado
4.1
Construtivismo: uma Teoria do Conhecimento e da Aprendizagem
Sempre houve construtivismos, pelos menos com alguns dos sofistas da Grécia
Antiga, como Protágoras que dizia que «o homem é a medida de todas as coisas», o que
significa que não há verdades objectivas, mas apenas crenças humanas; com os
nominalistas medievais como Abelardo que considerava que as palavras eram apenas
nomes (Robinson & Groves, 1995), o que é uma suspeita de como a linguagem constrói o
real. Ou ainda, aqueles que Le Moigne considera os três «V» do construtivismo: Leonardo
da Vinci; Vico e Valéry, podendo acrescentar-se muitos outros como Gaston Bachelard que questionava a analítica cartesiana e a quem se deve conceitos tão importantes como o
de «obstáculo epistemológico» e o de «ruptura epistemológica» - ou o «triângulo de ouro»
do construtivismo mais actual, constituído por Piaget, H. A. Simon e o Edgar Morin do
pensamento complexo (Le Moigne, 1994).
28
Ao aproximar os paradigmas das artes e das ciências, o construtivismo desmistifica
com argumentos epistemológicos os preconceitos positivistas que insistem em entender ad
verbum que a subjectividade é o domínio da arte e a ciência é o domínio da objectividade.
O reconhecimento da interacção do sujeito e do objecto traça um carácter teleológico na
teoria do conhecimento que no construtivismo se modela como projecto. Na esteira de
Piaget, o construtivismo propõe em substituição da axiomática positivista, uma outra
axiomática, fundando a ciência mais em projectos de conhecimento do que em objectos.
Antes de ser um resultado, o conhecimento é um processo que só se entende pelas
interacções do sujeito e do objecto.
O construtivismo é uma teoria do conhecimento e da aprendizagem, nesta
perspectiva, entende-se a aprendizagem como um processo auto-regulador. Os modelos da
realidade são um empreendimento humano construtor de significados, assume-se que
nenhum conceito pode ser ensinado fora do contexto. O conhecimento desempenha uma
função adaptativa. Esta asserção representa a ideia de que o conhecimento não constitui
uma realidade independente do conhecedor, antes desempenha uma função adaptativa deste
a uma realidade em perpétuo movimento. Supera-se o paradigma da representação do
“mundo real” pelo paradigma da adaptação, pois, o conhecimento não pode ser uma
“cópia” da realidade, trata-se da relação entre as estruturas conceptuais do sujeito cognitivo
e do mundo experimental desse sujeito, uma percepção e uma operação conceptual que
provou ser viável na experiência do sujeito cognitivo (Glasersfeld, 1995).
A construção do significado é um processo de acomodação que busca uma
adaptação relativa, havendo aqui algo de idiossincrático, nas dimensões individual e
cultural, a necessidade de se ajustar aos significados correctos das palavras não termina
com a infância, a partilha dos significados é uma questão relativa, ela constrói-se,
individualmente e na interacção com a comunidade. Glasersfeld (1995) chama a atenção
para a necessidade do professor construir um «modelo hipotético dos mundos conceptuais»
dos seus alunos e, assim, compete-lhe orientar a construção conceptual destes, rejeitando
caminhos e indicando outros como mais prováveis.
29
Piaget, no estudo da génese das estruturas cognitivas, defendeu que o mecanismo
que promove a mudança na cognição é o que ele denomina, equilibração, ou seja, um
processo dinâmico de comportamento auto-regulador, uma “dança” dinâmica de
equilíbrios, entre assimilação e acomodação, adaptação e organização, crescimento e
mudança, uma equilibração em espiral, estabelecendo trocas capazes de construir e manter
uma ordem funcional e estrutural num sistema aberto (Fosnot, 1996). O genoma, quando
perturbado, gera novas possibilidades, também as estruturas cognitivas quando perturbadas
geram novas possibilidades. As estruturas cognitivas procuram organização e
encerramento, cada estrutura é auto-reguladora, mantendo-se a estrutura sempre em
construção. Elabora-se, portanto, uma teoria da aprendizagem como auto-regulação.
Por outro lado, Lev Vygotsky (1934) desenvolveu um construtivismo com ênfase
numa psicologia sócio-histórica. Vygotsky distinguia conceitos espontâneos e conceitos
científicos, os primeiros são aqueles que a criança desenvolve no processo de construção,
os segundos são abstracções mais formais, com origem na actividade da instrução, entre
ambos os conceitos supõe-se uma «zona de desenvolvimento proximal». Os conceitos
científicos são «descendentes», impõem a sua lógica ao aprendente, os conceitos
espontâneos são «ascendentes» porque vão ao encontro do conceito científico. Ele também
avançou a tese de que o «discurso egocêntrico» da criança é o início da formação do
discurso interno, o que será usado como ferramenta do pensamento e insistiu na natureza
dialógica da aprendizagem, o adulto puxa a criança, reparando que os dois constroem
significados conjuntamente, é a noção do «andaime» da aprendizagem, a descoberta de
novas possibilidades que parecem ser viáveis.
Vigotsky também estudou o modo como a representação simbólica afecta o
pensamento, reparando como entre analfabetos ecoam padrões de uma actividade prática e
situacional e entre os que possuem uma educação formal são as categorias abstractas e os
seus significados a dominar a experiência e a reestruturá-la. Outros autores prosseguiram
investigações no âmbito do interaccionismo semiótico.
30
Com todas estas contribuições pode-se, então, sugerir a «equilibração» de uma
síntese, sabendo-se que não temos acesso a uma "realidade objectiva" dado que a
construímos e transformamo-la, a ela e a nós próprios, então o que importa é saber em que
consiste a interacção entre o sujeito cognitivo e a cultura. O processo de construção é
adaptativo e auto-organiza-se, a cultura é uma interacção negociada na evolução dinâmica
de interpretações, transformações e construções individuais (Fosnot, 1996). As perspectivas
construtivistas sociocultural e genético-cognitiva poderão considerar-se complementares,
ter-se-á que aqui fazer uma abordagem pragmática.
Um outro autor (pioneiro do construtivismo) que chamava a atenção para a
importância da interacção humana foi John Dewey (1938), a ele se deve a famosa
expressão «aprender fazendo». Na tradição do pragmatismo norte-americano, Dewey punha
uma ênfase especial na experiência, i.e., na aprendizagem experiencial, a aprendizagem
veiculada pela experiência directa, aprender experimentando, fazendo, construindo o
conhecimento, para ele a experiência deveria acompanhar sempre os conceitos, senão
mesmo, precedê-los. Tendo sido na área da educação um dos pioneiros no estudo da relação
crítica entre a pessoa e o meio, e para se assegurar que as crianças se envolveriam
activamente na aprendizagem, Dewey desenvolveu o conceito seminal de «ambientes de
aprendizagem». Ambientes onde a educação é um processo interactivo.
Também Jerome Bruner (1960), a partir da psicologia cognitiva, desenvolveu
conceitos construtivistas da educação. Ele achava que a teoria da aprendizagem precisava
de ser completada por uma teoria da instrução. A teoria da aprendizagem é descritiva
porque «nos diz que as crianças de seis anos ainda não estão prontas para compreender o
conceito de reversibilidade», a teoria da instrução é prescritiva porque «prescreve a melhor
maneira de guiar a criança a adquirir este conceito quando tiver idade suficiente para o
compreender» (Sprinthall & Sprinthall, 1990, p. 238). Neste âmbito, Bruner colocava
grande ênfase no ensino da estrutura dos diversos saberes, assim, podiam-se esquecer os
detalhes, mas as estruturas teriam sido assimiladas facilitando as actualizações sempre que
fossem necessárias. Bruner destaca-se, igualmente, por ter notado, no seu livro The Process
of Education (1960), a importância da motivação interior (para contrastar com a motivação
31
exterior), aquela que resulta das condições que predispõem um indivíduo para a
aprendizagem, para tal, identificando três impulsos inatos: o da curiosidade; o da aquisição
de competência e o da reciprocidade social. Bruner recomenda ao professor que tire partido
desta situação na sala de aula, propondo para a aprendizagem e na metodologia de
resolução de problemas, a «exploração de alternativas».
4.2
Ambientes de Aprendizagem
Contrariamente a uma reducionista ciência da educação, que tende a tomar a parte
pelo todo, noções como contexto e ambientes recordam-nos que a condição para o nosso
conhecimento de qualquer objecto passa com mais proveito por uma compreensão assente
na abertura dos sistemas do que no seu encerramento. O construtivismo é uma teoria sobre
a aprendizagem. A aprendizagem é desenvolvimento, um processo de construção de
significados, produzindo símbolos, realizando abstracções reflexivas, e estas são a força
motriz da aprendizagem. Nos anos 1960, McLuhan já tinha feito um ponto da situação, «a
nossa educação adquiriu há muito tempo o carácter fragmentário do mecanismo»,
enquadrava-se num paradigma da produção mecânica, herdeiro das necessidades da
Revolução Industrial, mas no «mundo da organização eléctrica» (McLuhan, 1968) cresceu
a pressão para implementar uma educação adequada a um mundo de crescentes interrelações.
Papert (1996) propõe uma «cultura de aprendizagem» que respeite os diferentes
«estilos de aprendizagem». Os computadores podem assim ser utilizados para os objectivos
de cada indivíduo. Esta utilização permite aos aprendizes ou aprendedores adquirir
«fluência tecnológica», não ter receio de experimentar, construtivamente. Papert (1996) cita
Bateson para referir que sempre que aprendemos, «aprendemos duas coisas: uma sobre o
que se está a aprender e, a outra, é sobre o meio de aprendizagem utilizado» (p. 69). Ora, a
lição que a escola mais comunica, como Bateson (cit. in Papert, 1996) recorda, «é a de que
não se pode aprender sem ser ensinado». A aprendizagem «natural» é melhor do que a
«aprendizagem de estilo escolar». É o que levou Bruner a focar o seu trabalho sobre a
32
aprendizagem na motivação «interior». No modelo construtivista é o aprendiz que tem de
construir o seu conhecimento e a função fundamental do professor consiste em criar as
condições para esta aprendizagem. À escola compete proporcionar um ambiente de
aprendizagem que não resida apenas no ensino directo e deixar que professores e alunos se
envolvam em projectos onde a abordagem do «aprender sobre a aprendizagem» seja uma
estratégia explícita. Ao contrário das estratégias do behaviorismo que privilegiam o
condicionamento, uma política de construção integral da pessoa deve ser tão envolvente e
responsável que o aprendiz nem se aperceba que está a aprender, de resto, como diz o
ditado, «estamos sempre a aprender». Todos gostam de aprender, o ritmo de aprendizagem,
o estilo pessoal, poderá ser a história de um reencontro. Não se trata de conceder
facilidades, Papert (1996) aponta para o facto de que todas as crianças, como todas as
pessoas, «não preferem a facilidade, querem o desafio e o interesse, o que implica
dificuldade» (p. 84). O que é fácil perde facilmente o interesse.
Algumas pessoas, tal como as crianças, aprendem a trabalhar com os computadores
clicando aqui e ali, até conseguir a acção certa. A este processo de aprendizagem por
tentativa e erro, Papert designa de «bricolage», e pode ser um estilo de aprendizagem tão
conveniente quanto um mais planificado. Muitos artistas seguem um processo muito
próximo da bricolagem. As verdadeiras mudanças na escola só serão possíveis quando a
«aprendizagem decorrer através da participação em projectos que constituam desafios, que
demorem semanas, meses ou anos. A tecnologia digital teria aqui um papel duplo: enquanto
meio de comunicação presta-se à realização de projectos complexos e sofisticados (...);
enquanto canal de comunicação permite aceder a conhecimentos quando se sente
necessidade deles» (p. 214). Se a escola continuar a propor um currículo que concede ao
aluno, para parafrasear Henry Ford, a liberdade de «escolher qualquer cor desde que seja
preto»1, pouco se terá feito pela educação e muito pela obsolescência da escola, pois, as
TIC estão a transformar o mundo e o objectivo de «aprender a aprender» fala com a
fluência tecnológica dos computadores. Se os jovens vivem em ambientes sociais
fortemente influenciados pelos media, para a escola não se reduzir a um lugar de detenção,
torna-se necessário que ela actualize o seu ambiente de aprendizagem.
1
Célebre expressão de Henry Ford para explicar o monocromatismo de série dos automóveis modelo T.
33
4.3
Comunidades de Aprendizagem
As comunidades de aprendizagem alargam-se para lá das paredes da escola, o meio
envolvente e a família desempenham cada vez mais um papel mais interveniente. Com as
comunidades de aprendizagem confere-se o papel crucial da interacção e da construção
social do conhecimento, criando ambientes sociais contextualmente significativos. O
conceito de comunidade de aprendizagem cresceu a partir das «organizações que
aprendem» de Peter Senge e vem apoiar a premência de reinventar a educação. Por
«comunidade de aprendizagem» entende-se a «estrutura social que sustenta o trabalho de
um grupo de indivíduos na prossecução de um objectivo comum» (Afonso, 2001). Aqui
promove-se a interacção, a colaboração e a construção de uma aprendizagem comum em
contextos relacionais favoráveis. Emerge uma mudança para um novo paradigma centrado
nos aprendentes. As «organizações que aprendem» são «organizações onde as pessoas
continuamente expandem as suas capacidades para criar resultados que realmente desejam»
(Senge, cit. in Smith, 2001). A mudança de paradigma implica que se mude a perspectiva
de «ver as pessoas como simples «reactores» para vê-las como participantes activos na
construção da sua realidade» (Senge, 1995), uma realidade onde as pessoas, muito
humanamente, aprendem a viver num modo contínuo de aprendizagem. Trata-se de um
processo em que as pessoas estão conscientes da precariedade do seu saber mas mantêm-se
abertas a influências construtivas dos outros. A «partilha de perspectivas» (shared visions)
é o que galvaniza uma organização, com um pensamento sistémico (systems thinking) sobre
os problemas em vez de um pensamento linear ou reducionista, deixando que o
conhecimento flua pelas interacções do grupo aprendente. Reside nestes factores a
possibilidade de lidar com a complexidade. Também a liderança, e neste caso a que é
representada pelos professores, muda de perspectiva, pois nas organizações aprendentes,
«os lideres são designers», cabendo-lhes proporcionar os contextos onde as pessoas
expandem as suas capacidades de compreender a complexidade, de clarificar pontos de
vista e implementar modelos mentais partilhados, sempre tendo por finalidade o imperativo
da aprendizagem. A nossa "visão" será sempre uma parte de algo mais vasto. Ao professor,
portanto, cabe ajudar os aprendentes a construírem perspectivas da realidade mais acuradas
e incisivas na interpretação de acontecimentos, padrões de comportamento e de estruturas
34
sistémicas, assim como nas «narrativas com propósito» (purpose story). Propósitos
resolvidos em tensão criativa. Costuma-se assumir que a escola é o lugar da aprendizagem,
mas parece ser mais o lugar onde se «memoriza uma enorme quantidade de assuntos de que
as pessoas realmente não querem saber, e onde tudo aparece fragmentado, (...) ora isto não
é um bom modelo de aprendizagem. (...) Realço a capacidade das pessoas para criar e
perseguir perspectivas globais» (Senge, 1995). As mudanças culturais requerem
aprendizagens colectivas e exigem à escola uma grande abertura à inovação. Urge
implementar um pensamento sistémico nas escolas, levar a perspectiva sistémica 2,
«holográfica» (Cardinal & A. Morin, s.d.), à educação e aprender como usar o
conhecimento de um modo que atravesse as fronteiras disciplinares. As escolas são
organizações onde os "produtos" são pessoas que aprendem a aprender ao longo da vida
(Senge, 1995), onde aprendem a ser cidadãos.
A interacção social é absolutamente fundamental na aprendizagem, nós não somos
indivíduos solipsistas. A mediação social se é essencial na aprendizagem da língua falada,
também o é em qualquer dimensão da aprendizagem, «sem o outro, a experiência do outro,
não se terá a percepção de si mesmo. (...) O acesso à primeira pessoa é tão público quanto o
é a terceira pessoa» diz Varela (2000), mesmo reconhecendo que possa haver aqui um «nó
cego». «Como indivíduos não temos uma substância sólida. O sujeito não é coisa que se
possa localizar, só pode ser transitório. (...) A vida é um constante processo de
reacomodação». Baseando a sua metodologia na introspecção, na fenomenologia e nas
tradições contemplativas orientais, Francisco Varela aprecia a noção de fragilidade no
pensamento ontológico, radicalizando uma posição anticartesiana, afirma que o sujeito não
é nem estável nem uma entidade sólida, e aqui aproximando-se de Vattimo, figura o sujeito
em «múltiplos níveis de emergência, mas sempre frágil», ou como prefere, enquanto um eu
em permanente actualização e autorenovação, um «eu virtual», distribuído por múltiplos
níveis, portanto virtual.
2
Por sistémica entende-se a forma de compreender e controlar sistemas complexos, onde sistema significa
uma rede de conjuntos interligados de um dado ambiente com um número considerável de interacções. A
sistémica «favorece o estudo dos problemas na sua totalidade, na sua complexidade e na sua própria
dinâmica» (Cardinal & A. Morin, s.d.). A sistémica inscreve-se no construtivismo, caracterizado pelo
relativismo, o subjectivismo, a hermenêutica.
35
Propõem-se comunidades de aprendizagem apoiadas pelas TIC, que constituam
factores de impacto na inovação e na mudança educativa. Esta problemática exige a criação
arquitectónica e organizacional de contextos de interacção humana adequados, «os
membros destas comunidades, precisam de actuar numa articulação harmoniosa de
competências, tal como numa orquestra» (Kahn, 1999, cit. in Andrade & Machado, 2001).
Por outro lado as comunidades de aprendizagem podem articular-se em redes de
comunidades virtuais de aprendizagem através da Internet. As comunidades de
aprendizagem em ambiente mediado pela tecnologia obriga a um equacionar a sua
dimensão colaborativa, uma tarefa complexa de articulação de inter-relações: indivíduo comunidade - objectivos - ferramentas - regras - divisão do trabalho (Lewis, 1997, cit. in
Andrade & Machado), a gerir pelos membros da comunidade.
Sabendo-se que, hoje, uma «escola de sedução» (Moreira, 2001) passa pelo uso das
TIC, não se poderá deixar de explorar as novas possibilidades oferecidas pelo rápido
desenvolvimento da tecnologia, acompanhando-as com as novas teorias educacionais e
cognitivas. «A introdução de uma nova tecnologia pode significar um grande potencial para
a educação só se os pedagogos confrontarem-se eles próprios com a necessidade de a
entender, não apenas em relação aos problemas técnicos e de gestão relacionados com o seu
uso, mas também no modo como as novas possibilidades oferecidas pela tecnologia podem
ajudar a resolver problemas no âmbito da prática didáctica» (Bottino, 2000). A metáfora
prevalecente consiste no entendimento de que o computador funciona como um ambiente
de aprendizagem. Aqui, aprender significa que o aprendente está imerso num tópico e está
motivado para procurar um novo conhecimento, adquirindo novas aptidões a partir das
indicações que o professor seleccionou e organizou. A aprendizagem pode assim ser
sentida como baseada numa activa exploração mais do que num modelo transmissivo. A
interacção do aprendente com o computador não se pode reduzir meramente a uma
construção individual, ela implica também uma construção social, pois há todo um
ambiente de aprendizagem envolvente. A «metáfora da transmissão» (Bottino, 2000) em
que se baseiam os sistemas tutoriais e de treino e prática com as TIC «não mudam
substancialmente o modo como o utilizador interage com um dado conhecimento e não
contribui para criar novas maneiras de dar significado a conceitos relacionados com ele»
36
(Bottino, 2000). Neste sentido, estes sistemas revelam-se bastante limitados. As teorias
construtivistas mudaram o paradigma de referência para uma «metáfora centrada no
aprendiz» (Bottino, 2000). O interesse voltou-se para os sistemas centrados no aprendiz e
para uma aprendizagem baseada em problemas. As tecnologias não deverão apenas
oferecer um suporte nas actividades de aprendizagem dos alunos ou também na actividade
dos professores, terão que envolver a situação educativa no seu todo, contexto onde
intervém a «metáfora da participação» referida por Bottino (2000), i.e., onde se introduz a
construção social desenvolvida pelo ambiente de aprendizagem e sua dinâmica, porque o
papel desempenhado pela mediação da tecnologia não pode cobrir o ambiente no seu
conjunto.
Em um «sistema aberto de aprendizagem» (Pereira, 2001), centrado no aprendiz, e
pela metáfora participativa, o educador pode actuar como um «passeur de sens» (Barbier,
2000, cit. in Coelho, 2001) co-aprendiz, ser um «sujeito polifónico» (Duborgel, 1995, cit.
in Coelho), se possível consciente da sua «virtualidade» (Varela, 2000) e o aprendiz
explorar actividades de metacognição. Ambos envolvidos num processo participativo de
construção social de significados indissociável do uso dos computadores nas práticas
pedagógicas e da organização da comunidade de aprendizagem.
37
3 - A CRISE CIENTÍFICA
O caminho que seguimos não é o único caminho
Lao-Tsé
3.1
Debate Epistemológico
A epistemologia construtivista confronta-se com uma, até há bem pouco tempo
dominante, ou talvez ainda instavelmente institucionalizada, epistemologia positivista
que, à boa maneira cartesiana, crê que o sujeito pode, pelo método analítico, alcançar
um conhecimento garantido do objecto, reduzindo a sua complexidade e tornando-o
quantificável. Um esforço que acabou por causar grandes embaraços a esta
epistemologia, quando as investigações no domínio da física quântica verificavam que o
observador afectava o comportamento do observado, v. g., do «real só podemos
conhecer a nossa intervenção nele» (Santos, 1987). Para todos os efeitos, desde meados
do século XX, a ciência positivista, reducionista e muito ciosa dos seus paradigmas
começou a ficar em sérios apuros, nomeadamente, com a crítica de Thomas Kuhn em A
Estrutura das Revoluções Científicas onde se refere o papel da crise na comunidade
científica para que existam as condições de emergência de uma nova teoria (cit. in
Carrilho, 1989). Com Kuhn desfaz-se a crença de que a ciência é uma progressão linear,
contínua e cumulativa, pois, as revoluções científicas ocorrem quando um paradigma
24
vacila e um novo se impõe. Feyerabend, na esteira de Kuhn, chega mesmo a criticar o
método científico (em Contra o Método, 1974) propondo uma «anarquia
epistemológica» (cit. in Robinson & Groves, 1995) dada a pluralidade das heurísticas.
Jean Piaget, também ele um leitor atento de Kuhn, insistentemente apelou nos
seus trabalhos para a necessidade de uma epistemologia alternativa ao positivismo ou ao
neopositivismo, «cada vez mais, o conhecimento é visto mais como um processo do que
um estado» (1972). Investigando no domínio da psicologia genética ele indagava sobre
a construção do real na infância e ao mesmo tempo trabalhava os fundamentos de uma
epistemologia genética. Piaget encorajou e colaborou, num plano interdisciplinar, com
outros autores (como Papert) no sentido de estabelecer uma nova teoria do
conhecimento. «A divisão dos domínios científicos é assunto de abstracção mais que de
hierarquia» (Piaget, 1970, p. 144).
O que é intrigante é perceber como é que a analítica cartesiana, fundamento do
reducionismo, durante tanto tempo se impôs dogma, a ponto de se «reservar a expressão
método científico apenas ao método cartesiano» (Le Moigne, 1994b). Leibniz já
advertia para o risco de se aumentar a dificuldade ao dividir o problema. Reducionismo,
determinismo, positivismo; esta doutrina racional que «permitiu um grande progresso é
um raciocínio pobre que se torna cada vez mais paralisante, não por ser inumano, mas
porque apenas dá conta de uma parte da realidade» (Crozier, 1972, cit. in Le Moigne,
1994b). É esta pretensão à universalidade e ao monopólio da racionalidade que se faz
exercício de poder, estabelecendo «regimes de verdade», e em seu nome, vigiando,
censurando e excluindo, que um filósofo como Foucault (cit. in Carrilho, 1989) analisa
com pertinência.
Não conseguindo desfazer-se do postulado da objectividade (universal), a
epistemologia positivista crispou-se numa intolerância que a condena, inscrevendo-se, o
construtivismo, numa alternativa que está de acordo com muitas das posições da pósmodernidade que questionam a universalidade das verdades. Morin sugere uma
«verdade biodegradável». Leonardo da Vinci sabia que existiam lógicas, não uma
lógica, e propunha uma atitude projectual: a do «ostinato rigore». Vico afirmava: «a
humanidade é obra dela mesma», ou seja, construiu-se, é uma autocriação. Simon
propõe um paradigma da «racionalidade limitada» aberta aos raciocínios plausíveis,
25
métodos de bem conduzir a razão. Considera-se o conhecimento mais um «projecto
construído do que um objecto dado» (Le Moigne, 1994b).
3.2
Complexidade e Pensamento Multidimensional
Diga-se que o problema do conhecimento não é tanto o da verdade científica,
que se faz «grande narrativa de legitimação» (Lyotard, 1989), antes radica na validade.
A função adaptativa do conhecimento lida com estruturas perceptuais e conceptuais que
foram construídas, são as estruturas conceptuais que constroem significados para
compreender um mundo que não é o mesmo quando independente do observador, aquilo
que é costume chamar-se realidade objectiva não pode representar-se senão como um
modelo. O insuspeito Watzlawick (1991) esclarece, de resto, sobre a forma como a
comunicação cria aquilo a que se chama realidade, sobre a forma como a construímos.
«As nossas ideias (...) acerca da realidade são ilusões (...) e a ilusão mais perigosa de
todas é a de que existe apenas uma realidade. Aquilo que de facto existe são várias
perspectivas diferentes da realidade, algumas das quais contraditórias, mas todas
resultantes da comunicação e não reflexos de verdades eternas e objectivas». Por outro
lado, sabe-se algo sobre como se constrói a realidade enquanto representação mental. A
partir de investigações na área da fisiologia da percepção visual constatou-se que as
imagens, grosso modo, não chegam ao cérebro de uma vez, o cérebro organiza os
estímulos recebidos em diferentes áreas, primeiro analisa a estrutura do observado,
descodifica a textura, interpreta a cor... até construir uma imagem satisfatória (o que
nem sempre acontece). As figuras ambíguas demonstram que as estruturas perceptuais
do córtex podem ser facilmente enganadas. Nem as representações visuais da realidade
são universais, a fisiologia do olho humano apresenta características que diferem
doutras espécies animais, dos répteis, dos pássaros, dos insectos e diferem mesmo
dentro da família dos mamíferos. A ciência constrói modelos da realidade, alguns
parecem funcionar, outros poderão não funcionar satisfatoriamente, estes modelos são
alegorias do real. O próprio modelo de compreensão da matéria e das forças que a unem
está a ser questionado pelos físicos, segundo a New Scientist em notícia relatada pelo
jornal Público (2001, 7 de Dezembro, p. 38), os físicos do Laboratório Europeu de
Física de Partículas (CERN) fizeram experiências no maior acelerador de partículas do
mundo, o LEP, para procurar o bosão de Higgs, mas deste não há vislumbre. O
26
problema é que o bosão de Higgs é central no modelo padrão, a teoria que descreve a
organização de um conjunto de partículas elementares e das forças existentes entre elas,
como os electrões, os neutrinos, os quarks ou muões, e forças como a fraca e a forte.
Este bosão poderia explicar por que é que a matéria tem massa, mas a já alcunhada
"partícula de Deus" teima em não existir.
Com a pós-modernidade as fronteiras do saber científico diluem-se na totalidade
do real. A física quântica, impondo o princípio da incerteza de Heisenberg, ao lembrar
que «não conhecemos do real senão a nossa intervenção nele», demonstra a intervenção
estrutural do sujeito no objecto observado. Prigogine (cit. in Santos, 1987) confirma um
paradigma emergente, já não se trata de eternidade, mas de história, «em vez do
determinismo, a imprevisibilidade; em vez do mecanicismo, a interpenetração, a
espontaneidade e a auto-organização; em vez da reversibilidade, a irreversibilidade e a
evolução; em vez da ordem, a desordem; em vez da necessidade, a criatividade e o
acidente». A ciência moderna, com um modelo que separava o humano e a natureza,
visava conhecer a natureza para a dominar e controlar, o determinismo mecanicista
tinha por horizonte uma forma de conhecimento utilitário e funcional. A pósmodernidade, à medida que cresce «a indistinção entre orgânico e não orgânico,
humano e não humano, uma vez que as características de auto-organização, do
metabolismo e da auto-reprodução, são hoje também atribuídas aos sistemas précelulares, faz sucumbir a distinção entre ciências naturais e ciências sociais» (Santos,
1987).
A aceitação da complexidade do mundo fenomenal poderá não ser reconfortante,
pois não há nenhuma simplificadora lei da complexidade, «a complexidade é uma
palavra problema e não uma palavra solução» (Morin, 1990). Está-se perante um
desafio, o de um pensamento capaz de negociar com o real, um pensamento que se
deseja «multidimensional» (Morin, 1990.).
27
2 - A DIMENSÃO TECNOLÓGICA
Mas onde está o perigo, cresce
Também aquilo que salva
Hölderlin
2.1
Perspectivas
A sociedade vive centrada no paradigma da técnica, pelo menos, desde a Revolução
Industrial. Se a sociedade medieval era teocêntrica, a sociedade moderna é tecnocêntrica.
Neste processo de desenvolvimentos tecnológicos proporcionados pelo devir histórico,
passa-se de uma era industrial de titânica produção de hardware, sobretudo pesada, para
uma era digital de tecnologias software, sobretudo leves, a caminho de uma nanotecnologia
próxima da imaterialidade. Com a sociedade de informação acelera-se a comunicação
através dos media digitais. A era digital co-habita com a pós-modernidade, iniciando um
paradigma da complexidade que, certamente, está a levar a um repensar o lugar do homem
no mundo.
17
Técnica tinha para os gregos um significado diferente daquele que é costume
atribuir-se-lhe, segundo Heidegger (1962), deriva de technikon, o que pertence à technè,
que quer dizer: «conhecer-se no acto de produzir». Esta é a razão porque os gregos não
diferenciavam "técnica" de "arte", «technè não é um conceito do fazer, mas um conceito do
saber», tratava-se de saber tornar manifesto o que não era presente. Ora, com a
modernidade, a técnica exprime-se nos meios tecnológicos, o saber-fazer cria um ambiente
artificial onde o medium tecnológico se instala como mediação produtiva entre o homem e
o mundo. Quando McLuhan (1967) afirma que «o meio é a mensagem», ele também insiste
em recordar que o meio enquanto mensagem actua como «massagem», i. e., um medium é
um ambiente condicionante. Com a técnica, mais que aquilo que se produz tem-se algo que
nos produz. A técnica, agora sob a definição de tecnologia, que é um tecno-logos, não tem
nada de neutro.
As coisas que se criam para nosso uso, são extensões onde o tecnológico comunga
com o simbólico, não apenas extensões mecânicas, elas conectam-se com o sistema
nervoso, o cortex, com todo o campo perceptivo, participando na construção da própria
experiência do mundo. As coisas novas que se fazem e os novos meios de comunicação
como extensões do homem «introduzem novos hábitos de percepção», pois, «qualquer
extensão – seja da pele, da mão ou do pé – afecta todo o complexo psíquico e social»
(McLuhan, 1964). Os meios de que dispomos induzem novas conexões, mudanças
simbólicas contextualmente imbuídas.
Neste sentido, pode-se considerar que as novas tecnologias não só estão a
transformar o modo de produção da sociedade actual, como estão a realizar a «metanóia»
(Senge, cit. in Pereira, 2001) do «ser digital» (Negroponte, 1995). Contudo, há autores
conceituados na reflexão sobre as tecnologias, como Paul Virilio, especialista no estudo da
velocidade no ordenamento do espaço e do tempo, a que chama «dromologia», que
constroem uma visão pessimista sobre o futuro graças às novas tecnologias. Para Virilio
(1990), a recente aceleração nas novas tecnologias, toma por referência um corpo deficiente
em vez de um corpo locomotor. Ele denuncia também o facto de se estar a criar um
encerramento do mundo com a abolição das distâncias, dada a contracção do espaço e do
18
tempo proporcionada pela velocidade nas comunicações (Virilio, 1995). Acerca da
influência social da Internet, Virilio (1996) considera mesmo que «a interactividade (...)
pode provocar uma união da sociedade, mas encerra, em potência, a possibilidade de a
dissolver e de a desintegrar, e isto, à escala mundial».
Estas perspectivas perturbantes fazem recordar as reacções dos românticos do
século XIX que viam na emergência da Máquina um instrumento de desumanização e,
entretanto, as máquinas transformaram o mundo, causando com o processo industrial, é
verdade, danos ecológicos catastróficos que suscitam a urgência de medidas de reparação.
Mas, na história como na natureza, tudo permanece transformável. Não se trata de negar a
técnica ou a tecnologia, Heidegger reparou que ela não tem nada de neutro, mas insistia na
necessidade de se continuar a interrogá-la sem deixar de a aceitar. Como dizia Papert
(1996), «o efeito positivo ou negativo das tecnologias é uma questão em aberto». Pode-se
entender o que Baudrillard quer dizer quando prefere considerar as «extensões do homem»
como «exclusões do homem», mas a dimensão tecnológica é constitutiva da humanidade.
Escute-se Kerckhove (1995) quando afirma que a própria linguagem e os alfabetos
constituem uma espécie de software, a humanidade está culturalmente predisposta para a
tecnologia, pelo menos em alguma das suas formas. Para alguns, a questão consiste em não
se transformar o humano em extensão dela. O simulacro de realidade produzido pelos
media, enquanto ersatz, cria uma «hiperrealidade», (Baudrillard, 1981), um mundo onde
uma realidade mais "real" que o real faz implodir qualquer significado (que não seja o do
espectáculo). Contudo, com ou sem «o ecrã platónico dos media»1 (Kellner, s.d.) deve
entender-se toda a comunicação como mediatizada. E volta-se mais uma vez à questão do
abuso e do uso, de manipulação ou educação.
A concepção newtoniana do tempo, segundo a qual, o tempo flui uniformemente, à
mesma velocidade, universal, absoluto e neutro, foi profundamente alterada pela teoria da
relatividade formulada por Einstein que introduziu o conceito de espaço-tempo. Ilya
Prigogine (cit. in Bindé, 2002) interrogou o porvir do tempo e introduziu a incerteza na
ideia de tempo, mostrando que as leis reversíveis de Newton dizem respeito somente a uma
1
Alusão à alegoria da caverna de Platão.
19
pequena fracção do mundo em que vivemos, como a descrição do movimento dos planetas,
mas não formula leis que impliquem fenómenos irreversíveis. «O tempo não tem um
porvir, mas porvires», refere Bindé (2002) parafraseando Prigogine. Com a entrada num
mundo de probabilidades, de futuros múltiplos, a contracção do tempo e do espaço
realizada pela aceleração tecnológica, nota Bindé 2, progride para o infinitamente breve:
Se se procura algumas referências cronológicas sobre a contracção do tempo na história, é
preciso lembrar que se começou a falar de décimo de segundo em 1600, de centésimo de segundo em
1800, de milisegundo em 1850, de microsegundo (milionésimo de segundo) em 1950, de
nanosegundo (mil milionésimo de segundo) em 1970, de fentosegundo (mil milionésimo de
milionésimo de segundo) em 1990 e que se falará provavelmente em 2020 de atosegundo, isto é, de
milionésimo de milionésimo de milionésimo de segundo! (p.10, Março, 2002)
Este fenómeno tem efeitos em todos os campos da sociedade moderna, a
obsolescência é um desses efeitos mais evidentes, a aceleração do tempo suscita «um
desaparecimento de objectos que são doravante substituídos por outros. O tempo
tecnológico, mas também social, é doravante volátil, quase fantasmagórico» (Bindé, 2002).
O desenvolvimento dos novos meios de informação suscita a impressão de que a
história acelera e o planeta se contrai. Mas a «aldeia global» só existe para quem estiver
conectado com as redes, porque nestes tempos pós-modernos assiste-se igualmente a um
«recrudescer dos particularismos culturais» (Augé, 1992), ou se se permite a comparação,
uma proliferação de múltiplas aldeias do Astérix, na melhor das hipóteses, uma
«heterotopia», no dizer de Vattimo (1989). Entretanto, verifica-se como o desenvolvimento
das novas tecnologias e a globalização da economia estão a criar novas fronteiras
«desterritorializadas» (conceito de Deleuze & Guattari, cit. in Lévy, 1998). O dinheiro e a
tecnologia são hoje os pilares desta civilização desterritorializada, ou pelo menos de um
modelo de civilização que mediaticamente se impõe. No entanto sente-se que falta algo
mais, e este algo mais é que é o problema. A «Tecnopolia» (Postman, 1992) esqueceu,
deturpou ou subverteu valores fundamentais da espécie humana, também aqui, não se trata
de negar a tecnologia, mas de não deixar que ela, feita Deus ex machina, domine a
2
Bindé é Director da Divisão de Antecipação e Estudos Prospectivos na UNESCO.
20
humanidade. Já foi referida a importância de se construir uma cultura tecnológica, só que
esta deve ser implementada com uma educação construtivista «radical» (Glasersfeld, 1995)
onde a cultura não se reduza a um pensamento único.
2.2
Potencialidades
Papert (1996), autor do LOGO, uma linguagem de programação concebida para fins
educativos, foi dos primeiros a descobrir no uso dos computadores as suas potencialidades
para criar uma nova cultura de aprendizagem nas escolas, numa altura em que os
computadores avassalavam a sociedade, optimizando o desempenho económico e abrindo
uma nova dimensão lúdica no imaginário das crianças, Papert insistiu construtivamente em
ver nos computadores, máquinas de ensinar e aprender e criticou a resistência que se fazia à
sua implementação nas escolas, «o movimento de utilização de computadores nas escolas
encontra-se dramaticamente atrasado em relação ao desenvolvimento da utilização dos
computadores em casa». Embora sabendo-se que esta situação está a inverter-se, haverá
mais computadores em casa dos alunos do que na escola, situação que exercerá alguma
pressão para levar a escola a reformas educativas. Papert vê nos meios de comunicação
digitais para a educação, na sua extraordinária flexibilidade, um instrumento capaz de
permitir a cada aprendiz encontrar o seu próprio estilo pessoal de aprender.
O computador tornou-se uma privilegiada ferramenta de trabalho, um sofisticado
instrumento de comunicação em qualquer sociedade modernizada. Estamos perante uma
tecnologia em evolução permanente, das válvulas de vácuo passou-se aos transístores e
destes aos circuitos integrados em crescente miniaturização e grau de complexidade. A
desconcertante simplicidade do código binário vem possibilitar o desenvolvimento de
aplicações lógicas complexas mediante poderosas linguagens de programação.
O primeiro computador programável, um dispositivo mecânico, foi concebido por
Babbage em 1823, mas foi a álgebra de Boole que abriu o caminho para a informática com
o seu sistema de lógica simbólica. Ainda no século XIX, o filósofo Peirce introduziu a
21
álgebra booleana nas universidades dos EUA e assim plantou uma semente que daria frutos
meio século mais tarde quando Shannon dá conta das implicações da lógica de Boole para o
design de computadores aplicando-a em circuitos eléctricos. Com a legendária máquina de
Turing os dados passavam a ser introduzidos numa fita de papel dividida em quadrados
marcados simbolicamente por meio de instruções armazenadas na sua memória interna. As
válvulas de vácuo representaram um novo avanço, o computador electrónico digital ENIAC
(1946) que pesava cerca de 30 toneladas, operava com mais de 17 000 válvulas de vácuo a
uma taxa de 100 000 impulsos por segundo. Para além de desenvolver a teoria dos jogos,
von Neumann intuiu as potencialidades dos computadores para trabalhar com inúmeros
tipos de tarefas e concebeu (num memorando publicado em 1945) a arquitectura de um
sistema de computação com uma unidade lógica central, uma unidade de controlo central,
uma memória e dispositivos de input e output.
A invenção do transístor viria a substituir as válvulas de vácuo e o caminho para a
miniaturização começava. Em 1950, Teal apresenta um transístor feito em sílica tornando
assim o produto muito mais barato e desenvolvem-se processos de fotogravura dos
circuitos. Surge então Kilby em 1958 com um protótipo de circuito integrado, uma pastilha
de 10 mm. Com a produção em massa de circuitos integrados estes passaram a ser
chamados chips. Em 1964 um chip media 2,5 mm² e continha um total de 10 transístores
entre outros componentes. Desde então, a miniaturização e complexificação dos chips não
mais parará. Em 1968, a Intel introduz o primeiro chip com memória capaz de armazenar
um Kilobit de informação e em 1971 um microprocessador já tinha tanta capacidade quanto
um computador mainframe dos anos 1950. Em 1969 estabelece-se a ARPANet, rede de
computadores militares, precursora da Internet.
E a partir de 1975 cresce a ideia do computador pessoal, a hora é dos jovens
empreendedores. Em cinco anos a Apple de Steve Jobs e Wozniak salta de uma garagem
transformada em oficina para a envergadura duma empresa com um mercado estimado em
um bilião de dólares. Paul Allen e Bill Gates escrevem uma versão da linguagem BASIC
para o computador Altair de Roberts e depois fundam a muito auspiciosa Microsoft. 1979 é
o ano do lançamento da disquete. Em 1981, o gigante da indústria electrónica IBM, anuncia
22
a sua intenção de produzir PC´s. O estabelecimento da rede de computadores NSFNet
(National Science Foudation Computer Network) em 1984, surge a partir da ARPANet,
originando a Internet, nesta data surge também o primeiro Macintosh da Apple. 1985 traz o
CD-ROM e será o ano em que Warnock e Brainerd apresentam um software de edição
electrónica que ajuda os editores e os designers a paginar livros, jornais e revistas com um
computador pessoal. E em 1987 aparece o QuarkXPress para os profissionais da edição
gráfica. Em 1990, o Desenho Assistido por Computador (CAD) revela-se uma ferramenta
indispensável nos gabinetes dos projectistas. 1993 é o ano que inicia a geração dos
processadores Pentium. 1994, assinala a rápida expansão da Web que Tim Berners-Lee,
engenheiro do CERN, criou com a linguagem de programação HTML, desenvolvida ao
longo dos anos 80. O iMac, em 1998, anuncia o regresso de Jobs no relançamento
estratégico da Apple. Em 1999, o Linux, um sistema operativo não proprietário, promete
uma alternativa ao domínio do Windows da toda poderosa Microsoft. O ano 2000 torna
mundialmente disponível a tecnologia dos telefones móveis WAP (Wireless Application
Protocol). Aguarda-se a tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecomunications System)
que permitirá aceder à Internet em banda larga com telemóveis ou computadores portáteis.
Aproxima-se uma nova geração de objectos nómadas.
Não será
demais, portanto, insistir nas potencialidades educativas dos
computadores. Talvez eles não substituam de facto os professores, mas podem e devem
modificar o papel destes. As TIC estão a obrigar o repensar totalmente a escola. Mais tarde
ou mais cedo, o modelo das aulas espartilhadas e sujeitas a uma perspectiva de ensino
cederá, face à pressão da sociedade, a uma perspectiva da aprendizagem. O que é cada vez
mais valorizado é a capacidade de ir procurar a informação onde ela existe. Se as TIC estão
a transformar a sociedade é preciso que a escola participe nessa transformação sem
qualquer preconceito. Impõem-se novos estilos de aprender e de gerir a aprendizagem.
23
1 - INTRODUÇÃO
É como poeta que o homem mora nesta terra
Hölderlin
1. 1
Introdução Geral
Tendo em conta a formação académica do autor, a sua experiência na área do
design e, sobretudo, a sua prática docente em Educação Visual, Desenho e Geometria
Descritiva e Teoria do Design, escolheu-se a temática do design para o projecto de um
documento hipermédia a desenvolver que se intitula design.intro, uma introdução ao
design. Esta escolha deve-se, em grande medida, à constatação de que existem lacunas
documentais na área de recursos digitais multimédia adaptados ao ensino do design ou,
como neste caso particular, para a compreensão do design. Enquadrado na área da
Educação Multimédia, este trabalho de tese de mestrado pretende reflectir e
problematizar sobre esta relação de educação e tecnologia, resolvendo-se nas suas
conclusões com uma aplicação hipermédia de interesse pedagógico. Esta tese segue
uma metodologia de investigação-acção e, neste âmbito, não se pode deixar de referir
que a aplicação desenvolvida, destinada a estar acessível na Web e em suporte CD,
define-se como um protótipo evolutivo, apresentando-se aqui numa versão dada por
1
conveniente, inserida, portanto, num processo de construção, implementação e
actualização que se deseja ver reconhecido.
O design é uma disciplina que tem relações transversais com a arquitectura e as
artes plásticas, deste modo, e no contexto histórico do desenvolvimento tecnológico,
desempenha um papel fundamental na construção do nosso ambiente civilizacional.
Entende-se que o design é um conceito a incrementar na sociedade portuguesa,
atendendo às necessidades de integração na modernidade e às carências que o nosso
sector produtivo manifesta. Todos nós vivemos rodeados de objectos e ambientes
criados ou transformados pela actividade humana, e esta consciência deve ser
promovida pelo conhecimento e compreensão do design, dimensão instrumental
decisiva na melhoria da qualidade de vida.
O público-alvo são os alunos, os do ensino secundário que frequentam os cursos
da área das artes e tecnologias afins ao design, em especial, e os professores
responsáveis pelas disciplinas de formação artística, cultural e tecnológica desses
cursos, que poderão encontrar no protótipo design.intro, se o quiserem, talvez um útil
recurso multimédia (também na educação visual e educação tecnológica os professores
poderão eventualmente encontrar aqui um recurso sobretudo ilustrativo). A importância
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) está contemplada no Livro Verde
para a Sociedade da Informação e nos novos planos de cursos gerais e tecnológicos
apresentados pela Revisão Curricular no Ensino Secundário (2000). Espera-se que não
venham a faltar os «meios financeiros mobilizáveis», um cenário que Medina Carreira
(1996, p. 88) temia para um futuro próximo.
Os jovens devem ser preparados para viver numa sociedade tecnológica, em que
viver significa ser um elemento crítico, actuante e preparado para a mudança. Uma
tarefa que cabe em grande parte à formação prestada nas escolas básica e secundária.
Uma formação dirigida para o desenvolvimento de competências na resolução de
problemas em diversas situações da realidade e a utilização da tecnologia como
elemento mediador nessa actividade.
Muitos dos programas escolares contêm orientações curriculares que apontam no
sentido de dar ênfase à articulação entre a realidade e a utilização das TIC. No entanto,
2
destas orientações não se têm tirado todas as consequências da sua formulação, uma vez
que a percepção geral do que deve ou pode ser um ambiente de aprendizagem continua
comprometida com uma persistente resistência do modelo tradicional da sala de aula.
1.2
Objectivos do Trabalho
Este projecto é uma experiência que visa avaliar as possibilidades de
implementação de uma proposta pedagógica que faz uma utilização extensiva da
modelação de uma aplicação para o ensino do design. Organizou-se assim em três fases
o processo complementar de desenvolvimento da aplicação design.intro e de
investigação-acção:
(i)
- produzir uma proposta pedagógica de documento hipermédia concebida
para facilitar a compreensão do design;
(ii)
- avaliar essa proposta / protótipo no processo da investigação-acção,
com avaliadores / professores, recolher e tratar os dados e implementar
mudanças no protótipo;
(iii)
- apresentar um produto resultado, enquanto protótipo evolutivo, para uso
de professores e alunos (e de todos os interessados). Um produto, em
suporte Web e CD, que constitua um exemplo modelar.
Esta tese de investigação-acção e implementação de documento hipermédia vai
então articular-se em quatro dimensões interdependentes, de alguma maneira abordadas
nesta introdução, mas que merecerão uma reflexão crítica mais desenvolvida: a
Tecnologia, a Ciência, a Educação, o Design. Uma quadra disciplinar que
necessariamente implica considerações transversais acerca da Cultura, das Políticas e
das Práticas, tentando compreender os modos de emergência das mudanças realizadas e
contribuindo para a produção de conhecimento sobre os processos de inovação. Após
considerações gerais teóricas acerca da Investigação-Acção, apresentar-se-á o Protótipo
proposto para avaliação, seguindo-se os resultados da Avaliação heurística efectuada, a
3
sua Reflexão crítica e o seu corolário substanciado no Protótipo evolutivo design.intro,
que se descreverá para conclusão deste trabalho.
1.3
O Construtivismo
Numa perspectiva construtivista da educação assume-se que a aquisição de
conhecimentos e competências - tanto na formação do aluno como na do professor - é
uma construção operada durante um processo de ensino-aprendizagem que enfatiza a
motivação, sobretudo, deslocando o paradigma do ensino para o da aprendizagem.
Nesta perspectiva pretende-se estimular a exploração e a descoberta, assim como o
trabalho colaborativo, motivador da socialização. O desempenho da inteligência
manifesta-se em actividades que relacionem meios e objectivos. O construtivismo
centra no aluno o processo de ensino-aprendizagem, convidando o professor a
desempenhar um papel de facilitador nesse processo e a manter uma atitude aberta,
facultando verdadeiras experiências motivadoras.
Reconhece-se no uso actualizado das novas tecnologias as ferramentas ideais
para implementar no processo de ensino-aprendizagem uma atitude construtivista,
assistindo o trabalho de projecto, proporcionando a busca e a partilha de informação,
criando um ambiente de aprendizagem, se possível, descentrado da sala de aula,
centrado no aprendiz. As TIC, por si sós, acredita-se, contribuem para motivar a
participação do aluno em projectos de resolução de problemas, e por aqui, prestar apoio
na reflexão crítica, facilitando a alunos e professores, aprendizes ou aprendedores,
construir o seu próprio conhecimento e adquirir competências essenciais, para assim
melhor se integrarem na sociedade de informação em que vivem. Ter-se-á que
responder à pergunta sobre o que será ensinar e aprender na sociedade de informação do
século XXI? Tudo indica que sim.
O conhecimento é uma construção, mas uma construção inacabada, por esta
razão, a teoria construtivista da educação reconhece que nenhum conhecimento é
absoluto ou dado, com garantias, por adquirido porque poderá ser falível. Distinguindose duas vertentes na teoria construtivista, uma cognitivamente orientada e outra,
socialmente orientada. Se a primeira enfatiza a exploração e a descoberta individual, a
4
segunda salienta o esforço colaborativo no processo de aprendizagem. Com ambas pode
inferir-se uma síntese. Ora, há uma adequação das teses construtivistas da educação à
nova linguagem universal dos media digitais, a utilização das máquinas multimédia
significa exploração, descoberta e trabalho de equipa. Os novos ambientes tecnológicos
integram eficazmente as pedagogias que descentram a aprendizagem da sala de aula em
que se assume que o professor, em vez de fonte de informação, é alguém que orienta o
aluno na utilização de múltiplas fontes de informação, transformando-as em
conhecimento.
1.4
Ambientes Tecnológicos
Necessita-se de ambientes social e tecnologicamente estimulantes para se poder
responder eficazmente aos novos desafios colocados pelas TIC. O futuro obrigará a
Escola a desempenhar um papel determinante na sociedade da era digital, pois, cabe-lhe
a ela formar para a cidadania, para a vivência da cultura, para a economia, para a
sociedade, em suma, cidadãos com as competências necessárias para viverem numa
sociedade em constante desenvolvimento. Estas tecnologias permitem integrar no
mesmo media digital de computação: texto, imagem, som, interactividade. Trata-se de
uma nova cultura, portanto, um novo ambiente civilizacional.
Para breve ter-se-á a tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecomunications
System) que permitirá receber vídeo e áudio de elevada qualidade e aceder à Internet em
banda larga com telemóveis ou portáteis; empresas como a Microsoft, a IBM e a Sun,
firmam acordos estratégicos para a implementação e desenvolvimento de aplicações
baseadas na arquitectura Web services; são estes os negócios considerados pelos
especialistas como «the next Big Thing». Acontecimentos como a televisão digital
interactiva de alta definição apontam para uma progressiva integração dos sistemas
tecnológicos; uma antecipação bastante realista da Bit (periódico de informática)
descreve assim a tecnologia multimédia futura:
Um único dispositivo - Multimedia Server - funciona como o centro digital de
comunicações e entretenimento. Oferece acesso de banda larga à Internet (inclui
videoconferência), sintonizador digital para televisão via satélite ou cabo (HDTV - televisão de
5
alta definição), jogos, gravação / reprodução digital de vídeo e áudio de alta qualidade e leitura /
gravação de DVDs. Este aparelho é ainda capaz de funcionar como servidor para outros
terminais espalhados pela casa (televisores, computadores, web tablets...). Empresas como a
Microsoft, a Nokia e a Samsung já têm produtos deste género em fase avançada de
desenvolvimento. (p. 75, n.º 42, Março, 2002)
Prevêem-se tecnologias áudio capazes de preparar os computadores para tarefas
baseadas no reconhecimento de voz que suplantarão muitas das actuais interfaces
gráficas. Um ecrã plano de plasma adaptado à parede será suficiente para imersão em
plena realidade virtual. «O ecrã é a porta de vidro giratória através da qual o meu
cérebro recebe e emite os seus sinais», diria Timothy Leary (cit. in Bakali, 2002). Já não
será uma «janela para o mundo», mas uma porta giratória através da qual o utilizador
interage com toda uma arquitectura hiperespacial oferecendo ambientes de
comunicação, exploração e conhecimento, de ficção ou de «hiperrealidade»
(Baudrillard, 1981). A investigação em nanotecnologia aproxima-se dos paradigmas
biónicos pesquisando sistemas que funcionam através de processos electroquímicos de
ligar interruptores moleculares com fios químicos para produzir nanocircuitos. Esta
cultura em que imergimos tem uma denominação internacionalmente popularizada, é a
hi-tech.
Sente-se esta urgência de evoluir no caminho duma formação contínua, duma
actualização constante - uma vez que a tecnologia e com ela a sociedade, obviamente,
evolui - porque, como facilitadores da aprendizagem (e que nessa qualidade também
aprendem), quer responder-se adequadamente às novas exigências pedagógicas, onde o
fundamental é aprender a aprender. A escola até poderá dispor do melhor hardware,
mas o verdadeiro suporte da tecnologia é a pessoa humana, sendo necessário que a
escola apresente à comunidade educativa a cultura tecnológica como um ambiente
gerador de oportunidades formativas e profissionais ao serviço da sociedade.
1.5
Enquadramento Nacional do Problema
Portugal tem vindo a empenhar esforços consideráveis para abrir as portas de Oz
que dão para o futuro das superauto-estradas da informação (data superhighways). A
6
implementação da Sociedade de Informação está em curso, o governo tem investido no
parque tecnológico multimédia-hipermédia nacional. Pedro Veiga, presidente da FCCN
(Fundação para a Computação Científica Nacional), segundo uma notícia publicada pela
Exame Informática (Março, 2002), esclarece que todas as escolas públicas estão ligadas
à RCTS (Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade) e à Internet através de um acesso
RDIS. Um objectivo que foi atingido no final de 2001. Em concreto, são cerca de 8700
escolas do 1º ciclo e cerca de 1700 escolas do 5º ao 12º ano. Mas, embora Portugal
esteja entre os países com escolas beneficiando dos melhores acessos, o número de
alunos por computador continua em discrepância com o da maioria dos seus parceiros.
Segundo a Eurobarómetro, num estudo realizado entre Fevereiro e Maio de 2001 1, nos
15 países da União Europeia esse número oscila entre 3 e 24 alunos por PC.
Mariano Gago (2002) que, enquanto ministro, foi o responsável pela ligação das
escolas à Internet, esperava ver alcançado o objectivo de ligar 50% das casas
portuguesas à Web em 2003, colocando assim a sociedade portuguesa mais perto da
Sociedade de Informação. Esta conjuntura permitiria criar a ideia nas famílias
portuguesas de que «o futuro dos seus filhos passa por eles saberem utilizar
computadores e Internet». Gago (2002) ainda repara na dificuldade problemática que
representa para a maioria dos portugueses acederem à Internet «através de um dial-upmodem via uma linha normal que nem sequer é linha RDIS». Os utilizadores
domésticos não têm largura de banda e isto é «um cenário que pode comprometer neste
país o futuro do mercado dos serviços de banda larga como o video-on-demand, o elearning ou o comércio electrónico». Muito está por resolver em relação à expansão das
redes de cabo de transmissão de dados para o mercado doméstico nacional. Há fundadas
expectativas em relação à penetração da tecnologia UMTS que está prevista para breve,
a qual «pode ser uma solução óptima se conseguir provocar o modelo de custo
adequado para a expansão do mercado de computadores portáteis que, necessariamente,
seriam comercializados a preços mais baixos» (Gago, 2002). O ambiente tecnológico
coloca, portanto, um desafio educativo que passa pela formação dos cidadãos nas novas
tecnologias, pela dinamização de uma consistente cultura tecnológica e por uma
consequente adaptação dos nossos paradigmas de ensino-aprendizagem, a atravessarem,
porventura, uma crise de obsolescência. A compreensão e a aceitação da urgência das
novas tecnologias nos ambientes de aprendizagem para um futuro a curto prazo, está a
1
In Exame Informática, p. 18, n.º 79, Janeiro, 2002.
7
ter efeitos na política de alguns países, como a Grã-Bretanha, conforme noticia a Exame
Informática:
Tony Blair já anunciou que os professores britânicos vão ser os primeiros a abandonar os
tradicionais quadros pretos a giz para adoptar nas salas de aula os ecrãs dos computadores. Esta
alteração vai operar-se no âmbito do programa "The Curriculum Online" que pretende melhorar o
desempenho dos alunos e criar um novo conceito de salas de aula para o futuro. Para motivar o uso e
a exploração de software nas aulas, junto dos alunos entre os 11 e os 14 anos de idade, o governo
britânico vai despender cerca de 80 milhões de euros. (p. 124, n.º 80, Fevereiro, 2002)
As teses construtivistas da educação parecem ser as que melhor se adequam à
formação integral da pessoa humana e, assim, enquadram melhor este esforço urgente
da aprendizagem tecnológica que as novas mudanças sociais em perspectiva
permanentemente exigem.
1.6
Mudança Social e de Percepção do Mundo
Tal como já foram o vapor, a electricidade, o automóvel, o telefone e outros
media, motores de desenvolvimento sócio-económico, as TIC não serão apenas uma
forma inovadora de mudança tecnológica, serão seguramente uma força de mudança
social tão profunda quanto o foram as tecnologias atrás referidas no seu conjunto. As
novas tecnologias certamente que não cessarão de impulsionar a economia2, adentro
esse conceito tão caro a Marshall McLuhan da «aldeia global» (1968).
As novas tecnologias como novas «extensões do homem» (McLuhan, 1964) são
aqui prolongamentos das nossas redes neuronais numa escala planetária, um
«hipercortex» (Lévy, 1998), abrindo ao homem como espécie, novas possibilidades de
alcance inestimável, não só comparáveis às desempenhadas pela «galáxia de
Gutenberg» (McLuhan, 1962) mas também à própria invenção da escrita. As superautoestradas da informação permitem aceder a milhões de fontes de informação em todo o
mundo com a capacidade de trazer a nossas casas uma enorme quantidade de serviços,
2
Mas também tem vindo a aprofundar o fosso que separa países ricos e países pobres, com uma
globalização onde os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e o meio ambiente mais depredado,
tornando-se um cenário político muito preocupante, cujo desfecho parece imprevisível.
8
um cenário que será optimizado com a implementação progressiva das redes de banda
larga, dos cabos de fibra óptica e dos mais recentes avanços nas telecomunicações.
Com as tecnologias da matriz hipermédia - interface, texto, imagem, tipografia,
audio, vídeo, realidade virtual, animação, ambiente hipergráfico dos elementos visuais 3
- o conceito moderno de espaço, o qual condiciona a nossa percepção do espaço e do
mundo, herdeiro da noção de perspectiva construída pelo Renascimento, rebate-se para
"revelar" uma percepção hiperespacial do mundo: o ciberespaço. Caracteriza-se a
modernidade como sendo «uma época cuja percepção foi determinada por uma
concepção do espaço que se exprimiu numa perspectiva rigorosamente linear»
(Panofsky, 1993), a perspectiva inaugurou na cultura ocidental uma «objectivação do
subjectivo», em última análise, para Panofsky, é a perspectiva que viabiliza a metáfora
de uma «visão do mundo». Parece legítimo crer, portanto, que este estatuto óptico da
cultura linear está a ser transformado, já não se está perante uma interface que é
somente o que está entre o homem e a máquina, pela metáfora passamos para dentro da
máquina interagindo com aquilo que Leary (cit. in Cotton & Oliver, 1997) chamava
«vastos continentes de inexplorados dados».
1.7
A Cultura Tecnológica
A recente aceleração no desenvolvimento tecnológico da televisão, da
informática e das telecomunicações é causa de uma verdadeira revolução digital no
saber-fazer e nos estilos de vida das sociedades modernizadas. Assiste-se a um número
cada vez maior de meios de comunicar e de novas aplicações em constante actualização,
tal como mostra o actual boom de telemóveis e da Internet.
Esta revolução implica inúmeras consequências, tanto a nível económico como a
nível social. A indústria das tecnologias da comunicação está a funcionar como
locomotiva da economia, mas entretanto acentuam-se as fracturas sociais que à escala
da «aldeia global» afastam os info-inclusos dos info-excluídos.
3
Pullman (1998) define este ambiente como «coreografia» dado o seu aspecto temporal.
9
Pode reconhecer-se que nestes tempos de globalização, em que a política está
controlada pelos interesses hiper-liberais dos mercados financeiros, que as novas
tecnologias funcionam paradoxalmente como um entorpecimento favorável ao
desmantelamento progressivo da estabilidade social com o desemprego, o emprego
precário e a insegurança que daí advém, e como um poderoso instrumento de
transformação do mundo e um ambiente comunicacional capaz de beneficiar as
comunidades com novas possibilidades criativas. Um mundo que deixou de se reger ou
ser explicado por simples determinismos porque as dúvidas e incertezas instaladas,
ajudaram a compreender que se está imerso num universo da complexidade, senão do
caos. Vive-se um tempo de encruzilhada, como um hipertexto ou uma ficção de Borges,
ele apresenta múltiplas bifurcações e não se pode saber onde cada um desses caminhos
vai desembocar.
A extraordinária sucessão de inovações nas TIC desencadeia um fenómeno de
transformação civilizacional: a uma era industrial baseada no hardware sucede uma era
pós-industrial, a era digital baseada no software; a "sociedade de consumo" cede o lugar
ao que se designa por "sociedade de informação", uma revolução digital com
consequências tão profundas, quanto as que a revolução industrial causou no século
XIX. Acresce dizer que esta progressiva desmaterialização da informação 4 é
acompanhada por uma crescente complexificação da informação (ao nível do utilizador
não-especialista, esta situação pode causar um embaraço que se traduz num sentimento
de embotamento perante as constantes actualizações, a proliferação de acrónimos,
metáforas de ferramentas, interfaces e práticas operativas infindáveis que é necessário
aprender).
Praticamente todos os sectores sociais foram alterados pela expansão das
tecnologias digitais. De maneira desigual para o conjunto da população mundial, digase, como nota Ramonet (1997):
Em 1995, o número de computadores pessoais em uso no mundo era cerca de 180
milhões para uma população global de quase seis bilhões de indivíduos. A possibilidade de ter
acesso à Internet era, portanto, limitada a 3% dos habitantes do planeta. Em 1995, somente um
4
Talvez seja interessante notar como esta desmaterialização da informação representada pelo software
encontra um curioso paralelismo na tendência da arte moderna para a desmaterialização representada pelo
momento da arte conceptual.
10
pequeno número de países ricos, representando cerca de 15% da população mundial, possuíam à
volta de 75% das principais linhas telefónicas, sem as quais não é possível ter acesso à Internet...
Mais de metade do planeta nunca chegou a servir-se de um telefone: em quarenta e sete países,
não havia sequer uma linha para cem habitantes. Em toda a África Negra, existem menos linhas
telefónicas do que na cidade de Tóquio ou na ilha de Manhattan, em Nova Iorque... Em janeiro
de 1996, estimava-se que 60% dos computadores conectados à Internet pertenciam a norteamericanos. (p. 141)
Parece claro que não se pode atribuir o sucesso tecnológico norte-americano
apenas a factores económicos estritos - mesmo reconhecendo que o económico domina
o político - porque há uma dimensão cultural nos ambientes tecnológicos. Na Europa,
com a modernidade, está-se habituado a uma ideia do cultural como uma esfera
autónoma, uma expressão sublimada. A cultura é vivida como não-trabalho, ou um
antimundo do trabalho produtivo, não submetido aos imperativos da necessidade
económica (mesmo quando a cultura produzindo objectos de desejo produza
mercadoria). Para o norte-americano, as fronteiras da cultura são mais fluidas (ele
percebe a Europa como um museu de história antiga). Existe um certo nomadismo
cultural a que não é estranho alguma normalização do caos. Sob o império do dólar tudo
é cultural, desde que se consagre a hegemonia do modelo cultural norte-americano pela
culturização dos objectos de consumo enquanto espectáculo (Lourenço, 1998). Tal
contexto "despolitizado", facilita ao norte-americano, mais que ao europeu, viver a
tecnologia como ambiente cultural.
A cultura europeia é feita de quatro culturas coexistentes (Ramonet, 1997): a
antropológica das nossas tradições e costumes; a humanista do livre pensamento e dos
direitos da cidadania; a científica com a sua especialização dos saberes e associada ao
desenvolvimento da civilização moderna; a de massas que através do espectáculo da
quantidade de informação tudo reduz ao ruído da diversão. A este panorama acrescentese uma dimensão tecnológica que cada vez mais é vivida como cultural. Alimentam-se
grandes expectativas em relação às potencialidades da Internet, essa inédita rede que
conecta todos os computadores do planeta. Um acontecimento civilizacional que tanto
fascina uns, ditos "tecnófilos", como assusta outros, ditos "tecnófobos". O protocolo da
Internet está no domínio público, não pertence a ninguém e é de todos (mesmo que
alguns poderes, de alguma maneira, a queiram controlar), constituindo uma rede
descentralizada e que parece indestrutível.
11
1.8
A Sobremodernidade
A ideia de progresso, tão cara às Luzes do século XVIII, desmoronou-se nos
abismos dramáticos do século XX, com o fim das esperanças e ilusões que fizeram a
travessia do século XIX. Os acontecimentos históricos de abominações, guerras e
injustiças não abonam a favor de um progresso moral da humanidade, assistindo-se ao
fim das «grandes narrativas de legitimação» (Lyotard, 1989) e instalando-se a dúvida
sobre se a história terá algum sentido. É a sensibilidade pós-moderna «em que o
patchwork das modas significa o desaparecimento da modernidade enquanto fim de
uma evolução que se assemelhava a um progresso» (Augé, 1992).
A tão propalada aceleração da história corresponde a uma multiplicação de
acontecimentos quase todos imprevistos, uma dinâmica que, como dizia o historiador
Fouret (cit. in Augé, 1992) acerca da revolução enquanto acontecimento, é definida pela
mobilização dos homens e da sua acção sobre as coisas numa modalidade de
«sobreinvestimento de sentido». Todos sentem a necessidade de dar um sentido ao
tempo, a este presente. O excesso de acontecimentos em que se vive assim o exige,
quando se pretende escapar ao ruído. Este excesso de acontecimentos, juntamente com
o excesso de espaços (interligados por um estreitamento das distâncias) e um excesso de
referências individualizadas, corresponde à situação que Augé (1992) designa de
«sobremodernidade», a qual vê como um reverso da pós-modernidade. É
«sobremoderno» esse excesso de imagens de informação, de publicidade e de ficção
transmitido pelos ecrãs e que se misturam num universo cultural homogeneizado. Esta
homogeneização, centrada nos pressupostos da
economia
e da tecnologia,
paradoxalmente, vem acompanhada por um recrudescer dos particularismos culturais de
matriz religiosa ou étnica (Augé, 1997).
A sobremodernidade tem a sua expressão completa nos «não-lugares» (Augé,
1992). O «não-lugar» é o que contrasta com o lugar antropológico, este define-se,
sobretudo, pela sua identidade, aquele define-se enquanto relação entre lugares, como o
explica Augé: «os não-lugares tanto podem ser as instalações necessárias à circulação
acelerada das pessoas e bens (vias rápidas, viadutos, aeroportos) como os próprios
meios de transporte ou os grandes centros comerciais» (p. 42), ou ainda mais adiante:
«são, também, espaços habitados, onde o utente habitual dos grandes centros, dos
12
multibancos e dos cartões de crédito recria (...) um mundo votado à individualidade
solitária, à passagem, ao provisório e ao efémero (...). Acrescentemos que o não-lugar é,
evidentemente, como o lugar (...). O lugar e o não-lugar são, sobretudo, polaridades
esquivas (...), jogo ambíguo da identidade e da relação» (pp. 84, 85). Os não-lugares
constituem, portanto, instalações de trânsito, passagens, vias de comunicação, mas,
também, meios de comunicação.
Diga-se tudo isto porque parece que o ciberespaço, a Internet, a rede das redes, é
uma cabal expressão da sobremodernidade. O ecrã do computador é uma fenda aberta
na qual o olhar se perde, espaço por onde, como se diz, "navega-se", quer com
navegação à vista, quer não. Do que Augé diz acerca dos não-lugares nas viagens
físicas, deve acrescentar-se, extrapolando, que ao navegar na Internet, passa-se por
lugares onde se introduzem os não-lugares, «horizonte de toda a viagem (soma de
lugares, negação do lugar),» abolição do lugar. Sendo "sítios" ou lugares virtuais (aqui e
em qualquer lugar do mundo ao mesmo tempo... pois possuem o dom da ubiquidade),
os sites são não-lugares, nunca se realizam perenemente. A Internet atravessa os
lugares, oferece mapas, é criadora de itinerários, «quer dizer, de palavras e de nãolugares» (p. 91), espaço virtual para cibernautas, superabundância de não-lugares.
Augé (1992) refere ainda uma outra característica do não-lugar que é a sua
necessária relação contratual no espaço do consumo. O passageiro paga o seu bilhete, o
utente paga a portagem, o cliente paga na caixa registadora, na dimensão da Internet, o
cibernauta paga a conta telefónica. Mas, «o que é significativo na experiência do nãolugar, é a sua força de atracção, inversamente proporcional à atracção territorial, ao peso
do lugar e da tradição» (p. 123). Frequentar os não-lugares constitui uma experiência de
individualidade solitária e de mediação não humana (interface homem - máquina ou
homem - ambiente). O passageiro frui «a experiência simultânea do presente perpétuo e
do encontro consigo mesmo» (p. 110), esta é a fruição do ciberespaço onde a
socialização realiza-se numa dimensão abstracta, é certo, todavia, anula as distâncias
entre pessoas e comunidades e optimiza as acessibilidades na construção do
conhecimento.
13
1.9
A Civilização da Imagem
Uma poderosa singularidade desse meio de comunicação interactivo que é a
Internet, são as suas capacidades multimédia, ou seja, o modo como digitalmente
combina texto, som e imagem. Anteriormente, cada um destes sistemas de sinais tinha a
sua própria tecnologia, o texto tinha a máquina de impressão, o som e a imagem os seus
diversos suportes tecnológicos, agora, com a revolução digital, convergem os diferentes
sistemas de comunicação para um sistema único, expresso em bits. São os meios
multimédia, com as suas funcionalidades hipermédia, CD-ROM, jogos vídeo, DVD, e a
Internet que, com uma maior largura de banda, tenderá a substituir de muitas maneiras
os suportes de arquivo referidos. Um único suporte veicula os três sistemas de sinais, à
velocidade da luz.
A Internet, com as suas possibilidades de difusão cultural, correlacionando texto,
som e imagem, desempenha, sobretudo com o seu sobreinvestimento na cultura da
imagem e a animação desta, pela sua natureza emocional e intuitiva, um papel educativo
de modo algum negligenciável, pois, sem menosprezo pela cultura literária, e como
muito bem lembrava Umberto Eco (1964):
Uma educação através das imagens foi típica de qualquer sociedade (...) desde o Antigo
Egipto à Idade Média. A imagem é o resumo visual e indiscutível de uma série de conclusões a
que se foi chegando através da elaboração cultural; (...) existe na comunicação pela imagem algo
de radicalmente limitativo, (...) e todavia, não se pode recusar a riqueza de impressões e de
descobertas que em toda a história da civilização os discursos por imagem deram aos homens.
Uma sábia política cultural (...) será a de educar, (...) os cidadãos do mundo futuro a saberem
temperar a recepção de imagens com uma igualmente rica recepção de informações escritas. (p.
394)
Na altura em que Eco escreveu estas linhas ainda não se suspeitava que algo
como a Internet viesse a existir, ele pensava na televisão, contudo, nos termos das
possibilidades educativas da comunicação por imagens, o essencial do programa
medieval «pictura est laicorum literatura» mantém-se actual. Isto para se concluir que a
civilização da imagem não vem substituir, mas complementar a civilização do livro.
14
Será interessante agora clarificar o conteúdo cultural do que quer dizer imagem
quando se fala de "civilização da imagem". Aqui, refere-se, sobretudo, a possibilidade
da reprodução técnica da imagem. Os gregos conheciam dois processos de reprodução
técnica: a fundição e a cunhagem. As moedas, os bronzes e as terracotas eram as únicas
coisas que se podiam reproduzir tecnicamente. Nas outras produções resta algo de único
em cada peça, mesmo produzindo em massa, encontram-se defeitos (que eventualmente
poderão ser valorizados), é o que hoje se entende para distinguir a produção artesanal da
produção industrial: a unicidade da peça artesanal, a iteratividade da peça industrial. As
artes gráficas foram reproduzidas pela primeira vez com a xilogravura, e passou muito
tempo até que Gutenberg popularizasse a prensa tipográfica, a «reprodutibilidade
técnica» (Benjamin, 1955) da escrita. À xilogravura ainda se juntaria a gravura em
cobre e a água-forte, e a litografia surgiria no início do século XIX. A litografia,
largamente usada nos cartazes, anúncios e embalagens, permitiu ir ilustrando o
quotidiano. A seguir vem a fotografia libertar a mão do processo artístico de reprodução
das imagens deixando apenas ao olho essa incumbência. Com a sequência dos
fotogramas descobre-se o cinema. Quando se começa a tirar mais consequências
práticas do conhecimento do espectro electromagnético, vê-se a utilidade das ondas
hertzianas e dos raios catódicos para a televisão. Com os avanços na electrónica
vulgariza-se o sinal vídeo e, por fim, a informática de código digital torna possível a
reprodutibilidade técnica das imagens à escala do planeta em rede. A vulgarização da
aura da imagem pela reprodutibilidade técnica faz a civilização da imagem. Uma
civilização empolgada pelo «efeito dionisíaco» (Lima & Chaves, 2001) da
multiplicação das imagens provocada pelos media.
1.10
A Rede das Redes
Hoje, há um sentimento comum de se viver num mundo «saturado de
informação e incapaz de gerir ou de integrar de modo construtivo a massa colossal de
dados de informação que circula nas já famosas auto-estradas da comunicação.» Referia
Eduardo Lourenço (1998), não sem alguma provocação, no seu jeito próprio de
convidar à reflexão, a propósito, não só da Internet, mas de todos os media; «dispositivo
de luz permanente, (...) um regime de absoluto bombardeamento informativo, numa
espécie de vigília contínua, sem termos a possibilidade, por assim dizer, de fecharmos
15
os olhos» (pp. 31, 32). Lourenço, retomando criticamente McLuhan, perturba-se com o
modo como os media, independentemente do seu conteúdo, se tornam uma espécie de
«noosfera»5, uma galáxia electro-informática que engole a galáxia de Gutenberg,
contudo, deve considerar-se que - e para não se insistir na superabundância de
informação, característica da sobremodernidade - as questões do uso, abuso ou mau-uso
dos ambientes tecnológicos são inerentes a qualquer contingência histórica.
Curioso, talvez, seria notar uma continuidade, enviesada por rupturas
dramáticas, que vai do texto à teia (web), linguagens que emanam de uma matriz
arquetípica, o tear. Atena é a deusa da inteligência e da tecelagem, uma rapariga de
nome Aracne desafiou a deusa na arte da tecelagem e a deusa, furiosa, transformou a
desgraçada rapariga nesse artrópode tecelão a quem emprestou o seu nome. 6 As Parcas
são as tecedeiras do destino humano... Há uma textura no discurso cultural, mitológico e
tecnológico, na malha da sua explicação ou transmissão, um fio de Ariana que nos
conduz pelo caminho labiríntico, esse «jardim de caminhos que se bifurcam» (Borges)
que vai da rede do texto7, urdidura de palavras escritas, à rede das redes (www). Em
todas as culturas humanas complexas o cosmos descreve-se, para usar uma analogia
jocosa de Bonnal (2000), como «uma gigantesca peça de costura».
Pelo que se pode perceber na nova vaga de literatura utópica (ou para outros,
distópica), há autores que vêem na actual conjuntura de globalização económica e
tecnológica, necessariamente perturbada por crises profundas, o dealbar anunciado de
um «Novo Renascimento» (Robertson, cit. in Bonnal, 2000).
5
Conceito caro ao padre Teilhard de Chardin significando a esfera espiritual da humanidade.
Simplificou-se a narrativa a partir da New Larousse Encyclopedia of Mithology (1993). 25ª ed.,
Londres, Hamlyn.
7
Note-se que, etimologicamente, texto deriva de textu, palavra latina que significa tecido.
6
16
ÍNDICE
ÍNDICE DE QUADROS ..........................................................................................
X
ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................ XI
1
INTRODUÇÃO ................................................................................................
1
1.1
Introdução Geral .......................................................................................
1
1.2
Objectivos do Trabalho ............................................................................
3
1.3
O Construtivismo ......................................................................................
4
1.4
Ambientes Tecnológicos ..........................................................................
5
1.5
Enquadramento Nacional do Problema ....................................................
6
1.6
Mudança Social e de Percepção do Mundo ..............................................
8
1.7
A Cultura Tecnológica ..............................................................................
9
1.8
A Sobremodernidade ................................................................................ 12
1.9
A Civilização da Imagem ......................................................................... 14
1.10 A Rede das Redes ..................................................................................... 15
2
A DIMENSÃO TECNOLÓGICA ..................................................................
17
2.1
Perspectivas ..............................................................................................
17
2.2
Potencialidades ......................................................................................... 21
vi
3
4
5
6
7
8
A CRISE CIENTÍFICA ..................................................................................
24
3.1
Debate Epistemológico ............................................................................. 24
3.2
Complexidade e Pensamento Multidimensional ......................................
A RESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO ...............................................
26
28
4.1
Construtivismo: uma Teoria do Conhecimento e da Aprendizagem ........ 28
4.2
Ambientes de Aprendizagem .................................................................... 32
4.3
Comunidades de Aprendizagem ............................................................... 34
ACTUALIDADE DO DESIGN ......................................................................
38
5.1
Do Objecto ao Projecto ............................................................................. 38
5.2
Da Utopia à Heterotopia ........................................................................... 41
5.3
Do Analógico ao Digital ........................................................................... 42
5.4
Educação em Design ................................................................................. 45
METODOLOGIA: A INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO ......................................
46
6.1
O que é? .................................................................................................... 46
6.2
Trabalho de Campo com uma Proposta de Protótipo ............................... 51
6.3
Considerações sobre a Validade ............................................................... 54
6.4
Sobre a Recolha de Dados ........................................................................ 56
O PROTÓTIPO PROPOSTO PARA AVALIAÇÃO ..................................
58
7.1
Descrição Geral do Protótipo Proposto para Avaliação ........................... 58
7.2
Descrição dos Conteúdos .......................................................................... 59
AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE PROTÓTIPO ......................................
8.1
65
Enquadramento da Avaliação ................................................................... 65
vii
8.2
Descrição do Questionário ........................................................................ 67
8.2.1 Esclarecimento .............................................................................. 68
8.3
Tratamento dos Dados: Perguntas Fechadas ............................................ 69
8.3.1 Impressão Global .......................................................................... 69
8.3.2 Conteúdo da Aplicação (Conjunto I) ............................................ 70
8.3.3 Ensino-Aprendizagem (Conjunto II) ............................................ 71
8.3.4 Ecrã (Conjunto III) .......................................................................
72
8.3.5 Matriz Multimédia (Conjunto IV) ................................................
77
8.3.6 Estilo de Escrita (Conjunto V)....................................................... 78
8.3.7 Usabilidade (Conjunto VI) ............................................................ 80
8.4
8.3.8 Totais ............................................................................................
81
Tratamento dos Dados: Perguntas Abertas ..............................................
82
8.4.1 Primeira Pergunta ........................................................................
83
8.4.2 Segunda Pergunta .........................................................................
83
8.5
Observações .............................................................................................. 84
8.6
Conclusões ................................................................................................ 84
8.6.1 Conteúdo da Aplicação (Conjunto I) ............................................ 84
8.6.2 Ensino-Aprendizagem (Conjunto II) ............................................ 85
8.6.3 Ecrã (Conjunto III ........................................................................
85
8.6.4 Matriz Multimédia (Conjunto IV) ................................................ 85
8.6.5 Estilo de Escrita (Conjunto V) ...................................................... 85
8.6.6 Usabilidade (Conjunto VI)............................................................. 85
8.6.7 Perguntas Abertas e Observações ................................................
9
86
8.7
Reflexão Crítica ........................................................................................ 86
8.8
Acerca da Usabilidade .............................................................................. 88
UM PROTÓTIPO EVOLUTIVO: DESIGN.INTRO ....................................
9.1
9.2
89
Objectivos do Protótipo design.intro ......................................................
89
9.1.1 Domínio Pedagógico ..................................................................
89
9.1.2 Domínio Multimédia ..................................................................
91
9.1.3 Domínio Lúdico ..........................................................................
92
Arquitectura de design.intro ...................................................................
93
viii
9.3
10
9.2.1 Dimensão Temática ....................................................................
93
9.2.2 Dimensão Tecnológica ...............................................................
94
9.2.3 Dimensão Organizacional ..........................................................
95
9.2.3.1 Metodologia .................................................................
96
9.2.3.2 Navegação ....................................................................
97
9.2.3.3 Identidade .....................................................................
101
Considerações Finais .............................................................................. 102
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................... 104
APÊNDICE 1 .......................................................................................................... 112
ix
ÍNDICE DE QUADROS
1.
Caracterização de Amostra de 10 Professores de Escolas do Concelho de Vila
Nova de Gaia e um de Escola do Concelho de Matosinhos ..............................
2.
66
Correspondência e Descrição da Escala de Avaliação Utilizada no
Questionário .......................................................................................................
67
3.
Respostas Apuradas na Avaliação Global ..........................................................
69
4.
Respostas Apuradas no Conjunto I Relativo ao Conteúdo da Aplicação ..........
70
5.
Respostas Apuradas no Conjunto II Relativo ao Ensino-Aprendizagem ...........
71
6.
Respostas Apuradas na Parte a) Apresentação do Ecrã, do Conjunto III
Relativo ao Ecrã .................................................................................................
73
7.
Respostas Apuradas na Parte b) Imagem, do Conjunto III Relativo ao Ecrã ....
74
8.
Respostas Apuradas na Parte c) Cor, do Conjunto III Relativo ao Ecrã ............
75
9.
Respostas Apuradas no Parâmetro da Impressão Geral Relativo ao Conjunto
III: Ecrã ..............................................................................................................
76
10. Este Quadro Mostra o Total das Partes a; b; c que integram o Conjunto III:
Ecrã ....................................................................................................................
77
11. Respostas Apuradas no Conjunto IV Relativo à Matriz Multimédia .................
77
12. Respostas Apuradas no Conjunto V Relativo ao Estilo de Escrita ....................
79
13. Respostas Apuradas no Conjunto VI Relativo à Usabilidade ............................
80
14. Apresentação do Total de Todas as Respostas do Questionário ........................
82
x
ÍNDICE DE FIGURAS
1.
O que é Design? ................................................................................................
59
2.
Revolução Industrial .........................................................................................
59
3.
Arts and Crafts ..................................................................................................
60
4.
Art Nouveau ......................................................................................................
60
5.
Art Déco ............................................................................................................
60
6.
Deutsche Werkbund ..........................................................................................
61
7.
Bauhaus .............................................................................................................
61
8.
Organicismo ......................................................................................................
61
9.
Estilo Internacional ...........................................................................................
62
10. Styling ...............................................................................................................
62
11. Antidesign .........................................................................................................
62
12. Pós-Modernismo ...............................................................................................
63
13. Teste ..................................................................................................................
63
14. Roteiro ...............................................................................................................
63
15. Impressão global acerca do protótipo ...............................................................
69
16. A primeira impressão em percentagem .............................................................
69
17. Resultados do conjunto I: conteúdo da aplicação .............................................
70
18. Impressão geral do conjunto I: conteúdo da aplicação .....................................
71
19. Resultados em percentagem do conjunto I .......................................................
71
20. Resultados do conjunto II: ensino-aprendizagem .............................................
72
21. Impressão geral do conjunto II: ensino-aprendizagem .....................................
72
22. Resultados em percentagem do conjunto II ......................................................
72
23. Resultados do subconjunto: a) apresentação do ecrã ........................................
73
24. Resultados em percentagem do subconjunto: a) apresentação do ecrã .............
73
25. Resultados do subconjunto: b) imagem ............................................................
74
26. Resultados em percentagem do subconjunto: b) imagem .................................
74
27. Resultados do subconjunto: c) cor ....................................................................
75
28. Resultados em percentagem do subconjunto: c) cor .........................................
75
29. Resultados no parâmetro da facilitação da legibilidade ....................................
76
30. Impressão geral do conjunto III: ecrã ...............................................................
76
xi
31. Resultados em percentagem na impressão geral do conjunto III: ecrã .............
77
32. Resultados do conjunto IV: matriz multimédia ................................................
78
33. Impressão geral do conjunto IV: matriz multimédia ........................................
78
34. Resultados do conjunto IV em percentagem ....................................................
78
35. Resultados do conjunto V: estilo de escrita ......................................................
79
36. Impressão geral do conjunto V .........................................................................
79
37. Resultados do conjunto V em percentagem ......................................................
80
38. Resultados do conjunto VI: usabilidade ...........................................................
81
39. Impressão geral do conjunto VI ........................................................................
81
40. Resultados do conjunto VI em percentagem ....................................................
81
41. Total das respostas do questionário ..................................................................
82
42. Total das respostas do questionário em percentagem .......................................
82
43. A página de rosto do site ...................................................................................
97
44. Home page com menu geral .............................................................................
98
45. Exemplo do menu no início duma página das lições ........................................
99
46. Menu dos Jogos e Passatempos ........................................................................
100
47. Ecrã do passatempo "Máximas" .......................................................................
101
Nota - Este trabalho inclui um CD-ROM com a aplicação design.intro e um anexo.
xii
ABSTRACT
The hypermedia document design.intro has as its main goal to enable the understanding of
design. Its target public is the students of secondary courses of arts but,it can also suit anyone who
is interested in the subject. This document was elaborated from a constructivist point of view about
education, which is tried to be justified in this thesis. The process fits in the area of a actionresearch developed with a sample of teachers who have evaluated a proposal. Thus, this work
starts with a critical reflection on the literary stuff about the Information and Communication
Technologies, where the importance of the technological environments, as factors of social change
and of world perception and the overmodernity of new technologies, specially, the Internet, or the
web of the webs are focused. Some polemic perspectives in view of Technology are analysed in
order to relieve their potentialities. This analysis couldn´t either be prosecuted without having in
mind the role of scientific crisis and of the episthemelogical debate, where the exhaustion of
positivism and the emergence of a multidimensional thought and of complexity are pointed out.
Seeing in constructivism a theory of knowledge and of learning, the learning environments are
considered, stressing the learning communities centered on the learner by the participative
methaphor. The design theme is also treated in its actuality as project, heterotopy and imersion in
the digital era, being concluded with some questions in the educational area. The theory of action
research and considerations on the validity and data collection are exposed in the area of this
work. The proposal of prototype submitted to heuristic evaluation is described and it is presented
the data treatment which point to the problems that were tried to be solved through critical
reflection and in the development of the version of the evolutive prototype which concludes this
work. For this purpose the last chapter was dedicated to the description of the goals and
architecture of this latest version of the prototype design.intro, ending with some final
considerations where its possibilities of increment and future implementation are established.
RESUMO
O documento hipermédia design.intro tem por principal objectivo facultar a
compreensão do design. O seu público-alvo são os estudantes dos cursos secundários de artes,
contudo pode servir a todos os interessados. Este documento foi elaborado numa perspectiva
construtivista da educação que nesta dissertação se tenta justificar. O seu processo enquadrase no âmbito duma investigação-acção desenvolvida com uma amostra de professores que
avaliou uma proposta. Começa-se, então, este trabalho com uma reflexão crítica de revisão da
literatura acerca das Tecnologias de Informação e Comunicação onde se foca a importância
dos ambientes tecnológicos enquanto factores de mudança social e de percepção do mundo e a
sobremodernidade das novas tecnologias, em especial, a Internet, ou a rede das redes.
Analisam-se algumas perspectivas polémicas face à Tecnologia para em seguida relevar as
suas potencialidades. Também não se poderia prosseguir esta análise sem considerar o papel
da crise científica e do debate epistemológico onde se aponta o esgotamento do positivismo e a
emergência de um pensamento multidimensional e da complexidade. Reconhecendo no
construtivismo uma teoria do conhecimento e da aprendizagem, consideram-se os ambientes de
aprendizagem com destaque para as comunidades de aprendizagem centradas no aprendiz pela
metáfora participativa. O tema do design é igualmente tratado na sua actualidade enquanto
projecto, heterotopia e imersão na era digital, concluindo-se com algumas questões de âmbito
educacional. Expõe-se a teoria da investigação-acção e considerações sobre a validade e a
recolha de dados no âmbito deste trabalho. Descreve-se a proposta de protótipo submetida a
avaliação heurística e apresenta-se o tratamento dos dados que apontam para os problemas
que se tentaram resolver pela reflexão crítica e no desenvolvimento da versão de protótipo
evolutivo que conclui este trabalho. Para este efeito, o último capítulo foi dedicado à descrição
dos objectivos e arquitectura desta última versão do protótipo design.intro, terminando com
algumas considerações finais onde se estabelecem as suas possibilidades de incremento e
melhorias futuras.
Agradecimentos
Ao Professor Doutor Duarte Costa Pereira, pela simpatia, apoio científico,
interesse e sugestões, assim como pela liberdade que me proporcionou na investigação.
Ao Professor Doutor João Carlos Paiva, pelo dinamismo e bom humor, apoio
técnico - científico e sugestões.
Aos meus colegas, pela amizade e disponibilidade.
Ao Ministério da Educação, pela concessão da licença que permitiu dedicar-me a
tempo inteiro a este trabalho.
À minha esposa, Maria Carlos Lobo, pela compreensão e estímulo, e por me ter
sugerido a frequência deste Curso de Mestrado.
Ao meu filho
Dinis Silva Lobo
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
d e sign . in t ro
UM DOCUMENTO HIPERMÉDIA - UMA INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO
JOAQUIM FERNANDO PINTO GONÇALVES DA SILVA
Dissertação de Mestrado em Educação Multimédia
Professores Orientadores:
Doutor Duarte Costa Pereira
Doutor João Carlos Paiva
2002
Download
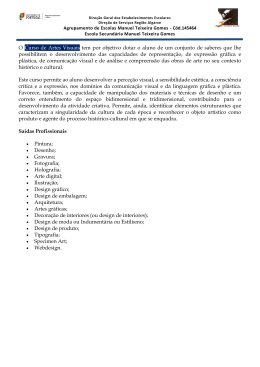
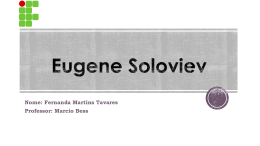
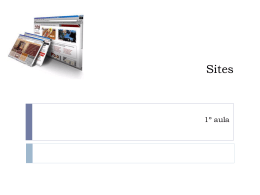
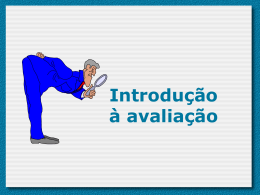
![[ A MARCA ]](http://s1.livrozilla.com/store/data/000069664_1-08c9d391595c8742bfe104f70ad88ecc-260x520.png)