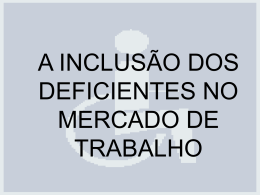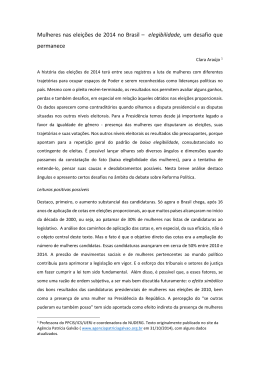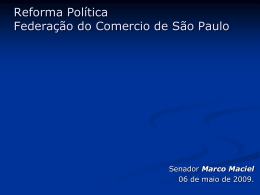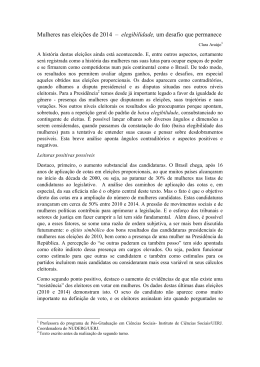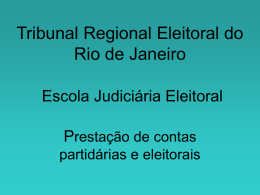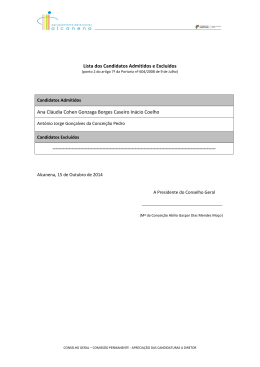Por que as mulheres ainda concorrem pouco no Brasil? Autoria Clara UERJ Araújo Mês/Ano outubro/2006 A divulgação, dos dados de candidaturas para as eleições de 2006 pelo Tribunal Superior Eleitoral nos revela boas e más notícias. A distribuição por sexo mostra que os percentuais de mulheres disputando aumentaram um pouco, mas são ainda baixos. Uma (boa) novidade é o crescimento de candidaturas aos cargos majoritários. Há duas mulheres concorrendo à Presidência – Heloisa Helena pelo PSOL e Ana Maria Rangel pelo PRP – a primeira com um razoável percentual de intenções de votos. Para os governos estaduais há 12,68% de candidaturas femininas, o que significa um crescimento em relação à eleição passada. E para Vice-governador são 21% de mulheres. Para o Senado são 15,84% de mulheres disputando este cargo. Porém, assim como vem acontecendo desde 1996, quando a Lei de Cotas começou a ser aplicada, os percentuais mínimos de 30% de candidaturas por sexo não foram cumpridos por nenhum partido nos cargos proporcionais. A maior presença de candidatas ocorre para Deputado Distrital, -20,73%. Nos cargos de deputados federais e estaduais há menos mulheres do que para o Senado. Para a Câmara Federal são 12,66% de candidatas, percentual que em 2002 era de 11,51%, ou seja, o aumento foi, até agora, de pouco mais de 1%. Para as Assembléias Legislativas 13,85% de mulheres estão concorrendo a uma vaga de Deputado Estadual, enquanto em 2002 esse percentual foi de 14,75%. Neste caso, ocorreu mesmo um ligeiro decréscimo no número de candidatas. Um dos objetivos da Lei de Cotas foi o de obrigar os partidos a investir em candidaturas femininas, uma vez que se tudo indicava que as mulheres quisessem ser candidatas e os partidos barravam-nas na “porta de entrada” das listas eleitorais. Havia a expectativa de que, instituída a Lei de Cotas, este cenário seria substancialmente alterado. Outra conseqüência esperada seria o crescimento do número de eleitas. Até agora estes efeitos foram tímidos. Os percentuais mínimos de 30%, sistematicamente, não são preenchidos pelos partidos. E o efeito do discreto aumento das candidaturas sobre a elegibilidade feminina é discutível, sobretudo em se tratando da Câmara Federal. Em 1994, antes, portanto, da adoção de cotas, para 6,02% de candidaturas foram eleitas 6,21% de mulheres. Isto significou uma Taxa Relativa de Sucesso das mulheres de 103,5%. Em 1998 a implantação das cotas ampliou as candidaturas para 10,33%. Naquele ano foram eleitas 5,65% de mulheres e a Taxa de Sucesso caiu para 51,9%. Em 2002 houve um aumento de pouco mais de 1% e 11,40 dos candidatos ao cargo de Deputado Federal foram mulheres. Considerando a escassez, houve um salto razoável de eleitas, 8,18% do total. Ainda assim, a Taxa Relativa de Sucesso foi de 69,30 em relação aos homens. Neste ano de 2006 o aumento das candidaturas foi pequeno e ocorreu, sobretudo, em cargos majoritários e onde não há Lei de Cotas. O quadro é preocupante. Segundo a União Inter-Parlamentar o Brasil se encontra na 104ª. posição no ranking de presença de mulheres no parlamento no mundo. Entre os países do continente latinoamericano, fica atrás, apenas, da Guatemala e do Haiti. A subrepresentação é um problema a ser resolvido não porque as mulheres sejam melhores do que os homens ou façam diferença na política, como tem sido constantemente argumentado, embora não haja qualquer evidência neste sentido. Trata-se de uma questão de democratização da representação e de justiça para com um desequilíbrio que foi decorrente de vetos políticos históricos e desvantagens socioeconômicas, derivadas de preconceitos e valores de gênero. No caso, há claramente uma desvantagem recorrente e sabe-se que isto tem razões históricas. Embora esses traços possam ser considerados como universais, a amplitude dessas desvantagens e o grau como elas se manifestam nos espaços públicos, sobretudo nas instituições políticas, varia entre os países. Quais são, então, os fatores que respondem por um cenário tão desfavorável às mulheres nos espaços de representação política no país? Na análise dos processos eleitorais interagem e influenciam vários aspectos vinculados ao sistema eleitoral, à própria conjuntura política, aos contextos culturais e socioeconômicos, entre outros. No debate nacional, a busca de respostas muitas vezes é simplificada ou insatisfatória. No caso dos baixos números de candidaturas e do nãocumprimento das cotas, duas explicações mais correntes são exemplo disto. Os partidos alegam que não há mulheres dispostas a se candidatar. Dessa constatação, tendem a derivar dois tipos de conclusões: não há mais candidatas porque não há interesse das mulheres em se apresentar; e isto ocorre porque estas não se interessam por política. Neste caso, a responsabilidade é posta sobre as mulheres, como um problema de livre e particular escolha individual e não um problema da democracia. E, mais grave, como um problema de apatia individual ou de seu desinteresse pela política. Por outro lado, reações e críticas ao não-cumprimento das cotas, tendem a centrar, fundamentalmente, no aspecto do preconceito, da resistência e/ou do tradicionalismo dos partidos. A tais valores/atitudes são atribuídos tanto os baixos índices de candidaturas como também os fracos resultados em termos de eleição de candidatas. Se bem que isto não fuja totalmente à verdade e não deixe de ter algum fundamento, as manifestações de resistências ou preconceitos também por si não explicam o que acontece no Brasil e são insuficientes como explicações, tanto se compararmos o nosso caso com outros países da Região, como se olhamos algumas características internas da competição eleitoral. Uma pergunta pertinente, parodiando uma famosa propaganda de televisão, seria a seguinte: será que os nossos “machistas” são mais machistas do que os machistas dos “outros” (leiam-se, outros países latinos), ou será que nossas mulheres são mais apáticas do que as mulheres dos “outros” (países latinos)? Ou ainda, será que os partidos brasileiros são mais conservadores e machistas do que os partidos dos outros países latino-americanos? Um conjunto de evidências aconselharia a responder que “não”. Se comparada aos outros países da América Latina a concessão do direito ao voto para as mulheres no Brasil não foi tardia, ao contrário, o país foi um dos primeiros a garantir o sufrágio feminino; a ausência de democracia prejudica as mulheres e isto é possível de ser até mesmo visualizado nos dados estatísticos, mas também compartilhamos esse (infeliz) passado de interrupções democráticas com vários outros países. Entretanto muitos desses países apresentam diferenças menores na participação política por sexo. Embora apresente elevado índice de desigualdades, o Brasil não é dos mais pobres da região e tampouco é aquele que tem instituições menos democráticas e/ou com pouca consolidação. Comparativamente, o país apresenta um grau razoável de consolidação democrática, de institucionalização de seu sistema político e um sistema partidário razoavelmente estável. Em se tratando de igualdade entre homens e mulheres, pesquisas comparadas sobre as atitudes e valores, envolvendo opiniões sobre família, posições e direitos das mulheres, inclusive na política, mostram que embora mais tradicionais do que em muitos países da Europa, os valores de gênero dos brasileiros tendem a ser menos conservadores e um pouco mais igualitários do que os de muitos países onde a participação política é menos desigual. Indicadores sobre taxa de atividade por sexo, casamento e divórcio, entre outros, também indicam valores menos conservadores do que muitos outros países latinos. Temos cotas para mulheres na política, assim como outros dez países, mas entre estes, o Brasil vem apresentando uma das piores performances. A Bolívia conta atualmente com 16,9% de mulheres no parlamento e o Peru com 29,2%. Mas nossos resultados são ruins, também, em comparação com países que não possuem sistemas de cotas. Na Venezuela 18,0% do parlamento é composto de mulheres, em El Salvador elas ocupam 16,7% das cadeiras da Câmara Federal, no Uruguai 12,1%, e no Chile, país considerado bastante conservador em termos de valores, inclusive valores de gênero, 15,0% dos Deputados do Congresso são mulheres. Ou seja, embora exerçam influencia, muitos dos traços de conservadorismo e/ou de desigualdades também são compartilhados por boa parte dos outros países. É, pois, insatisfatória a explicação do conservadorismo ou do “machismo” brasileiro. A sub-representação das brasileiras na política, embora mediada por fatores estruturais e culturais, também necessita ser pensada em relação às característica do sistema político e eleitoral. E este, por sua vez, também não permite conclusões fáceis em termos do que é bom ou ruim para a democracia e as mulheres. É em relação a alguns desses aspectos mais relacionados com propostas da Reforma Política e, sobretudo, com as regras eleitorais em curso que o artigo tratará a seguir. Há algumas características e padrões nos últimos processos eleitorais, sobretudo nos resultados para a Câmara Federal que destoam do usualmente esperado e encontrado na literatura comparada. Em geral os melhores resultados das mulheres não são encontrados nos estados mais desenvolvidos em termos socioeconômicos, com maior IDH (Índice de Desenvolvimento Econômico), com maior grau de escolaridade; maior grau de associativismos e organização política; ou ainda com número maior de partidos estruturados. Em termos relativos, têm sido predominante a eleição em estados menores, considerados menos desenvolvidos ou com grau mediano de desenvolvimento e mais conservadores em termos políticos ou culturais. Segundo, sob o ângulo dos partidos, constata-se que os de Esquerda tendem a eleger mais mulheres do que os partidos de Centro ou de Direita. Não há, porém, um padrão consistente que mostre que são esses mesmos partidos que lançam mais candidaturas. Tanto em 1998 como em 2002, alguns partidos considerados mais tradicionais lançaram mais candidaturas do que outros considerados mais abertos à igualdade de gênero. Se fossemos nos guiar principalmente, pelo aspecto do preconceito ou da resistência dos partidos, esperaríamos um tipo de comportamento de distribuição de candidaturas, assim como de resultados, bem diferentes do que temos obtido. E seriamos desafiados, também, a explicar porque, nestas eleições, nos cargos majoritários e de maior poder, que não possuem Leis de Cotas, como governo do Estado e Senado, a presença de mulheres disputando é igual ou maior do que, por exemplo, a presença para a Câmara Federal. Há, pois, fatores do sistema político envolvidos, e podem ser mais relevantes do que o preconceito partidário. Contudo, mesmo esses fatores não são simples de serem definidos como bons ou ruins em relação às mulheres. A política tem uma dinâmica e uma lógica próprias, marcada por uma dimensão pragmática mais complexa relacionada com os cálculos da competição eleitoral. E é nesta lógica que elas terminam encontrando desvantagens, e não necessariamente na negação direta de apoio. Embora tais dimensões sejam mediadas pelos valores de gênero, tais valores tendem a não determinar a priori as orientações dos partidos, seja para tomar atitudes favoráveis ou contrárias às mulheres. Torna-se complicado orientar propostas mais amplas de mudanças, que implicam pensar a representação como um todo, tomando como referência central e a priori, a (justa) necessidade de reverter o quadro da sub-representação feminina. Fora os obstáculos gerais já citados, são vários os fatores eleitorais que podem interferir e constituir empecilhos. Na reforma eleitoral, várias mudanças estão em discussão e, de alguma forma, afetam também as chances das mulheres. Uma delas é a mudança da lista de votação. No Brasil a lista é aberta, eleitores votam em candidatos. Há a proposta de alteração para Lista Fechada, onde os eleitores votarão nos partidos que, por sua vez, apresentam uma lista ordenada por prioridade de eleição. Esta mudança também tem sido vista como positiva para as mulheres porque, em tese, abriria espaço para que se pudesse implantar as cotas de forma mais efetiva e para reivindicar a alternância na ordem dos nomes da lista, garantindo assim um grau de prioridade às mulheres. Mas além de ser um debate mais amplo, que envolve aspectos relacionados com a relação entre candidatos e eleitores e poder de escolha destes últimos, aspectos que têm conseqüências mais gerais para a representação política, também não é tão claro qual tipo de lista beneficiaria mais as mulheres. Em estudo recente envolvendo 64 países, comparando vantagens para as mulheres em relação às listas abertas e fechadas em sistemas proporcionais, Gregory Schmidt , mostrou que a afirmação de que o sistema eleitoral de lista fechada beneficia mais as mulheres do que o sistema de lista aberta, não resiste à análise dos dados. Enquanto a média de participação de mulheres nas Câmaras Federais de países de lista fechada é de 17,6% entre os países que têm lista aberta essa média é de 19,7%. Embora não muito grande, a diferença tende a favor dos países de lista aberta. A opção pela lista fechada como um caminho para melhorar a implantação das cotas também requer uma avaliação de outros aspectos. Um estudo de Schmidt e Araújo sobre cotas na América Latina mostrou que pode haver uma variação maior nos percentuais de candidaturas entre os mesmos tipos de lista do que entre países com listas diferentes. Brasil, Peru e Panamá, apenas para citar países na América Latina, têm listas abertas. E enquanto o Brasil elegeu apenas 8,2% na última eleição, no Peru, nas últimas eleições as mulheres corresponderam a 29,2% dos eleitos e no Panamá (este com sistema misto, mas lista aberta na parte proporcional) o percentual é de 19,0%. Por outro lado, conseguir a alternância por sexo na ordem das listas fechadas que irão ser submetidas às urnas não é algo tão fácil quanto parece e depende muito do poder de organização e de pressão das mulheres dentro e fora dos partidos. É ainda Schmidt (2006) que mostra que apenas 6 países dos que adotam cotas em listas fechadas têm este procedimento assegurado e, importante, obrigatório, na legislação eleitoral – Argentina, Costa Rica, Bélgica, Bósnia Herzegobinia, Burundi, Iraque. Ao mesmo tempo, em muitos outros países mesmo com as cotas, as mulheres continuam sendo alocadas na base das listas e, consequentemente, não têm sequer a chance de tentar reverter seu destino eleitoral. Ou seja, a existência de sanção ou não para o preenchimento da cota e a força política das mulheres podem ser mais decisivos. Um segundo tópico é o do polêmico financiamento público de campanha e dos custos financeiros da competição eleitoral no Brasil. Os interesses e problemas envolvidos nas estratégias de apoio financeiro dos candidatos não é problema específico do Brasil e tem sido objeto de inúmeros escândalos em muitos países. No debate sobre a Reforma Política no Brasil há consenso sobre a necessidade de controle e transparência, mas não há consenso sobre o financiamento público estatal. Para o momento, interessa indicar que os custos financeiros em processos eleitorais têm impactos sobre as chances de as mulheres se elegerem. Desigualdades estruturais geraram diferenças de ganhos entre os sexos, seja na forma de bens, heranças ou salários. No Brasil, as mulheres recebem em média cerca de 70% dos salários masculinos. Estudos da ONU mostram que elas possuem menos de 20% dos bens no mundo. Os impactos dessas dificuldades sobre as mulheres levaram à experiências interessantes como a Emily List nos Estados Unidos, rede de ajuda especialmente criada para apoiar mulheres candidatas. Na Finlândia, um dos países com maior participação de mulheres no parlamento, o financiamento público foi considerado decisivo para que estas pudessem melhorar sua competitividade. Um estudo realizado em 2000 pela União InterParlamentar mostrou como este é um sério e generalizado obstáculo para as candidatas, sobretudo porque as campanhas eleitorais vêm se tornando estratégias de marketing e propaganda, mais do que exposição de propostas e compromissos. Para a maior parte dos candidatos, fazer-se conhecido num mercado eleitoral competitivo e tornar-se elegível num contexto político crescentemente desacreditado requer alto investimento em propaganda e contatos. Os dados divulgados pelo TSE relativos aos gastos previstos para a campanha de 2006, ainda que sejam tetos máximos e sofram variações entre os candidatos, dão a dimensão do problema. Se o montante geral de cada tipo de cargo for dividido pelo total de candidatos, teremos, para os mandatos legislativos, cada candidato ao Senado gastaria cerca de R$ 1.905.772,10; um candidato a Deputado Federal gastaria R$ 1.154.686,80. Para as Assembléias Legislativas cada candidato gastaria R$ 658.271,14. Se dividíssemos essa estimativa por quatro anos de mandato de cada deputado eleito, teríamos um gasto mensal de R$ 24.055,97 por Deputado Federal e de 13.713,98 por Deputado Estadual. Estes valores ultrapassam os salários pagos na Câmara Federal e na maior parte das Assembléias Legislativas. Ou seja, nas condições atuais, competir no Brasil implica ter um considerável aporte financeiro. Este é um cenário claramente desfavorável à parcela feminina. E o fato, mais provável, de que elas apresentem custos menores do que os indicados pelos homens só reforça a sua situação de desvantagem. O debate sobre o financiamento público é, pois, fundamental para as chances eleitorais das mulheres.
Baixar