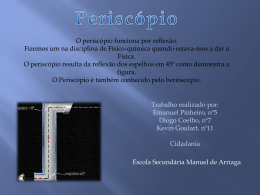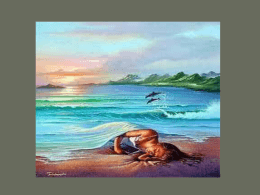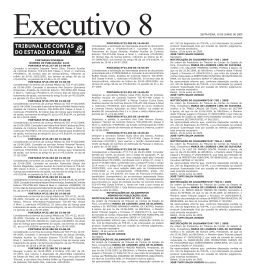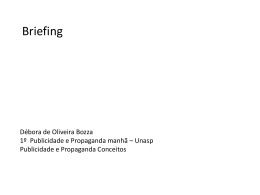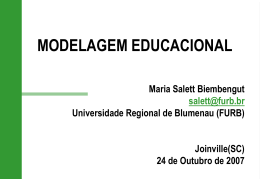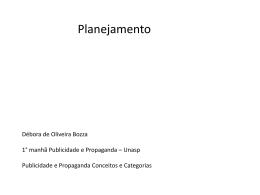v.2 nº5 setembro > dezembro | 2007 SESC | Serviço Social do Comércio Administração Nacional issn 1809-9815 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 1-148 | setembro > dezembro 2007 SESC | Serviço Social do Comércio | Administração Nacional PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SESC Antonio Oliveira Santos DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DO SESC Maron Emile Abi-Abib COORDENAÇÃO Gerência de Estudos e Pesquisas / Divisão de Planejamento e Desenvolvimento CONSELHO EDITORIAL Álvaro de Melo Salmito Luis Fernando de Mello Costa Mauricio Blanco Raimundo Vóssio Brígido Filho secretário executivo Sebastião Henriques Chaves assessoria editorial Andréa Reza EDIÇÃO Assessoria de Divulgação e Promoção / Direção Geral Christiane Caetano projeto gráfico Vinicius Borges revisão Márcio Mará Sinais Sociais / Serviço Social do Comércio. Departamento Nacional - vol.2, n.5 (setembro/ dezembro) - Rio de Janeiro, 2007 v. ; 29,5x20,7 cm. Quadrimestral ISSN 1809-9815 1. Pensamento social. 2. Contemporaneidade. 3. Brasil. I. Serviço Social do Comércio. Departamento Nacional As opiniões expressas nesta revista são de inteira responsabilidade dos autores. As edições podem ser acessadas eletronicamente em www.sesc.com.br. SUMÁRIO EDITORIAL4 BIOGRAFIAS5 A insuportável leveza do capital8 ExCertos a partir de baudrillard André Queiroz Mudanças societárias e crise do emprego44 mistificações, limites e possibilidades da formação profissional Gaudêncio Frigotto Confusões em torno da noção de público76 O caso da educação superior (provida por quem, para quem?) Ricardo Barros, Mirela de Carvalho, Samuel Franco, Rosane Mendonça e Paulo Tafner entre a esperança e a realidade sobre a arte e o seu ensino100 Ronaldo Rosas Reis Sobre o relativismo estético pós-moderno e seu impacto extra-estético128 Walzi C. S. da Silva EDITORIAL Vive-se uma época de muitas perguntas à procura de respostas. Pode-se afirmar que as mudanças ocorridas nas últimas décadas obrigaram os produtores de conhecimento a rever paradigmas e chaves de pensamento. As formas de pensar demonstraram-se condutos inadequados à sua finalidade. A leitura da produção científica contemporânea indica a pesquisa de respostas em sintonia com indagações antecedentes. Sabem os pensadores da contemporaneidade que suas reflexões são obras em aberto, suscetíveis de serem apenas aproximações pálidas do que intentam compreender. Entretanto, possuem a consciência da construção passo a passo, com avanços e recuos. Mais importante do que a verdade procurada é a busca sem esmorecimento. Se não existe o caminho, cabe ao caminhante fazê-lo. O quinto número da revista Sinais Sociais é uma manifestação clara destas assertivas, e bom indicador do quadro de revisão e novas compreensões de distintas questões apresentadas na ordem econômica e social dos dias de hoje. Os temas abordados pelos articulistas não são inéditos. Inéditas são suas leituras dos fenômenos escolhidos. São artigos polêmicos e questionadores, que trazem novos olhares sobre os objetos analisados, contribuindo significativamente para os propósitos da revista Sinais Sociais, de incentivar a pluralidade de pensamento. Esperamos que tais exames sejam incorporados como referência ao processo de reflexão da academia e da sociedade, tão necessário em um país que se transforma numa velocidade maior do que a nossa capacidade de entendimento. Antonio Oliveira Santos Presidente do Conselho Nacional do SESC BIOGRAFIAS André Queiroz É filósofo. Cursou Artes Cênicas na Uni-Rio. Mestre em Filosofia (PUC-Rio), doutor em Psicologia Clínica (PUC-SP). Professor no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e no Departamento de Estudos Culturais e Mídia da UFF. Escritor e ensaísta, autor de A morte falada (7Letras, 1998); Foucault – o paradoxo das passagens (Pazulin, 1999); Tela atravessada – ensaios sobre cinema e filosofia (Cejup, 2001); O sonho de nunca (7Letras, 2004); Outros nomes, sopro (7Letras, 2004); O presente, o intolerável... Foucault e a história do presente (7Letras/Faperj, 2004); Em direção a Ingmar Bergman (7Letras, 2007); Antonin Artaud, meu próximo... (Pazulin, 2007) e de Inflexões Baudrillard (a sair). Coorganizador dos seguintes livros: Foucault hoje? (7Letras/PPCom-UFF, 2007); Barthes e Blanchot: um encontro possível? (7Letras/ PPCom-UFF, 2007) e de Pensar de outra maneira a partir de Cláudio Ulpiano (Pazulin, 2007). Gaudêncio Frigotto Doutor em Educação pela PUC-SP. Professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor titular associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Integrante do Conselho Diretivo do Conselho LatinoAmericano de Ciências Sociais (Clacso) e membro do Comitê Acadêmico do Instituto de Pensamento e Cultura (Ipecal), com sede no México. Principais livros e artigos nos últimos anos: Fundamentos científicos e técnicos da relação trabalho e educação no Brasil hoje.2006; Frigotto, G. e Civatta, M. A formação do cidadão produtivo; A cultura do mercado no ensino médio técnico.2006; Educação crise do capitalismo real.2005; A produtividade da escola improdutiva.2006; (Org.) Educação e crise do trabalho: perspectiva de final de século.2006; Frigotto, G. Escola Pública da atualidade: Lições da história.2005; Ética, trabalho e educação.2005; Frigotto, G, Ciavata, M. e Ramos, M.(org) Ensino Médio Integrado – Concepção e contradições.2005; Frigotto, G. & Gentili, P. A cidadania negada – Políticas de exclusão na educação e no trabalho.2002; Frigotto, G. e Ciavatta, M. (orgs) Ensino Médio – ciência, cultura e trabalho.2004; Sujeitos e conhecimento: Os sentidos do Ensino Médio. in. Frigotto, G e Ciavatta, M (Orgs.). Ensino Médio, ciência, cultura e trabalho.2004; A dupla face do trabalho: criação e/ou destruição da vida. In Fri- gotto, G. e Ciavatta, M. A experiência do trabalho e a educação básica. 2002; Fundamentos de um projeto político-pedagógico. In Vários, Dermeval Saviani e a Educação Brasileira. 1994. Ricardo Paes de Barros É graduado em Engenharia Eletrônica no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), mestre em Estatística pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e doutor em Economia pela Universidade de Chicago. Desde 1979, tem trabalhado como pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), onde conduz pesquisas no campo de desigualdade social, educação, pobreza e mercado de trabalho no Brasil e na América Latina. Mirela de Carvalho É graduada em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE-UFRJ), mestre e doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro (Iuperj). Desde 2000 é pesquisadora no Ipea, onde participou de diversas pesquisas sobre desigualdade social, educação, pobreza e mercado de trabalho no Brasil e na América Latina. Paulo Tafner É economista, pesquisador do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), foi coordenador do Grupo de Estudos da Previdência, da Diretoria de Estudos Macroeconômicos do Ipea/RJ e editor da publicação “Brasil: o estado de uma nação”, edições de 2005 e 2006. É também professor do Departamento de Economia da Universidade Candido Mendes. Ronaldo Rosas Reis Doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1994) com Pós-Doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001). Professor associado da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. Coordenador do Neddate-UFF (Núcleo de Estudos, Documentação e Dados sobre Trabalho e Educação) e pesquisador do CNPq. Publicou pela editora Cortez o livro Educação e estética. Ensaios sobre arte e formação humana no pós-modernismo (2006) e os ensaios sobre cinema “Os dois mundos de Ale- xander K. Classe, cultura e consumo em Adeus, Lênin!”, no livro A diversidade cultural vai ao cinema, da editora Autêntica (2006), e “Cinema, multiculturalismo e dominação econômica”, na revista Crítica marxista, da editora Revan/Cemarx (2005) – Contato: [email protected] e [email protected]. Rosane Silva Pinto de Mendonça É graduada em Economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) e doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente, é professora adjunta do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora colaboradora no Ipea, onde desenvolve desde 1987 diversas pesquisas na área de educação, pobreza e desigualdade de renda no Brasil e na América Latina. Samuel Franco É graduado em Ciências Estatísticas pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence/IBGE), mestrando em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela mesma escola. Desde 2002 é assistente de pesquisa no Ipea, onde participou de diversas pesquisas sobre desigualdade social, educação, pobreza e mercado de trabalho no Brasil e na América Latina. Walzi C. Sampaio da Silva É sociólogo, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e mestre em Sociologia pelo Iuperj, com pesquisa co-desenvolvida na Universidade do Texas (Austin/TX-EUA). Ex-pesquisador do CNPQ, Fapesp; ex-bolsista Fullbright e originariamente professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Católica de Petrópolis, encontra-se atualmente na direção do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense (Niterói/ RJ). Desenvolvendo trabalho sobre filosofia da mente, ciência da cognição e o impacto da tecnologia e ciência contemporâneas sobre as disciplinas clássicas da filosofia: daí o interesse na subsistência da estética como disciplina filosófica, sob uma perspectiva pós-moderna. Foi precursor no Brasil do estudo dos Programas Fortes, trazendo-os a debate acadêmico em 1983. Trabalhou em campos correlatos como racionalidade não-clássica, antifundacionismo em lógica, ceticismo e epistemologia naturalizada. Publicou diversos artigos nestas áreas, bem como estudos sobre relativismo em epistemologia, ética, estética e filosofia da ciência. Contato: [email protected] A insuportável leveza do Capital excertos a partir de Baudrillard André Queiroz Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 Falência geral de tudo por causa de todos! Falência geral de todos por causa de tudo! Desfile das nações para o meu Desprezo! (...) E tu, Brasil, ‘república irmã’, blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria Descobrir! Ponham-me um pano por cima de tudo isso! Álvaro de Campos Resumo: O ensaio que ora apresentamos discute os modos de funcionamento do capital na sociedade contemporânea: seus limites, seus deslimites. E também, a questão que se dá é a das resistências: como resistir a um poder absoluto? Do texto, propriamente dito, ele se apresenta em duas camadas: uma primeira, na que o conceito fica como que subsumido à narrativa alegórica: trata-se de compor um cenário de claustro, como modo de recolhimento típico às sociedades de capitalismo industrial. Ainda nesta camada, fazse discreta a passagem às formas de clausura no “aberto” das modulações financeiras, e não mais nos interiores das instituições fechadas. Na segunda camada, a narrativa cede espaço às apresentações das teses filosóficas acerca dos modos de expressão do capital. E então, a letra de Jean Baudrillard, entre as de Foucault, as de Lyotard, as de Deleuze, emergirá com nitidez na apresentação de sua visada. Resume: In this essay we discuss the ways Capital functions in contemporary society: its limits, its dislimits. And also, a question of resistances posits itself: how to resist an absolute power? In our text as such that power shows itself in two layers. On the first one, the concept stays subsumed under the allegorical narrative. It concerns the composing of a cloister setting (scene) as a way of withdrawal typical of industrialized capitalist societies. Still on this first layer, the passage to the cloister forms in the “open” of financial modulations is discreet and does not occur anymore in the interiors of closed institutions. On the second layer, the narrative cedes space to the presentation of philosophical theses about the Capital’s modes of expression. And then, the handwriting of Jean Baudrillard, among those of Foucault, Lyotard, and Deleuze, shall clearly emerge from the presentation of his gaze. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 1 Começamos como quem fabula cenários inóspitos. Distintos e em desequilíbrio, os cenários. No entanto, algo os enovela, a sua condição, qual seja, a de ser um claustro. Ainda assim, por ora, é pouco o que acenamos àqueles que se reconhecem na distinção do bom entendimento. Necessário será o esmero em nuanças. E então, vejamos: um claustro, um encerro. Nele se está em depósito. Talvez, quem o saberia, como o personagem-narrador de Nítido nulo, de Vergílio Ferreira: à frente, o barulhar das águas-marinhas que estouram nas pedras do cais. E então, tão logo, o silêncio. De seu recolhimento em línguas de espuma, o silêncio. Outra vez, o esparramo, o das águas na vontade renovada das marés. Vez outra, o recuo. Isto o que se tem à frente. Um cenário em aberto. Quem sabe se à travessia? Não há travessia. O que há é o claustro. A despeito do que se tem à frente - o cenário, é o claustro o horizonte. Às costas, no entorno, abaixo, onipresente, a cela larga e limpa. E está-se dentro. Nada sendo o que restasse ao corpo para além do esforço inútil de pernas, de braços, do tronco num esticar-se dele a fim de retardar a hora na que a vontade verga a um adentro ainda mais adentro1 (os desvãos do nós, o labirinto da pessoa), a vontade encarquilhada, em paralisia, a ponto do seu impossível se for o caso a retomada, o ensejo d’algum esforço, o pôr-se a prumo em retirada, a vida sob os pés. Nada. Aqui, nenhum. A condição na que se está é irrevogável, a condenação à morte a emparedar o homem e seu limite, como se todo o tempo de que dispõe acabasse por ser o que o comprime: corpo, vontade – inscritos estes no passamento, e então o susto de tão logo a morte. Apenas um fato: nada, ninguém será aquele que virá bater à porta a anunciar o desfecho: local e hora. E mesmo o modo a que se atrelará no corpo o seu ocaso. Não há palavra nem gente que deixe ver o traçado da senha. Nada, nenhum. Faltam as pistas, a indicação precisa para que se forjassem os acenos desde o limite ao que o antecipasse no preparo daquele que vai morrer - isto será o que falta, isto já é o Da física do cárcere, é Graciliano Ramos quem o diz: “Medonho confessar isto: chegamos a temer a responsabilidade e o movimento, enervamo-nos a arrastar no espaço exíguo os membros pesados. Bambos, fracos, não nos agüentaríamos lá fora; a menor desgraça é continuarmos presos.” (1956, vol.2, pp.89-90) 1 10 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 que falta. No corpo, as justas. O aceite barbárico. O corpo à prova. Os sacrifícios como que numa testagem a ver se se está acondicionado, a ver se se evitará os gritos quaisquer da delação na hora mesma em que a agonia se encerrará. Nada, nenhum. Tudo, o que falta. E mesmo o número dos que estarão em vigília à cena, ninguém o diz, ninguém o dirá, e talvez que se creia que a solidão será o aporte, que se terá a si mesmo e tão-somente no quando da desdita, a morte de dentes alvos, de uma brancura que dói às vistas, e no contorno da cena o que será seria a solidão daquele que morre? nenhum os olhos a averiguar o que se dará no encontro, o corpo exposto ao abutre de Prometeu, as vísceras renovadas a cada fisgada numa morte que se adia e que se renova no morrer diário a que se estaria entregue. Nada, nenhum. Apenas que se saberá do desfecho quando do próprio, a sua circularidade inultrapassada numa tautologia de rituais e sentenças a evocar o indistindo entre o agora e o não-mais. Apenas quando. Nada, ninguém dará as pistas de forma prévia como que a amenizá-lo no costume que se traz desde o pensamento, a pele curtida ao sol desta verdade ainda que ingrata – o morrer já e já na consumição do corpo à míngua, e então eis que se fizesse inteiro o ato que a tudo encerrasse, nada ninguém a enunciá-lo quanto a este então – quando o então?: semana que vem, ou o mês das festas de fim de ano, ou o quando do retorno d’alguma nau e apenas quando, porque dizse (diria-se, fosse o caso o dizer) que seu percurso é o tempo do interstício a um estrangeiro em agonia... Quando o então? Isto fica em aberto. Nada, ninguém seria quem o encerrasse numa confissão. Mas nada, também, o que se faça aqui em semelhança à situação outra, inóspita também, outra cena, a de um Joseph K., o personagem de Kafka. Lá, o aberto – aquilo de que não se dispunha dizendo respeito aos autos do processo: o que se fizera? Qual o dano? Qual a alínea de um suposto contrato a que se manchara quem sabe se num descuido, quem sabe se em reclame da condição desalmada, na grita de injúrias, no declame de impropérios, num sortilégio de imprecações?! Joseph K nada sabe de um seu delito. Sabe-se enredado. Tomado em assalto na manhã em que estava em casa. Três as pancadas na porta de madeira barata. E entra alguém, entrará alguém. Alguém foi quem o disse, alguém foi quem lhe trouxe a petição: vem, siga-me! E se for o caso da inquirição repetindo-se a despeito da boca em repuxo que Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 11 fiz? qual erro? Será o silêncio a casa da palavra sem rebate. Está entre uma quitação aparente e uma moratória ilimitada aquele que atende pelo nome do condenado de Kafka. O tempo, d’algum modo, não se lhe furta ao jogo. Está em condição fluida a escorrer entre os dedos de quem manipula as cartas no resgate da regra. Tudo o que se troca e aqui nada, ou pouco, pouquíssimo é o que se manipula uma vez que se está refém. Faltaria pouco, talvez, para que se dispusesse das regras. Bastava um dizer delas àquele a que se toma em juízo. Nada, nenhum. Bastaria que se se desse ao aprendizado das portas – porque algumas destas levam à casa de correção, algumas outras conduzem ao cenário de espelhos, outras ao entre-pernas da secretária de decote vasto a fazer de si o princípio de um mundo, e outras ainda serão as portas que remetem aos jurados em permanente recesso. Em qual entrar? Em qual buscar o ingresso, a chave-mestra que em abrindo todas pudesse deixar que se escolhesse o caminho por onde seguir, quem o saberia dizer? Seria o caso, o fosse, saber por onde andar. Não se sabe. Se se soubesse seria já uma forma de saber, e se se está refém se o está de todo o saber de que não se dispõe. Está-se refém deste ou daquele saber que se lhe volta a mira ostensiva no corpo de seus enunciados, de sua pragmática, o percurso retilíneo dos homens da lei a chegar desde a porta da casa em que se mora e a dizer a este: vem, siga-me! Tudo ‘o aquilo’ que se troca, mas aqui pouco, pouquíssimo. E sequer o segredo, dito às escondidas, a indicação no jogo de crianças: está frio, muito frio, está esquentando, está quente, está pelando. Cerrou-se a hora às brincadeiras da inocência. Alguém que chega tem a dizer apenas a frase mesma que nada constrange e que a tudo convoca: vem, siga-me!2 E como o escape? Onde 2 Do segredo do seqüestro, a forma do tomar a si sem explicações, dirá Graciliano Ramos: “Mal fechara os olhos numa leve sonolência, alguém me sacudira e soprara ao ouvido: ‘-Viajar’. Para onde? Essa idéia de nos poderem levar para um lado ou para outro, sem explicações, é extremamente dolorosa, não conseguimos familiarizar-nos com ela. Deve haver uma razão para que assim procedam, mas, ignorando-a, achamo-nos cercados de incongruências. Temos a impressão de que apenas desejam esmagar-nos, pulverizar-nos, suprimir o direito de nos sentarmos ou dormir se estamos cansados. Será necessária esta despersonalização? Depois de submeter-se a semelhante regime, um indivíduo é absolvido e mandam-no embora. Pouco lhe serve a absolvição: habituado a mover-se como se o puxassem por cordéis, dificilmente se libertará. Condenaram-no antes do julgamento, e nada compensa o horrível dano.” (Ramos, G., op.cit., vol., pp.45-46). 12 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 a presença dos outros, de todos, das massas no firme propósito de sublevar? Como o escape? Bastaria que se se desse à prestidigitação do sufrágio – estamos a pensar no Estado de direito. Convocar a todos a que se marcasse um x numa cédula qualquer: se se quer vê-lo preso, algemado, depositado no fundo de uma cela limpa e larga, ou se se quer que o esqueçam tal como ele o estava ainda há pouco, no dentro de uma casa com apenas uma porta, e um nada de janelas. No entanto, nada, nenhum. E assim serão as horas as vielas curvas que levam a um outro modo de se o estar: se se está condenado todo tempo qual não será a parte do arremedo, qual seja, a de uma quitação embora aparente quando faz-se que se liberta da dívida a corromper, ou mesmo quando de um seu sursis recorrente no que a suspensão de todo gesto definitivo reincide no peito o vigor do agora... m’a quanto é que dura este ‘agora’ senão a totalidade do tempo, ele mesmo esta superfície na que se perfaz o malabaris?! Voltemos ao romance de Vergílio Ferreira. E lá, aqui, é o tempo na sua totalidade o tempo que resta. Nada sendo o que se lhe encurvasse num afora. O que fazer então? Conspirar contra o tempo? Forjar-lhe uma letargia: arrancar os ponteiros do relógio na parede da sentença? Mas veja lá: não se pára o tempo! Outro relógio, em digitais, ousaria o espocar das horas, o tilintar dos segundos a derrapar na pele em foice. Ou quem sabe se menos, se se de forma arcaica, fosse da sucessão dos dias que se inauguram aos que se encerram de que fossem se desprendendo os restos da duração, esta a forma da contagem, e sabe-se lá qual dia depois de qual noite, se fizesse inteira a vontade da consumação naqueles que julgam e executam, e então, mas só então, a sessão fosse anunciada. Talvez. Ocupamos os espaços do talvez. Outro talvez seria se exausto do sublevar no tempo, uma vez, outra vez exaurida a fatia do anseio decalcada à precipitação, qual seja, a de dispor o corpo no confronto diário com qualquer que seja a regra, a disciplina, aquilo a que se atende por bons modos, e tudo isto somado outra coisa não fosse do que a tentativa de tomar a si o tempo em precipício, fazendo vir consigo as horas no desaprumo delas, os humores em alto forno, a resolução arrancada à junta dos que dirigem como quem grita ‘que seja agora, que seja breve!’. Sublevar no tempo. Arrancar-se do lugar de refém, a condição Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 13 de estar prostrado. Quem o saberia? Haveria de estar algum olhar de repreensão à espreita a ver o que cabe àquele corpo em depósito na cela larga e limpa, haveria de estar a sentinela em lugar e função precisos e irretocáveis, a vigilância, a delação como que na captura de todo detalhe, haveria de se colocar sob risco o resoluto das decisões sobre ‘o quando’ e ‘o como’ da execução ao ponto da intervenção daquele, o interessado, vir a afetar a regulação nos humores dos outros, os supostos desinteressados, os assim chamados homens de lei (e então, seria o caso: interessá-los?). Mas não! Nada o que se conseguira, nada o que se conseguiria. Digamos que para lá da cela, para lá dos sons que a preenchem, para lá da brisa que descortina um horizonte imaginado, não haja ninguém. Ninguém esteja por agir. Apenas e tão somente que o que se dê se realize no sem-conluio de um desígnio. O tempo restrito a ser o tempo que resta. Ninguém estando algures a dizer o seu tamanho. Está-se num aberto. Nele encerrado. Na forma de um claustro. Sob o olhar da sentinela que nada vê tamanha a indiferença face ao rumor das horas inapreensíveis. Entretanto, está ali a sentinela a olhar. Como está ali o condenado a contar o tempo. Aqui é Jorge, o condenado, a dizer: Marrei contra o tabuleiro. Se marrei. Há-de haver uma saída, há-de haver uma saída, mas não a vejo. Talvez o meu filho – boa piada, o meu filho. O guarda, vejo-o, estará a pensá-lo também? Não é provável, um guarda não pensa, guarda o que pensam os outros3. 2 Como se defender diante de um poder absoluto? Como vislumbrar uma saída? Como embaralhar as horas e as regras no intento d’alguma permuta? Lá fora, o barulhar das ondas, lá fora a sonoridade da infância que se gasta em torneios de bola e mergulho. No entorno, atrás, a parede lisa da cela larga e limpa. Está-se dentro – já dissemos. Sublevar no tempo – o que resta? Fazê-lo funcionar em benefício próprio – suas rodas a constranger, suas roldanas a emperrar? Cerrar os olhos. Desde o lóbulo das orelhas a lâmina, cerrar os olhos? Estou (estamos) na praia. Desde lá ousamos a enxerga em 3 Ferreira, V.; Nítido Nulo. Lisboa: Portugália Editora, 1971, p.15. 14 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 recuo até onde estávamos. Ainda há pouco, a cela. Agora, a praia. Como foi que suportamos? Como duramos, insistidos, para além das horas que eram o tempo todo do que dispúnhamos? Como o desespero e o desamparo não nos desautorizou da persistência?4 Aqui estamos. Vilipendiados, mofinos, é certo. Mas aqui estamos. Todas as personagens da história a nos visitar. E mesmo o Graciliano que fora personagem de si-próprio num romance em memórias. E mesmo o Jorge de ainda pouco agora o de Vergílio Ferreira. E mesmo o Kafka em Joseph k., ou outro dele, o Gregor Samsa situado entre as paredes do quarto dos fundos onde os olhos do mundo faltam ao testemunho. Todos trazemos o horizonte arranjado ao jeito de basculantes gradeados que os pés não alcançam. Todos avançamos na direção da inquietude. O desespero já ali a nos acenar: vem, siga-me! Está-se aí. Em recuo. Como que à espreita. Tudo o que se tem são os sinais do mundo em desabamento. E como que em crescendo este desmonte que sequer se sabe os caminhos. Nada o que se sabe. Tudo o que se suporta. O peso nos ombros a ponto da enverga. O corpo exaurido. Tudo o que se tem é a cantilena, o cantochão, a ladainha, o ritornello, e tudo sendo apenas um no corpo, na vontade, no verso em sussurro: sublevar, sublevar, sublevar... 3 Agora, aqui é outro o local. Estamos dentro de uma empresa que está dentro de um filme. Marcelo Piñeyro é quem o dirige, o filme5. Estamos em meio a um processo de seleção para uma vaga apenas. Sete, os candidatos. Trata-se de persistir aos desníveis do percurso. Trata-se de sobreviver ao que se lhes vier no quando da travessia que é todo tempo. Mas qual a travessia? Onde será que ela se inaugura? Como a sua inscrição precisa nos motes do que fazer, o seu rumo? Quais as regras? O que se tem de fazer? Nin4 Da psicologia do cárcere, outra vez, é Graciliano Ramos a dizer: “Não lhes feriam somente o corpo: tentavam, encharcando-os na lama, no opróbrio, embotar-lhes o espírito, paralisar-lhes a vontade.” (Ramos, G., op.cit., vol.1, p.151). 5 Trata-se de “O que você faria?”, baseado na peça teatral “El Método Grönholm”, de Jordi Galcerán. O filme tem produção espanhola e argentina. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 15 guém o dirá. Ninguém será aquele que da empresa fará os esclarecimentos. Um cenário inóspito, com certeza. Da empresa apenas uma funcionária, a bela secretária de nenhum decote, mas com as mãos lisas que bem podem deslizar seguras nas pernas d’algum candidato inseguro. Traz no rosto um sorriso estampado que antes indica os pisares em falso do que a retidão de que se lhes espera – não se espantem da condição de estarem todos reféns! De fato, este é o caso. Sete os candidatos. Está-se dentro de uma sala larga e limpa. Tudo o que há nela se dá ao formato high-tech. Portas que abrem ou fecham sozinhas. Vez por outra, para o estranhamento de todos, eis que se encontra trancada uma porta. Ninguém foi quem veio trancá-la. Assim como ninguém será aquele que sairá. Está-se ilhado. Apenas se escuta o som automático das travas eletrônicas. Shut out the door! Ninguém foi quem gritou a injunção. Nenhuma foi a injunção gritada. Ninguém foi quem trancou a porta. A porta trancou-se. E está-se dentro. Num claustro. No entanto, vejamos, se se trata de um claustro, trata-se de um claustro hipermoderno. Bastaria que se gritasse ‘estou preso’, que se bradasse o texto dos nossos direitos de cidadão/consumidor - o ir e vir à solta e às claras, sob a matriz do consumo, e a porta se abriria. Ou que se alegasse o anseio do estar-se incluso, os riscos à pressão arterial, a ligeira dor no lado esquerdo do peito elevada desde o braço, e, outra vez e sempre, a porta se abriria. Ninguém está preso. Mas parece-nos que a ninguém cabe a recusa quando se está no interior da empresa. Ainda que se gore da condição do lá estar sob tutela de sabe-se lá o quê, as regras, o código, o contrato. Ninguém será capaz do grito de recusa: basta! Basta! Ninguém será aquele que mesmo sabendo do deslimite que sugere o processo seletivo, furtar-se-á a sua condição. Está-se dentro. Num claustro. Palmo e meio do mundo de lá fora, a rua, mas ninguém será aquele que ousará esta travessia. Como no filme de Buñuel, O anjo exterminador. O banquete à casa de grã-finos. Moet Chandon. Caviar às pencas. Chistes sob ternos de casimira. Conversas regadas aos aditivos ilícitos. Negócios resolvidos e tramados no tempo do jantar. E então, depois, no elevado da hora, quando se encerraria o banquete, ninguém será aquele que conseguirá atravessar a porta, tomar a rua, conduzir-se à casa onde se mora. Estão presos na sala de estar sob 16 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 o desmantelo dos hábitos de boa vizinhança. Sem quaisquer motivos aparentes. Mas ninguém será o aquele da travessia. Isto lá, em Buñuel. Aqui, no filme de Piñeyro, é a empresa, e dentro da empresa, a sala de reunião. A sala larga e limpa. Como limpa/alva/asséptica parece ser a face de todos. Num claustro, mas com distinção. Todos são (somos/fomos) diretores de empresas multinacionais; editores de revistas de alta-costura; manager de livros que vendem a rodo e que trazem na capa estampado o sorriso largo daquele que o escreveu; executivos que envergam a instrumentação de dois, três, quatro, cinco idiomas falados/lidos/escritos na ponta da língua distintiva e classista; funcionários de alta estirpe, daqueles que se dão inteiros à rítmica da empresa seja ela o que for, proceda ela como tiver de proceder. Mesmo que ela, a empresa, seja destas que faturam milhões de dólares ao ano e isto a despeito dos seus gases tóxicos, de negócios emaranhados em falcatruas, do superáficit primário garantido na compra de suas moedas pobres pelo arremedo de Estado que se lha associa, os empréstimos a perder de vista os juros, as facilitações nas carteiras de crédito federal, a máxima operante sendo aquela que diz um mínimo de Estado, um máximo de liberdade – sendo aqui a tal liberdade o que se entende por liberdade fiscal, o livre tráfego (tráfico) dos capitais estratosféricos e especulativos, sendo ali, o Estado minimal que lhes convier (Estado penal e fiscal voltado aos contribuintes, aqueles que rosnam a sua existência minguada lá fora); lá dentro, são (somos/fomos) todos homens de negócio, e isto a tal ponto que se for o caso o do vasculho de uma biografia, o traço que constrange será aquele que sugira o ‘comum’ do coletivo como mote desde o qual se se dá à narrativa um qualquer em exposição pública, ainda que lá atrás no tempo o sindicalismo: será que foi sindicalista? Mas como pôde a recusa da empresa? Atentemos aqui o desnível: como a recusa da empresa? Este o pecado capital. O capital pecado. O pôr-se d’outro lado. Do lado de fora da sala limpa e larga. Do lado de lá, embaixo, a rua, e da rua o que nos chega é a sonoridade amarga dos que recusam. O que será que se recusa? Recusa-se a anorexia do capital face ao trabalho produtivo. Recusa-se os seus desmanches, a sua desterritorialização a sugerir que o mapa do mundo é todo o espaço que se esquadrinha em face dos humores do agora: o desvão para onde se Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 17 desloca a produção for ainda o caso a produção; o exílio ao que se condenam hordas e hordas de gentes for o caso ainda o de se pensar nos imigrantes, nos deserdados, nos deixados à solta às segundas-feiras ao sol de todo dia quando, diz-se, a fome aperta a fazer esquecer os órgãos desinvestidos de suas funções de outrora o arranjo. Recusa-se a cooptação em regimes de otimização absoluta nos que flutuam levas e levas de capital autônomo à toda e qualquer inscrição que mesmo um Marx talvez se perguntasse pelo quando de sua falência, de sua autofagia, uma vez abandonada a parte viva do trabalho que lhe nutria a um avante no tempo e no espaço, ou que o retivesse na contramão d’alguma conquista, os trabalhadores na moldagem de um tempo outro, quem sabe uma nova teoria da colonização, quem o saberia dizer os pontos que do mundo todo se lhes forneceria um oeste a desbravar, e agora não mais, apenas à solta o capital a promover a Revolução como superação às avessas do estado de coisas, ele o capital, a unir-se num enleio em patchwork, sob os altos brados da convocatória: capitalistas de todo o mundo, uni-vos! Mas quando que não? Leve solto magérrimo anoréxico como que a se desmanchar no ar fosse o caso pensá-lo pesadiço, as regras da produção a constrangê-lo, quem o saberia dizer se não e como, ou outro o constrangimento, os registros de inscrição no corpo da cidade-cidadã, a sua legislação que, aqui e ali, acabasse por onerá-lo, são as despesas demais que se gasta (gastava) com o corpo funcional e então a produção pouca, as demissões; são (seriam, foram) o que se disse serem as conquistas históricas dos trabalhadores a fazer valer quem sabe se um recuo às condições (metafísicas?) de um valor de uso, moldadas às coisas, buscar sabe-se se lá onde o resgate da finalidade que se impunha ao trabalhar do trabalho o trabalhador, e agora não mais, daí a recusa, lá da rua ouve-se o estribilho, são já as sirenas dos carros de polícia a dizer que o Estado ainda existe para além do seu borrão em tinta num papel gasto e que se faz que esquece for o caso o capital, mas não, aqui são as levas de gentes a dizer que basta!, a tentar uma sabotagem um sabot em meio às roldanas da maquinaria industrial, ‘um tamanco senão eu sufoco’ entre as peças de moldagem em linha daquele que somos, mas qual? Qual se não mais, seria o caso o grito a dizer que a greve é esta paragem no tempo, 18 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 uma sublevação no tempo, um fazer retroagir em horas e dias e meses e anos a condição de um expurgo, a sanguinária legislação do Estado a conferir os lugares àqueles de direitos e os deslugares àqueles de fato, seria o caso a grita, ‘tem um megafone às mãos e às palavras soltas em corredeira’, ‘tem uns braços cruzados a sugerir que pára o tempo que não pára’, ‘tem um poste, um caixote ao qual se destila a função reescrita do palanque, as massas a postos, tem ouvidos moucos a massa que se vos destina, encargos de abano, as orelhas de burro e estás cansado de ser o Zaratustra que a tudo convoca convocaria a greve entre homens e não mais a greve, não mais há greve, qualquer que fosse a paragem seria já o paradeiro no qual fostes lançado, tu mesmo e a todos, e entre todos as massas6, e mesmo aquela de que se diria o lúmpen proletariado de outrora e agora todos (as massas zeradas, os supranumerários, os inimpregáveis), os trabalhadores que se viam à espera de um tão logo o dia de ingresso em levas de produção, e então isto, traz uma greve às mãos, traz um cravo no coldre de tua capitania, os capitães de um abril português, e não mais, aqui e agora, a sirena que toca empanturra a audição nos golpes de cassetete, é o Estado a tocarte, é o Estado a dizer-te: ‘o que será que queres ainda agora deste mim enfastiado, ou será que não ouvistes dizer do mundo que foi o mundo mesmo o que inexoravelmente ruiu, e que as alíneas de ainda, um dia outro dia, o contrato que vos corrompia, é justo o de que não-mais, a condição renovada do que agora sufocas; o que será que queres de mim, eu o Estado, o Estado que sou - outrora a crítica exacerbada de ser eu aquele que vos esmagara nos meus enlaces escusos com as gentes do capital, nos sombrios acordes em que vingava a cantilena dos vossos açoites, população de um lado, o 6 Baudrillard diz: “A greve se justificava, historicamente, num sistema de produção como violência organizada, visando arrancar à violência inversa do capital uma fração da mais-valia, senão do poder. Hoje, essa greve está morta: 1) Porque o capital tem condições de deixar que todas as greves levem ao desgaste – e isso porque já não se está num sistema de produção (maximização da mais-valia). Pereça o lucro, desde que a reprodução da forma da relação social seja salva! 2) Porque essas greves, no fundo, nada mudam: hoje, o capital redistribui a si mesmo, por constituir isso para ele uma questão de vida ou morte. Na melhor das hipóteses, a greve arranca ao capital o que este teria concedido de qualquer maneira com o tempo, de acordo com sua própria lógica.” (1976, p.35). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 19 navio negreiro, o vosso bairro operário, eventualmente, o cárcere das memórias de um Graciliano, ou ainda a morte em batalha sangrenta, isto por um lado, e d’outro lado, irredutíveis os lados, aqui e agora o lado outro, a corja de que se me denunciavam o apreço a aquiescência a luxúria, Felinto Muller no apronto das ordenanças de sua polícia mineira a guardar as costas de Vargas no sono do Catete, ou ainda outro, um Franco às touradas com os chifres afiados vazando o estômago dos catalães, um Salazar mais aquém a propor quem sabe se um novo tratado à melancolia lusitana no resgate das Tordesilhas doutrora, um Mussolini de rédeas curtas em que tudo se lhe dá à tutela, um Estado Novo, concentracionário, cerceado aos vasos comunicantes, envolto todo ele no abusivo das legislações excessivas, mas sempre e sempre um Estado, estava lá, eu, o Estado a cumprir as funções de um meu juízo coletivo, eu juro, juro de pés juntos, estava eu, o Estado a fazer inserir a todos7, a depositar cada qual no lugar de sua destinação, e então isto, ainda agora o vosso praguejo, os trabalhadores, os obreiros do mundo todo à vossa casa, estavam todos a conspirar de entre as entranhas do meu corpo de mil portas, e aqui, e agora, ainda agora no agora de meu desmonte o vosso praguejo, outra vez e sempre o vosso praguejo, o que será esperas de mim”’, e então as sirenas, a polícia que chega, ‘é preciso dispersar, voltar às suas casas, é mister sufocar, sufocar aqueles que insistem na recusa a todo o contrato, e mesmo este um contrato renovado, precário que o seja, temporário que lhe caiba o jeito o modo; trago a ti um trabalho outro o seu regime, quem sabe se a zero hora diária e semanal, um celular no bolso e isto, apenas isto, a participação nos lucros da empresa, agora isto, o Estado-empresa, isto que vai seguindo assim, e que assim vai rumando a história, porque tu deves formular outras teses que te garantam alguma redenção, no final das provas, no dia final do juízo a tua forma outrada de produção, imaterial o nome, não é isto o que 7 Deleuze & Guattari dizem da Forma-Estado: “São os elementos principais de um aparelho de Estado que procede por Um-Dois, distribui as distinções binárias e forma um meio de interioridade. É uma dupla articulação que faz do aparelho de Estado um estrato”. E mais adiante: “(...) o Estado não se define pela existência de chefes, e sim pela perpetuação ou conservação de órgãos de poder. A preocupação do Estado é conservar.” (1980, p.12 e p.19). 20 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 se diz agora, o trabalho que renova, o trabalho que desaliena, imaterial o nome, ouvi dizer que desde a Itália nova recente recentíssima diz-se deste trabalho a sua imaterialidade, os rumores do tempo escasso, o trabalho que é todo tempo o tempo todo o do trabalho mas que agora é válido, a construção de si, a saída pela micropolítica num arremedo às teias constituintes na que parece que capital e trabalho não mais se reclamam, não mais se engalfinham, não mais se pretendem a uma superação qualquer da condição histórica e pontual, a produção na que se produz aquele que produz, sem qualquer demanda transcendente, sem qualquer constrangimento de resguardo num dentro qualquer, nenhuma fábrica, nenhum intramuros, nenhum acerto de corpo no corpo de uma fila, nenhuma ortopedia que acople as juntas dos ossos e musculatura aos contornos de tornos ou outra maquinaria8, tens contra mim o trabalho de tua tese, imaterial o nome, não seria isto o que proclamas, agora que podes o poder do construir-te, e tanto isto, que ainda dirás a mim o teu regozijo, creio nisto, palavra do Estado, amém’, e então, as sirenas, lá embaixo, na rua, a polícia a dispersar a multidão, e lá em cima, no lado de dentro do cortinado, da sala ambientada a tal grau que se for de ser o verão o mais tórrido ainda assim será a sala refrigerada, e se for de ser o frio aquilo que amofinasse a alma seria a sala larga e limpa a estufa a aquecer, a sala asséptica, a sala da concorrência privada na que os homens do filme farão as vezes dos gladiadores pós-modernos, nada de sangue, nada da crueldade artaudiana – a do corpo exposto ao lacero, a peste desde os baixos – estômago, intestino, fígado, no fraquejo da vontade, o corpo à fúria o revolto nada, nada da morte violenta, a morte será lenta e dosa8 Do trabalho co-extensivo aos diversos campos da vida, diz Baudrillard: “O trabalho (também sob a forma de lazer) invade toda a vida como repressão fundamental, como controle, como ocupação permanente em lugares e tempos regulados, de acordo com um código onipresente. É preciso fixar as pessoas em todo lugar, na escola, na fábrica, na praia, ou diante da tevê, ou então na reciclagem – mobilização geral permanente. (...) Ninguém mais os arranca selvagemente da vida para entregá-los à máquina – vocês são integrados aí com sua infância, seus tiques, suas relações humanas, suas pulsões inconscientes e sua recusa do trabalho -, consegue-se para cada um de vocês um lugar em tudo isso, um emprego personalizado ou, à falta de outra coisa, um desemprego calculado de acordo com sua equação pessoal.” (1976, p.24). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 21 da9, a morte que se destila no jogo, no carteado da sorte, basta que se resolva a gincana, que se atravessem os percalços, que se saltem os obstáculos, a questão é qual a regra? Quem diz a regra que não se diz? Qual o caminho a que se tem de seguir e que se leva a algures – algures será sempre mais adentro, mais a fundo, mais geminado aos contornos de uma empresa que flutua acima. Para além do mundo da rua. No esquecimento de tudo o que for a recusa. 4 Como reconhecer um poder absoluto? Como atestar a condição inultrapassável a que ele nos destinaria? Como admitir que se esgotaram as saídas, que as zonas sem o pontilhado de seu traço se nos falta de todo? Onde será que começaria o seu desmantelo, houvesse este possível de entre as cartas que embaralhamos? Não bastaria que as portas se abrissem num escancaro delas? Mas será que se tratam de portas que se abrem e fecham à nossa revelia? Será que a condição de recuo, inclusa no claustro, demanda esta suspensão do livre circular? Já vimos d’algum modo que bem pode haver uma porta fechada, um corpo no interior do que ela encerra e a experiência do claustro se fazer no que se nos dá em aberto: o tempo que resta. Sublevar no tempo? Precipitá-lo sem precipitarmo-nos no que se precipita? Onde será estaríamos? Sobrepostos a descrever a condição do mundo em narrativa? Está-se dentro. Incluso. Enleado. Talvez não necessariamente subsumido. A condição de Jorge. A de Joseph K. Continuar a mover-se ainda que entre os limites da cela pouca. Perambular as pernas entre as salas subseqüentes do tribunal. Moverse. Sublevar. Arriscar a recusa. Ter os pés sujos junto à terra que nos 9 Baudrillard é quem diz esta troca: o capital trocando com os trabalhadores: dá-se lhes o trabalho que é forma de trocar a morte violenta do sacrifício primitivo pela morte lenta do trabalho contumaz. Questão será: o que dá em troca o trabalhador? A matéria mesma do que se produz? Não, nada. Fosse o caso, a troca estaria completa. Aquele dá, este recebe, este repõe, aquele aquiesce. No entanto, o Capital continua dando a fim de tornar irregular a troca, afim de paralisá-la: dá o salário, e isto dando, impede a reposição. Aquele que dá ao não parar de dar gera o acúmulo da dívida naquele que recebe, e do crédito naquele que oferta. Nascimento da dívida infinita. Ampliação em larga escala do acúmulo primitivo do capital. (Cf. Baudrillard, op.cit., pp.55-60). 22 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 restou ao arremate. Pouca coisa, bem pouca, mas lá ter os pés. Neles sentir a sua (nossa) calosidade. As texturas várias em que se assentam os desníveis junto ao piso. Marrar contra o tabuleiro. Talvez um filho se nos chegue em salva. Pouco provável, mas talvez. Ocupamos os espaços do talvez. Talvez a sentinela seja dada à corrupção. Cerrar as grades antes que os olhos. Desde o lóbulo da orelha, retirar o estilete camuflado, cerrar as grades. Voltar a ver o mundo para além do basculante a que não alçamos. Lá fora, o barulhar das ondas ou os rumores das ruas, tudo agora mesmo disposto àquele que se é, àquele a que atende pelo nome da pessoa que somos, ou ainda mais, quem sabe estivéssemos em meio à turba, perdidos no seu anônimo, o das massas em movimento, quem sabe lá começássemos a grande política: convocar, urdir, incendiar, remover, dispersar, recompor, recomeçar a ação. Haveria a ação. Haveria a turba. Aprontaria-se um rol de coisas desde o comum-de-dois-e-doutros – muitos enquanto muitos, cada qual um bárbaro. Talvez o fosse. Um claustro? Reverter a condição do claustro. Lá fora. Lá fora. Lá fora. Repetir em ladainha na certeza abusiva de que haja um lá fora. Crianças que brincam em jogos de amarelinha. A inocência dispondo de nós, reconstruindo-nos desde os vales escarpados nos que pensávamos que nunca mais o pôr-se a prumo em retirada – uma vida sob os pés. E estamos na reversão do claustro. Estamos. Um poder absoluto? Quem sabe d’outro modo, àquela outra narrativa. A porta que apenas se fecha for o caso o seu fechar em anuência ao que ousamos. Arriscarmos a discrição. Instituirmos a fachada. A carta que nos apresenta. Traz um continente às costas, a cartografia das filiações pululando de sobre a pele, os agenciamentos de um passado recente, a luta que se envergara, os compromissos assumidos quando de um comum-de-dois-e-doutros. Agora tudo é o que se esquece. Faz-se que se esquece. Denega-se. Subtrai-se se for o caso o simular a condição de. Alçar a um cargo na empresa-mundo. Emoldurar-se num perfil prévio a nós – código da perfídia. Enregelar-se. A sala larga e limpa. Lá fora, a rua. Há a rua? A arruaça? A arenga? Polis subsumida. Mas qual onde como quando houve? Um claustro! Um claustro! Será possível um outro de nossa condição quando não atentamos sequer que haja um outro – uma outra condição à mercê das mãos? Lá fora, lá fora – ironia a cantilena a repetir-se se não congrega, se sequer diz ao que vem, ao que aten- Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 23 de, ao que se presta. Lá fora, lá fora, a rua, a praia, os barulhos, tudo se ajeitando em ser o ruído a que se elimina, for o caso a reforma da sala. Começa-se pela acústica. Chegar-se-á à genética. Ao código. À eugenia. Ao controle. Tudo o que atende em ser o nome dos muitos, aqui e agora, sendo o que é o demoníaco. Denega-se. Diz-se: nunca vi, não sei do que se trata, não conheço! A ‘cara’ lavada nos jogos do falso. Quem sabe o que me espera? Que será eu ganho com isto? Não há ninguém a dizer. Nunca haverá, de fato, ninguém do outro lado da porta. Ou da lei. Ou do mérito. Ou da tela catódica na qual aprendese (apreende-se) o mundo. O mundo? No mais, a empresa, o capital, os seus desníveis flutuantes. Está-se aí. E neste aí não se fica parado. O contrário a regra: está-se superexcitado, convulso, compulsivo, cocainado. O imperativo é o mover-se: mover-se desbragadamente. Como que numa aflição de urtigas. Os pés não tocam o chão. O chão está lá fora. E não há, não houve, não se ouve as pistas de que haja um lá fora. No entanto, insiste-se, a porta está aberta, basta que se queira dobrála. Basta que se tenha vontade de sair. Não há a vontade. A vontade é o que não existe. 5 Será que mesmo à imanência um absoluto ousaria o perfazer-se? Tornar-se ele o imperativo, a condição de possibilidade da qual não se deriva, nada o que se lhe desagregasse – um novo transcendental? O capital, este absoluto? Mister pensar o capital. Qual o seu limite? O que será não se lhe ajusta ao axioma: conectar, produzir, circular, reproduzir? Onde o seu desmantelo, condição inequívoca do que não se lhe conjuga? Ao quê, apenas se lhe resta o conjurar? Desde a sua condenação, o desterro, a quem, a quê? O quê, o aterrador? O quê que se lhe fosse um incongruente no desarme da cadeia de possíveis? Uma intempestividade abrupta, abusiva, o acidente que lhe precipitasse ao fim irrevogável? O quê o aquilo que se lhe mostrando irredutível o fizesse recuar, os pés nos freios, o freio-motor, o estancar, e não-mais? Desde então, o não-mais. O quê? Ou o quanto este não-mais que acabasse por ser uma outra via, um atalho abeirado à rodovia, e tão logo seriam as casas, e tão logo o povoado, as gentes na ordenança das coisas, o 24 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 pequenino mercado das trocas – fazer girar, circular, evitar o acúmulo: o toma-lá-dá-cá da troca bem-sucedida de que nos fala Marcel Mauss na dádiva a conjurar o excesso, fazer a festa do desperdício, a produção improdutiva, um potlach, a despesa, novíssima teoria da colonização10, a América-refugo do lúmpen-proletariado inglês, e logo e logo, século e meio de história, o processo contumaz do novo acúmulo, as condições renovadas da fartança nas quais se verá subsumidas cotas imensas de trabalho vivo, e então, a América-Império. Onde a China de Borges no diagrama do impossível, o assombro da incongruência? A enciclopédia dos animais incompatíveis: os alados; os do imperador; os avessos ao toque; os que vistos de perto parecem pantufas; os imaginários – boitatá, mula-sem-cabeça, saci pererê, mão branca; o caçador de cangaceiros, Antônio das Mortes?11 Tudo aqui, lá, enumerado no rigor da classificação alfabética a dispô-los em um só quadrante? Qual o quadrante? Como o quadrante? Ainda, o quadrante? Qual o que se mostrasse razoável a aquietar as espécies zombeteiras? O capital, este mapa móvel? Tudo se lhe escoando de entre os dedos, tudo o escorregadio a que não se agarra, e como a permanência da regra, ela mesma a regra, na observância do que dela se exila? Não ficaria a regra segredada a si própria – a regra em degredo, a regra segregada, a regra desregrada, ela própria, toda ela a errança que a nada ninguém governa, que a nada ninguém ela agarra e liga – os 10 Cf. Mauss, M., “Ensaio sobre a dádiva – forma e razão da troca nas sociedades primitivas”. Da obrigação do dar, da obrigação de receber a fim de evitar o acúmulo, e, conseqüentemente, o poder daquele que acumula. Forma de conjurar a dívida, de facilitação de resgate. Se há dívida, há o resgate. Para além do acúmulo primitivo, a dívida tornar-se-á irresgatável. Cf. também, Marx, K.; “A nova teoria da colonização”. In: O Capital – Crítica da economia política, vol.I, cap.XXV (pp.883-893). Marx acena com a deriva em face da condição de espoliação do trabalhador inglês quando de sua migração aos Estados Unidos da América. Lá, ele se torna produtor, o que é dizer, reinscreve-se na condição viva do trabalhar do trabalho. 11 Cf. Foucault, M. (1966). Sobre a alusão à China de Borges, e à Enciclopédia Chinesa, ver a introdução. A questão aludida é: como dispor sobre o mesmo solo de pensamento, sobre a mesma tábua de valoração a incongruência? Não lhe encerraria a esta tábua que, supostamente, agregasse a todos? A questão aqui é: o capital, este ‘lugar’ que a tudo limita ‘nos’ seus interiores. O que se lhe foge? O que se lhe é irredutível? O que se lhe precipita ao fim? Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 25 operários à solta, tomar a si o ‘que fazer’ das horas, prensá-las no sentido que faltara, estabelecer as cotas da transferência social, promover cesuras: o capital em Colono num pesadelo de Édipo o destituído, os trabalhadores em Pasárgada, na cama do rei nu a fazer rolar cabeça cabaça cabaço, será (seria) a epopéia dum novo tempo, ou menos bem menos aqui outra vez, estaríamos todos, um todo e qualquer, a rever as cenas da história no recontar em paródia a condição outra do desterro, aqui, sendo ela própria o cenário propício à fênix capitália, ela, a evanescida, a fazer que cai, e sacoleja, a fazer que é crise a artimanha o artifício, a fingir que é dor a dor que deveras simula, condição paroxística do desplante. JeanFrançois Lyotard a dizer: “Retrato de um capital quase esquizofrênico. Por vezes chamado perverso, mas é então uma perversão normal, a perversão de uma libido maquinando os seus fluxos sobre um corpo sem órgãos em que se pode agarrar a tudo e a nada, tal como os fluxos de energia material e econômica podem, sob forma de produção, isto é, de conversão, investir-se sobre qualquer das regiões da superfície do corpo social, do socius plano e indiferente. Investimentos viajantes, que fazem desaparecer nos seus périplos todos os territórios limitados.”12 Agarrar a tudo e a nada. Agarrar. Largar. Deixar fazer. Laissez-faire. Princípio da nãointervenção. Isto se for o caso. Ainda assim, o caso (este, aquele, aquel’outro) não lhe esgotaria as formas do fazer. Agarrar. Largar. Vez ou outra, a cela larga e limpa donde se vislumbra o cais. Jorge a marrar contra tabuleiros. Vez ou outra, a sala limpa e larga d’onde se esquece a rua. Afinal, homens de negócios em que o tabuleiro é a casa dos que não têm. O capital a atender por nomes diversos, ele mesmo legião. Capital agregador; capital de exportação; capital concentracionário; capital de produção; capital de sobreprodução; capital signo; capital doador de trabalho: trabalhadores de todo o mundo, vinde a mim, e quem sabe o tudo que lhes darei, se prostrados, me adorares. O capital a converter. Subsunção do trabalho ao capital: organizar a esfera da produção de mercadorias, organizar a esfera da reprodução da força de trabalho, ainda além um tanto, subsumir a integralidade do tempo sob a lei da troca desi12 Lyotard, J.-F., 1976, p.100. 26 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 gual que é a sua própria lei. Tornar lei a expansão do que for a lei. Autolegislar(-se). Espraiar em todas as direções o seu jogo (jugo) de espelhos. Estamos todos reféns, somos todos Alice. Está-se dentro. Refletido, consumido, consubstanciado. É-se o duplo no que ele constrange: a morte diferida, a morte lenta. Forma de dizer o trabalho. O riso, o escárnio, vontade de participar, de estar dentro da sala. Lá embaixo, a rua. Mas há a rua? Resta a rua? Vinga a rua? A porta aberta, escancarada. Quase que se convida ao ir-se: ‘Segue, vai’. Passagem grátis, pão com mortadela, a obra acabou, a farra acabou, queres ir para Minas, queres ir para Sampa, Sampa, Minas não há mais. Emancipação social: ‘segue, vai!’ Não te iludas, somos todos reféns na caça de um sorriso de gato, a violência urbana na equivalência do que for díspar, improvável, impossível. O capital a exilar - a regra é vária: a) quem não for geômetra; b) quem tiver a palma da mão amarela; c) quem for ser ‘gauche’ na vida; d) quem não acreditar no seqüestro do Abílio Diniz; e) quem não souber inglês, francês, javanês; f ) quem não for amigo da vizinha do andar de cima, que diz-se, ela dá e desce; g) quem não gostar do branco azul amarelo; h) quem não souber dizer em quinze segundos quem foi Plínio Salgado; i) quem não tiver as barbas de molho; j) quem achar a nudez do rei fastidiosa; l) quem não souber combinar o tom da bolsa com o estofado do sofá; m) todas as alternativas ao inverso; n) nenhuma das anteriores. A falsa questão é buscar o razoável da regra, aquilo que em se dando fosse a regra mesma, e que, a despeito do movimento das coisas, lá permanecesse em ser a regra a que se contraria, regra localizada, regra sitiada, regra ensimesmada (alguém algum a dizer: tem um Édipo ali!), regra depositada em invólucro, a tese com relação à qual se lhe dessem inumeráveis antíteses no avanço, na marcha de Brancaleone, e em cada uma destas, a recusa, e por cada uma delas o enunciar do novo novíssimo, a desprega, qual? qual? – trocar a regra pela desregra, fazer da regra a ex-regra, trocar as premissas, afirmar de peito nu a suposta opção revolucionária, dentre as opções acima: ‘letra n: nenhuma das respostas anteriores’, olhar ao lado em busca, à caça das gentes, quede o megafone, quede a sirena agora eu (o policial, agora, come lá em casa, eu a lhe preparar quitutes), agora eu quem a disparo, ‘companheiros, companheiros, é preciso lutar, Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 27 se compor à porta da fábrica, é preciso parar, é preciso não esmorecer, é preciso mostrar a eles a nossa força, é preciso cruzar os braços, é preciso se organizar, companheiros, companheiros’. Mostrar a eles, organizar, de forma ordenada, um de cada vez, por turnos, a produção. Está-se (estava) a falar da produção? Livre circular: condição do trabalho livre, condição do capital desterritorializado. Esta uma equivalência, um claustro – não se lhe poder a recusa. A porta aberta, escancarada, o convite ao ir-se: ‘vai, segue’. Fluxo de riqueza não qualificada no encontro de um fluxo de trabalho não qualificado, esta uma conjugação. Aqui, Eric Alliez, Os Estilhaços do capital: ‘A relação salarial que estabelece, ao acaso, os fluxos de capital e de trabalho não qualificado não distingue o empresário e o trabalhador não qualificado como as encarnações individuais de cada um desses dois fluxos, sem reuni-los, ao mesmo tempo, na categoria de sujeito livre e na noção de produção, na atividade produtiva em geral como essência subjetiva e abstrata da riqueza – mesmo que esta diga respeito objetivamente à propriedade privada da classe capitalista. Portanto, existe um igualitarismo formal e um humanismo essencial do capitalismo, que não nega nem a diferença substancial entre aquilo que o capitalista possui e o que o trabalhador possui, nem a desigualdade da troca entre uma porção de vida e uma soma de dinheiro, nem, por conseguinte, o conteúdo de suas respectivas liberdades: por um lado, a liberdade de empreender, por outro lado, a liberdade de submeter seu tempo e seus gestos13. Duas metades, a liberdade: liberdade de empreender no multiplicar-se, um lado; outro lado, liberdade de submeterse, o tempo, os gestos. ‘Companheiros, companheiros...’, o grito vai ganhando a si a condição descolorada da afonia – tão logo, tornarse-á presidente de República o dono de um grito assim afônico, minguado, ramerrão, copioso, carpideiro, cantochão, grito paródico na exigência de trabalho, um pouco de trabalho senão eu sufoco, as mãos estendidas de pedinte, tão logo será o capital a rir de tudo, riso de gazela estridente no espatifo de cristais, economia política como modelo de simulação, aqui, agora, o que se reproduz é o próprio trabalho, trabalho como forma e não como força, 13 Alliez, E. & Feher, M., 1988, p.193. 28 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 trabalho como benfeitoria, central única de estágios, queiram se cadastrar, as filas dão voltas em quarteirões, trabalho voluntário: a cura à sensação do estar-se inútil, à sensação de que se é inútil – sarcasmo ao paroxismo, arranjar um trabalho, trabalho como bem de redistribuição social, Baudrillard a rir de tudo, ironia mordaz14, ‘companheiros, companheiros, vamos cruzar os braços, mostrar a eles’ – a eles o espetáculo, para eles a performance, a quem isto? Quem o ‘eles’? Atacar a regra, fazer que se vira à curva duma boa esperança renovada. Virar à curva? Quem sabe será o vazio à espreita?! Quem o saberia dizer, andou-se dizendo, andou-se sugerindo do dehors, do fora - não há o fora. Não mais o fora. O capital circunscrevendo os espaços móveis do ecúmeno. A regra, a ex-regra, a des-regra, tudo o que se comuta. O capital a fazer bonito no gingado de pernas: começaria tudo outra vez se preciso fosse - esta longa avenida de gás neon15. Aqui é Lyotard, uma vez mais: ‘Qualquer objeto pode entrar no Kapital desde que se possa trocar; o que se pode trocar, metamorfosear-se de dinheiro em máquina, de mercadoria em mercadoria, de força de trabalho em trabalho, de trabalho em salário, tudo isto a partir do momento em que é permutável (segundo a lei do valor) é objeto para o Kapital: e assim não há mais do que uma enorme desordem em que os objetos aparecem e desaparecem sem cessar, dorsos de golfinhos à superfície do mar, em que a sua objetividade cede à sua obsolescência, em que o importante tende a já não ser o objeto, concreção herdada dos códigos, mas o movimento metamórfico, a fluidez. Não o golfinho, mas o rasto que se inscreve à superfície, a marca energética”16. O claustro, o aberto. Já não há portas. Ninguém a precisar delas. Está-se subsumido, consubstanciado. A praia à frente, a rua embaixo, e o que importam praia, rua, a inocência, a baía, o brincar das crianças, se o que se vê é o beco? E nele, nada ninguém encerrado. Nada ninguém está retido. Sequer há traços de engol14 Vejamos este curto parágrafo de Baudrillard: “O trabalho tornou-se, como a Seguridade Social, como os bens de consumo, um bem de redistribuição social. Enorme paradoxo: o trabalho é cada vez menos uma força produtiva e cada vez mais um produto”. (1976, p.39). 15 Referência às músicas de Luís Gonzaga Júnior (música incidental). 16 Lyotard, J-F., op.cit., pp.95-96. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 29 famento no sinuoso dos rostos. Estão a aprontar relatórios, a contar o que produziram, a duplicar a produção na contagem mesma dela, e a tal ponto isto, que quem sabe, sequer importe a produção, mas apenas a contagem – subsunção da produção na reprodução, do fazer do que se fez à narrativa envelopada. Uma narrativa, ao menos. Uma tragédia, ao menos. Forma de dizer que não se está calado. Mas se está estamos. 6 Combater na imanência. Sequer o vislumbre do que viria desde o fora do capital. Trata-se antes, ele mesmo, o capital, do aquilo a que se encaminha a um de fora. O desmanche não lhe sendo avesso não lhe revelaria o anverso. Sublevar no tempo? Fazer que se pára quando da circulação ininterrupta das coisas, dos modos, das mercadorias, das formas na que se é (na que se está) – quem o saberia o que é que se deflagra? Também o vimos: são os sortilégios do aberto no que o tempo não se comprime entre dois pontos em cesura – origem e fim. A origem sendo toda a hora na que se principia os jogos da significação, a produção dos efeitos de verdade. O fim estando suspenso. Consigo, o telos que o situasse no longe. Finalidades múltiplas sem fim. Irromper a dicotomia capital, trabalho? Arrancar a este aos ditames da produção que o debilitara no jogo da exploração capitalista, que o inscrevera (absorto) em cotas de trabalho morto, reavivá-lo no processo da gestão do sentido, ainda isto? Abandonar o capital, subscrevê-lo ao solipsismo, deixálo entregue ao sepulcro, será isto? Também aqui o efeito contrário o que se dera. O capital fora aquele a tomar a dianteira, a emancipar-se. Vimos isto. Questão então é: submeter-se aos jogos do dentro? Esfumar-se na mágica dos enunciados a sugerir agora, desde agora, que a processualidade, a movença no seu abstrato seria a salva-guarda em face do intolerável? Pouco, ainda pouco. Sequer se trata de recusar a recusa pela improbabilidade desta, por vezes antes, outro modo, o do aquietar-se àquele intolerável. Quem sabe se numa sua aquiescência, o corpo exaurido, a impressão de que se dorme o sono dos justos no barbarismo do presente. Nada mais uma barricada. Faríamos (fizemos) o de que pudemos! – esta, 30 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 a lápide da lisonja a si, a autocamaradagem da camarilha, parvoíce fin-de-siècle, um milênio novo novíssimo a novidade às costas a carregar na corcunda de asno, expressão da vontade dos que não a tem nos graus elevados o seu modo, e então o que resta senão o participar? O yá-yá do asno de Zaratustra sobrelevado à condição de pensamento único, o pensamento fraco fraquíssimo minguado. Que importa isto: é prosa que dá prêmio, a práxis que consagra. E então, jogar. Vai-se ao jogo. ‘Vai, segue!’ Dispor as peças sobre o tabuleiro. Aprontar o relógio na marcação das jogadas. Avançar os peões. Participar à exaustão, mãos hábeis de prestidigitador no embaralhar das cartas, distribuir as prendas, ordenar as apostas. Formas diversas a do participar. Está-se dentro. No jogo, no jugo. A face limpa/alva/asséptica – a face distinta. Envergam-se títulos, alguma pompa, gestos de novo rico. Talvez se esteja o tempo todo num regozijo, no júbilo da hora na que convém a crítica. Lava-se a alma, branqueiam-se os ossos, está-se refeito, volta-se ao jogo. Faz parecer que se é sério, que se é firme, que se é nobre. Quem o saberia dizer o mérito, quem o recusaria aqueles, os cavaleiros d’outrora a destemperança, e que aqui e agora isto pouco, a crítica participativa, o sentar-se à mesa das negociações no apreço do que se tem a angariar num jogo de partes (pergunta contumaz: o que eu ganho com isto?), as prestações de conta do que se tem feito às agências do fomento, capital outro modo o nome, o pensamento crítico num aprumo de jeito e formatação, ele todo ele numa escrituração de si em prosa de pouca monta, o texto linear mesquinho objetivo programático, o rumor das ruas restrito ao que se averigua nos relatórios de pesquisa – pesquisa paga se for o caso o estar inscrito nas redes de contato (é a casta a abrir as portas ao pensar de um pensamento castrado), afinal se estaria a criticar aquilo de que se promove no dia-a-dia, mas vimos, já vimos, for o caso a comuta, o capital troca com isto, não temer, ó andarilho contabilista, não corres risco, o capital troca consigo. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 31 7 Desde as ruas a insurreição. Baudrillard a dizer dos graffiti de Nova Iorque de 197217. Nada é que durará o movimento, mas houve o movimento. Baudrillard afirma: ‘uns e outros nasceram depois da repressão às grandes manifestações urbanas de 1966/1970. Ofensiva selvagem como as manifestações, mas de um outro tipo e que mudou de conteúdo e de terreno. Tipo novo de intervenção na cidade, não mais como lugar de poder econômico e político, mas como espaço/tempo do poder terrorista da mídia, dos signos e da cultura dominante’18. Outra cidade, outra forma de insurreição. Outro o diagrama no que ela, a cidade, se arregimenta. Outro o modo, a recusa. Não mais a cidade de que nos falara Foucault, o projeto político de sua máxima funcionalidade em saturação. Cidade dos dentros: de um a outro é que se caminha caminhava. Da família à escola, da escola à caserna, da caserna à fábrica, e, eventualmente, ao hospital, ou à prisão. Sempre é que se está dentro. De um dentro a outro, e em cada um destes dentros sempre num mais adentro, o ir-se de que se dispõe. Pois se se está à família, nela não se está à solta, está-se arranjado nas distribuições de papéis e funções: está-se pai, está-se filho, está-se à mesa, está-se ao quarto. Pois se se está à fábrica, nela não se anda aos esbarrões, está-se amoldado às linhas de produção d’algo, está-se à mira daquele que se lhe volta o olhar que fiscaliza, está-se em fila for o caso o encaminhar-se ao refeitório, está-se dentro do avental que autoriza que se se dê ao trabalhar das horas que se te escaparão no que for de ser o que se realiza, está-se no lugar próprio que se ocupa for de ser a chamada a convocar o teu nome, está-se dentro do nome que se te afixa às fichas e aos prontuários desde os quais a tua história infame se constrói, segundo a segundo, hora a hora, vis-à-vis, sobretudo do quando de um esbarrão às lâminas afia17 Diz Baudrillard: “Os jovens entram à noite nas garagens de ônibus e de metrô, vão ao interior dos veículos e se soltam graficamente. No dia seguinte, todas as linhas cruzam Manhattan nos dois sentidos. Apagam-se os desenhos (o que é difícil), detêm-se grafiteiros, prendem-se grafiteiros, proíbe-se a venda de sprays e outros artefatos – isso em nada os afeta: eles os fabricam artesanalmente e recomeçam todas as noites.” (1976, p.99) 18 Baudrillard, op.cit, p.100. 32 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 das do poder19. De um dentro a outro, e mesmo que se se creia à evasão quando de uma vertigem na que papéis e funções se nos escapam, se emaranham, se desordenam, e eis que se queira tomar sob rédeas curtas o fazer das horas nas que suamos, e então o ordenar aos outros aqueles que não ouviram o levante da Coluna a que se cheguem até bem junto aonde terminam os muros da fábrica, a mu ralha da cidade, ordenar como quem convoca em fúria à marcha dos que não podem a marcha: “Companheiros, companheiros”, sempre e sempre é que se estará dentro, e tão logo será a sirena a entoar o seu silvo, e tão logo será o corpus clínico que virá tomar-te aos braços de um Simão Bacamarte no delírio de Machado de Assis, o seu alienista. Na cidade de Foucault, em que se está dentro, tudo o que for resistência resiste desde aí, e firma-se na recusa do que se forja como o pensar do pensamento do dentro. Aqui, agora, na cidade de Baudrillard, ‘já não estamos na cidade das paredes e muros vermelhos das fábricas e das periferias operárias. Nessa cidade, já se inscrevia, no próprio espaço, a dimensão histórica da luta de classes, a negatividade da força de trabalho, uma especificidade social irredutível. Hoje, a fábrica, como modelo de socialização pelo capital, não desapareceu, mas cede lugar, na estratégia geral, à cidade inteira como espaço do código. A matriz do urbano já não é a da realização de uma força (a força de trabalho), mas a da realização de uma diferença (a operação do signo). A metalurgia transformou-se em semiurgia’20. Baudrillard está a falar que os dentros se esgarçaram, que os invólucros desde os quais/nos quais se emolduravam os jogos de disciplina se romperam quais cristais finos no elevar das vozes de soprano, a resistência quem o saberia dizer, talvez menos, talvez que fosse no 19 Michel Foucault a falar da existência do infame desde os efeitos do poder, os esbarrões às suas pragmáticas: ‘Para que alguma coisa delas (as vidas dos infames) chegue até nós, foi preciso, no entanto, que um feixe de luz, ao menos por um instante, viesse iluminá-las. Luz que vem de outro lugar. O que as arranca da noite em que elas teriam podido, e talvez sempre devido, permanecer é o encontro com o poder: sem esse choque, nenhuma palavra, sem dúvida, estaria mais ali para lembrar seu fugidio trajeto. O poder que espreitava essas vidas, que as perseguiu, que prestou atenção, ainda que por um instante, em suas queixas e em seu pequeno tumulto, e que as marcou com suas garras, foi ele que suscitou as poucas palavras que disso nos restam.’ (1977, p.207). 20 Baudrillard, 1976, p.100. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 33 cansaço da opereta, a promoção do patronato, o formato do espetáculo, e então, o trocar das peças, o arranjar d’outro arranjo, o capital mesmo a dizer que um certo Estado cansa, que um certo Estado custa caro a si, que a cidade dos dentros intercambiáveis bem que melhor se forja na coextensão dos seus espaços como numa suposta homogeneidade deles, e veja que não apenas quanto a uma sua função, dizemos da família escola caserna fábrica hospital prisão, não apenas no emaranhado das funções que quem sabe persistisse aqui e ali irredutíveis cada qual à outra; outra a questão a que Baudrillard está apontando, esta coextensão na que a cidade se estira a todos os lados, na que a cidade é toda hora e todo tempo a esteira na que deslizam os pés de passantes, pés quantos pés quiserem puderem a corredeira dos transeuntes, irão ao comércio talvez, irão às compras, irão aos fast foods, irão às festas que ‘bombam’ por aí, irão ao museu no consumo das artes, irão às academias, irão ao sexo que se lhes dá num convulso de braços pernas quadril tórax tonificados, irão às salas de projeção aquinhoar os seus dotes - os filmes aos borbotões no festival de uns quatrocentos deles e nada que se é, nada o que se será se não se conseguir assistir a uns 30 ou 40 ou 50 (superar-se em números, ‘recordarse’ aqui a sinonímia do bater o seu próprio recorde), irão ao limpo/asséptico/alvo dos espaços da empresa-mundo, tornar-se apto, up to date, a cápsula de ecstasy no bolso, a garrafinha de água mineral, o olhar vidrado, a boca trincada, os lábios revirados secos sequíssimos, livre circular dos autômatos, a cidade de Baudrillard na qual ‘tudo é concebido, projetado e realizado na base de uma definição analítica: moradia, transporte, trabalho, lazer, jogo e cultura – termos comutáveis no tabuleiro da cidade, num espaço homogêneo definido como ambiente total’21, nunca é que se está no entre um e outro, entre a casa e a escola, o caminho; entre a família e o quartel, uns quarteirões; en21 Idem, idem. Diz Baudrillard: “A cidade já não é o polígono político-industrial que foi na altura do século XIX.; é o polígono dos signos, da mídia, do código. Sua verdade deixou de repente de estar num lugar geográfico, ao contrário da fábrica ou mesmo do gueto tradicional. Sua verdade, o encarceramento na forma/signo, está em toda parte. É o gueto da televisão, da publicidade, o gueto dos consumidores/consumidos, dos leitores lidos de antemão, dos decodificadores codificados de todas as mensagens, usuários/usados do metrô, dos animadores/animados das horas de lazer etc. cada espaço/ tempo da vida urbana é um gueto, e todos estão conectados entre si.” (p.101) 34 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 tre a caserna e a fábrica, o descansar da marcha, aqui, lá, na cidade de Baudrillard nada nenhum o de que se contrapõe os tempos os modos, tudo o que se comuta, tudo o que se dá na coextensão das formas, e mesmo que se esteja no sexo se estará na ginástica, e mesmo que se esteja no museu se estará na praça das trocas, e mesmo que se esteja entre os livros se estará no trabalho do aperfeiçoar-se, e mesmo que se esteja frente à tv se estará no trânsito dos signos, na/ sob maquinação deles, no consumo de estéticas do existir quando à performance – que é todo tempo toda prova todo espaço, aqui e agora é dizer do presente total, cápsula de compressão saturada, gueto móvel movente no que o circular é imperativo e o estar parado digno de susto e insulto. E então, os grafiteiros da Nova Iorque de 1972, a resistência outra. Tomar as paredes de assalto. Lá, nelas, deixar uma inscrição. Sequer o nome que alguém algum identificasse se se for um incauto, se se for um agente da polícia, se se for um escrivão na função do registro, nomes que dizem apenas àqueles que se tocam ‘na exclusividade radical do clã, da turma, da gangue, da faixa etária, do grupo ou da etnia – vocativo totêmico, devolução do nome’ como numa troca simbólica a se ofertar como uma dádiva22. Aqui, lá, tudo o que se toma for o caso o pensar nos jogos e nas pragmáticas da oficialidade constituída, constituinte, não mais a permuta (que não é sinonímia à troca simbólica), não mais a comuta que seria a inscrição no código (seus jogos) desde o qual opera a cidade e o pensamento da cidade do capital. Exclusividade radical do clã, da turma, da gangue: de si a si, desde o si ao si que atende em ser recusa ao que se lhes subsumisse num determinante geral – quem sabe fosse o Estado, quem sabe fosse o capital, quem sabe o seu código; desde o si ao si, a recusa a fazer o capital precipitar-se na lacuna que se inaugura ‘naquilo’ que não se lhe volta, ‘naquilo’ que não se lhe destina - senão e apenas como catástrofe23. Dos grafiteiros de Nova Iorque, a escrituração de que eles promovem, nenhum o conteúdo – 22 Cf. Baudrillard, op.cit., p.102. 23 Pierre Clastres a dizer a recusa dos primitivos face a qualquer modulação geral que se lhes arrancasse da sua existência singular. Clastres identificará no Estado esta forma concêntrica, agregadora na justa medida em que subsume e aniquila aos outros. No caso do Estado moderno, dirá Clastres, Estado etnocida – a sua peculiaridade. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 35 uma significação profunda a se fazer vasculhada nos escrutínios do poder: quem foi o que quer o que significa? Nenhuma vontade de dizer a um outro o aquilo mesmo que nunca fora dito, o aquilo em reserva a que se traz no dizer, desde o dizer, quem sabe, a condição do emancipar-se. Nada o que se representa. Nada o que se apresenta sob. Nenhuma mensagem subliminar que falasse aos cristãos, ou aos de esquerda, ou àqueles que têm a palma da mão amarela, ou àquele’outros que estando em aparelhos secretos, sob os disfarces de alcunhas comuns, esperassem o signo sinal da convocatória ao avante! Nada disto. Sob o tempo espaço da cidade de comutação hiper-rápida, cidade do capital sem anverso, os grafiteiros estão a ofertar o vazio daqu(eles) que não trocam àqueles que não trocam também, o capital estando aí, no forjar de que se troca quando o que se faz é permutar sob o signo da indiferença, o comutar indiferentemente que já seria o condenar de todo e qualquer outro à obsolescência, ‘segue, vai’, o capital a emitir os seus sinais, ‘segue, vai’ sempre afora o fora como aquilo a que se conquista num esticar de braços de tarântula, este deus renovado na forma do capital, deusaranha-de-tentáculos-vascularizados, um novo jogo de fronteiras fronteiriças ao deserto que se anexa, à floresta que se desmata numa ação de grileiros, o conjurar do outro enquanto outro o que for de ser aquele a que se recusa, e então, os grafiteiros: spray à mão, um nada a dizer no que se diz, um nome que nada significa por trás do significante solto Snake I Snake II Snake III twiggy superkool kool killer, a invenção de uma nova língua outra língua perto bem perto das glossolalias de Antonin Artaud na recusa da linguagem oficial hegemônica imperativa opressora24, aqui, os grafiteiros, deles dirá Baudrillard, uma insurreição pelos signos. Outra forma o mesmo dizer de Baudrillard aos jogos entre capital, trabalho? Baudrillard está a dizer a recusa, outra vez: recusa a tudo o que se lhe oferta desde o capital, qual seja, senão o trabalho mesmo 24 Artaud: “Esta forma de cristalização surda e multiforme do pensamento, que escolhe num momento dado sua forma. Há uma cristalização imediata e direta do eu no centro de todas as formas possíveis, de todos os modos do pensamento”, e então, a resistência artaudiana: “um grande fervor pensante e superpovoado levava a meu eu como um abismo pleno. Um vento carnal e ressoante soprava...” (1975, p.14 e p.11). 36 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 que é morte lenta25? Baudrillard a dizer: “Entendemo-lo geralmente no sentido de extenuação física. Mas é preciso entendê-lo de outra maneira: o trabalho não se opõe, como uma espécie de morte, à ‘realização da vida’ – esta é a visão idealista; o trabalho se opõe como uma morte lenta à morte violenta. Esta é a realidade simbólica. O trabalho se opõe como morte diferida à morte imediata do sacrifício. Contra toda visão piedosa e ‘revolucionária’ do tipo ‘o trabalho (ou a cultura) é o inverso da vida’, é preciso sustentar que a única alternativa ao trabalho não é o tempo livre nem o não-trabalho, é o sacrifício.”26 Baudrillard dirá a genealogia do trabalhador: do prisioneiro de guerra como o condenado à morte, ao servus= o que se conserva na promoção do butim, do bem de prestígio; tornar-se-á o escravo, irá-se à domesticidade suntuária, e então, ao labor servil. Nada ainda aqui, o trabalhador. Falta-lhe a dimensão do ‘livre circular’, a condição sine quae non do trabalhador livre, pudemos ver aqui – dois fluxos num encontro, a categoria de sujeito livre e a noção de produção, condição básica à emancipação, a quê? A quê? liberto ao trabalho. Este, o trabalhador. Trabalho como morte diferida. Outra vez, aqui, Jean Baudrillard: “Lenta ou violenta, imediata ou diferida, a escansão da morte é decisiva; é ela que distingue radicalmente dois tipos de organização: a da economia e a do sacrifício. Vivemos, irreversivelmente na primeira, que não cessa de se arraigar na ‘diferança (différance)’ da morte”27. E então, será dizer do capital aquele que ao subsumir o trabalho a si, ao inscrevê-lo na longa duração diferida de sua movença, inscreve ao trabalhador na vida, ao arrancar-lhe a dimensão do sacrifício. Como se lhes dissesse, operando para além do dito, as suas pragmáticas: Estás condenado à vida, não a uma qualquer senão a esta na que sou-te o tempo inteiro, na que estás ocluso, consubstanciado, na que podes o todo de teu regozijo, o deitar-se à rede do mundo sendo eu mesmo – o capital: a rede, o mundo, a mão no empurro, e o espaço livre no que se embalança o embalar 25 Trabalhar do latino Tripaliãre, ‘torturar com o tripãliu’, este de tripãlis, derivado de três + palus, pois este instrumento de tortura era formado por três paus. Cf. José Pedro Machado, Dicionário etimológico da língua portuguesa. Lisboa: Editorial Confluência, 1967 (p.2232). 26 Baudrillard, op.cit., p.56. 27 Idem, idem. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 37 da rede. Aqui, agora, o poder, o capital não como o que condena à morte, mas o que deixa à vida – ‘uma vida que o escravo não tem o direito de devolver28. Onde, a troca? Onde, o desde si ao si? Onde, um outro senão o jogo, o jugo, o estar proscrito no quando e no como da subsunção? Onde, o de fora (dehors)? Recusar o jogo, o jugo. Tomar a si o que se lhe tomara. Inscrever-se de sob no que se lhe subscrevera. Baudrillard a dizer: “Recusa de não ser condenado à morte, de viver na mortal liberdade condicional do poder, recusa de dever a vida e de nunca resgatar essa vida, bem como de estar, na verdade, obrigado a saldar essa dívida de longo prazo na morte lenta do trabalho, sem que essa morte lenta mude alguma coisa a partir de então na dimensão abjeta, na fatalidade do poder. A morte violenta muda tudo, a morte lenta nada muda”29. Jorge, o personagem de Vergílio Ferreira, a tomar a si as rédeas de sua condenação: condenar-se. Joseph K, personagem de Kafka, a recusar a andança no entre entre-se dos jogos: precipitar-se quando dispunha (dispôs-se a ele) do estar-se entre a quitação aparente e a moratória ilimitada. Tomar a si o quanto é que dura deste agora, depô-lo de sua condição aberta, o claustro, subvertê-lo a ponto da rendição: não mais o agora. Precipitar-se. (Des)inscrever-se à dívida infinita: as artimanhas do contrato. (Des)tratar, (des)onerar-se, (des)iludir-se. Nunca é que será (seria) a terra prometida: fabulação do jogo de quem joga o jogar-se nele, o jogar com o ele que dá o jogo. Nunca é que será (seria) o resgate à condição (metafísica, metafórica?) do valor ao uso, o valor de uso – senão e apenas como fetiche o que seria dizer o seu impossível, esta impostura. Outra vez, Baudrillard: “(...) o poder dá sempre mais, para melhor submeter, e a sociedade ou os indivíduos podem chegar até a destruição de si mesmos para dar-lhe fim. Trata-se da única arma absoluta, e sua simples ameaça coletiva pode abalar o poder. Diante dessa mera ‘chantagem’ simbólica (barricadas de 1968, tomada de reféns), o poder se desune: como ele vive de minha mor28 Idem, idem. 29 Idem, p. 57. Baudrillard: “A morte nunca deve ser entendida como experiência real de um sujeito ou de um corpo, mas como uma forma – eventualmente a de uma relação social – na qual se perde a determinação do sujeito e do valor. É a obrigação da reversibilidade que leva à extinção tanto a determinação quanto a indeterminação.” (op.cit., nota 2, p.11) 38 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 te lenta, oponho a ele minha morte violenta. E é porque vivemos de morte lenta que sonhamos com a morte violenta. Esse mesmo sonho é insuportável para o poder30. Cidade de Foucault, cidade de Baudrillard. Resistir desde de dentro, um cenário. Recusa radical de todo e qualquer jogo (jugo), outro cenário31. Cidades distintas, cartografias de processos de dominação diferidos. Outras as formas do resistir, do recusar. Aqui, Baudrillard a sugerir a radical recusa: não trocar com ‘aquele aquilo’ que não troca (apenas comuta no indiferenciado). A tomada de reféns, os atos de terrorismo, os graffiti nova-iorquinos. Porém, dizer da tomada dos reféns, d’algumas formas de terrorismo, da recusa radical sobrelevada na condição da morte violenta, é já buscar instantes em que o próprio Foucault se lhe voltará os olhos. O Foucault que se encaminha ao Irã, quando da revolução islâmica de 1979. O que o arrebatara senão a condição do inaudito a se inscrever como recusa irredutível? Aqui, é Foucault a se perguntar: ‘No mundo atual, o que pode suscitar em um indivíduo o desejo, o gosto, a capacidade e a possibilidade de um sacrifício absoluto, sem que se possa supor-se nele a menor ambição ou o menor desejo de poder e de ganância? É o que vi em Tunis, a evidência da necessidade do mito, de uma es- 30 Idem, p.60. 31 Claro está que o pensamento foucaulteano não poderia ficar circunscrito a este/ou a qualquer mapeio dos dentros, e de uma micropolítica das resistências. Outros eixos lhe são pertinentes: o epistemológico, o das subjetivações. Ainda assim, d’algum modo, situaríamos uma questão pertinente ao Foucault dos 70’: o Foucault, cartógrafo das sociedades de disciplina, e pensador das micropolíticas: a questão do ‘como’ das resistências a partir dos jogos do dentro: ‘como, a sua emergência? Como pensar uma ‘verdade’ emergindo desde os jogos de produção de verdade que não remeta ao poder (aos múltiplos poderes e estratégias)? Como a estratégia que se lhe volta, desmantelando-o? ou não seria este ir e vir de estratégias móveis e resistências móveis a condição do retroalimentar? Outra questão que seria pertinente diz respeito já à letra de Baudrillard acerca dos jogos de liberação desde a micropolítica: “Em toda parte, o que foi liberado o foi para passar à pura circulação, para entrar em órbita. (...) Pode-se dizer que o fim inelutável de toda a liberação é fomentar e alimentar as redes” (1990, p.10). Ou, no texto de 1976: “Tudo o que produz contradição, relação de forças, energia em geral não faz senão voltar ao sistema e impeli-lo, de acordo com uma distorção circular semelhante ao anel de Möbius” (1976, p.50). E então, questões recorrentes: Onde, o combate? O que pode o combate? O quanto o que pode o combate? Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 39 piritualidade e do caráter intolerável de certas situações produzidas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo neocolonialismo’32. Não nos espanta que a direita, a esquerda se lhe voltassem repreensões graves, esconjuros definitivos, as palavras ácidas de seus interiores de vísceras (no fundo somos todo vísceras). Foucault estaria optando pelo esquecimento do tabuleiro, as regras, as ex-regras, as des-regras, tabuleiro em que se se joga é sempre no dentro dos possíveis, os possíveis na circunscrição do quanto o que se pode, o quanto que dura isto. Questão a saber é sempre: a quem isto? A quem este limite delimitado auto-esgarçante? O que é que se ganha com este limite, com este transcendental? E ‘quem’ o aquele a ganhar? O jogo jugo das cartas nas mãos habilíssimas duma simulação?33. Foucault está a pensar a sublevação como o aquilo que rompe as amarras do possível, que desinscreve os limites do presente, do real no que se gora, no que se experimenta o intolerável. Aqui, Foucault: “As insurreições pertencem à história. Mas, de certa forma, lhe escapam. O movimento com que um só homem, um grupo, uma minoria ou 32 Foucault, M. (1994), “Entretien avec Michel Foucault” (fins de 1978). In: Dits et écrits, Vol. IV, núm. 281, p.79. 33 Baudrillard a falar da esquerda divina, dos partidos políticos como paraísos artificiais da política: “a esquerda jamais chega ao ‘poder’ a não ser para gerir o trabalho de luto do social, a lenta desagregação, reabsorção, involução e implosão do social. Assim, os sindicatos só conquistam a gestão triunfal, incontestada, da esfera do trabalho quando o processo de trabalho, generalizando-se, perde sua virulência histórica e soçobra no contexto de sua própria representação” (1978, p.32). E também aqui, neste parágrafo pontualíssimo: “O social, a idéia de social, o político, a idéia de política, sempre foram, sem dúvida, sustentados por uma fração minoritária. Em vez de conceber o social como uma espécie de condição original, de estado de fato que engloba todo o resto, de dado transcendente a priori, como se concebe o tempo e o espaço – em vez de tudo isso, cumpre indagar: quem produziu o social, quem governa este discurso, quem desenvolveu este código, promoveu essa simulação universal? Não será uma certa intelligentsia cultural, tecnicista, racionalizante, humanista, que encontrou aí o meio de pensar todo o resto e de o enquadrar num conceito universal (e talvez o único) que, pouco a pouco, encontrou um referencial grandioso: as massas silenciosas, donde parece emergir o essencial, irradiar a energia inesgotável do social? Mas ter-se-á refletido, porventura, em que a maior parte do tempo nem essas famosas massas, nem os indivíduos, não se vivenciam como sociais, isto é, nesse espaço perspectivo, racional, panóptico, que é onde se reflete o social e seu discurso?” (pp.45-46). 40 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 todo um povo diz: ‘não obedeço mais’, e joga na cara de um poder que ele considera injusto o risco de sua vida – esse movimento me parece irredutível. Porque nenhum poder é capaz de torná-lo absolutamente impossível: Varsóvia terá sempre seu gueto sublevado e seus esgotos povoados de insurrectos. E porque um homem que se rebela é em definitivo sem explicação, é preciso um dilaceramento que interrompa o fio da história e suas longas cadeias de razão, para que um homem possa, ‘realmente’, preferir o risco da morte à certeza de ter de obedecer”34. Inscrever-se desinscrever-se situar-se no sem explicação romper as cadeias (as grades, o cárcere) lógicas: não trocar com aquele aquilo que não troca. Foucault a pensar no Irã de 1979, Baudrillard a pensar nos acontecimentos do 11 de setembro de 200135 – na atribuição da potência destes acontecimentos à sua condição de irredutível. Aí, a sua força. Eis o máximo de sua força. E mesmo, e sobretudo, nisto, o capital a precipitar-se. Tão logo, serão as unhas histéricas dos aflitos na tentativa/tentação de cooptar: agarrar e ligar. Contratática: recusar radicalmente os remendos do depois – a vontade de tabular, a de re-inserir no tabuleiro, as artimanhas da crítica, os tentáculos de aracnídeo: começa-se por buscar os instantes em que, quem sabe, um Foucault, um Baudrillard teriam recuado, uma sua reconversão à lucidez à sobriedade às causas do social. Outro modo, mesmo modo: se lhes destinar o silêncio copioso desde a camarilha intelectuália, as gentes do pensamento fraco. É de se rir um riso largo, um riso de dar voltas. Outro passo tentacular: a recuperação (remake) do instante abrupto, do irredutível do acontecimento pelo que (será) lhe sobreveio: o governo dos mulás, o massacre ao Afeganistão. Nada que isto fala do acontecer do acontecimento, da recusa radical que se (nele) inscreveu. Baudrillard diria disto a tentativa de ‘instaurar uma ordem securitária, uma neutralização geral das populações com base na afirmação de um não-acontecimento defi34 Foucault, M. 1979, p.77. 35 Baudrillard (2002): “Aquilo que distingue o pensamento radical da análise crítica é isto: a análise crítica trabalha para negociar o seu objeto em troca do sentido e da interpretação, enquanto o pensamento radical tenta arrancá-lo dessa transação e tornar impossível a sua conversão. O interesse não está mais na explicação, mas num duelo, num desafio respectivo do pensamento e do acontecimento. É o preço para conservar a literalidade do acontecimento.” (p.21). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 41 nitivo’36. Foucault a desdenhar daqueles que insistirão no veredicto: inútil se insurgir, sempre será a mesma coisa! A isto, ele contrapõe: “Não se impõe a lei a quem arrisca sua vida diante de um poder. Há ou não motivo para se revoltar? Deixemos aberta a questão. Insurgese, é um fato”37. Tática explosiva, recusa radical: desgarra, desliga. 36 Idem, p.71. 37 Foucault, 1979, p.80. 42 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 Referências ALLIEZ, E.; FEHER, M. Os Estilhaços do Capital. In: ______. Contratempo: ensaios sobre algumas metamorfoses do capital. Rio de Janeiro: ForenseUniversitária, 1988. p.149-214. ARTAUD, A. El ombigo de los limbos y el pesa-nervios. Buenos Aires: Ed. Aquarius, 1975. BAUDRILLARD, J. A troca simbólica e a morte. São Paulo: Loyola, 1976. ______. A transparência do mal: ensaios sobre os fenômenos extremos. Campinas: Papirus, 1990. ______. Partidos comunistas: paraísos artificiais da política. Rio de Janeiro: Rocco, 1978. ______. Power inferno. Porto Alegre: Sulina, 2002. DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Tratado de nomadologia: a máquina de guerra. In: ______. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Ed. 34, 1980. v. 5. p.14-110. FERREIRA, V. Nítido nulo. Lisboa: Portugália, 1971. FOUCAULT, M. A vida dos homens infames. Ditos e escritos, Rio de Janeiro, v. 4, p. 203-222, 1977. ______. É inútil revoltar-se? Ditos e escritos, Rio de Janeiro, v. 5, p. 77-81, 1979. ______. Entretien avec Michel Foucault. Dits e écrits, Paris, v. 4, n. 281, p. 4195, 1994. LYOTARD, J.F. Capitalismo energúmeno. In: CARRILHO, Manuel Maria (Org.). Capitalismo e esquizofrenia: dossier Anti-Édipo. Lisboa: Assírio & Alvim, 1976. p. 83-134. MARX, K. Teoria moderna da colonização. In: ______. O capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. v.2. p. 883-893. MAUSS, M. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades primitivas. In:______. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 1925. p. 183-314. RAMOS, Graciliano. Memórias do cárcere. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1956. 4v. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 8-43 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 43 Mudanças societárias e crise do emprego mistificações, limites e possibilidades da formação profissional1 Gaudêncio Frigotto2 1 Este artigo resulta de trabalho de pesquisa das últimas duas décadas. Trata-se aqui de trazer uma síntese de trabalhos do autor ou em colaboração com outros pesquisadores sobre o tema em discussão. 2 Doutor em Educação. Professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e professor titular associado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. Membro do Comitê Diretivo de Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (Clacso),com sede em Buenos Aires, e do Comitê Acadêmico do Instituto Pensamento e Cultura Latino-Americano (Ipecal), com sede no México. 44 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 O presente artigo trata das mudanças no campo científico e técnico, sua relação com as mudanças nas relações de produção, com o desemprego estrutural e o alcance e limites da formação profissional nas políticas de integração ou de inserção social, especialmente dos jovens. Trata-se de uma problemática que se faz presente em todas as partes do mundo, mas que tem efeitos mais desagregadores em países de capitalismo dependente. Neste sentido, o artigo tem como foco a realidade brasileira. Por fim, seguindo o que a revista Sinais sugere em seu nome, buscaremos apontar os desafios para uma agenda que articule mudanças estruturais, políticas públicas de emprego e renda e a relação entre educação básica e educação profissional. A idéia básica da análise é de que a educação e a formação profissional são constituídas e constituintes da sociedade que temos. Por isso, não podem ser tomadas como a chave para resolver todos os nossos problemas sociais e nem o desemprego. Elas assumem um papel fundamental quando vinculadas às mudanças acima referidas. This paper deals with the changes in the scientific and technical field of work, its connection with the changes in the production relationships, with the structural unemployment and the range and limits of professional formation in the policies of integration or of social insertion, especially of the youth. It’s a debate that makes itself present in all parts of the world, but which has more disaggregating effects in countries of dependent capitalism. In this sense, the paper focuses on the Brazilian reality. At last, following what Sinais (magazine) suggests in its name, we shall seek the appointment of the challenges for an agenda that articulates structural changes, public politics of employment and revenue and the connection between basic education and professional education. The basic idea of such analysis is that professional education and professional formation are constituted out of and constituting of the society that we have. Therefore, they may not be taken as the key to the solvency of all of our social problems and of unemployment. They assume a fundamental role when attached to the above mentioned changes. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 45 1. Introdução O cenário que assumem as mudanças societárias neste início de século XXI é pouco auspicioso para o futuro do emprego ou, mais amplamente, para o mundo do trabalho. O desemprego estrutural e a precarização do trabalho desenham um horizonte de vida provisória em suspenso3. Trata-se de uma problemática que se faz presente em todas as partes do mundo, mas que tem efeitos mais desagregadores em países caracterizados por Arrighi (1998) de capitalismo periférico ou semiperiférico e por Fernandes (1972) de capitalismo dependente com desenvolvimento desigual e combinado4. Um cenário e contexto histórico que atinge principalmente os jovens, mas de modo diverso nos distintos grupos sociais. A revolta dos jovens da França em 2005 e 2006, uma das sociedades de maiores garantias sociais e da mais ampla tradição institucional republicana, explicita, nos dois pólos da pirâmide social, a gravidade do problema. Por um lado, os distúrbios e a revolta da juventude das periferias francesas, a grande maioria de estrangeiros das mais diversas partes do mundo lutando por direito mínimo à vida e por trabalho e, por outro, os jovens que freqüentaram as mais conceituadas universidades, como a Sorbone, que se rebelaram em face da flexibilização do 3 A expressão vida provisória em suspenso a apropriamos de Victor Frankel (1945, in Bejzman, 1997). Com ela este autor quer mostrar a situação e o sentimento de insegurança e de imprevisibilidade daqueles que viveram a experiência de presos de campo de concentração, como é o seu caso , os tuberculosos que eram isolados em sanatórios e os desempregados. Num outro contexto, Richard Sennett (1999) fala-nos da “corrosão do caráter” para mostrar como as relações sociais atuais, ao radicalizarem o desemprego estrutural e a ampliação do trabalho precário, atingem o âmago da estrutura da personalidade dos indivíduos. 4 As categorias de capitalismo dependente e desenvolvimento desigual e combinado são centrais para entender a especificidade e particularidade de como se construiu a sociedade brasileira e a sua atual configuração nas relações sociais e sua relação com os centros hegemônicos do capitalismo. Como assinala Michel Löwy, as análises do desenvolvimento desigual e combinado introduzem uma diferença crucial com os teóricos da dependência pois, diferente destes últimos, afirmam o caráter exclusivamente capitalista das economias latino-americanas, desde a época da colonização - na medida em que (...) trata-se mais de um amálgama entre relações de produção desiguais sob a dominação do capital. (Löwy, 1995:8) 46 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 já precarizado primeiro emprego. Quando nos debruçamos sobre a realidade brasileira, encontramos mais de 20 milhões de jovens entre 15 e 24 anos. A desigualdade entre grupos é de tal ordem que é mais adequado falar, como vários autores indicam, em juventudes. Tratase de uma unidade do diverso, demarcada pela origem de classe, fração de classe ou grupo social e pelas particularidades regionais, culturais, de etnia, religião, etc. Os jovens a que nos referimos nesta análise têm “rosto definido”. Pertencem à classe ou fração de classe de filhos de trabalhadores assalariados ou que produzem a vida de forma precária por conta própria, no campo e na cidade, em regiões diversas e com particularidades socioculturais e étnicas. Esta é a população das políticas públicas focais e distributivas. Mesmo na delimitação deste universo podemos encontrar diferentes particularidades. Assim, uma massa enorme de jovens trabalha com a família em minifúndios ou como arrendatários ou assalariados do campo ou em assentamentos da reforma agrária ou acampados. Mas, certamente, o número maior de jovens filhos de trabalhadores reside em bairros populares ou favelas das médias e grandes cidades do Brasil. Aproximadamente seis milhões de crianças e jovens trabalham precocemente no Brasil. Todos esses grupos de jovens têm suas especificidades, mas, do ponto de vista psicossocial e cultural, tendem a sofrer um processo de adultização precoce. A inserção no mercado formal ou “informal” de trabalho5 é precária em termos de condições de trabalho, de direitos e níveis de remuneração. Uma situação, portanto, muito diversa da dos jovens de “classe média” ou do topo da pirâmide social, que estendem a infância e juventude. Nesses casos, a gran5 Como ao longo deste texto se utilizarão os termos mercado, mercado de trabalho, mercado formal e informal, cabe, de imediato, uma advertência ao leitor. O conceito ou noção de mercado ou mercado de trabalho é altamente banalizado no jargão econômico. É freqüente ouvirmos ou lermos na imprensa que o “mercado está nervoso, tenso ou deprimido”. O mercado é personificado. Esconde-se que o mercado de trabalho resulta de relações sociais, relações de força e de poder vinculadas a interesses. A dicotomia mercado formal e informal, por outro lado, não permite captar uma enorme diversidade de estratégias de sobrevivência dos contingentes excluídos do trabalho formal. Economia popular, economia de sobrevivência, economia solidária são novos conceitos que buscam expressar essa complexidade (Tiriba, 2000). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 47 de maioria inicia sua inserção no mundo do trabalho após os 25 anos.6 Há, também, um número significativo de jovens das grandes capitais, violentados em seu meio e em suas condições de vida, que se enquadram numa situação que, no mundo da física, se denomina de ponto de não-reversibilidade. Trata-se de grupos de jovens que foram tão desumanizados e socialmente violentados que se tornaram presas fáceis do mercado da prostituição infanto-juvenil ou de gangues que nada têm a perder ou constituem um exército de trabalhadores do tráfico. Com efeito, em pesquisa feita pela Unesco sobre o mapa da violência, o Brasil ocupa o terceiro lugar na América Latina. A situação das grandes capitais é dramática. Em 1980, no Rio de Janeiro, os homicídios de jovens entre 15 e 24 anos representavam 33,2% do número total de mortes da capital.7 No ano 2000, passaram a representar 53,2% (Pereira, M. 2004). Os dados do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro indicam que as mortes em confronto com a polícia, no Rio de Janeiro, passaram de 900 casos, em 2002, para 1.195 em 2003. Essa tendência, em relação aos jovens nesta faixa etária, se reproduz em outras capitais, como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador etc.8 6 Ao definirmos como foco deste texto os jovens trabalhadores de classe popular e os grupos precarizados de classe média, não ignoramos que os jovens da classe média alta ou do topo da pirâmide social não tenham problemas. Um estudo indicativo a esse respeito é de Célia Ferreira Novaes sobre “As determinações sociais no problema da escolha profissional: contradições e angústias nas opções dos jovens das classes sociais de alta renda” (Novaes, 2003). 7 Dificilmente passa um dia sem que os jornais de grande circulação não noticiem mortes de jovens em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Trata-se de mortes causadas por confrontos ou não com a polícia ou entre grupos rivais. Manchetes como estas se repetem “PM sobe a Rocinha e três adolescentes são mortos”. Jornal O Globo, 2.02.2004, p. 13). Hoje mesmo aparece como manchete de primeira página “Pena de morte sem lei”. A notícia dá conta de que o assassinato de jovens nas favelas do Rio é sete vezes maior que em outras partes da cidade (Jornal O Globo, 23 de agosto de 2007: 1). 8 Uma análise mais ampla sobre a questão do mundo do trabalho, educação e cultura e juventude o leitor a encontra em Novaes, R. e Vanuchi, P. (2004). As idéias básicas desta introdução as extraímos do capítulo que escrevemos nesta coletânea - Juventude, trabalho e educação no Brasil: perplexidades, desafios e perspectivas. 48 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 A configuração acima esboçada nos indica que não é por acaso que o tema da relação juventude, trabalho e educação assume, especialmente nas últimas décadas, uma preocupação específica no âmbito das políticas públicas do Estado brasileiro. Atualmente ocupa centralidade no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), estatuindo-se um PAC específico da Educação, com ênfase para os jovens e com programas diferenciados para diferentes grupos sociais. A breve introdução acima nos coloca diante de uma problemática que se configura como o dilema da esfinge: ou a deciframos ou o cenário tenderá a se agravar ampliando o espectro de um mundo que é governado, cada vez mais, pelo medo e pela violência.9 Seguindo o que a revista Sinais Sociais sugere em seu nome, este artigo tem o intuito de problematizar, por um lado, as mistificações e simplificações das análises sobre as atuais mudanças societárias sob a noção de globalização e sua relação com as mudanças tecnológicas, econômicas, políticas e culturais, e, por outro, analisar os limites e as possibilidades da educação profissional em face do desemprego estrutural e da precarização do trabalho. Por fim, buscaremos sinalizar os desafios para uma agenda que articule mudanças estruturais, políticas públicas de emprego e renda e a articulação entre educação básica e educação profissional. 2. Mudanças societárias: globalização E/ou fragmentação e insegurança? Os sinais das mudanças societárias das últimas décadas do século XX e a primeira década do século XXI nos alertam que, ao contrário da ênfase ufanista do ideário da globalização que cria o imaginário de que todos estão integrados evidencia, cada vez mais, um mundo fragmentado e de contrastes e de crise10. Crise econômica, explicitada pela desordem dos mercados mundiais e hegemonia do capital especulativo;11 monopólio 9 O leitor que queira aprofundar a compreensão desta questão, veja Chomsky (2004). 10 Sobre o tema da globalização, ver Ianni (2001), Cardoso (1999) e Chossudvosky (1999). 11 A elaboração deste texto está se dando concomitante a uma enorme instabilidade mundial, com quedas abruptas nas bolsas de valores e a convicção de que a magnitude do capital especulativo e volátil é de tal ordem que se instauram o pânico e a insegurança. Nem todos perdem, ao contrário, uns poucos ganham muito. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 49 da ciência e da técnica e o desemprego estrutural; crise teórica que se revela na incapacidade de os referenciais de análise darem conta dos desafios do presente; e, por fim, crise ético-política, que se manifesta por nenhum ou frágil estranhamento em face da miséria humana e da naturalização de uma exclusão sem culpa e da violência. Em realidade, como sinaliza Chasnais (1996), o que vivemos, e sem precedentes, é um processo de mundialização dos mercados, do fluxo de mercadorias, sob o domínio do capital financeiro e numa relação assimétrica entre países. O poder dos países periféricos ou semiperiféricos (Arrighi, 1998) de produzir de forma competitiva e de exportar seus produtos é ínfimo. O fantástico desenvolvimento científico e tecnológico, de natureza qualitativa diversa e de virtualidade para ampliar qualidade de vida, sob a lógica unilateral do mercado, torna-se a face mais bruta da esfinge de nosso tempo. Com efeito, o acesso e a definição política destas tecnologias estão dentro de uma lógica unilateral da competitividade definida pelo mercado e na lógica do lucro. Ciência e tecnologia são cada vez mais concentradas na mão de poucos grupos e uma força produtiva produzida pelo trabalhador e que se volta contra ele. Os efeitos deste monopólio manifestam-se hoje em todos os campos. Em face deste direcionamento, dois aspectos interligados, porém, igualmente equivocados, têm sido dominantes na visão da ciência e técnica na sociedade atual. Um primeiro, ligado à noção de globalização, é do fetiche e do determinismo da ciência, da técnica e da tecnologia tomadas como forças autônomas das relações sociais de produção e de poder. A forma mais apologética deste fetiche aparece, atualmente, sob as noções de sociedade pós-industrial e sociedade do conhecimento, que expressam a tese de que a ciência, a técnica e as novas tecnologias nos conduziram ao fim do proletariado e dos conflitos entre o capital e o trabalho12. Como sinaliza Carlos Paris: A manipulação ideológica do avanço tecnológico pretende apresentar-nos a imagem de um mundo em que os grandes problemas estão resolvidos, e, para gozar a vida, o cidadão só 12 Neste plano de mistificação encontramos autores como: Bell (1973), Toffler (1950) e Freadman (1977). 50 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 precisa apertar diversos botões ou manejar objetos de apoio (Paris, 2002:175). Mas, como prossegue este autor, na verdade se trata de uma epiderme embelezada que encobre uma imensa maioria de seres humanos que sequer conseguem satisfazer suas necessidades primárias. Para sociedades, como a brasileira, esta é uma realidade candente e muito concreta. Trata-se de uma sociedade, como veremos adiante, que alcançou um significativo desenvolvimento industrial que permite aos setores de ponta industriais produzir superávit primário sem precedentes, liderado pelas exportações do agronegócio e que, ao mesmo tempo e paradoxalmente, o programa social básico do atual governo é o da fome zero, cujo escopo é dar três refeições para aproximadamente 50 milhões de brasileiros. Mas essas contradições atingem também o núcleo do capitalismo central. O outro viés situa-se na visão de pura negatividade da ciência, da técnica e da tecnologia em face da sua subordinação aos processos de concentração do lucro e ampliação da precarização e inseguranças de milhões de trabalhadores e de suas famílias Os dois vieses decorrem de uma análise que oculta o fato de que a atividade humana que produz o conhecimento e o desenvolvimento da técnica e tecnologia e seus vínculos imediatos ou mediatos com os processos produtivos se define e assume o sentido de alienação e exploração ou de emancipação no âmbito das relações sociais determinadas historicamente. Ou seja, a forma histórica dominante da ciência, da técnica e da tecnologia de se constituírem como forças produtivas destrutivas e expropriadoras e alienadoras do trabalho e do trabalhador não é determinação a elas intrínsecas, mas as mesmas são dominantemente decididas, produzidas e apropriadas social e historicamente nas relações sociais vigentes. Esta compreensão nos conduz, então, ao fato de que a ciência, a técnica e a tecnologia são alvo de uma disputa de projetos societários. O que lhes dá caráter destrutivo, expropriador e alienador ou de emancipação humana é o projeto societário ao qual se vinculam e dentro do qual se desenvolvem. Não é, por isso, também, da natureza em si do avanço científico-técnico e tecnológico desempregar. O que desemprega é a forma social de produção e o uso das tecnologias. Elas poderiam reduzir substantivamente a jornada de trabalho Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 51 e ampliar o tempo livre. Tempo este que não se reduza ao descanso semanal ou às férias, mas que significa o alcance das condições de resposta às necessidades básicas num determinado tempo histórico e a possibilidade efetiva de fruição, escolha e criação. Como mostram diferentes análises, a forma dominante, ditada não pela vontade de cada empresa, mas pela competição sistêmica, é de incorporação crescente de tecnologia na produção de mercadorias e serviços e a diminuição e o barateamento da força de trabalho. Isto não só pelas tecnologias de última geração – digital-molecular – empregadas no processo produtivo, mas, também, pelas tecnologias gerenciais e organizacionais. Como mostra Dejours (1999), as expressões “enxugar os quadros, tirar o pó, diminuir as gorduras” passam a idéia de que o trabalhador é problema. Mas, talvez, um dos campos mais aterradores do monopólio da ciência e da tecnologia sem controle da sociedade dá-se no campo da pesquisa genética e comercialização de órgãos. A propriedade das células-tronco e as pesquisas de clonagem humana por laboratórios privados apontam pelo mercado da vida. E qual a ética deste mercado? É a ética do negócio e da utilidade para o lucro. Eduardo Galeano13 mostra-nos a direção perversa que este negócio assume: Gregory Pence – professor de ética da Universidade de Alabama (EUA) – reivindica o direito de os pais fazerem cruzamentos da mesma forma que os criadores fazem cruzamento buscando o cão mais adequado a uma família. O economista Leste Thurow, do Massachusetts Institute of Tecnology, pergunta: quem poderia negar-se a programar um filho com maior coeficiente intelectual? – “Se o senhor não fizer isso – adverte – seus vizinhos o farão, e, então, seu filho será o mais bobo do bairro.” James Watson – Prêmio Nobel por ter descoberto a estrutura do DNA – se nega a aceitar limites à pesquisa e ao negócio no campo genético. “Devemos nos manter à margem dos regulamentos e das leis.” No campo econômico, isto se materializa pelo domínio das megacorporações supranacionais, ligadas aos centros hegemônicos do 13 Jornal Em Tempo. Nº 321 – jun.jul. 2001. 52 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 poder mundial. De acordo com Ribeiro (2005), megaempresas de petróleo como Exxon Mobil, Shell, General Motors – cada uma, individualmente – são economias maiores que de Portugal, Israel, Irlanda ou Nova Zelândia. Por outro lado, em 2004, as duzentas maiores multinacionais detinham 29% de toda a atividade econômica. Ribeiro assinala: Na sombra, mas com enorme poder, cresce a dominação do mercado através de oligopólios de propriedade intelectual , cuja extinção de prazo manipula mínimas modificações para estender a vida das patentes; associado a isto, o fortalecimento de cartéis de tecnologias. (Ribeiro, 2005:19)14 Esta realidade, cada vez mais intensa por fusões de empresas, leva o historiador Eric Hobsbawm (1990) a concluir que do ponto de vista econômico, já na década de 1960, fazia pouco sentido falar-se em nação. Isto mostra tanto a natureza do que se denomina de globalização quanto seus efeitos na desigualdade entre regiões e países. Parte do mundo está jogada ao seu destino, à sua dor, fome e morte. Grande parte da África não interessa ao mercado. Para elucidar a polarização de riqueza e miséria, nada melhor do que ir em textos daqueles que disseminam a apologia da globalização. Trata-se, como situam Bourdieu, P & Wacquant, L. (2000), de propagadores da nova vulgata. Thomas L. Friedman é um destes divulgadores. Trata-se de um jornalista com vários prêmios por livros que tratam do mundo globalizado. O trecho do seu último livro – O mundo é plano – uma breve história do século XXI, baseado no Vale do Silício indiano, busca mostrar que chegamos no ano 2000 a um novo patamar da globalização. O pequeno trecho destacado abaixo nos delineia o que os apologetas descrevem, mas não analisam. Fui com a equipe do Discovery Time até o campus da Infosys, acerca de quarenta minutos do centro de Bangalore, a fim de conhecer suas instalações e entrevistar Nilekani. Na estrada esburacada havíamos disputado espaço com vacas sagradas, carroças puxadas por cavalos e riquixás mo14 A tradução do espanhol é de minha responsabilidade. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 53 torizados; depois de cruzarmos os portões da Infosys, porém, parecia que havíamos entrado num outro mundo. Em meio à grama bem aparada, pontilhada de grandes pedras redondas, havia uma piscina cinematográfica ao lado de um putting green, além de vários restaurantes e um fantástico health club. (...) Aqui podemos nos encontrar com gente de Nova York, Londres, Boston, São Francisco, tudo ao vivo. E, como a implementação pode ser em Cingapura, o cara de lá também pode estar ao vivo aqui. É a globalização. (Friedman, T. L. 2005:13-14) O poder que concentram as grandes corporações acaba interferindo decisivamente na esfera política. Elas se tornam o poder de fato no mundo e subordinam as nações, mormente aquelas do capitalismo periférico e semiperiférico. Com tal poderio e cada vez mais legislações nacionais e internacionais em seu favor, as multinacionais condicionam diariamente a vida de todos, criando guerras reais e de mercado entrelaçadas e em governos e meios de comunicação, movimentando um enorme poder de propaganda e apropriandose dos mercados desde a produção até a compra direta do consumidor. (Ribeiro, 2005:19)15 É neste contexto que, desde a década de 1970, os órgãos internacionais ligados ao mercado, mormente a Organização Mundial do Comércio, passam ter um poder supranacional quando o tema é ligado ao mundo dos negócios. E é a partir deste momento que os governos nacionais, pressionados pelos centros hegemônicos do mercado mundial, começam a defender a tese da “independência” dos bancos centrais da política. A tese da soberania nacional dá lugar à da independência do Banco Central. O significado real desta tese é que, na verdade, quem faz a política é o grupo “blindado” que maneja os bancos centrais, e os cidadãos viram um conglomerado de consumidores. 15 A tradução do espanhol é de minha responsabilidade. 54 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 No plano cultural também se instaura uma profunda dominação. As grandes redes de televisão e de informação, monopólio de poucos, imputam os valores de consumo das economias centrais e do seu estilo de vida. O programa Big Brother é um exemplo emblemático do lixo a que somos submetidos e à profunda alienação que nos é imposta. Mas esta dominação se dá no campo da arte, da música, do cinema e, sem dúvida, no campo educativo. O resultado desta lógica dá-se no plano social. O que se observa no mundo, e de forma mais aguda em países como o Brasil, é que há, por um lado, uma minoria, particularmente ligada ao capital financeiro, que fica cada vez mais rica, e, por outro, um empobrecimento das camadas médias indo em direção à massa que está abaixo do nível de pobreza16. As grandes fortunas aumentaram, nos últimos anos, na América Latina, em 12%. O fato de as novas tecnologias não estarem direcionadas para a dilatação da vida, como assinalamos acima, se transforma numa monstruosa Esfinge. Essa nova Esfinge não é já a natureza indômita, hostil, tida de símbolos matriarcais, que assaltava o cidadão fora dos muros da cidade, mas a própria técnica que se ameaçadora no recinto do mundo que acreditávamos forjado para nosso bem-estar. (Paris, op. cit,162) revesÉdipo ergue haver Como a tecnologia permite aumentar produtividade sem aumentar empregados, a face mais destrutiva da Esfinge que atinge, ainda que de modo diverso em quantidade e nos efeitos, tanto os países do capitalismo central quanto os países de capitalismo dependente e periférico é o desemprego estrutural, a criação de um contingente cada vez maior de trabalhadores supérfluos. O desemprego é o problema social e político fundamental neste fim de século. O quadro 16 Os dados recentes divulgados sobre uma maior distribuição de renda no Brasil resultam das políticas de transferência de renda, especialmente da classe média, para o contingente de milhões de pessoas abaixo do nível de pobreza. Isso resulta, como veremos adiante, das políticas focais de inserção social – dentre elas a mais significativa, a bolsa-família, que atende 45 milhões de pessoas. Uma em quatro famílias brasileiras recebe a bolsa-família. A positividade distributiva, todavia, esconde dificuldades estruturais históricas cuja superação demandaria políticas sociais emancipatórias e que efetivamente garantissem direitos. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 55 que Robert Castel (1997 e 1998) nos apresenta é pouco auspicioso. Afirma-se, para este autor, cada vez mais a tendência de: • Desestabilização dos trabalhadores estáveis. Essa precarização dá-se pela perda de direitos, intensidade de trabalho, ameaças crescentes de perda do emprego. • Instalação da precariedade do emprego mediante a flexibilização do trabalho, trabalho temporário, terceirização, etc. • Aumento crescente dos sobrantes. Trata-se de contingentes não integrados e não integráveis. O desmanche da sociedade do emprego ou salarial pode ser emblematicamente apreendido pelo diálogo dos magnatas da área de computadores John Gage, da Sun Microsistems, David Packard, da Hewlett-Packard, e o mediador dos debates Rustum Roy, num seminário que reuniu os governos e empresários mais poderosos do mundo e alguns intelectuais, no luxuoso hotel Fairmont, em São Francisco, para marcar a instalação da Fundação Gorbachev. John Gage, referindo-se aos seus empregados: “Cada qual pode trabalhar conosco quanto tempo quiser, também não precisamos de visto para nosso pessoal do exterior (...) Empregamos nosso pessoal por computador, eles trabalham no computador e também são demitidos por computador. Dirigindo-se a David Packard, diz: ‘Isso você não consegue tão rapidamente, David?’ David Packard retruca: ‘De quantos empregados você realmente necessita, John?’ ‘Seis, talvez oito. Sem eles estaríamos falidos. Quanto ao local do planeta onde eles vivem, isso não importa em absoluto’, responde John. O mediador, prof. Rustum Roy, intervém e pergunta: ‘E quantas pessoas trabalham atualmente para a Sun Systems?’ ‘São dezesseis mil, mas exceto por uma pequena minoria todos demissíveis em caso de racionalização’, responde George.” (Maritin, H.P. & Schumann, H. 1996:10-11) 56 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 Esta realidade se apresenta com estatísticas alarmantes: um bilhão e 200 mil desempregados no mundo; taxas de desemprego que variam de 10% a 22% na Europa. Este cenário é emblematicamente analisado em sua dimensão econômica e sociocultural num livro da socióloga Viviane Forrester (1997) cujo título é: O horror econômico. Qual o futuro da sociedade salarial ou do trabalho assalariado? Esta também não é uma pergunta de resposta fácil. Os indicadores do presente, todavia, são inequívocos. O desemprego é o problema social e político fundamental neste fim de século. Para Robert Castell, o cenário visível é bastante preocupante. As políticas neoliberais de um lado e, de outro, o desenvolvimento centrado sobre a hipertrofia do capital morto – isto é, ciência e tecnologia, informação como forças de produção –, acabam desenhando uma realidade onde encontramos, para Castel, quatro cenários. O pior prognóstico é o de uma radicalização das políticas neoliberais numa crescente mercantilização dos direitos sociais, ruptura crescente da proteção ao trabalho e a instalação de um mercado auto-regulado. Neste cenário, o desemprego estrutural e a precarização do trabalho tendem a se ampliar e, conseqüentemente, ao aumento dos sobrantes. O segundo cenário, que não elide o primeiro, adotado pela maioria dos países, é de atacar o problema do desemprego pelos efeitos. Instauram-se políticas focalizadas de inserção social17. Um lenitivo necessário, mas insuficiente. Essas têm sido as políticas dominantes na América Latina, especialmente a partir da década de 1990, período em que o desemprego estrutural se agravou. O terceiro cenário é a auto-organização dos excluídos mediante uma organização alternativa do trabalho – uma nova cultura do trabalho. Esta realidade vem sendo cunhada com nomes diferentes e com 17 As categorias de integração social e de inserção social analisadas por Castel (1998) expressam dois tempos históricos em termos de políticas sociais e políticas públicas. A categoria de integração social está vinculada a um contexto histórico de uma sociedade contratual onde não só se postula o direito ao emprego, mas ligado a ele um conjunto de direitos sociais. A categoria de inserção social diz respeito a um contexto de crise deste contrato social. Boaventura de Souza Santos (1999) caracteriza este tempo de pós-contratual e de fascismo societal para designar uma realidade de profunda insegurança e de políticas que não asseguram direitos e previsibilidade de longo prazo. Autores, com os quais nos filhamos, não ignoram estes contextos diversos, porém não assumem a perspectiva de que haja uma nova questão social. Ver a esse respeito Netto (2001) e Iamamoto (2004). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 57 sentidos diversos. Economia solidária é o mais geral. No Brasil, a economia solidária assumiu espaço institucional com uma Secretaria Especial ligada à Presidência da República. Mas também encontramos os conceitos de economia popular e economia de sobrevivência18. Há, aqui, questões de várias ordens. A primeira é de diferenciação de perspectivas que engendram estes conceitos. A segunda é de se averiguar qual o alcance global destas alternativas. Por fim, encontramos as teses daqueles que já decretam que chegamos à sociedade do conhecimento, sociedade do entretenimento (tittytaiment), do lúdico ou do fim do trabalho e a sociedade do tempo livre. De imediato esta tese se choca com a multidão de sobrantes, cujo tempo livre não significa nem entretenimento nem lúdico, mas tempo torturado de precariedade – existência provisória sem prazo. Se tomarmos a questão do desemprego dos jovens no Brasil e a perspectiva de sua inserção no mercado de trabalho, os cenários acima traçados por Castel ganham um realismo preocupante. Existem no Brasil aproximadamente 34 milhões de jovens entre 15 e 24 anos, como mostram os dados de 2005. Segundo dados do IBGE/Pnad de 2005, na faixa de 16 a 17 anos o desemprego era de 26,39%, e na faixa de 18 a 24 anos, de 17,39%. O problema se agrava quando as análises se atêm aos grandes centros urbanos. De acordo com dados do Dieese de 2005, nas regiões metropolitanas os jovens representam 25% da população economicamente ativa (PEA), sendo que 45,5% estão desempregados19. Tem sido uma constante nas análises de economistas, empresários em diferentes espaços governamentais, baseados na teoria do capital humano e suas atualizações, que o quadro de desemprego está relacionado à educação e à formação profissional. Seriam mesmo a educação e a formação profissional as galinhas dos ovos de ouro capazes de alterar a tendência acima assinalada? No próximo item, buscaremos problematizar esta crença, mas ao mesmo tempo mostrar que a educação básica e profissional, sem dúvida, tem uma função social e econômica inequívoca. 18 Numa outra perspectiva e sob uma denominação genérica existe uma ampla literatura de trabalho à categoria de terceiro setor. Para uma análise crítica desta problemática, ver Montaño (2002). 19 Para uma visão detalhada da questão do emprego e desemprego, ver Pochmann e Borges, 1999, Pochmann (2000, 2000,2002 e 2004), e Matoso e Pochmann, 1997, e Linhart, 2007. 58 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 3. Mistificações, limites e possibilidades da educação profissional e políticas de emprego e renda A relação que se estabelece entre educação e educação profissional e desenvolvimento, desde os anos 50, se fundamenta numa compreensão de desenvolvimento tomado como sinônimo de crescimento econômico e dentro de uma perspectiva linear onde não são consideradas as relações de poder e nem os limites do meio ambiente20. Mesmo os debates mais atuais sobre desenvolvimento sustentável, em sua grande maioria, não escapam desta perspectiva. A idéia de um desenvolvimento linear e sem limites é cada vez mais contestada por evidências históricas contrárias21. A noção de capital humano, formulada a partir das pesquisas de Theodor Schultz (1962 e 1973) sobre a desigualdade de desenvolvimento econômico entre países na década de 1950 e noções de sociedade do conhecimento e de pedagogia das competências para a empregabilidade, formuladas a partir do fim da década de 1980, instaura um senso comum sobre a visão linear acima assinalada de forma cada vez mais dissimulada22. Este senso comum, amplamente difundido pelos organismos internacionais, mormente pelo Banco Mundial (Bird), pela Organização Mundial do Comércio (OMC), pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), fortemente apoiados pela grande imprensa, acaba incorporando nos governos e nas populações pobres dos países periféricos e semiperiféricos a ilusão do desenvolvimento de que trata Arrighi (1996), salvo que não se alterem as relações de poder até hoje vigentes. Análises do processo histórico, mormente do século XX, como as que nos oferecem Hobsbawm (1990 e 1995), nos permitem afirmar que a noção do capital humano e de sociedade do conhecimento explica, de forma invertida, dois contextos históricos de redefinição das relações intercapitalistas e suas 20 Sobre esta questão, ver Emir Altvater, 1999. 21 As idéias básicas desenvolvidas na primeira parte deste item estão baseadas numa análise mais ampla de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005). 22 Uma análise mais aprofundada da teoria do capital humano e da noção de sociedade do conhecimento, os seus sentidos e significados na educação e na sociedade encontra-se em Frigotto (1985 e 1993). Num mesmo sentido, para uma compreensão ampla da pedagogia das competências, ver Ramos (2002). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 59 conseqüências, especialmente sobre a classe trabalhadora. (Frigotto, 1998) Com efeito, a noção de capital humano busca responder à incômoda questão do porquê da permanência ou do agravamento das desigualdades econômico-sociais entre nações e entre grupos e indivíduos dentro de uma mesma nação, no contexto do Pós-Segunda Guerra Mundial. A suposição, transformada em afirmação, que se encontrou a partir de correlações estatísticas, era que isso se devia, sobretudo, ao diferencial do investimento em capital humano. Este se compunha do investimento em escolaridade, treinamento e saúde do trabalhador. Devido à dificuldade metodológica, dentro da ótica quantitivista, de se quantificar os indicadores de saúde, este aspecto ficou secundado ou abandonado na análise. Do ponto de vista do processo formativo, a questão que se coloca é: quais são os conhecimentos, atitudes e valores a serem desenvolvidos na escola e na educação profissional que são funcionais ao mundo do trabalho e da produção. Os economistas, os gestores, tecnocratas, planejadores vão dar mais ênfase aos aspectos de habilidades e dimensões cognitivas, e os sociólogos e psicólogos, às atitudes, valores, símbolos e dimensões ideológicas (Finkel, 1977). A apreensão invertida do processo histórico situa-se no fato de que, como nos mostra Hobsbawm (1990), já na década de 1950 os processos da globalização ou mundialização dos mercados e do capital anulavam o poder dos Estados nacionais, mormente dos países periféricos e semiperiféricos, sobre o planejamento da economia e de suas moedas. Uma dupla tendência se desenhava: crescente polarização entre países ricos e pobres e, conseqüentemente, o aumento da desigualdade entre as nações e o aumento dos grupos de pobres e miseráveis, especialmente no Hemisfério Sul23. Na América Latina, os movimentos por mudanças estruturais que assegurassem inclusão a grandes maiorias pauperizadas foram contidos pelo ciclo de ditaduras. É dominantemente dentro dos marcos das ditaduras que se efetivam, na América Latina, as reformas educativas sob o ideário do capital humano. 23 Sobre aumento da desigualdade em países da América Latina, ver Fitousi, J.P. & Rosavallon, P. (1997) e Pochaman e Amorim, 2003. 60 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 Reafirma-se, nos países periféricos e semiperiféricos, o ciclo vicioso do aumento da dívida externa e interna, mais dependência e diminuição da capacidade de investimentos, mormente na área social. Não obstante o discurso em contrário, saúde e educação e formação profissional, componentes da fórmula do capital humano, tinham cada vez menos recursos disponíveis. Deve-se ressaltar que, de todo modo, as políticas no campo da educação básica, da formação profissional e da saúde desenvolviam-se na perspectiva de uma sociedade desigual, mas integradora. Tratase de produzir e reproduzir uma força de trabalho adequada às demandas dos processos de desenvolvimento e afirmar a educação e formação profissional como uma espécie de tábua de salvação ou o que cunhamos acima como galinha dos ovos de ouro para tirar os países periféricos e semiperiféricos de sua situação e alçá-los ao nível dos países centrais. Do mesmo modo, acalenta a promessa da mobilidade social mediante a busca de empregos de maiores salários. No plano das relações trabalhistas ainda vigora, mesmo que cada vez mais enfraquecido, o ideário de uma regulação social que assegure um contrato coletivo mediado por instituições públicas e sindicatos patronais e sindicatos dos trabalhadores.Trata-se de políticas de integração social no horizonte do que assinalamos na nota 15. A partir de meados da década de 80, vários processos, de forma veloz, aceleram o processo de globalização dos mercados e de mundialização do capital. Destacam-se, como demonstra Chesnais (1996), a hipertrofia do capital financeiro, a consolidação de uma nova base científico-técnica, qualitativamente diversa, de base digital-molecular, e novas formas de organização e gestão empresarial que redefinem o processo produtivo. A economia pode e aumenta a produtividade, diminuindo o número de trabalhadores. A crise estrutural do desemprego, que se alastra por quase duas décadas, sem sinais de reversão, e o colapso do socialismo real, que permite o surgimento do discurso único, operam na ampliação do espectro do desenvolvimento desigual e combinado.A tendência é do aumento do cenário do desemprego estrutural e da pobreza.24 24 Sobre a relação entre processos de globalização dos mercados e pobreza, ver Chossudvsky (1999). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 61 O crescente desemprego destas décadas não foi simplesmente cíclico, mas estrutural. Os empregos perdidos nos maus tempos não retornariam quando os tempos melhoravam: não voltariam jamais (...). A tragédia histórica das décadas de crise foi a de que a produção agora dispensava visivelmente seres humanos mais rapidamente do que a economia de mercado gerava novos empregos para eles. Além disso, esse processo foi acelerado pela competição global, pelo aperto financeiro dos governos, que – direta ou indiretamente – eram os maiores empregadores individuais, e não menos, após 80, pela então predominante teologia do livre mercado que pressionava em favor da transferência de emprego para formas empresariais de maximização de lucros, sobretudo para empresas privadas que, por definição, não pensavam em outros interesses além do seu próprio, pecuniário. Isso significou, entre outras coisas, que governos e outras entidades públicas deixaram de ser o que se chamou de empregadores de último recurso. (Hobsbawm, 1995, p.403- 4) É neste contexto que se elabora a cartilha do Consenso de Washington, cuja receita, para os países de capitalismo dependente, é do ajuste fiscal, da desregulamentação dos mercados, flexibilização das leis trabalhistas e privatização do patrimônio público. Trata-se de apagar a herança das políticas sociais distributivistas e dos mecanismos de regulação do mercado e do capital. As bases institucionais que regulamentam o direito internacional e na esfera nacional deslocam-se para as organizações genuínas do mercado. A Organização Mundial do Comércio passa a se constituir no fórum que decide, por cima das nações, as regras do livre mercado. O neoconservadorismo monetarista e de ajuste fiscal reassume o protagonismo. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial elaboram o receituário do ajuste da política econômica e social e em cada país periférico ou semiperiférico negociam com as elites que, de forma associada e subordinada, efetivam as reformas recomendadas. Não por acaso ganha força, especialmente nos países de capitalismo dependente, a tese da independência dos Bancos Centrais da política. Isto é a efetiva demonstração do papel protagonista da Organização Mundial do Comércio e, por outro lado, a evidência de que é nestes 62 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 espaços que se define a política. Trata-se de um mercado sem controle da sociedade. Esta mudança se expressa no campo da educação básica e profissional pelo deslocamento do papel de protagonismo da Unesco, mormente nas décadas de 1970 e 1980, para os organismos internacionais acima apontados. Nesta nova materialidade de relações sociais, sob o discurso único da soberania do mercado e do domínio dos grandes grupos econômicos da ciência, da tecnologia e das redes de informação, a teoria do capital humano, nos termos postos nas décadas de 1950 a 1980, não dá conta para o ideário educacional. Esta noção mantém os traços de uma sociedade integradora e contratual. Os tempos agora, como analisa Boaventura Santos (1999), são de uma sociedade pós-contratual. Não há sociedade, há indivíduos, como proclama Margaret Tatcher. A noção central para este novo contexto de regressão das relações sociais, no âmbito social mais amplo, é a de sociedade do conhecimento. Noção que deriva do determinismo tecnológico; ou seja, de tomar-se a ciência e a tecnologia como entidades autônomas, independentes das relações sociais. Ao mesmo tempo, insiste-se na ênfase de que nos encontramos numa sociedade da mudança veloz, de descontinuidade e, sobretudo, da incerteza, ocultando-se que se trata, na verdade, de uma sociedade insegura e que não permite programar o futuro. Os jovens, sobretudo, em escala diversa de acordo com a sua situação social, são vítimas desta situação e se expressam na dificuldade de criar condições de se independentizar da família e mesmo de se programar para ter filhos. No plano da educação básica e profissional, neste contexto, afirmam-se as reformas educativas da década de 1990 centradas no ideário na pedagogia das competências, cujo foco é a preparação do indivíduo não mais para o emprego, mas para a empregabilidade25. Estas noções do campo pedagógico são a materialização, por um lado, do deslocamento dos direitos sociais para o plano individual e, como conseqüência, por outro lado, o deslocamento das políticas sociais de integração para as de inserção precária. 25 Para se ter uma compreensão de como a noção de empregabilidade assume uma perspectiva apologética, ver Moraes (1998). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 63 Por isso que a questão aqui não é a discussão do sentido em si dicionarizado de competência26. Obviamente que, em todos os campos, se quer ter profissionais competentes com o domínio científico e técnico de seu campo de atuação na sociedade. O aspecto central aqui é de que se trata das competências cujo sujeito definidor é o mercado. Mercado que, como vimos, necessita cada vez menos de trabalho vivo, isto é, trabalhadores, e instaura a sua competitividade aumentando o trabalho morto mediante o uso da ciência e da técnica. Há, pois, uma ressignificação do termo competência. Não é por acaso que a noção de competência surge conectada aos desafios da instabilidade do mercado de trabalho. Ela se vincula, diretamente, à noção de empregabilidade. Termo esse que sequer está dicionarizado em língua portuguesa e que, portanto, nasce fortemente ideologizado. Ele diz respeito a um mercado flexível, instável, dinâmico, que requer um trabalhador flexível, com contrato e direitos flexíveis, adaptado psico e socialmente à provisoriedade. O texto abaixo é, neste sentido, emblemático. A empregabilidade é um conceito mais rico do que a simples busca ou mesmo a certeza de emprego. Ela é o conjunto de competências que você comprovadamente possui ou pode desenvolver – dentro ou fora da empresa. É a condição de se sentir vivo, capaz, produtivo. Ela diz respeito a você como indivíduo e não mais à situação, boa ou ruim, da empresa – ou do país. É o oposto ao antigo sonho da relação vitalícia com a empresa. Hoje a única relação vitalícia deve ser com o conteúdo do que você sabe e pode fazer. O melhor que uma empresa pode propor é o seguinte: vamos fazer este trabalho juntos e que ele seja bom para os dois enquanto dure; o rompimento pode se dar por motivos alheios à nossa vontade. (...) (empregabilidade) é como a segurança agora se chama. (Moraes, 1998) 26 Para o Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, competente se refere à qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, habilidade, aptidão, idoneidade (de Holanda Ferreira, 1975, p. 353). 64 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 A promessa da empregabilidade, todavia, quando confrontada com a realidade do desemprego acima assinalada, não apenas evidencia seu caráter mistificador mas, sobretudo, revela também um elevado grau de cinismo. (...) uma bela palavra soa nova e parece prometida a um belo futuro: “empregabilidade”, que se revela como um parente muito próximo da flexibilidade, e até como uma de suas formas. Trata-se, para o assalariado, de estar disponível para todas as mudanças, todos os caprichos do destino, no caso dos empregadores. Ele deverá estar pronto para trocar constantemente de trabalho (como se troca de camisa, diria a ama Beppa). (Forrester, 1997, p. 118) Percebe-se, então, que a noção de capital humano não desaparece do ideário econômico, político e pedagógico, mas é redefinida e ressignificada pelas noções de sociedade do conhecimento e da pedagogia das competências para a empregabilidade. Como nos indica Beluzzo, a noção de empregabilidade já nos foi apresentada nos anos 60 e 70 sob a forma de Teoria do Capital Humano. Recauchutada, ela volta para explicar, ou tentar explicar, o agravamento das desigualdades no capitalismo contemporâneo. Assim, fica mais fácil atribuir ao indivíduo a responsabilidade por suas desgraças e por sua derrota. “Sou pobre porque sou incompetente e sem qualificação” (Beluzzo, 2001, p.1.). De fato, a lógica das competências incorpora traços relevantes da Teoria do Capital Humano, redimensionados com base na “nova” sociabilidade capitalista. Apóia-se no capitalismo concorrencial de mercado; o aumento da produtividade marginal é considerado em função do adequado desenvolvimento e da utilização das competências dos trabalhadores; o investimento individual no desenvolvimento de competências é tanto resultado quanto pressuposto da adaptação à instabilidade da vida. Aos moldes neoliberais, acredita-se que isso redundaria em bem-estar de todos os indivíduos, à medida que cada um teria autonomia e liberdade para realizar suas escolhas de acordo com suas competências27. 27 Ver a esse respeito Ramos, 2002. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 65 Por certo, se estaria incorrendo no mesmo equívoco que analisamos acima em relação à tecnologia, se ignorássemos o papel da educação básica e da formação técnica e profissional na sociedade em todos os seus âmbitos. O horizonte aqui é de compreendê-las como constituídas e constituintes da sociedade. Ou seja, sua natureza e função se definem socialmente no âmbito das relações de força e de poder das diferentes classes, frações de classes ou grupos sociais. Cabe perguntar, então: quais os limites e possibilidades da formação profissional em nossa sociedade assumida nesta análise como sendo de capitalismo dependente de desenvolvimento desigual e combinado? 4. A Título de Conclusão: Limites e Possibilidades e Desafios da Formação Profissional Os aspectos acima analisados nos conduzem a sublinhar a necessidade de não ser simplista e condescendente ao abordar a relação desenvolvimento, emprego e renda e educação, mormente a formação profissional. Com base em inúmeras análises, pode-se concluir e sustentar que tanto a situação da desigualdade entre regiões (Norte/ Sul) ou entre países centrais e periféricos e semiperiféricos ou entre grupos sociais no interior de cada país não se explica, primeira e fundamentalmente, pela educação ou formação profissional, mas pelas relações sociais e de poder historicamente construídas. Ao contrário do que pretendem os mandamentos e as lengalengas do pensamento único, a maioria não é pobre porque não conseguiu boa educação, mas, na realidade, não conseguiu boa educação porque é pobre. (Beluzzo, p. 2) É, pois, fundamental que se tenha claro que o caminho percorrido na relação entre educação e formação profissional, desenvolvimento e mobilidade social, nos marcos da teoria do capital humano, da sociedade do conhecimento e da pedagogia das competências e da empregabilidade não nos ajuda a entender o processo histórico da produção da desigualdade entre nações e no interior delas. Igualmente, não nos permite entender como os países de capitalismo de- 66 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 pendente associam desenvolvimento desigual e combinado que se expressa pelo paradoxo de concentração de riqueza, por um lado, e aumento da pobreza, por outro. Paradoxo aparente, pois como nos mostra Francisco de Oliveira (2003) trata-se de uma construção social de nossa tradição histórica cuja especificidade é de uma sociedade que produz a pobreza e se alimenta dela. As noções acima nos afastam deste entendimento e do papel da educação básica e profissional enquanto práticas sociais mediadoras das relações sociais, econômicas, políticas e culturais. O estabelecimento de uma relação entre educação profissional e desenvolvimento, sob outras bases, demanda dos países de capitalismo dependente um conjunto de decisões e de políticas que se desenvolvam de forma concomitante e articulada, buscando atender, ao mesmo tempo, aos critérios de justiça social e de resposta aos imperativos das necessidades da produção. Não se trata de ignorar, como pontuamos acima, o papel da educação básica e profissional neste duplo aspecto. Uma agenda que busque romper com nossa dependência histórica inclui como primeira condição, que orienta e determina as demais, a construção de um consenso mínimo na sociedade brasileira, mormente dos que têm a convicção de que somos uma nação e não um conglomerado de simples consumidores. Este consenso, na sua base, demanda a determinação daquilo que Caio Prado Junior (1976) caracterizou como as três mazelas básicas em nossa sociedade: o mimetismo, que consiste numa cultura da cópia, e a crença de que a teoria que vem de fora é melhor; a dívida externa, calcada na mentalidade do atalho e de viver com o dinheiro dos outros; e a assimetria das mais acentuadas entre os ganhos do capital e do trabalho. Trata-se de uma mudança que implica uma ruptura com todas as formas de colonização e subalternidade na relação com os organismos internacionais e com os países centrais. Isto não significa isolamento internacional mas, ao contrário, uma relação autônoma e soberana. Sem uma mudança profunda com o pagamento da dívida externa e, sobretudo, com a lógica dos juros da dívida externa e interna, e superávit primário para garantir capital especulativo, o Brasil não sairá do ciclo vicioso da dependência, e a busca de maior igualdade social e de desenvolvimento sustentado continuará sendo uma ilusão. Sob este aspecto, a questão central não é de apenas ver as imposições exter- Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 67 nas, que são profundamente predatórias e injustas, mas, sobretudo, de combater a postura de subalternidade, consentida e associada, das elites econômicas e políticas da sociedade brasileira. Que mudanças estruturais são estas? No caso brasileiro, destaca-se como necessidade inadiável a reforma agrária, com o intuito de acabar com a altíssima concentração da propriedade da terra e permitir acesso ao trabalho a milhares de trabalhadores. Todavia, isso não se reduz a simplesmente ter acesso à terra. Implica, também, uma política que assegure infra-estrutura, assistência e apoio técnico e de crédito compatível com a realidade dos pequenos agricultores. As sociedades do capitalismo central, em especial da Europa, fizeram a reforma agrária há mais de um século. Nós somos considerados um continente, pelo tamanho do país, e temos aproximadamente 20 milhões de acampados que constituem o Movimento dos Sem-Terra. Outra mudança estrutural é a reforma tributária, para inverter a lógica regressiva dos impostos e com o objetivo de corrigir, assim, a enorme e injustificável desigualdade de renda. Junto com estas reformas relacionadas à vida econômica estão implicadas, também, a reforma política e do Judiciário. Seria por acaso se mantém a estrutura agrária que temos e que toda ocupação de terras, grande parte delas comprovadamente públicas, é considerada invasão e, portanto, criminalizada? O que explicaria que as cadeias brasileiras sejam povoadas de jovens pobres e, em sua maioria, descendentes de negros? Estas condições, aliadas ao fortalecimento de uma democracia ativa e a uma nova concepção de desenvolvimento socialmente justo, econômica e ambientalmente viável, solidário e participativo, podem fornecer as condições políticas e culturais para romper com o ciclo vicioso de pobreza. Isto permitirá alterar o baixo investimento em educação, saúde, ciência e tecnologia, condições indispensáveis para superar a condenação ao exercício das atividades ligadas ao trabalho simples, de baixo valor agregado, na divisão internacional do trabalho. No plano conjuntural de curto prazo, há problemas cruciais a serem resolvidos cuja dramaticidade implica políticas distributivas imediatas. Estas situam-se dentro do horizonte da inserção social precária. Podemos mencionar, entre outras, as políticas de renda mínima e a bolsa-família, primeiro emprego, Proeja, etc. Estas políticas necessitam de um amplo controle social público para não se transformarem em clien- 68 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 telismo e paternalismo (traços fortes de nossa cultura política), e não podem ser permanentes. Por isso, o esforço é no sentido de instaurar políticas emancipatórias que garantam emprego ou trabalho e renda. O que buscamos afirmar é que a formação profissional que se demanda para este horizonte em nada se reduz a adestramento e a cursinhos tópicos cujo escopo se reduza à formação do cidadão produtivo ou cidadão mínimo que internaliza a culpa por sua pouca escolaridade e sua situação de desempregado ou subempregado. Ao contrário, demanda um duplo e concomitante vínculo: de integração orgânica com a educação básica e com políticas de geração de emprego e renda. A expectativa social mais ampla é de que se possa avançar na afirmação da educação básica unitária e, portanto, não dualista, que articule cultura, conhecimento, tecnologia e trabalho como direito de todos e condição da cidadania e democracia efetivas. Uma política que queira assegurar uma elevação de escolaridade com qualidade aos filhos da classe trabalhadora tem que encarar de frente o ensino noturno. Duas estratégias complementares se colocam como desafio. Um esforço prioritário para que cresçam as matrículas no diurno, incluindo-se a política de bolsas de estudo ou de renda mínima daqueles jovens que necessitam comprovadamente do trabalho para se manterem. Trata-se, ao mesmo tempo, de um direito destes jovens e um inequívoco investimento do mesmo se quisermos atingir um efetivo avanço das forças produtivas e a diminuição gradativa da dependência e vulnerabilidade científica tecnológica. A universalização do nível médio, neste sentido, é política de Estado estratégica. Considerando que o ensino noturno, no curto e médio prazo, permanecerá elevado, cabe uma política específica em termos de tempos, espaço, organização do processo pedagógico, condições de trabalho do professor e dos materiais pedagógicos. Tendo pressuposto a educação básica, a expectativa social é de que se possa criar um Sistema ou Subsistema Nacional de Formação/Qualificação Profissional, articulando as múltiplas redes existentes28 e vincu28 Em recente estudo, Manfredi (2003:143-44) cita sete redes que se ocupam da formação técnica e profissional: rede de ensino médio técnico (federal, estadual, municipal e privado); Sistema S; Universidades públicas e privadas; escolas e centros mantidos por sindicatos de trabalhadores; centros e escolas mantidos por diferentes ONGs de cunho comunitário e religioso; por escolas e cursos mantidos por grupos empresariais; e, finalmente, cursos livres profissionalizantes. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 69 lado às diferentes demandas do processo produtivo, à política de criação de emprego e renda e, no contexto que ainda nos encontramos, à política pública de educação de jovens e adultos. Para os mais de 60 milhões de jovens e adultos que atingem no máximo dois anos de escolaridade, é crucial que se ampliem as possibilidades da continuidade da escolaridade básica atendendo à especificidade de sua realidade. Uma política pública redistributiva e emancipatória de caráter mais universal, que teria extraordinário efeito social, econômico e ético, seria a retirada do mercado de trabalho, formal ou não-formal, de todas as crianças e jovens até a idade legal de conclusão do nível médio. Para que isso seja viável, há a necessidade de estipular-se uma renda mínima para estas crianças e jovens, sem o que elas não podem abandonar sua luta pela sobrevivência. Para jovens de 18 a 24 anos, é fundamental que se garanta a possibilidade de continuidade de escolaridade até a conclusão do ensino médio. Para os que estão empregados, a exemplo de outros países, é fundamental que se criem condições de tempo, legalmente garantido, para o estudo e um apoio, em termos de bolsa de estudo, sem o que também não há condições de retorno à escola. Para os desempregados, seria necessária uma renda mínima e, concomitantemente, o implemento de uma política de primeiro emprego. Pelo tamanho do PIB do Brasil, está claramente provado que há viabilidade econômica para estas políticas e que, portanto, a decisão de implementá-las é política. Por fim, as expectativas centram-se sobre a concepção de conhecimento, do projeto e relações pedagógicas tanto na educação básica dos trabalhadores quanto nos cursos de formação profissional. Aqui, o ponto crucial é ter-se clara a centralidade dos sujeitos na política pública de educação básica e de formação profissional. Trata-se de superar uma visão abstrata, iluminista e racionalista, para uma compreensão histórica dos processos formativos e de construção de conhecimento, onde se articulam vida, cultura, ciência e conhecimento. A natureza da organização do processo pedagógico quanto aos procedimentos e estratégias (métodos, técnicas) de ensino e os materiais pedagógicos depende da concepção de conhecimento que se desenvolve nos processos formativos. Neste sentido, é crucial tanto na formação dos professores quanto dos sujeitos educandos afirmar o conhecimento científico, nas diferentes áreas, como um 70 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 processo de construção histórica que se diferencia do conhecimento espontâneo e do senso comum e se explicita mediante categorias e conceitos. Enquanto conhecimento histórico, sempre será relativo e aberto e, portanto, passível de ser reconstruído e ampliado. Para ser histórico, o conhecimento se constrói ou é apropriado dentro da relação entre a particularidade (espaço e tempo das mediações) e um grau crescente de universalidade (historicamente construída). Esta relação historicamente construída nos permite superar tanto a homogeneização abstrata que violenta as particularidades e, portanto, a complexidade e diversidade da realidade dos sujeitos, quanto a atomização do real em infinitas e desconexas particularidades. Aqui é fundamental ter-se um professor/educador capaz de “ler o mundo”, como tanto insistia Paulo Freire. O ponto crucial, neste particular, é ter-se como ponto de partida o conhecimento, as experiências e vivências dos sujeitos alunos. Este reconhecimento é que permite construir, no sentido mais profundo, um método ativo de conhecimento. Trata-se, em suma, de construir uma expectativa de educação básica e de formação profissional que avance no sentido da construção de um projeto societário efetivamente democrático, onde os trabalhadores de forma autônoma produzam seus meios de vida no mais elevado nível possível e dilatem o tempo de trabalho livre. Trata-se de não perder de vista o pensamento e a luta utópica. Utopia que não significa não estar em nenhum lugar, mas estar em outro lugar. Lugar este de igualdade de condições de produção da vida em todas as suas dimensões, a começar pelas necessidades imperativas de reprodução da vida material. Sem a satisfação destas, as demais necessidades, sociais, culturais, estéticas, afetivas e estéticas, ficam comprometidas. No Brasil temos uma profunda dívida social que necessita ser saldada no menor tempo possível. E esta tarefa, neste momento histórico, nos cabe. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 71 Referências ALTVATER, E. O preço da riqueza: pilhagem ambiental e a nova (des)ordem mundial. São Paulo: UNESP, 1995. ARRIGHI, G. A ilusão do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. BEJZMAN, I. Degradação. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6 ago.1997. Painel do leitor, p. 3. ------; BELL, D. O advento da sociedade pós-industrial. Rio de Janeiro: Cultrix, 1973. BELUZZO, L. G. M. Valor Econômico, São Paulo, 16-18 fev. 2001. 1º Caderno, p. A. 13. BOURDIEU, P.; WACQUANT, L. A nova bíblia do Tio Sam. Le Monde Diplomatique Brasil, ano 1, n. 4, abr. 2000. CARDOSO, M. L. A ideologia da globalização e descaminhos da Ciência Social. In: GENTILLI, P. (Org.) Globalização excludente: desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. Petrópolis: Vozes, 1999. CASTEL, R. As armadilhas da exclusão. In: ------ et al. Desigualdade e a questão social. São Paulo: EDUC, 1997. ------. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. CHESNAIS, F. A mundialização do capital. São Paulo: Scrita, 1996. CHOMSKY, N. Os dilemas da dominação. In: BORON, A. A. (Org.). Nova hegemonia mundial: alternativas de mudança e movimentos sociais. São Paulo: Expressão Popular; Buenos Aires: CLACSO, 2004. ------. Por que o Fórum Social Mundial? Folha de S.Paulo, São Paulo, 10 set. 2000. CHOSSUDVOSKY, M. A globalização da pobreza: impacto das reformas do FMI e do Banco Mundial. São Paulo: Moderna, 1999. DEJOURS, C. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: FGV, 1999. FERNANDES, F. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1972. FINKEL, S. Capital humano: concepto ideológico. In: LABARCA, G. et al. La educación burguesa. México, D. F.: Nueva Imagen, 1977. FITOUSI, J. P.; ROSAVALLON, P. La nueva era de las desigualdades. Buenos Aires: Manantial, 1997. FORRESTER, V. O horror econômico. São Paulo: UNESP, 1996. 72 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 FREADMAN, M. Capitalismo e liberdade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977. FRIEDAMAN, T. L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006. FRIGOTTO, G. Delírios da razão: crise do capital e metamorfose conceitual no campo educacional. In: GENTILI, P. (Org.). A pedagogia da exclusão. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. ------. Educação e crise do capitalismo real. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1999. ------. A produtividade da escola improdutiva. São Paulo: Cortez, 1984. ------; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. A política de educação profissional no governo Lula: um percurso histórico controvertido. Educação & Sociedade, Campinas, v. 26, n. 92, p. 1087-1113, out. 2005. ------ (Org.). Educação e crise do trabalho: perspectivas de final de século. Petrópolis: Vozes, 1998. ------; CIAVATTA, M. (Org.). A formação do cidadão produtivo: a cultura do mercado no ensino médio técnico. Brasília: INEP, 2006. HOBSBAWM, E. A era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Cia. das Letras, 1995. ------. Nações e nacionalismos desde 1760. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. ------. O novo século. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. IAMAMOTO, M. V. A questão social no capitalismo. Temporalis, Brasília, v. 2, n. 3, p. 9-32, 2004. LINHART, D. A desmedida do capital. São Paulo: Boitempo, 2007. LÖWY, M. The politics of combined and uneven development. London: New Left Books, 1981. ------. A teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Outubro: Revista do Instituto de Estudos Socialistas, São Paulo, n. 1, p. 73-80, 1998. MARTIN, P. H.; SHUMANN, H. A armadilha da globalização. 5. ed. São Paulo: Globo, 1999. MATOSO, J.; POCHMANN, M. Reestruturação ou desestruturação produtiva no Brasil. Campinas: UNICAMP, CESIT, 1997. MONTAÑO, C. Terceiro setor e a questão social: crítica ao padrão emergente da questão social. São Paulo: Cortez, 2002. MORAES, C. Emprego ou empregabilidade. Ícaro Brasil, São Paulo, n. 171, p. 53-57, 1998. NETTO, J. P. Capitalismo monopolista e serviço social. São Paulo: Cortez, 2001. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 73 NOVAES, C. F. As determinações sociais no problema da escolha profissional: contradições e angústias nas opções dos jovens das classes sociais de alta renda. 2003. Dissertação (Doutorado) - Programa de Psicologia Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2003. NOVAES, R. (Org.); VANUCHI, P. (Org.). Juventude e sociedade: trabalho, educação, cultura e participação. São Paulo, Fund. P. Abramo, 2004. OLIVEIRA, F. de. Crítica à razão dualista: o ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003. PARIS, C. O animal cultural. São Carlos: UFSCar, 2002. PAULANI, L. O projeto neoliberal para a sociedade brasileira: sua dinâmica e seus impasses. In: LIMA, J. C. F.; NEVES, L. M. V. Fundamentos da educação escolar do Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006. POCHMANN, M. A batalha pelo primeiro emprego: as perspectivas e a situação atual do jovem no mercado de trabalho. São Paulo: Publisher Brasil, 2000. 96 p. ------. O fenômeno do desemprego no Brasil: diagnóstico e perspectivas. In: BEDIN, Gilmar Antonio (Org.). Reestruturação produtiva, desemprego no Brasil e ética nas relações econômicas. Ijuí: Unijuí, 2000. 136 p. p. 35108. ------. Tecnologia e emprego: algumas evidências sobre o caso brasileiro. São Paulo: [s.n.], 2004. ------. O trabalho sob fogo cruzado. São Paulo: Contexto, 1999. ------; AMORIM, R. Atlas da exclusão social no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003. 2 v. ------; BORGES, A. Era FHC e a regressão do trabalho. São Paulo: Centro de Estudos Sindicais: A. Garibaldi, 2002. PRADO JÚNIOR, C. Revolução brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1987. RAMOS, M. N. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? São Paulo: Cortez, 2001. RIBEIRO, S. Los dueños del planeta: corporaciones 2005. La Jornada, México, D.F., 31 dic. 2005. p. 19. SANTOS, Boaventura de Souza. Reinventar a democracia: entre o précontratualismo e o pós-contratualismo. In: A CRISE DOS PARADIGMAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS E OS DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI, 1997. Anais… Rio de Janeiro: Contraponto: CORECON-RJ, 1999. p. 33-76. SCHULTZ, T. Capital humano. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1973. ------. O valor econômico da Educação. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1962. 74 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 SENNETT, R. A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 1999. TIRIBA, L. V. Economia popular e cultura do trabalho: pedagogia(s) da produção associada. Ijuí: UNIJUÍ, 2000. TOFFLER, A. A empresa flexível. Rio de Janeiro: Record, 1985. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 44-75 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 75 CONFUSÕES EM TORNO DA NOÇÃO DE PÚBLICO O CASO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR1 (provida por quem, para quem?) Ricardo Barros Mirela de Carvalho Samuel Franco Rosane Mendonça Paulo Tafner 1 Embora o foco deste trabalho seja a educação superior, é importante observar que a discussão aqui apresentada se aplica, em alguma medida, também aos demais níveis de ensino. 76 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 A educação superior não pode ser considerada um bem público, embora muito se argumente nessa direção, uma vez que não satisfaz duas condições básicas: (a) o custo adicional por um indivíduo a mais se beneficiar deste bem é zero, e (b) é muito difícil, senão impossível, excluir uma pessoa que esteja interessada em se beneficiar deste bem. Mas, se a educação superior não é um bem público, por que então subsidiá-la? Existem várias razões para justificar esse subsídio, sendo a mais comum as externalidades geradas por ela. Esse estudo tem como objetivo organizar a discussão em torno da provisão de educação superior, buscando contribuir para esclarecer algumas confusões freqüentes como, por exemplo, a necessidade de o setor público prover esse serviço. Superior education can not be considered a public good, although one can disagree with that once can not satisfied two basic conditions: (a) the additional cost of one more person to benefit from this good is zero, and (b) it is very difficult, if not impossible, to exclude a person who is interested in benefit himself from this good. But if superior education is not a public good why subsidize it? There are many reasons to justify this subsidy, with the externalities generated being the most common. However, even accepting the arguments for the State to subsidize it, that doesn’t mean that the Government has to produce it. It can use the private sector to provide the service. This study has the goal to organize the discussion around the provision of superior education, trying to contribute to clarify some frequency problems, such as the need of the public sector to provide this service. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 77 1. INTRODUÇÃO A educação superior não pode ser considerada um bem público, embora muito se argumente nessa direção, uma vez que não satisfaz duas condições básicas: (a) o custo adicional por um indivíduo a mais se beneficiar deste bem é zero, e (b) é muito difícil, senão impossível, excluir uma pessoa que esteja interessada em se beneficiar deste bem2. Mas, se a educação superior não é um bem público, por que então subsidiá-la? Existem várias razões para justificar esse subsídio, sendo a mais comum as externalidades geradas por ela3. Entretanto, mesmo aceitando os argumentos para que o Estado a subsidie, isso não significa que ele tenha que produzi-la, podendo envolver o setor privado na provisão deste serviço. Apesar dos argumentos que defendem a produção da educação superior pelo Estado serem muito frágeis, esta é a situação que de fato prevalece hoje no país. O problema decorrente é que o Estado subsidia quase que exclusivamente as instituições públicas, gerando grande ineficiência no sistema. Além disso, porque o subsídio vai prioritariamente para as instituições públicas, acaba ocorrendo uma grande confusão entre os critérios para o acesso à universidade e os critérios para a gratuidade. Esse estudo tem como objetivo organizar a discussão em torno da provisão de educação superior, buscando contribuir para esclarecer algumas confusões freqüentes como, por exemplo, a necessidade de o setor público prover esse serviço. Para tanto, o trabalho encontra-se organizado em cinco seções, além desta introdução. A segunda seção faz uma breve descrição do desempenho educacional ao longo das últimas duas décadas mostrando que não houve aceleração na expansão do ensino superior como ocorreu no ensino fundamental e no médio. A Seção 3 apresenta algumas evidências dos benefícios privados da educação superior e discute qual a racionalidade para o estado subsidiar um bem com tamanho retorno 2 Dias (2003) discute a idéia preconizada pela Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, ocorrida em Paris, em 1998, de que é possível manter a idéia de que o ensino superior é um bem público. 3 Para uma discussão sobre a racionalidade para a intervenção governamental na provisão de educação, ver Belfield (2000). 78 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 privado. A Seção 4 entra, então, no cerne do trabalho, discutindo a questão da provisão destes serviços – qual a racionalidade para a provisão pública ou privada? A Seção 5 trata da separação entre o acesso à educação superior e o acesso à gratuidade na universidade, e, por fim, a Seção 6 tece as considerações finais, discutindo quem se beneficia e quem deveria se beneficiar da educação superior. 2. O DESEMPENHO EDUCACIONAL DO BRASIL NAS ÚLTIMAS DUAS DÉCADAS Ao longo da última década4, os indicadores educacionais melhoraram de forma significativa. Conforme mostra a Tabela 1, a melhoria ocorrida na maioria dos indicadores foi ao menos duas vezes mais intensa neste período do que na década anterior5. Tabela 1: Indicadores de freqüência e conclusão por série e faixa etária Velocidade relativa Indicadores 1984 1995 2006 “Variação “Variação da década recente 84-95” 95-06” sobre a anterior Porcentagem de crianças de 12 anos que freqüentam 0,82 0,91 0,98 0,83 1,62 1,94 Porcentagem de crianças de 12 anos que completaram a 4ª série 0,34 0,50 0,78 0,67 1,26 1,88 Porcentagem de crianças de 15 anos que freqüentam 0,59 0,75 0,90 0,74 1,11 1,50 Porcentagem de crianças de 15 anos que completaram a 4ª série 0,64 0,74 0,92 0,48 1,44 2,98 Porcentagem de crianças de 15 anos que completaram a 8ª série 0,09 0,17 0,39 0,71 1,14 1,60 Porcentagem de adolescentes de 18 anos que completaram a 8ª série 0,31 0,38 0,72 0,32 1,43 4,51 Porcentagem de adolescentes de 18 anos que completaram o médio 0,07 0,09 0,28 0,33 1,34 4,05 Porcentagem de jovens de 21 anos que completaram a 8ª série 0,38 0,44 0,75 0,26 1,35 5,24 Porcentagem de jovens de 21 anos que completaram o médio 0,19 0,22 0,51 0,21 1,31 6,37 Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 1984, 1995 e 2006. Nota: 1. Variação relativa = ln(I/(1-I)), onde I é o indicador 4 Estamos nos referindo à “última década” como o período 1995-2006; 2006 é o último ano disponível da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). 5 Estamos considerando o período de 1984 a 1995. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 79 Os avanços obtidos, entretanto, conforme já se sabe, foram muito mais quantitativos do que qualitativos. As taxas de repetência e retenção6 em todas as séries do ensino fundamental declinaram substancialmente, embora o rendimento escolar medido pelo Saeb7 tenha permanecido inalterado. A expansão ocorrida no ensino médio foi ainda mais acelerada do que no fundamental, garantindo uma considerável redução na evasão ao final deste último nível. Conforme mostra o Gráfico 1, a taxa de retenção ao fim do ensino fundamental caiu cerca de 11 pontos percentuais nos últimos dez anos. Não somente a cobertura aumentou muito, mas também se reduziu a defasagem série-idade. A expansão da educação superior, no entanto, não tem sido capaz de acompanhar o progresso na educação média ao longo das últimas décadas8. Apesar de a matrícula nas universidades ter aumentado significativamente, a proporção de jovens que terminam o ensino médio e não têm acesso à universidade não diminuiu (veja Gráfico 1). Em 2006, cerca de 75% dos jovens entre 18 e 24 anos que terminaram o ensino médio não ingressaram na universidade. Em 1982, essa porcentagem era quase 6 pontos menor, indicando que o gargalo educacional ao fim desse ciclo vem aumentando no país. 6 Estimamos a taxa de retenção como a proporção dos indivíduos com pelo menos x anos de estudo sobre aqueles que têm no máximo x anos de estudo. 7 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica do MEC. 8 Para uma interessante análise recente da expansão do ensino superior, seus determinantes e implicações, ver Schwartzman (2000). 80 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 Gráfico 1: Evolução da taxa de retenção ao fim do fundamental e do médio para jovens de 18 a 24 anos Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 1982 a 2006. Recentemente, entretanto, observa-se um crescimento acentuado da matrícula inicial na educação superior. O número de vagas para a universidade tem crescido mais de 15% ao ano, e a matrícula inicial, que era ligeiramente inferior a 1/3 da matrícula total em 1999, passou para quase cerca da metade em 2005 (ver Gráfico 2). A matrícula inicial era de 1,7 milhão em 2005 e, portanto, muito similar ao número de jovens que terminam o ensino médio a cada ano, 1,8 milhão9. Apesar disso, apenas cerca de 37% dos jovens que completaram o ensino médio freqüentam ou já freqüentaram a universidade10. Como explicar este aparente paradoxo? A explicação encontra-se no desbalanceamento entre fluxo e estoque. Se, por um lado, é verdade que o ensino médio gradua a cada ano apenas 1,8 milhão de jovens que, dada a oferta atual, poderiam quase todos encontrar uma vaga na universidade, por outro lado, tem-se que considerar que a demanda por educação superior não se limita aos que se graduaram no ensino médio no ano anterior. Uma 9 Valor médio obtido com base nas informações das Sinopses Estatísticas da Educação Básica do MEC de 1995 a 2005. 10 Estimativa obtida com base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2006. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 81 vez que historicamente a oferta de vagas na universidade foi sempre muito limitada, o país conta hoje com mais de 27 milhões de pessoas (47% com até 30 anos de idade) com educação média completa que não freqüentam nem nunca freqüentaram a educação superior11. Gráfico 2: Evolução temporal do número de concluintes do ensino médio, número de vagas e de matrículas para o primeiro ano do ensino superior Fonte: Sinopses Estatísticas da Educação Superior de 1995 a 2005 e Sinopses Estatísticas da Educação Básica de 1995 a 2005. Assim, embora o número de vagas hoje oferecidas seja suficiente para atender ao fluxo corrente de graduados do ensino médio12, a insuficiência de oferta ao longo das últimas décadas levou a um substancial estoque de demanda não atendida. Em conjunto, a demanda total é cerca de 14 vezes o número de graduados a cada ano no ensino médio. Aí está, portanto, o porquê de apenas 37% deles terem acesso efetivo à educação superior, mesmo quando a disponibilidade de vagas já é muito próxima. 11 Estimativa obtida com base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2006. 12 Importante lembrar que, apesar de a oferta hoje ser suficiente para atender todos que terminam o ensino médio, apenas uma parcela consegue concluir esse nível. 82 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 Além disso, vale ressaltar que uma coorte de jovens no Brasil conta com cerca de 3,5 milhões de jovens. Se o objetivo é garantir o acesso à universidade a ¾ destes jovens13, então, uma vez acomodado o estoque de demanda não atendida nas últimas décadas, as vagas oferecidas na universidade deveriam estabilizar em torno de 2,7 milhões e, portanto, cerca de 60% maior que o atualmente disponível14. Em suma, a despeito da acelerada expansão na educação superior ao longo dos últimos anos, seria necessário que este passo acelerado continuasse ao longo de toda a próxima década para que, ao menos do ponto de vista quantitativo, a oferta de educação superior fosse equacionada. Na medida em que (a) o elevado estoque de demanda não atendida no passado concorre com o fluxo atual de egressos do ensino médio e (b) apenas uma parcela dos que freqüentam o ensino médio o conclui, para que todos fossem atendidos seria necessário que a oferta de vagas superasse por vários anos o seu valor histórico. Dado que a expansão da educação superior envolve muitas vezes investimentos irreversíveis, seja em infra-estrutura, seja na qualificação dos recursos humanos, não é evidente como o sistema atenderia esse elevado componente transitório da demanda atual. Seria viável expandir a oferta apenas temporariamente? O setor privado teria os incentivos e a capacidade para atender a esta demanda transitória? 3. BENEFÍCIO PRIVADO, BEM PÚBLICO E EXTERNALIDADES Parece existirem poucas dúvidas de que a educação e, em particular, a educação superior tem impacto sobre produtividade, empregabilidade, remuneração, condições de saúde, entre outros benefícios. De maior importância para o argumento deste estudo, não parece haver dúvidas de que os benefícios privadamente apropriados da educação superior são substanciais. 13 Essa é apenas uma meta tomando como base a proporção de jovens que pertencem à elite na região do Sul do Brasil que tem acesso à universidade. 14 Pacheco e Ristoff (2004) discutem em que medida o Brasil conseguiria atingir a meta de matricular 30% da população entre 18 e 24 anos no ensino superior e de expandir a matrícula no setor público para 40% até 2010. Os autores concluem que as matrículas nas instituições federais e estaduais devem se expandir, em especial no turno da noite, uma vez que “o setor privado tem pouca chance de êxito devido às dificuldades financeiras da população potencial de estudantes”. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 83 De fato, como mostra a Tabela 2, a remuneração dos trabalhadores com educação superior é cerca de 250% maior do que a remuneração média da força de trabalho brasileira, e cerca de 64% dos indivíduos com educação superior vivem entre os 10% mais ricos do país. Enquanto 71% dos indivíduos com educação superior vivem em domicílios que possuem computador, apenas 23% da população brasileira se encontram nesta situação. Quase 78% dos domicílios onde vivem aqueles com educação superior têm dois ou mais banheiros, mas apenas 22% da população brasileira vivem em domicílios com essas condições. Tabela 2: Benefícios privados da educação superior Indicadores selecionadosBrasil Remuneração dos trabalhadores (em reais por mês) Porcentagem que vive entre os 10% mais ricos Porcentagem que vive em domicílios com computador Porcentagem que vive em domicílios com 2 ou mais banheiros Pessoas com educação superior 784 10,0 23,0 21,8 2777 63,6 70,9 77,4 Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2006. Estes indicadores revelam inequivocamente que pessoas com educação superior têm condições de vida muito acima da média nacional. Evidentemente que não se pode afirmar que estas melhores condições de vida decorram diretamente da educação superior. É possível que aqueles com educação superior tenham herdado parte de sua riqueza, ou que sejam mais talentosos. Nestes casos, suas condições de vida seriam bem acima da média mesmo se não tivessem tido acesso à educação superior. Contudo, a elevada demanda por educação superior existente indica que boa parte destas vantagens resulta, de fato, do acesso à educação superior. Algumas vezes se argumenta que a educação, em particular a educação superior, é um bem público15. Evidentemente que esta argumentação é incorreta. Para que se possa caracterizar a educação superior como um bem público, esta deveria satisfazer duas condições: (a) o custo adicional por um indivíduo a mais se beneficiar 15 Para a definição clássica de bem público, ver Stiglitz (1998). 84 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 deste bem é zero, e (b) é muito difícil, senão impossível, excluir uma pessoa que esteja interessada em se beneficiar deste bem. Entretanto, como o vestibular deixa muito claro, o atendimento a uns impede o atendimento a outros, e as vagas para ingressar na universidade são limitadas de tal forma que alguns podem ser excluídos. De fato, um serviço para o qual existe um mercado onde as pessoas pagam para serem atendidas não poderia ser caracterizado como um bem público, por mais que o setor público participe da provisão destes serviços e atue na sua regulação. No caso de um bem público, como ninguém pode ser excluído, não há incentivos para que as pessoas paguem por esse bem. A importância das externalidades geradas pela educação superior, isto é, a diferença entre os ganhos sociais e privados, é uma questão fundamental para a gestão da política pública, uma vez que é a sua existência, em grande medida, que forneceria a justificativa para que a sociedade subsidiasse a sua provisão. Muito se argumenta e poderia se argumentar corretamente sobre as externalidades geradas pela educação superior, mas, em realidade, pouco se sabe sobre a sua magnitude e importância, embora todas as estimativas disponíveis indiquem a sua existência. Em particular, não existe evidência de que os ganhos da educação superior não sejam, em grande medida, privadamente apropriados. No entanto, mesmo a educação superior não sendo um bem público e nem responsável por gerar consideráveis externalidades, podem existir razões para subsidiá-la. Como ela é um investimento, imperfeições existentes no mercado de crédito podem recomendar que, para garantir a igualdade de oportunidades, a educação superior seja subsidiada para os pobres ou mesmo para todos que a desejem. Existem, entretanto, algumas dificuldades com a idéia de subsídios à educação superior. Uma delas é o fato de que, como os retornos privados são elevados, mais recomendável que um subsídio seria a garantia de crédito. Neste caso, todos poderiam ter acesso sem a necessidade de elevar o gasto público ou realizar transferências para as famílias que, invariavelmente, se tornam as mais ricas. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 85 4. PROVISÃO PÚBLICA VERSUS PRIVADA Para aqueles que se beneficiam da educação superior, o que importa é a qualidade da educação recebida e o seu custo privado. Do ponto de vista do beneficiário, dada uma qualidade e um custo, pouco importa se a provisão do serviço é pública ou privada. Portanto, qual a racionalidade para a provisão pública? Se o setor público quer subsidiar a educação superior de alguns, então, por que ele não se limita a pagar parcialmente ou integralmente pelos serviços oferecidos privadamente àqueles que deseja beneficiar? A seguir, buscamos discorrer sobre a racionalidade para a provisão pública e privada da educação superior. 4.1 PROVISÃO PÚBLICA Existem algumas justificativas para a participação do setor público na produção da educação superior, e o que todas têm em comum é a necessidade de corrigir falhas de mercado. Nenhuma, entretanto, parece muito convincente. A primeira seria a necessidade de controlar o custo e a qualidade dos serviços oferecidos. Se o governo necessita controlar o custo e a qualidade, pode ser muito útil que ele próprio participe da produção, pois desta forma ele terá melhores informações sobre todo o processo produtivo. No caso da educação superior, esta justificativa é discutível, em primeiro lugar, porque o mercado é bastante competitivo e, portanto, existe pouca racionalidade para regular o custo e a qualidade. Em segundo lugar, mesmo que se deseje regular essas dimensões do processo produtivo, ambas podem ser facilmente mensuráveis, em particular, porque no caso da educação superior esse processo é bastante transparente e a qualidade é relativamente de fácil mensuração. Existe no país uma tradição ampla para a ordenação de instituições de ensino superior segundo a qualidade e a excelência dos serviços que oferece. Uma segunda justificativa seria a ausência de interesse do setor privado pelo setor. Esta justificativa no Brasil encontra pouca fundamentação, uma vez que a participação do setor privado é muito maior que a do setor público e crescente. No Brasil, o investimento privado no setor parece sempre ter sido limitado por regulamentações e impedimentos legais, mas jamais por falta de interesse. 86 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 Por fim, uma justificativa comumente apontada para a participação do setor público é a qualidade e a excelência. Apenas o setor público teria condições de prover serviços realmente de qualidade e em áreas como medicina e engenharia, onde o custo pode ser muito elevado. A experiência internacional e crescentemente também a nacional indicam que o setor privado é capaz de oferecer um amplo leque de serviços, indo desde cursos noturnos de baixo custo e qualidade limitada até cursos de medicina e engenharia em tempo integral e de altíssima qualidade. Quando cursos em determinadas áreas, como medicina, são muito custosos e geram grandes externalidades, é necessário subsidiá-los para que a demanda seja socialmente satisfatória. A necessidade de subsidiar, entretanto, não implica que a produção tenha que ser estatal. O subsídio deveria ir para a produção do serviço independentemente de a produção ser pública ou privada. Ainda mais difícil de justificar é a opção por subsidiar apenas os serviços oferecidos pelo setor público. Em princípio, o que justifica o subsídio à educação é a externalidade ou a situação de pobreza do beneficiário, não importando se a educação está sendo adquirida numa universidade pública ou privada. 4.2 O SETOR PRIVADO HOJE Se, por um lado, a racionalidade para a provisão pública de educação superior é limitada, por outro lado o monopólio público na provisão de educação superior não parece ter qualquer justificativa. No Brasil, a participação privada é elevada e crescente, tendo passado de 56% em 1994 para 72% das matrículas totais em 2004, e de 63% para 78% no caso das matrículas iniciais16. Dada a qualidade dos serviços públicos e a capacidade de expansão do setor privado, o sucesso da educação superior vai depender do estímulo a uma concorrência produtiva entre os dois setores17. É fundamental que o setor privado seja capaz de elevar continuamente a qualidade dos serviços oferecidos e que o setor público recupere sua capacidade de investimento e expansão. 16 Ver MEC (2005). Sinopse Estatística da Educação Básica. 17 Para uma discussão a respeito de como os recursos públicos podem ser utilizados para promover a educação no setor privado, ver Levin (2000). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 87 O sistema atual, onde acesso implica necessariamente gratuidade, limita a capacidade de concorrência do setor privado com o setor público. Neste caso, mesmo que a qualidade nestes dois setores seja igual, todos que tiverem acesso à universidade pública, em particular os melhores alunos, vão preferi-la, dado que é gratuita. Igual qualidade a um menor custo, quem preferiria o setor privado? No sistema atual, a única forma de o setor privado competir com o público e atrair os melhores alunos é oferecer uma educação de maior qualidade ou maiores conveniências em termos de horário, local e especialidades. O setor privado necessita oferecer serviços de qualidade muito mais elevada para poder atrair alunos com acesso ao setor público, ou seja, o diferencial de qualidade tem que compensar o diferencial de custo. Evidentemente que a maior eficiência do setor público torna a missão do setor privado quase impossível. Como competir com um concorrente que tem seu produto subsidiado? Todos que têm a oportunidade, e aí estão praticamente todos os melhores estudantes, acabam por escolher o setor que é subsidiado. Outra limitação importante causada pela restrição dos subsídios aos serviços publicamente oferecidos é o uso da infra-estrutura privada para o atendimento aos mais pobres. No sistema atual, como os recursos públicos beneficiam apenas as universidades públicas, aqueles que buscam atendimento gratuito só podem ser atendidos por estas instituições. Uma pessoa pobre que só tenha condições de freqüentar a universidade quando subsidiada teria como sua única opção ser admitida numa universidade pública. Note que esta não é a forma como funciona o sistema de saúde no Brasil, onde o SUS garante ao beneficiário a opção de escolher entre instituições públicas ou privadas devidamente cadastradas e os recursos públicos fluem para as instituições de acordo com a população atendida e o tipo de serviço prestado, independentemente de serem públicas ou privadas. O Pro-Uni é, em certa medida, um passo nesta direção, onde o setor privado se compromete a dar bolsas de estudo para estudantes de famílias relativamente pobres selecionadas pelo setor público. Na medida em que estas bolsas representam renúncia fiscal, recursos públicos estão sendo direcionados para o setor privado. Como o número de bolsas é predeterminado por ins- 88 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 tituição, os recursos ainda continuam atrelados às instituições e não aos beneficiários. Na medida em que os subsídios públicos sejam outorgados aos alunos independentemente da escolha de uma instituição pública ou privada, e na medida em que a disponibilidade de crédito educativo se expande, não apenas os recursos públicos vão fluir em maior quantidade para a universidade privada como, também, ela poderá competir em igualdade de condições com a pública. Neste caso, o custo percebido por qualquer aluno com opção de acesso aos dois setores será o mesmo. Se o grau de subsídio estiver atrelado ao aluno e não à instituição, este vai sempre optar pelo serviço de melhor qualidade ou o mais adequado aos seus interesses e necessidades. Por outro lado, o fim da gratuidade da universidade pública e a expansão do crédito educativo podem expandir a disponibilidade de recursos para a universidade pública e lhe dar capacidade de investimento e expansão da oferta de serviços. 5. O PROCESSO DE SELEÇÃO: ACESSO E GRATUIDADE Na medida em que não é possível garantir acesso universal gratuito, isto é, na medida em que a disponibilidade de vagas e os recursos públicos são limitados, a seleção daqueles que terão acesso à educação superior e, dentre estes, aqueles que terão acesso gratuito, é fundamental para garantir a efetividade e a eqüidade no sistema. É fundamental separar estes dois processos seletivos. Em princípio, os critérios para garantir prioridade no acesso deveriam ser distintos daqueles para a gratuidade. No caso da universidade pública brasileira, estes dois processos foram desnecessariamente unificados. Aqueles que têm acesso têm automaticamente a gratuidade. Curiosamente, é no caso da educação superior privada, onde esses dois processos são tratados separadamente. Dentre os estudantes selecionados, alguns recebem uma bolsa de estudo da própria instituição, outros recebem crédito público subsidiado, e outros pagam integralmente pelos serviços. Uma vez reconhecida a necessidade de distinção entre estes dois processos de seleção, resta discutir os critérios que deveriam ser utilizados em cada caso. Este é o objetivo das próximas subseções. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 89 5.1 CRITÉRIOS DE ACESSO Na medida em que não existem vagas no ensino superior para atender todos os que desejam freqüentá-lo, como decidir quem deve ter prioridade? Como o custo do atendimento é essencialmente independente do beneficiário, aqueles cujo atendimento leva ao maior benefício social deveriam ter prioridade. Portanto, o importante não é o quanto um indivíduo se beneficia privadamente da educação superior, mas o benefício social gerado. Assim, na medida em que as externalidades da educação são maiores nas áreas pobres e no interior do país, deveria-se dar prioridade a candidatos originários destas áreas, caso estes tenham maior probabilidade de retornar a elas. É também importante ressaltar que o benefício da educação superior não é igual ao seu valor adicionado. Este benefício deve ser medido pela diferença entre o valor adicionado da educação superior e o benefício líquido da melhor alternativa disponível. Assim, mesmo quando o valor adicionado é elevado, o benefício da educação superior pode ser limitado, caso na impossibilidade de freqüentá-la o candidato tivesse uma alternativa que lhe garantisse benefícios similares. Por exemplo, para um jovem que pudesse obter crédito subsidiado para ir à universidade ou para abrir um pequeno negócio, o benefício líquido da universidade seria o valor adicionado descontado o benefício que o pequeno negócio lhe traria. Evidentemente que nesse exemplo estamos considerando as duas alternativas como excludentes. Caso fosse possível ir à universidade e depois abrir o pequeno negócio, então, abrir o negócio não seria uma alternativa à universidade. Nesse caso, a alternativa seria apenas abrir um negócio mais cedo, e, portanto, o benefício dependeria de que diferença faria o momento em que o negócio é aberto. A seguir, trazemos algumas reflexões sobre os critérios de acesso à educação superior. 5.1.1 Ótimo social e meritocracia Seria meritocrático um sistema de prioridade baseado no benefício social? Na medida em que o benefício está relacionado ao que vai 90 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 acontecer no futuro e o mérito está relacionado com o que foi feito no passado, a prioridade baseada no benefício líquido não seria uma regra intrinsecamente meritocrática. É evidente que, na medida em que o benefício do acesso à universidade esteja altamente correlacionado com o desempenho educacional passado, pode ser que operacionalmente a melhor forma de priorizar o benefício social líquido seja priorizar o desempenho escolar passado. É importante reconhecer que, neste caso, a natureza meritocrática do processo é apenas instrumental. A impossibilidade de se medir o impacto futuro do acesso nos obriga necessariamente, do ponto de vista operacional, a conceber sistemas de seleção baseados no passado. A questão é, portanto, que aspectos do passado são mais indicativos do impacto que o acesso à educação superior terá no futuro. Em que medida o desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou no vestibular, em geral, é um bom indicador dos benefícios futuros? Na medida em que o benefício social da educação superior é determinado pelo nível de conhecimento na entrada, e na medida em que o Enem ou os vestibulares medem adequadamente este nível de conhecimento, esses instrumentos servirão como excelentes critérios de seleção. Entretanto, pode ser que o benefício da educação superior dependa muito mais da velocidade com que uma pessoa consegue acumular conhecimentos do que propriamente do seu nível atual. É evidente que se todos partiram do mesmo ponto e dedicaram igual esforço, então, diferenças atuais de conhecimento identificam diferenças de velocidade na sua acumulação. Neste caso, o Enem continuaria a ser um excelente critério para seleção. 5.1.2 Ambiente familiar, situação inicial e taxa de acumulação O que dizer do Enem, entretanto, se os pontos de partida forem distintos, ou se a hipótese da continuidade do esforço não for verdadeira. Quando o que importa é a taxa de acumulação de conhecimento, o ambiente familiar pode ser importante e deveria ser levado em consideração explicitamente no processo de seleção. Dois casos polares merecem particular atenção. Por um lado, podemos ter uma situação onde diferenças de ambiente familiar têm um impacto substancial sobre as condições iniciais, mas não sobre a taxa de acumulação. Neste caso, se Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 91 dois candidatos provenientes de ambientes familiares muito distintos têm níveis de conhecimento similares, aquele com pior ambiente familiar terá certamente uma taxa de acumulação muito maior, mesmo que atualmente ainda apresente um nível de conhecimento inferior. Neste caso, se o objetivo é priorizar os candidatos com maior taxa de acumulação de conhecimento, o processo de seleção deve ajustar o nível de conhecimento atual por diferenças no ambiente familiar. Por outro lado, podemos ter uma situação (talvez a mais provável) em que o ambiente familiar, em vez de diferenciar as condições iniciais, tem impacto sobre a taxa de acumulação de conhecimento. Assim, crianças pobres cujos pais têm baixa escolaridade acumulam conhecimento mais lentamente. Neste caso, se todos partiram das mesmas condições iniciais, diferenças no nível atual refletem diferenças na taxa de acumulação e, portanto, o Enem e processos seletivos similares podem ser ideais. Neste caso, o sistema educacional certamente perpetua as desigualdades existentes. Entretanto, a solução não estaria em mudar o sistema de seleção, e sim o processo educacional anterior (educação básica), de tal forma que crianças e adolescentes de diferentes ambientes familiares tivessem as mesmas chances de acumular conhecimento. Sem mudanças no sistema, o impacto social da educação superior sobre candidatos oriundos de ambientes familiares mais pobres será inferior ao impacto sobre candidatos cujos ambientes familiares são mais ricos, levando a que o uso da educação superior para reduzir desigualdade, neste caso, tenha importantes custos para a eficiência. 5.1.3 Substitutibilidade do esforço Mesmo entre candidatos oriundos de ambientes familiares similares, o uso de critérios como o Enem pode não ser adequado quando existem importantes diferenças de esforço, e o critério ideal é a taxa de acumulação, e não o nível de conhecimento. Por exemplo, se por motivos médicos ou por falta de serviços educacionais um adolescente não acumulou conhecimento durante parte de sua vida, seu nível atual de conhecimento não é um bom indicador de sua capacidade de acumular conhecimento. Na medida em que estes eventos forem superados, um candidato com pior desempenho no Enem 92 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 pode ter maior taxa de acumulação, e daí um maior benefício social de freqüentar a educação superior. Da mesma forma, alguém que estudou três anos consecutivos para o vestibular pode ter um maior conhecimento no momento do vestibular do que um outro candidato bem mais jovem e com maior potencial para a educação superior. Deve-se levar em consideração o número de tentativas? Em alguns países como a França, por exemplo, existe um número máximo de tentativas permitidas. Em geral, o princípio que guia o processo seletivo para a educação superior é o da complementariedade entre os níveis. Acredita-se que um bom desempenho nos níveis inferiores seja um bom indicador do desempenho nos níveis superiores. Assim, quanto melhor for o aluno no nível anterior, maior o impacto no nível subseqüente. Entretanto, pode existir alguma dose de substituição entre os níveis. O impacto sobre os alunos não tão bons nos níveis inferiores pode ser maior do que sobre os melhores alunos se existe a possibilidade de recuperação. 5.1.4 Critério de acesso e incentivos Na medida em que existem externalidades associadas à educação em todos os níveis, é necessário subsidiá-la, aumentando os incentivos das famílias para investirem em educação. Na medida em que estes subsídios são insuficientes para estimular a demanda por educação, é necessário apelar para outros incentivos. Como tipicamente os retornos privados da educação são maiores nos níveis mais elevados, se o acesso aos níveis subseqüentes depender do desempenho nos níveis anteriores, o próprio processo de seleção pode incentivar o esforço das crianças e dos jovens. Como o nível superior é aquele com maiores retornos privados e menor disponibilidade de vagas, o processo de seleção adotado pode ter grandes conseqüências sobre o esforço educacional dos candidatos nas etapas educacionais anteriores. De fato, existem poucas dúvidas de que o vestibular estimula o desempenho no médio, embora este estímulo não deva ser universal. Aqueles com poucas chances devem se sentir desestimulados e reduzir seu esforço. De qualquer forma, não se pode esquecer que o processo de seleção para o ensino superior tem conseqüências sobre o desempenho Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 93 dos candidatos nos níveis anteriores que devem ser levados em consideração no seu desenho. Muito da discussão sobre o sistema de cotas é exatamente sobre os incentivos e impactos que poderia ter sobre o desempenho educacional dos grupos que busca favorecer. Mesmo que todos os candidatos fossem gerar o mesmo benefício social tendo acesso à educação superior, poderíamos querer um sistema meritocrático de seleção que estimule os candidatos a elevarem seu esforço educacional na educação fundamental e principalmente na média. Se o conhecimento fosse observável e dispensasse credenciais, se todos os benefícios da educação fossem privados, e se as famílias, crianças e adolescentes fossem racionais e não míopes, não haveria necessidade de se estimular o esforço educacional. Os estudantes se esforçariam porque perceberiam que vale a pena ou porque perceberiam que precisam se esforçar para terem o reconhecimento que desejam. Entretanto, se alguma destas três condições não for verificada, é necessário incentivar o esforço. Quando o conhecimento não é perfeitamente observável, cada instituição educacional necessita estimular seus alunos para que as credenciais outorgadas pela instituição tenham valor e sejam reconhecidas publicamente, em particular, no mercado de trabalho e pelas instituições de nível superior. Na medida em que as famílias são míopes, estímulos adicionais vão elevar o esforço e o bem-estar de seus membros. De maior importância para este estudo, a presença de externalidades leva a que nem todos os benefícios da educação sejam privados e, portanto, torne-se necessário estimular o esforço privado para que se atinja o valor socialmente desejado. Em suma, via de regra, o processo de seleção tem um duplo papel. Por um lado, deve buscar priorizar aqueles que maior benefício social vão gerar, e, por outro, serve para incentivar os candidatos a elevarem seu esforço educacional. É evidente que um único instrumento é incapaz mesmo se toda a informação necessária estivesse disponível de cumprir as duas tarefas com perfeição. O ideal seria subsidiar a educação o suficiente para garantir o esforço adequado, e utilizar o processo de seleção para a universidade apenas para maximizar o seu benefício social. 94 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 5.2 CRITÉRIOS DE GRATUIDADE Na medida em que o benefício da educação não é integralmente apropriado privadamente, existem externalidades e, por conseguinte, é necessário subsidiar a educação superior. Vale ressaltar que, neste caso, o subsídio deve ser universal e não restrito a universidades públicas. Em princípio, as universidades privadas geram tantas externalidades quanto as públicas. Na medida em que a magnitude das externalidades varia com o tipo de curso, profissão ou tipo de aluno, o grau de subsídio deve seguir o mesmo padrão. Dadas duas profissões com o mesmo valor social, aquela em que uma menor proporção deste valor é privadamente apropriada deveria ser a mais subsidiada. À parte das externalidades, imperfeições no mercado de crédito podem requerer também a participação governamental no financiamento da educação superior. Educação superior é um investimento elevado para qualquer família. Por isso requer a disponibilidade de poupança ou de crédito. A falta de capacidade de poupança própria e a existência de um mercado de crédito imperfeito podem levar as famílias a subinvestirem em educação superior. Vale ressaltar que o elevado custo da educação superior não é uma justificativa para gratuidade universal, da mesma forma que o alto custo de um automóvel ou de uma casa não é justificativa para a gratuidade na sua aquisição. O fato de as famílias mais ricas terem dificuldade de financiar a educação superior de seus filhos a partir de sua renda corrente apenas indica que elas devem poupar recursos para este fim, da mesma forma como o fazem quando desejam comprar uma casa ou um automóvel. Nos países onde a educação superior não é gratuita, verifica-se que as famílias mais ricas começam a poupar desde cedo com este fim específico. Boa parte da população, entretanto, não teria condições de poupar o suficiente para financiar a educação superior de seus filhos. Neste caso, a primeira opção é o crédito. Entretanto, como o mercado de crédito para investimentos em capital humano tende a ser imperfeito ou inexistente, é fundamental contar com recursos ou garantias públicas para o crédito educacional. Fora o subsídio motivado pela presença de externalidades, nenhum subsídio adicional seria necessário. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 95 Em princípio, mesmo as famílias mais pobres não necessitam de nada mais do que a garantia de acesso a crédito. Qualquer subsídio adicional serviria apenas como uma bem-vinda redistribuição de renda. Uma transferência para os mais pobres seria útil para reduzir a desigualdade, mas irrelevante para o bom funcionamento do sistema educacional. 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: AFINAL, QUEM SE BENEFICIA E QUEM DEVERIA SE BENEFICIAR DA EDUCAÇÃO SUPERIOR? Ter acesso à educação superior já é um grande privilégio, na medida em que eleva a renda, melhora as condições de vida e reduz a taxa de mortalidade, entre outros benefícios. Ter acesso subsidiado e a uma universidade de melhor qualidade é, portanto, um triplo privilégio, uma vez que o indivíduo se apropria privadamente dos benefícios de um serviço de alta qualidade sem a necessidade de incorrer em todos os custos. Como o custo de uma universidade privada, em geral, é superior a R$ 20 mil por aluno, o valor do acesso às universidades públicas deve superar este valor, visto que os serviços são supostamente de melhor qualidade. Trata-se, portanto, de um benefício substancial. Em valores mensais, equivale a uma transferência superior à renda per capita do país. Um jovem que vivesse apenas com esta renda estaria entre os 25% mais ricos da população. Dada a magnitude do benefício e uma racionalidade discutível para sua existência, é importante identificar quais os grupos sociais que dele se beneficiam. Se forem os mais pobres, este subsídio está sendo útil pelo menos para reduzir a desigualdade existente. Entretanto, apesar da disponibilidade destes subsídios, os grupos mais pobres continuam encontrando grande dificuldade para ter acesso à educação superior. Os mais ricos utilizam este acesso subsidiado para reproduzir a elevada desigualdade existente. De fato, 95% dos universitários brasileiros vivem em famílias pertencentes aos 10% mais ricos do país, famílias estas que, apesar de representarem apenas 1/10 da população do país, se apropriam de metade da renda nacional. Qual a necessidade deste grupo de ter educação subsidiada quando sua renda é 20 vezes maior do que a dos 20% mais pobres no país? É difícil identificar qual a racionalidade deste triplo privilégio que beneficia os jovens mais ricos no país, freqüentadores, em sua maioria, de um 96 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 ensino fundamental e médio em escolas privadas. Seja lá qual for a racionalidade, este privilégio seguramente pouco poderia fazer para reduzir a elevada desigualdade existente no país. Se, por um lado, os subsídios à educação não devem se concentrar nas mãos deste grupo, por outro lado, se o objetivo é subsidiar a educação da população mais pobre, e sendo esta mais numerosa, é imprescindível que o seu atendimento não fique limitado aos serviços providos pelo setor público. Toda oferta pública e privada deve estar igualmente acessível a essa população. Assim, é recomendável que o crédito e o subsídio estejam atrelados ao beneficiário, independentemente da instituição de destino ser pública ou privada, embora o subsídio possa depender da qualidade da instituição e do curso ou profissão selecionada. Nesse caso, cada beneficiário teria um subsídio de, por exemplo, R$ 400 ao mês, que poderia ser utilizado para pagar tanto uma universidade pública como privada. O contraponto deste argumento é que, nesse caso, os não-pobres admi tidos na universidade pública teriam que pagar por sua educação. O mesmo argumento também seria válido se o subsídio fosse distribuído segundo o mérito. Os melhores alunos seriam aqueles que teriam acesso ao subsídio, não importando se eles vão optar por uma universidade pública ou privada. Mantido o critério de excelência, o subsídio deveria ir para o estudante. Em suma, é importante reconhecer que os subsidiados devem ser determinados grupos sociais e não instituições públicas que produzem o serviço. O grau de subsídio aos setores públicos e privados vai, então, depender da capacidade destes dois setores de atrair ou dar acesso aos grupos sociais que se deseja subsidiar. Portanto, não se deve discriminar o setor privado na concessão dos subsídios, o qual deve apenas depender da população atendida e da qualidade e composição dos cursos oferecidos. É importante também reenfatizar a separação entre acesso à educação superior e acesso à gratuidade quando se discute a prioridade que se deve dar aos mais pobres. Não parece haver dúvida de que, entre aqueles com acesso à universidade, os mais pobres devem ter prioridade à gratuidade ou ao crédito subsidiado. Esta prioridade evidentemente não implica que os pobres devam também ter acesso prioritário à educação superior. É perfeitamente possível que num sistema onde pobres e não-pobres compe- Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 97 tem em igualdade pelo acesso às vagas disponíveis, uma vez definido os que vão ingressar na universidade, os mais pobres tenham então acesso prioritário à gratuidade ou aos subsídios existentes. Se existe pouca controvérsia sobre a prioridade dos mais pobres à gratuidade e ao crédito subsidiado, o mesmo não é verdade sobre a adequação de regras de prioridade para eles no acesso à educação superior. Acima vimos que o processo ideal de seleção é o que prioriza os indivíduos associados a um maior benefício social. Vimos que quando o benefício social está associado à taxa de acumulação de conhecimento e o ambiente familiar tem impacto preponderantemente sobre as condições iniciais, pode ser recomendável utilizar como critério de seleção uma medida do nível atual de conhecimento ajustada pelo ambiente familiar. Existem, entretanto, argumentos em prol de se priorizar o acesso aos mais pobres, mesmo entre candidatos com igual benefício social. Quanto custaria a universalização? Educação superior gratuita é um grande investimento nos jovens. A um custo de R$ 5 mil por ano, educação superior completamente gratuita seria equivalente a uma transferência de R$ 20 mil por jovem, considerando cursos de 4 anos. Se a educação superior não é um bem público e a maioria de seus benefícios é privadamente apropriada, todos os jovens universitários deveriam receber este benefício ou apenas os mais pobres? Por que apenas os em universidade pública deveriam ser subsidiados? Por que aqueles em universidades privadas não deveriam ser igualmente tratados? Por que os que seguem outras trajetórias não merecem receber um benefício similar? É inquestionável a importância para se reduzir as desigualdades no país de se garantir a cada jovem uma transferência de R$ 20 mil para que possa iniciar sua vida. A questão é o custo de garantir esta transferência a todos os jovens e não apenas àqueles que freqüentam educação superior pública. Atualmente apenas estes recebem este benefício. Se garantido a todos os jovens universitários brasileiros, este programa custaria R$ 25 bilhões ao ano. Se garantido a todos os jovens, independentemente se freqüentam ou não universidade, o custo anual seria de R$ 70 bilhões. Se o benefício se limitasse aos jovens pobres, o custo passaria a ser de R$ 28 bilhões ao ano. 98 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 Referências BELFIELD, Clive R. Economic principles for education: theory and evidence. Cheltenham, UK: E. Elgar, 2000. Brasil. Ministério da Educação e Cultura. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB): 1995, 1999, 2001, 2005. Brasília, DF. DIAS, Marco Antonio R. Comercialização no ensino superior: é possível manter a idéia de bem público? Educação & Sociedade, Campinas, v. 24, n. 84, p. 817-838, set. 2003. IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad): 1982 a 2006. Rio de Janeiro. INEP. Sinopses estatísticas da educação básica: 1994 a 2005. Disponível em: <http://www.edudatabrasil.inep.gov.br>. INEP. Sinopses estatísticas da educação superior: 1994 a 2005. Disponível em: <http://www.edudatabrasil.inep.gov.br>. LEVIN, Henry M. The public-private nexus in education. New York: Columbia Univ., 2000. (Occasional paper, 1). PACHECO, Eliezer; RISTOFF, Dilvo I. Educação superior: democratizando o acesso. Brasília, DF: INEP, 2004. (Textos para discussão, 12). SCHWARTZMAN, Simon. A revolução silenciosa do ensino superior. In: SEMINÁRIO SOBRE O SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO EM TRANSFORMAÇÃO, 2000, São Paulo. São Paulo: USP, NUPES, 2000. STIGLITZ, Joseph E. Economics of the public sector. 2nd ed. New York: Norton & Company, 1998. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 76-99 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 99 ENTRE A ESPERANÇA E A REALIDADE SOBRE A ARTE E O SEU ENSINO Ronaldo Rosas Reis 100 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 O artigo aborda o tema da relação entre a produção artística e a produção do conhecimento estético. Em linhas gerais, seu objetivo é ampliar o debate sobre a necessidade e a urgência da presença da arte no currículo escolar no Brasil. Para isso, o texto analisa criticamente a formação do telos estético e pedagógico da moderna burguesia industrial, a partir do exame das idéias estéticas de Hegel. No seu desenvolvimento, o texto problematiza as relações sociais de produção artística no Brasil, apontando, na conclusão, para a problemática posição pós-moderna das concepções presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais da área de Arte (PCN-Arte). This article approaches the subject of the relation between the artistic production and the production of the aesthetic knowledge. In general lines its objective is to extend the debate on the necessity and the urgency of the presence of the art in the pertaining to school resume in Brazil. For this, the text critically analyzes the formation of the telos aesthetic and pedagogical of the modern industrial bourgeoisie, from the examination of the aesthetic ideas of Hegel. In its development, the text its criticizes the social relations of artistic production in Brazil, pointing, in the conclusion, with respect to the problematic postmodern position of the conceptions gifts in the National Curricular Parameters of the area of Art (PCN-Art). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 101 1. introdução No momento em nos aproximamos de uma década da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais da área de Arte (PCN-Arte)1, pensei no interesse que poderia despertar junto a um público leitor mais amplo do que somente os professores de arte uma abordagem crítica sobre o tema da relação entre a produção artística e a produção do conhecimento estético na contemporaneidade. É bem verdade que a lembrança da data não oferece muitos motivos para comemorações. Conforme veremos mais adiante, o quadro de indigência em que se encontra a arte no currículo escolar da maioria das escolas brasileiras exige muita atenção e cuidado, o que nos tem mantido permanentemente em suspensão, entre a esperança e a realidade. Portanto, é preciso salientar que tal pensamento acerca do possível interesse do leitor pelo tema foi motivado principalmente pela necessidade e pela urgência. Necessidade de debater questões que possam contribuir para que o leitor pouco familiarizado com o tema sinta-se convidado a conhecê-lo e à vontade para refletir sobre o papel da arte na formação humana. E, quem sabe, animado para juntar-se aos professores de arte na luta que há décadas travam com as autoridades educacionais brasileiras e um número extraordinariamente significativo de dirigentes de escolas públicas e privadas. Urgência porque me parece óbvio que, a se levar em consideração o estágio em que se encontra o processo de integração efetiva da arte ao currículo escolar, em breve o dispositivo da LDBEN que trata do assunto será mais uma matéria ociosa “para inglês ver”, dentre tantas outras neste país2. De outra forma, a despeito da necessidade e da urgência mencionadas, a natureza deste tema e sua história no Brasil obrigam-me a prestar ao leitor um esclarecimento – que soa quase como uma advertência – quanto às posições estéticas e pedagógicas em disputa. Portanto, se é certo que a integração efetiva da arte no currículo 1 Cf. BRASIL/MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte. Brasília: MEC, 1998. 2 O §2º do artigo de número 26 da lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) dispõe que “o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. 102 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 escolar é uma luta de todos os artistas e educadores brasileiros e dos professores de arte em especial, não menos certo é que, conquistado esse objetivo comum, devemos todos aprofundar o debate em torno das diferentes concepções de arte e de educação. Neste sentido, o texto que apresento a seguir retoma, por um lado, antigas polêmicas que aparentemente foram superadas pela “vitória de Pirro” representada pela inclusão da arte na atual LDBEN, em 1996, e pela edição do PCN-Arte, em 1998. Por outro lado, o texto pretende antecipar questões que me parecem fundamentais numa discussão sobre a arte e o seu ensino no sistema pós-moderno. 2. Roteiro O roteiro de abordagem do tema começa com uma breve busca de elementos para uma reflexão sobre a arte e o seu papel histórico na formação cultural da moderna burguesia industrial na passagem do século XVIII para o XIX. Chamei-o de “Arte e sistema de arte”, pois nele pretendo revisar criticamente alguns pontos centrais das idéias estéticas de Hegel, especialmente aquelas que ofereceram as contribuições mais decisivas para o dimensionamento ético e estético do lócus histórico da identidade cultural burguesa. Isto é, o elemento que faltava a esta classe para o seu rompimento definitivo com os laços que mantinha com a cultura do ancien régime aristocrático. Na seqüência deste estudo inicial, mas ainda na mesma seção, analisarei criticamente a repercussão das idéias daquele pensador no curso da trajetória da construção daquele lócus já no século XX. De um modo especial, a análise crítica buscará, de um lado, problematizar a função do telos organizador do trabalho e da produção de arte num sistema e, de outro lado, problematizar o papel central da ideologia estética no processo de formação das idéias educacionais em arte ao longo do século XX. O terceiro momento da abordagem do tema abre a segunda grande seção deste trabalho. Chamada de “Arte e ensino de arte no Brasil”, nela o leitor encontrará os elementos das questões mais gerais examinadas na seção anterior deslocadas para o exame das questões particulares da arte e do ensino de arte no Brasil que me Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 103 parecem mais relevantes. Ora, como a partir da década de 1970 as relações sociais de produção passaram a assumir aceleradamente a atual forma globalizada, não foi por outro motivo senão metodológico que optei por tratar da problemática pós-modernista nesta seção. Dessa forma, além de analisar resumidamente a formação do meio de arte burguês em nosso país sob as condições modernas e pós-modernas, o texto busca, enfim, problematizar o método de análise da realidade que orienta o PCN-Arte. A despeito da posição multiculturalista e inclusiva explicitada no texto do PCN-Arte, o principal objetivo aqui é situar o leitor em face da problemática contradição dos seus autores ao desconsiderarem na análise da trajetória histórica da arte e do seu ensino no Brasil questões relativas à propriedade dos meios de produção e à classe, dentre outras mais. Como último passo deste roteiro, procuro concluir reforçando junto ao leitor algumas idéias que me parecem importantes de serem debatidas nos diversos fóruns onde se faz presente a luta pela inclusão efetiva da arte na escola. Antes de finalizar esta introdução, não poderia deixar de salientar que parte das idéias que procuro apresentar aqui vem sendo debatida já há algum tempo em fóruns de educadores e pesquisadores no Brasil e no exterior3. Neste sentido, eu destacaria os textos Trabalho de arte e a arte do trabalho (2003), Trabalho improdutivo e ideologia estética (2005) e A abelha, o arquiteto e a escola (2006) como aqueles que compõem o núcleo principal das idéias que aqui apresento4. Já outras idéias mais recentes, algumas em teste de amadurecimento, fazem parte do atual estágio de desenvolvimento das pesquisas científicas e estudos acadêmicos que venho realizando como professor associado da Faculdade de Educação da UFF e também como pesquisador do CNPq5. A importância deste esclarecimento se faz na medida mesma 3 Dentre outros, as reuniões anuais da ANPEd (Associação Nacional de Pesquisa em Educação) e encontros (congressos, seminários, colóquios etc.) de estudiosos do pensamento de Marx e Engels. 4 Cf. referências bibliográficas ao final do artigo. 5 Tal pesquisa e estudos sobre a relação trabalho, arte e educação são realizados no âmbito do Núcleo de Estudos, Documentação e Dados sobre Trabalho e Educação da UFF (Neddate-UFF). Cf. REIS, R. R. www.uff.br/neddate/ronaldo_rosas_reis. 104 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 em que a condição pós-moderna, expressão lógica da cultura sob o capitalismo tardio, impõe de forma avassaladora sobre os indivíduos e suas idéias os paradigmas da produtividade a qualquer preço e da obsolescência programada. Desnecessário seria detalhar a corrida insana de parte da intelectualidade para cumprir prazos e metas produtivistas com prejuízos evidentes para a ciência e a cultura do país. Mais importante de tudo é reafirmar que toda idéia nova e mesmo algumas mais antigas precisam, sobretudo, de tempo para circular livremente. 3. ARTE E SISTEMA DE ARTE 3.1 Hegel: a arte como sistema de idéias Pensar a arte para além dos limites impostos pela subjetividade religiosa medieval. Extrair dela um sentido histórico, uma razão de ser-no-mundo. Elevá-la ao patamar das ciências elevando o seu estatuto teleológico. Se fosse possível estabelecer uma ementa resumida da Estética, a grandiosa obra escrita por Hegel (1770-1831) no início do século XIX, estes seriam os pontos centrais a serem abordados. Em verdade, a grande inovação que Hegel trazia era o desenho do corpus teórico de uma história social da arte, cujos fundamentos se assentavam na originalidade do método dialético de abordagem da realidade, rompendo com a tradição kantiana racionalista e empiricista da sua época. Pode-se dizer, neste sentido, que a tarefa de Hegel teve um caráter estratégico para a emergente cultura do homem burguês, na medida em que oferecia à arte, à música e à literatura e poesia um sentido histórico ou telos estético6. Isto é, um sentido vital que expressasse de forma coerente a vida social sob o capitalismo. Ao fundo, o que a teleologia de Hegel buscava era educar a coletividade humana para as Belas-Artes, a Bela-Música, as Belas-Letras etc., constituindo isso num fim que 6 A propósito disso, vale dizer que, não obstante a originalidade filosófica de Hegel, é evidente na sua obra a influência dos poetas e pensadores românticos, como Goethe, e, principalmente, as famosas cartas da Educação Estética do Homem, de Friedrich Schiller (1759-1805). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 105 seria traduzido na formação de público para o calendário oficial da cultura artística promovido pelo Estado, composto de salões, óperas, saraus e respectivas premiações anuais7. Para tanto, Hegel diria que, sob o domínio da razão, a vontade coletiva, a moral, o direito, a política do homem burguês vitorioso no seu projeto republicano são artefatos culturais que se expressam mediante um discurso estético. A ideologia, no sentido indicado por Hegel, nada mais seria do uma representação do modo como o homem concebe o mundo. Em última análise, para ele, toda ideologia é estética. Um pouco mais adiante será necessário retomar este ponto. Por ora, é importante salientar que os efeitos das idéias inovadoras de Hegel junto a um número significativo de artistas e arquitetos autônomos, artesãos e oficiais desenhistas empregados nas indústrias européias são avassaladores. Primeiro porque eles já intuíam corretamente que a consolidação do capitalismo e a ascensão da burguesia ao poder político provocariam no médio e longo prazo uma profunda mudança no gosto até então dominado pela estética clerical e aristocrática. Depois porque percebiam que o processo de desenvolvimento das forças produtivas8 que se impunha em face da arte, da arquitetura e do design era um verdadeiro divisor de águas, separando, de um lado, as pesquisas subordinadas ao processo industrial, e, de outro, a experimentação estética formal em busca de autonomia da linguagem visual. Por último, e mais importante, porque o próprio modo de produção da vida burguesa deixava claro que a arte, a arquitetura, os artefatos urbanos e domésticos e tudo mais que o Midas-capitalista tocasse seria transformado em mercadoria. Em suma, assim como a estética de Hegel provocava um abalo profundo no senso comum que orientava o gosto bur- 7 É necessário esclarecer que neste período os setores mais intelectualizados da burguesia encontravam-se preocupados com as crises sistemáticas na sociedade. A guilhotina, o terror, sintetizava tais preocupações. O telos representaria um salto para adiante. Ver HEGEL, G. W. F. Lecciones de estética. Buenos Aires: La Pléyade, 1977. 8 Dentre outras, os novos materiais que surgiam, o acelerado progresso técnico, o acentuado experimentalismo e, fundamentalmente, as novas formas de organização do método e do ambiente de trabalho. 106 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 guês, o artífice moderno queria abolir o ornamento inútil herdado do passado. De fato, em linhas gerais, o que se observou foi um conjunto de mudanças tão surpreendentes e extraordinárias que em pouco tempo a cultura burguesa assumiria uma identidade própria, autônoma e distante do tanto que ainda restava das ruínas do passado aristocrático e feudal. As cidades sofreriam mudanças no planejamento urbano e na arquitetura, adaptando-se ao acelerado processo de desenvolvimento das forças produtivas (a técnica e o trabalho, principalmente); o vestuário e o mobiliário urbano-público e doméstico-privado adaptar-se-iam igualmente às novas funções sociais designadas pelos novos determinantes ideológicos, incluindo o gosto estético9. Neste ponto, se faz necessário retomar a questão da ideologia estética deixada em aberto mais acima, ressaltando que, a despeito do método dialético de Hegel oferecer a possibilidade de apreensão objetiva do mundo sensível, o seu sistema estético enfrentaria, sem sucesso, um impasse frente à categoria totalidade. Com efeito, pois, se por um lado Hegel afirma que a totalidade é a culminância de todo o processo dialético mediante o qual descrevemos o mundo sensível, por outro lado essa totalidade somente alcança o estatuto de uma Verdade Histórica ou Idéia Absoluta se e quando submetida a um conjunto de pré-conceitos ou idéias apriorísticas. Por conseguinte, percebe-se que sob tal condição a totalidade nada mais é do que um mero artefato intelectual ou representação ideal da realidade: uma ideologia estética, conforme salientei anteriormente. Ora, não sendo a totalidade a expressão concreta da realidade, mas, sim, uma idealização determinada pelo aparato ideológico, logo, tanto a concepção de Verdade Histórica quanto a concepção de ideologia em Hegel são formas de consciência parciais da realidade. Formas de consciência que falseiam tanto a realidade concreta como o próprio aparato ideológico utilizado para descrevê-la. Se ao fim e ao cabo a estética de Hegel não conseguiu superar no campo das idéias as contradições internas ao sistema criado, certamente isso não se deve especificamente ao método de análise adotado, a dialética. Mas, sim, como examinaremos a seguir, a um vício de 9 Sobre este assunto, ver SENNET, R. (1989). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 107 origem, qual seja: a sua imersão na tradição idealista a partir da qual o método havia sido desenhado. De resto, um obstáculo para que o exercício do détour para se chegar ao concreto-pensado considerasse centralmente a práxis humana, isto é, o modo como os homens produzem a vida em sociedade, como possibilidade de análise10. 3.2 Sistema de arte e identidade cultural É inegável que as idéias de Hegel deram à incipiente cultura burguesa autônoma do século XIX os fundamentos essenciais para a organização de um sistema educativo do gosto estético amplo e abrangente. Contudo, a expectativa da totalidade alcançada pelo encontro de identidade cultural própria esbarrava em alguns conflitos insuperáveis, tal como a contradição de reunir lado a lado traços conservadores e outros tantos modernizadores no mesmo ambiente cultural. Em conjunto, a classe burguesa encontrava-se diante do seguinte dilema: assumir a rica tradição cultural da aristocracia que derrotara ou construir uma cultura própria, porém empobrecida pela ausência de tradição. Foi assim que, no período de profunda instabilidade republicana que se estende aproximadamente da queda de Napoleão Bonaparte, em 1814, às duas primeiras décadas do século XX, a fração burguesa mais conservadora da sociedade e um número significativo de intelectuais pequenos burgueses consolidaram a força da Academia e dos seus esquemas de legitimação do valor estético da produção artística. Neste sentido, os anos que se seguiram à derrocada do império napoleônico foram justamente aqueles em que os traços conservadores prevaleceriam na organização das instituições oficiais de arte do Estado burguês e de seus esquemas de avaliação e exposição da produção: os Salões Nacionais. É neste período que se observa no meio artístico uma rápida involução dos padrões estéticos da produção associada ao rápido crescimento de uma burocracia acadêmica poderosa, na qual os mestres artistas e artesãos, além de críticos e marchands mais medíocres, pontificariam na definição e direção 10 A idéia de détour compreende o esforço do pensamento dialético de se desviar da pseudoconcreticidade das coisas, como o senso comum, buscando, enfim, o concreto-pensado. Sobre este tema, ver KOSIK, K. (1995). 108 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 hegemônica de um sistema de arte reestruturado e organizado a partir da autoridade estética da Academia11. De fato, se até o período napoleônico a Academia conseguira equilibrar o ímpeto romântico com os rigores morais da norma, a partir de então, com o extraordinário êxodo de alguns dos seus principais mestres, a arte acadêmica oficial limitou-se a repetir gêneros temáticos tão pouco originais quanto eram rigorosas e medíocres as regras impostas para a composição das obras12. Baseado numa forma de narrativa que doutrinava a subjetividade do observador, o “gênero histórico” foi um dos mais apreciados pela fração burguesa conservadora – mas não apenas –, tornando-se uma espécie de balizador dos demais gêneros. E, certamente, tal apreciação deveu-se em grande parte às suas características formais chegadas ao moralismo apologético da ética individual. Se a temática recorrente dos artistas que adotaram o “gênero histórico” variava do sermão pictórico ao relato de façanhas e eventos monumentais como sagrações de generais, grandes batalhas, execuções, bodas, missas, etc., cabe salientar ainda que o estilo marcadamente eclético também deva ser considerado um atrativo a mais deste gênero de pintura para os olhos burgueses. Conforme observei em outro trabalho, a nostalgia dos estilos do passado era organizada pela Academia sob o paradigma do “neo” – neoclassicismo, neogótico, neobarroco etc., além do paladianismo muito adotado pelos arquitetos e paisagistas ingleses para reviver estilisticamente a Idade Média e a Antiguidade pré-clássica13. Sob o peso de uma “autoridade histórica” artificial que aliviava 11 As raízes do sistema de arte remontam ao comércio de objetos artísticos no século XVII, quando então surgiu entre os rentistas e os mecenas da época a necessidade de se estabelecerem parâmetros e critérios para o valor de troca (valor de mercado) de tais objetos. O pressuposto do sistema de arte refere-se a uma única condição: manter e controlar o capital cultural da classe dominante. Sua tarefa principal é qualificar um objeto quanto ao seu valor artístico de acordo com o telos estético daquele capital. As idéias de belo, gosto, técnica, criatividade etc., ajustadas, evidentemente, ao prestígio do realizador, do marchand, do estabelecimento expositor, da pessoa física e jurídica do expositor, do curador da exposição etc., são alguns dos elementos que compõem o telos. Cf. REIS, R. R. (2006b). 12 A propósito do êxodo dos artistas francesas, vale lembrar que o Brasil foi um dos países beneficiados por ele quando, em 1816, D. João VI contrata mais de uma centena de mestres artistas e artesãos napoleônicos ligados à Academia de BelasArtes francesa. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 109 as dores da ausência de uma tradição artística legítima, o poder do sistema de arte seria, enfim, consolidado. Assim, a despeito do assombro inicial causado pela “rebeldia” dos artistas impressionistas numa exposição em 1872, aos olhos dos conservadores não parecia, de resto, que a linguagem artística experimentava qualquer tipo de tensão adicional, ao ponto de exigir maiores atenções. Cabe notar aqui o paradoxo que colocava a classe burguesa de um modo mais geral numa situação de ignorar aquilo que forças produtivas em desenvolvimento lhes mostravam: a pressão sobre o passado. Sequer lhe ocorria, por exemplo, que a fotografia, o cinema, o jornal e a moda, para citarmos apenas alguns itens de uma extensa lista de forças emergentes, imporiam às técnicas artísticas e linguagens convencionais (pintura, desenho, gravura, escultura) pressões adicionais àquelas internas à própria arte. Se de certo modo isso pode ser explicado pela suposta ausência de alternativas razoáveis à lógica do pensamento conservador que desprezava o gosto e as manifestações culturais da fração “plebéia” da burguesia, de outro modo a explicação para esse fato pode ser verificada na origem contraditória do próprio sistema. Todavia, nos anos inaugurais do século XX, já é possível observar na esfera cultural em geral e no meio de arte em particular os primeiros reflexos das mudanças ocorridas na sociedade em razão dos sucessivos avanços da técnica, da substituição progressiva do carvão pelo petróleo como matriz energética principal e, fundamentalmente, do surgimento de um novo regime de acumulação – o fordismo –, baseado na otimização/intensificação da exploração do trabalho humano. Da combinação de tantas novidades nas relações sociais de produção da vida sob a hegemonia burguesa, emergiriam formas novas de linguagem artística exigindo ajustes no telos estético. 3.3 Modernismo e sistema de arte: entre o desejo do novo e a realidade do mesmo Não deixa de ser sempre curioso o fato de um conjunto de idéias notáveis ser utilizado de forma e com objetivos supostamente diferentes. Com efeito, vimos até aqui que as idéias de Hegel serviram 13 Cf. REIS, R. R. (2006a). 110 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 de base para a organização de um esquema de legitimação lógico e eficiente na definição do valor estético de uma determinada fração da classe dominante. Tal esquema baseava-se na articulação sistemática entre o ensino acadêmico de arte, no processo de avaliação e premiação das obras, promoção dos seus autores e legitimação do conjunto da produção junto aos colecionadores de objetos artísticos e demais agentes do mercado. Tudo isso era utilizado pela fração burguesa dominante, conservadora nas suas práticas econômicas, nos seus hábitos e costumes cotidianos e, sobretudo, no seu padrão de gosto, algo próximo ao gosto aristocrático, porém clivado por sua trajetória ética e moral14. Entretanto, num sentido diverso, o historiador Eric Hobsbawm (1995) nota que, na altura de 1914, alguns setores da burguesia que buscavam aliar a modernidade dos empreendimentos industriais às suas expectativas de renovação cultural já haviam experimentado praticamente todos os ismos daquilo que se pode chamar pelo amplo e indefinido termo “modernismo” (p. 178)15. É bem verdade que o fato de esses setores alimentarem admiração e até terem apoiado o tímido dissenso impressionista e das rupturas vanguardistas na arte não lhes dava condições totais para afirmarem que haviam rompido com a autoridade estética da Academia e os esquemas burocráticos do seu sistema a fim da legitimação do valor artístico da obra de arte. No máximo, teriam construído para si uma representação das feições que a moderna e “legítima” cultura burguesa poderia ter num futuro breve (idem, p.183). Isto porque se a pressão exercida pela ruptura vanguardista demonstrara força para concorrer com a autoridade estética da Academia, de outra forma tal força não se aplicava à dimensão extraordinária que o sistema de arte havia 14 Sobre este assunto, ver HAUSER, A. (1972) 15 Para Hobsbawm, o “modernismo” representa a unificação num conceito híbrido das mais variadas práticas artísticas e ideologias estéticas vanguardistas que se estenderam por cerca de 30 anos consecutivos (1995, p. 183). 16 Ora, se a arte tinha uma finalidade histórica para o artista de vanguarda, logo, o objetivo programático e a estratégia política da “revolução da arte moderna” não eram estruturalmente diferentes da arte (acadêmica) recém-superada. Se ela necessitava de parâmetros e critérios para lhes definir o valor, por conseguinte, este valor não era pensado como valor artístico, mas sim como valor de troca (mercadoria), sendo, portanto, necessária a existência de um sistema controlador. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 111 alcançado16. Dessa forma, o que se observou foi, de um lado, uma progressiva apropriação das idéias estéticas das vanguardas pelas indústrias de bens de consumo, da moda e acessórias etc.; de outro lado, uma abertura igualmente progressiva do mercado de arte para as obras de Pablo Picasso, Salvador Dalí, Wassily Kandinsky e Marcel Duchamp, dentre outros tantos. A partir deste ponto, podemos então apresentar algumas conclusões preliminares. Primeiramente, quanto ao próprio conceito de “revolução”, habitualmente aplicado ao modernismo. Ora, se entendermos que uma verdadeira revolução é aquela que rompe com as estruturas produtivas do passado e sobre as suas ruínas constrói um novo modo de produção da vida, independentemente de, por algum tempo, conviver com elementos superficiais do passado, então não houve uma revolução modernista, mas, sim, a reificação do conceito de arte17. Em segundo lugar, ainda que admitíssemos que a radicalidade das vanguardas modernistas tivesse obrigado a cultura a rever o próprio conceito de arte programando, no limite, a sua própria “morte” como valor criativo, não me parece que tudo que nos tenha sido apresentado como arte desde então esteja fora do esquema de legitimação controlado pelo sistema de arte. Assim, independentemente das correntes a que têm se filiado os artistas de qualquer tendência, das mais ou das menos conformadas – e até mesmo das revoltadas – com o pensamento único dominante, o fato de a produção artística manter-se controlada por um sistema de valores subordinados ao capital tanto indica a força de permanência do legado idealista da dialética de Hegel como indica igualmente a fragilidade do seu modelo. 17 Em linhas gerais, reificação é um caso especial de alienação. Neste sentido, é o efeito produzido pela ação capitalista intensa ao transformar a relação entre coisas vivas em relação entre coisas simplesmente. Isto é, entre mercadorias. No caso analisado, dada a impossibilidade de haver uma “revolução da arte” sem que tivesse ocorrido uma revolução real, a arte, ou melhor, o seu conceito, foi alienado do mundo das coisas vivas, ajustando-se ao mundo das mercadorias. Sobre o assunto, ver BOTTOMORE, T. (2001). 112 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 4. ARTE E ENSINO DE ARTE NO BRASIL 4.1 A burguesia brasileira e a arte acadêmica O interesse pessoal do rei de Portugal em trazer para o Brasil, em 1816, uma missão de artistas franceses é revelador do curioso conflito de interesses a que o país fora submetido desde o início da sua colonização e que seria acentuado por D. João VI, por seu filho e depois pelo neto à frente do governo brasileiro até a Proclamação da República. Tal curiosidade deve-se ao fato de um monarca que se vê obrigado a fugir de seu país, em 1808, expulso por Napoleão Bonaparte, apoiado pela burguesia revolucionária da França, sendo que oito anos depois convida os principais artistas burgueses e admiradores do império napoleônico a organizar uma Academia nas terras do reino unido Brasil-Portugal18. Criada no Reinado e mantida e aperfeiçoada no Império, é neste último período que suas funções formadoras são ampliadas e organizadas pela burguesia brasileira então ascendente. Sob a proteção de D. Pedro II, a Academia haveria de levar adiante o plano estratégico que dera origem à contratação dos mestres franceses algumas décadas antes: produzir conhecimento, estabelecer um método científico de trabalho e uma hierarquia disciplinar capaz de reproduzir os ensinamentos ministrados, e, no limite, instaurar um aparato legislador das coisas da arte com vistas à formação de um sistema de arte que correspondesse aos objetivos hegemônicos da classe 18 A espécie curiosa de conflito avançaria com a declaração da independência do país realizada pelo próprio filho do rei, Pedro I, e, mais adiante, por seu neto, Pedro II, grande incentivador da burguesia contra a economia primária praticada pelos oligarcas herdeiros de extensos latifúndios (as sesmarias). 19 Para Barbosa (1978), no seu conhecido Arte-educação no Brasil, a República teria agido preconceituosamente contra “[...] o dirigismo característico do espírito neoclássico de que estava impregnada (a Academia)”, posto que esta estivera a serviço da conservação do poder do Império (1978, p.16). Ao nosso ver, a posição da autora, apoiada tão-somente em fatos, carece de consistência teórico-metodológica quando não examina a totalidade das relações socioculturais no contexto da revolução burguesa no Brasil. Talvez, por esse mesmo motivo, no seu texto, ela insista na idéia simplista de “preconceito” ao dizer que, ao substituir “o calor do emocionalismo barroco da arte colonial pela frieza do intelectualismo da estética neoclássica, [esta última] teria encontrado eco apenas na pequena burguesia”(Idem, pp.18-19). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 113 dominante19. Já durante a primeira República (1889-1930), dada a sua identificação com o velho regime, a Academia passa para um plano secundário no interesse dos governantes. Contudo, conforme indicam inúmeros registros documentais, os artistas acadêmicos, seus prepostos na imprensa e no incipiente mercado de arte brasileiro (com seus esquemas de salões e exposições oficiais) mantinham junto aos setores conservadores da elite burguesa um prestígio quase inabalável. De fato, estes prestigiavam não apenas os eventos artísticos da Academia, como investiam e mantinham em seus acervos particulares obras por ela recomendadas. O processo de implantação da Academia no Brasil seguiu de um modo geral os passos estratégicos dados anteriormente pelas academias européias, em particular a francesa. A organização do ensino em cátedras correspondentes às diferentes disciplinas curriculares configuraria o primeiro passo concreto no sentido de tornar visível para a sociedade a autoridade produtora de conhecimento no campo artístico e capacitada oficialmente a reproduzi-lo20. Como na Europa, com base no corpo da doutrina acadêmica, a autoridade do catedrático seria balizadora da posição estética do Estado, tendo utilidade na definição dos parâmetros e critérios estilísticos e de linguagem a serem adotados na construção de prédios da administração pública, parques, jardins, monumentos etc.21. Sobre este aspecto, é necessário observar que, embora na sua forma geral, a Academia obedecesse à lógica organizativa preconizada pelo sistema de idéias de Hegel, já o seu conteúdo indicava um tipo de racionalidade positivista com aspirações universalistas. Em razão disso, a mudança ocorrida no interior do regime, de Império para República, não alterava a essência burguesa da Academia22. 20 Inicialmente ocupada pelos mestres franceses, a cátedra passaria a ser o principal objetivo a ser alcançado pela maioria dos jovens que buscavam na Academia algo mais do que apenas a formação artística. 21 Não raras vezes também para justificar a descaracterização do patrimônio arquitetônico colonial mediante a sua simples destruição ou reforma de alguns de seus mais notáveis exemplares, como, por exemplo, no caso da igreja colonial de São Francisco de Assis, em Niterói. Destruída pela Academia, ela teve a sua feição original devolvida pelo arquiteto Lúcio Costa quando este esteve à frente do Iphan, no Estado. Cf. REIS, R. R. (2005). 22 O aparato acadêmico dos salões e exposições oficiais e de escolhas de artistas e arquitetos oficiais no interior do sistema de arte prevaleceu fortemente até meados dos anos da década de 1970, não tendo sido, desde então, de todo abandonado. 114 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 4.2 Industrialização e o desejo de mudança Quando, em 1914, a guerra na Europa encontra um desfecho, havia um mapa econômico, político e cultural que apresentava o Brasil com duas faces conflitantes. Uma nova e exuberante com a riqueza acumulada com as exportações agrícolas para os países em guerra. Uma face que procurava mostrar orgulhosamente a sua capital, o Rio de Janeiro, reformada no melhor estilo parisiense. Que vibrava com a industrialização de São Paulo, com o excedente de crédito na praça, com o crescimento do mercado interno. Um país que, a despeito de não ter ainda uma universidade, podia apresentar suas Academias de Belas-Artes, Letras e Música. A outra face devia ser escondida, pois era pobre e atrasada. Um inferno tropical de barracos miseráveis balançando em morros íngremes onde uma gente pobre e desempregada cantava e dançava coisas desconhecidas das elites. Na periferia, trabalhadores das indústrias e empregados do comércio empoleiravam-se em cortiços empoeirados à margem das estradas ou em palafitas enterradas em mangues apodrecidos. Faltava educação, emprego, saneamento e habitação. Sobravam favelados, ignorância e doenças endêmicas. Era um país entregue ao “primitivismo” da arte colonial, da “fala errada do povo” e do exotismo dos terreiros de samba. É neste contexto conflitante que surgiria em São Paulo e no Rio de Janeiro uma geração de artistas que ficaria conhecida por suas idéias modernistas na arte, na música, na literatura e na poesia. Para muitos deles, sobretudo os filhos ou netos de imigrantes originários da classe trabalhadora, que haviam crescido em meio ao lento processo de desenvolvimento das relações capitalistas no Brasil, as mudanças econômicas no quadro interno do país desenhadas pela I Guerra Mundial se apresentavam histórica e dialeticamente relacionadas. Isto é, seja como um fator de mobilidade social, seja como uma oportunidade de operarem transformações no quadro das relações de produção de arte no país23. 23 Quanto ao aspecto da mobilidade social, vale notar que, seguindo uma tradição familiar dos trabalhadores à época, uma parte significativa dos artistas ingressara no mundo do trabalho desde cedo, tendo adquirido e desenvolvido suas habilidades artesanais especializadas no próprio seio familiar, nas escolas profissionalizantes existentes ou nos liceus de artes e ofícios. Ver CUNHA, L. A. (2000, vol. 2). Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 115 Entretanto, repetindo o que ocorrera na Europa, a reação dos setores conservadores da burguesia aos modernistas foi avassaladora. Para a maioria dos jornalistas e intelectuais ligados a esses setores, romper com a Academia seria o mesmo que retomar o caminho da arte colonial primitiva. Nem mesmo Monteiro Lobato, por muitos considerado um liberal em termos artísticos, deixaria de criticar a arte modernista de Anita Malfati escrevendo no jornal Estado de S. Paulo, em 1917, que “[...] embora se dêem como novos, como precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica: nasceu como paranóia e mistificação [...]”24. Como se sabe, o fato de terem sido rejeitados de ponta a ponta pela elite conservadora não desanimaria os modernistas. E eles aproveitariam o acirramento das tensões sociais que pressionava internamente a burguesia como um todo, no sentido de buscar uma definição da sua posição no quadro das relações capitalistas no país, para situarem-se ao lado da fração burguesa ligada à produção industrial contra os setores arcaicos da economia. Com essa expectativa em mente, imaginavam que, num certo prazo, ocorreria aqui algo semelhante à experiência modernista na Europa, ou seja: uma ruptura formal com o padrão estético acadêmico. Acreditavam, sinceramente, que o devir dessa ruptura representaria a “adequação” da cultura brasileira ao seu lugar próprio 25. Todavia, como sublinha Sodré (1986), tratava-se antes do consentimento de uma fração da burguesia com vistas ao controle da produção artística do que propriamente uma rendição (Sodré, 1986). 4.3 Pós-modernismo e o desejo do mesmo Em 1973, a crise do petróleo põe um ponto final no ciclo virtuoso da economia capitalista ocidental, levando os dirigentes das grandes potências ocidentais a operarem um extraordinário conjunto de mudanças no regime de acumulação. 24 Cf. <www.pitoresco.com.br/brasil/anita/anita>. Vale dizer que, anos mais tarde, Lobato revisaria a sua posição contrária à arte moderna. 25 Cf. Roberto Schwarz apud COUTINHO (2000, p.47). 116 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 Tendo à frente a Inglaterra, de Margareth Tatcher, e os EUA, de Ronald Reagan, diversos países empreenderiam profundas mudanças na economia mundial, tais como o abandono da universalidade dos sistemas de saúde e educacional, tornando-os públicos não-estatais, isto é, pagos. Subsídios para o transporte foram retirados, e a legislação foi profundamente reformada, flexibilizando-se conquistas históricas nas áreas previdenciária, trabalhista e sindical. Os sindicatos dos trabalhadores que ensejaram reações ou foram dobrados pelo poder policial ou aderiram à nova ordem. Ao conjunto do processo de reestruturação produtiva no modo de produção capitalista deuse o nome de neoliberalismo. Associando investimentos de grande porte na criação de novas tecnologias de informação e no desenvolvimento dos meios de comunicação, as mudanças empreendidas tinham em vista oferecer ao mercado de ações condições plenas para a sua expansão global. Nesse sentido, em que pese o sucesso do neoliberalismo na década de 1980 ter imposto pesadas perdas à classe trabalhadora, de outra forma ele proporcionou globalmente a segmentos das classes médias urbanas, notadamente àqueles que tinham acesso a níveis superiores de ensino – como os yuppies (“jovens profissionais urbanos”) –, ganhos extraordinários de renda no mercado de ações. A cultura do dinheiro, como sublinha Fredric Jameson (2000), tornar-se-ia o telos estético do atual estágio capitalista, ocorrendo, por conseguinte, a contaminação de grande parte da sua estrutura econômica e política pela subjetividade estética. Na esfera cultural, tais transformações de base passariam a ser conhecidas como pós-modernismo. Com o objetivo de delimitar o seu espectro teórico para fins da nossa análise, devo começar por uma evidência: o pós-modernismo contém aquilo que aparentemente ele parece recusar: o próprio modernismo. Portanto, antes de considerá-lo a expressão de uma contradição, penso que o pós-modernismo é a expressão de um paroxismo. Para alguns dos seus defensores, o pós-modernismo representa o estertor mórbido de todas as narrativas mestras ou matrizes epistemológicas do arcabouço ético, moral, estético, político etc., dominante desde fins do século XVIII. Já para alguns de seus detratores, o pós-modernismo representa o apogeu vitorioso da barbárie capitalista. Em vista Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 117 disso, em que pesem motivações e referências bastante diferentes, a perspectiva que os defensores e também os detratores do pós-modernismo projetam considera como certo que a humanidade (no sentido clássico atribuído pela razão científica) encontra-se diante do seu próprio fim sem retorno à vista. Em última análise, o fim da história, ou o desejo do mesmo. Esta curiosa convergência dos pensamentos de “direita” e de “esquerda” é própria do pós-modernismo, coloca para o pensamento materialista histórico o desafio de superar dialeticamente as antinomias que estão colocadas, a começar pelo problema da reificação cultural nas sociedades da abundância de ofertas e do hiperconsumo de bens culturais. Para Jameson (1985; 1993; 1996; 2000), a idéia de um pós-modernismo descolado do permanente conflito entre as forças produtivas e as relações sociais de produção é impensável. Não obstante, ele nota que uma aceleração jamais vista do consumo de mercadorias dilatara imensamente a esfera cultural. Dessa forma, dirá que o pós-modernismo é tanto a lógica cultural da estrutura produtiva como a sua expressão ideológica dominante. Todavia, Jameson não considera esta dupla inserção do pós-modernismo como uma ruptura em relação ao seu referencial cultural precedente, o modernismo. Para ele, o pós-modernismo tornou-se a lógica cultural do capitalismo tardio como conseqüência mediata do acúmulo da “urgência desvairada da economia” pelo “novo” (Idem, 1996, p.30) no curso dos ciclos de expansão (e crise) capitalista por cerca de 40 anos. Ao longo desse período, a competição travada em torno da produção do “novo”, na qual o trabalho artístico teve um protagonismo central, levaria o conjunto da sociedade, sobretudo a pequena burguesia, a reificar-se contínua e extraordinariamente, impondo microscopicamente sobre o tecido social suas subjetividades estéticas. Em breves palavras, o consumo conspícuo de mercadorias embaladas pela “novidade” acabaria estetizando as relações sociais. Como expressão ideológica da estrutura produtiva, ou “dominante cultural” desta última (Jameson, 1996, p.30), ele indicará que o caminho percorrido para tal inserção deve-se fundamentalmente a algumas ausências, ou “mortes” ocorridas no âmbito dos embates ideológicos modernistas, sendo a “morte da arte”, anteriormente mencionada, uma das 118 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 examinadas por ele. Todavia, para Jameson, a “morte da arte” representa metaforicamente outra mais importante: a “morte do sujeito” moderno, autor de um mundo pautado pela razão objetiva, hoje reificado pela cultura. A isto ele dará o nome de “alívio do pós-moderno” (1996, p.317), considerando que tal situação confere ao mundo no pós-modernismo um rosto mais completamente humano do que jamais visto. Como ele salienta, “resta muito pouco do que possa ser considerado irracional, no sentido mais antigo de incompreensível” (1996, p. 275). Podemos agora expor alguns aspectos centrais da presença do pós-modernismo no meio de arte no Brasil. Entre nós, superadas as desconfianças iniciais, o pós-modernismo encontrou nos anos inaugurais da década de 1980 um vasto campo para autopromoções e interesses mercadológicos entre os jornalistas que mantinham colunas de arte e os agentes do mercado26. Com efeito, o início da década apresentava um promissor crescimento da produção/acumulação/exposição de obras refletindo o processo de profissionalização artística que superava o que ocorrera nas três décadas (1950-1970) anteriores. A despeito disso, a afluência do grande público por exposições e a demanda pela mercadoria arte ainda era incipiente. Como diria na ocasião uma conceituada jornalista, era necessário provocar “um renascimento dentro do caos” para apagar no interior do sistema de arte algumas ideologias estéticas modernistas que ofereciam resistência ao surgimento de uma arte sem preconceito com o mercado. Por outro lado, fazia-se necessário fecundar o que restara do ambiente devastado para, enfim, parir aquela que viria a ser a sua mais nova virgem: a “Geração 80”. Outros jornalistas e animadores culturais se associariam ao empreendimento e, nesse sentido, disseminariam à exaustão a idéia de que havia uma “geração” que “retornava ao prazer da pintura”, que se opunha “ao isolacionismo e ao autoritarismo conceitual da geração precedente”, que, enfim, “reencontravam o prazer e a emoção”27. A partir daí, um numeroso grupo de artistas, muitos dos quais, diga-se de passagem, cuja produção apresentava e ainda apresenta qualidades excepcionalmente críticas em relação a todo o esquema articulado, daria forma a uma tendência grotesca, porém coerente com 26 Cf. REIS, R. R. (2004). 27 Idem. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 119 o processo de fetichização da arte-mercadoria, que é a de rotular a produção como “geração” disso ou daquilo. Conforme afirmamos no início desta seção, o sistema de arte é o mantenedor e controlador do capital cultural da classe dominante, tendo como tarefa primordial identificar, classificar e qualificar um objeto quanto ao seu valor artístico segundo parâmetros e critérios teleológicos previamente definidos. O fato de que sob o capitalismo a mercadoria tenha se expandido ao ponto de colocar em xeque o sentido e o destino da arte no pós-modernismo, em nada elide o esforço da classe dominante de manter o controle sobre o meio de sua produção, muito pelo contrário, até o reforça. O que ocorre no pós-modernismo no processo de valoração da arte é de certa maneira semelhante ao que ocorria anteriormente, apenas de uma forma menos vertical ou hierárquica, justificada neste texto por aquilo que Jameson denominou de “alívio do pós-moderno”. Dessa forma, a questão de saber por que algumas e não outras obras atendem aos parâmetros e critérios adotados pelo sistema de arte no processo de valoração artística se mantém inalterada, posto que, como dissemos antes, os elementos adotados na tarefa prescrita são subjetivos, muito embora alguns deles sugiram o contrário. Isto porque a resposta-padrão à pergunta “por que algumas e não outras obras” será sempre apresentada envolta num clima de mistério, exigindo de quem pergunta, não raras vezes, um “ritual iniciático”. Por certo que, conclusivamente, no sistema de arte pós-moderno brasileiro, a tendência de conferir rótulos às gerações faz parte de tal “ritual”. Algo semelhante à denominação “tribo”, também exaustivamente utilizada pelos formadores de opinião, para designar tendências de consumo cultural de jovens. 4.4 O sistema de arte e a arte-educação no Brasil O fato de a nossa abordagem até aqui ter priorizado as continuidades e descontinuidades históricas do meio de arte se deveu, sobretudo, à necessidade de estabelecer uma relação de materialidade ou existência concreta entre a arte e a educação, o outro objeto do nosso presente estudo. É, portanto, com base nas considerações 120 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 que apresentamos que a partir daqui abordaremos o problema do ensino de arte na escola. Para a geração de educadores que hoje ultrapassou a casa dos 50 anos, o tema que associa a arte à educação tem sido recorrentemente objeto de luta política pela afirmação da arte como área de conhecimento humano no currículo escolar, e, também, concomitantemente, de disputas hegemônicas entre tendências educacionais divergentes na condução dessa luta. É verdade que desde meados do século XIX tanto a luta política dos professores de arte como as disputas hegemônicas em torno de concepções pedagógicas jamais deixaram de estar na ordem do dia. Contudo, é a partir do fim da década de 1960 que se registra o início de uma tomada de posição estrategicamente mais organizada, definida e consistente na busca de um espaço para a arte dentre as áreas de conhecimento humano no currículo escolar. A propósito disso, vale notar que é na década de 1960 que se completa um ciclo de 30 anos, desde a criação das primeiras universidades no Brasil, notadamente a Universidade do Brasil (hoje UFRJ) e a Universidade de São Paulo (USP). Isso significa a formação, o amadurecimento e a evolução intelectual de uma geração de artistas e educadores cujas práticas artísticas e pedagógicas haviam se modernizado respectivamente, ora em conformidade com os limites e as contradições do telos estético e pedagógico da fração burguesa industrial, ora numa posição crítica e progressista frente a este telos. Por conseguinte, não me surpreende a posição conformista assumida pelo PCN-Arte, na exata medida da sua disfarçada pretensão de legislar sobre o estatuto epistemológico da educação estética entre nós, com o objetivo de reforçar e legitimar o controle econômico e ideológico dos meios de produção e circulação da arte a partir do sistema de arte. A proposta “novas tendências curriculares em Arte” contida na edição das diretrizes do MEC refere-se ao terceiro milênio 28 Como todos os documentos oficiais produzidos sob a gestão do então ministro Paulo Renato de Souza à frente do MEC (1995-2002) e dirigidos diretamente à escola, a forma da linguagem adotada equilibra-se intencionalmente entre a ingenuidade e a arrogância, e o conteúdo das propostas é sempre demasiadamente tendencioso. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 121 como o cenário das grandes transformações culturais (Brasil: MEC/SEF, 1996; 1997; 1998)28. Seu corpus teórico busca justificar a atualidade dos pressupostos conceituais do modelo curricular baseado fundamentalmente nos conceitos da arte-educação. Para isso, seus autores fazem uma resumida abordagem crítica das teorias e das práticas que fundamentaram e embasaram, no século XX, os movimentos que, de um modo genérico, lutaram pelo ensino de arte na escola regular. A ausência de uma explicitação do cenário histórico que, ao fundo, prepara as condições do processo de “amadurecimento” dos conceitos da arte-educação, omite os embates entre as posições políticoideológicas em disputa no campo da arte e o mesmo tipo de embates no campo do ensino de arte, e induz ao reforço da idéia de um sistema de arte onipresente. O problema da ausência de contextualização não seria tão grave caso os autores pudessem sustentar, do ponto de vista da história, a afirmação de que a “descaracterização da área por longo tempo” se deveu ao “consenso pedagógico” formado em torno do conceito de criatividade jamais definido e a imprecisão e a aplicação de idéias vagas sobre a função da educação artística. Embora concordemos pontualmente com a crítica ao “consenso” e à “imprecisão”, na verdade não consta que na prática as mudanças sugeridas tenham sido de fato adotadas. Pois, na medida em que a discussão corrente no contexto da época não estava dissociada da própria crise experimentada pelo projeto modernista, dificilmente o caminho teórico proposto pelos modernistas seria de todo abandonado29. Na visão dos autores dos PCN-Arte, os períodos de emergência e vigência das lutas dos movimentos de arte-educadores no Brasil é demarcado pelos programas curriculares, seus padrões e modelos, métodos de ensino, suas técnicas e objetivos, finalidades e aplicação, excluindo-se de todo modo a análise da questão do espaço social de legitimação histórica da arte 29 Para reforçar esse argumento, chamamos a atenção para a análise de Jameson (1996) sobre a ação do capitalismo na esfera cultural, a qual teria engendrado no curso de meio século o esmaecimento da figura do sujeito-criador. 122 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 a partir da transformação das linguagens. A ausência de uma exposição sobre as condições concretas do aparecimento e desenvolvimento dos fatos, que articulam e relacionam a trajetória do ensino de arte com as relações de produção artística nos termos expostos anteriormente, não apenas subtrai do senso comum a possibilidade de se esclarecer sobre o que seja o trabalho de arte e o que ele produz, como obscurece a leitura que pretendem oferecer sobre o estatuto social da educação e da arte. Por conseguinte, evidencia-se no documento a visão de que a práxis artística é um dado natural, reforçando a mistificação em torno do processo da criação artística, do ato criador, da figura do gênio30. 5. conclusão A urgente necessidade de a arte existir concretamente no currículo escolar da educação básica, isto é, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, se impõe como um tema central no debate sobre os rumos da educação brasileira na contemporaneidade. De fato, a despeito de a atual legislação tê-la incluído dentre as áreas de conhecimento humano a serem trabalhadas no currículo escolar (lei nº. 9394/96, LDBEN), e do significativo esforço dos autores dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte (PCN-Arte) para caracterizá-la pedagogicamente, a arte no currículo escolar continua sendo, na maior parte dos casos, uma peça de ficção. Por certo que o tema não pode prescindir da luta política permanente dos educadores pela efetiva implantação do ensino de arte nas escolas. Luta, vale dizer, talvez até mais acirrada do que a que se travou por décadas até o reconhecimento da área Arte pela LDBEN, em 1996. 30 Exemplo disso pode ser encontrado na análise que os autores fazem da lei nº 5692/71, que introduziu a arte no currículo escolar como uma “atividade educativa e não disciplina” (Brasil/MEC, 1998, p.26-27). Ora, ainda que concordemos que isso tenha representado um paradoxo pelos vários argumentos apresentados, é notável que todos eles limitam-se a analisar a situação do ensino de arte. Como se esta não tivesse relação com o contexto histórico em que se encontrava o meio de arte, o sistema que o controlava, os interesses da burguesia etc. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 123 Entretanto, da mesma forma, acredito que a luta comum não deve elidir o confronto interno, interpares. Ou seja, os educadores não podem furtar-se de debater publicamente suas concepções de arte e de educação, desvelando suas diferenças e divergências a partir dos respectivos referenciais teóricos e métodos de análise da realidade. Se a grande virtude do PCN-Arte é reconhecer a arte como um campo específico de produção e organização do conhecimento, não menos certo é que o seu eixo ordenador apresenta a arte como parte de um capital cultural acumulado cujo valor está previamente dado. Dessa forma, de acordo com a visão oficial, o papel histórico da arte na vida social do país pressupõe e legitima, como nota Giroux, “formas particulares de história, comunidade e autoridade” (1999, p. 268). Tal percepção leva-nos a crer que o horizonte ideológico do PCN-Arte, na medida dos vínculos que mantém com a forma de controle exercida pelo sistema de arte, expressa uma orientação conservadora sobre os propósitos da educação estética no processo de formação do imaginário social e uma orientação reacionária quanto à idéia de cidadania como uma totalidade. O conjunto de sintomas apresentados no PCN-Arte gera expectativa de mudança, de cujo tipo guarda inúmeras semelhanças com a mudança que tanto pode servir para “despertar falsas esperanças e crença na transformação automática da sociedade” como para “vitalizar o conservantismo” (Fernandes, 1986, pp.12 e 49). Neste caso, o PCN-Arte tem como objetivo estratégico fazer triunfar o homo aestheticus que nasce com a ideologia da pósmodernidade (Maffesoli, 1996). Mas há ainda uma outra motivação, que é alimentar a imagem que a intelligentzia faz do país e de si mesma, e origina-se no sentimento de “decadência” que ela nutre, quer em relação ao povo, quer em relação à velha oligarquia política. Dessa forma, muito embora o “mudancismo” (Fernandes, 1986) sugerido seja apresentado como uma estratégia para dirimir o “atraso” de décadas, em verdade revelam-se objetivos inconfessáveis da intelligentzia, seja para sublimar a pressão que esta sente do sofrimento com a “decadência” (Freud, 1997), seja para conquistar posições de poder (Fernandes, 1986). Como se observa, ainda aqui prevalece o lampedusismo, só que 124 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 nesse caso sob a gestão de uma elite intelectual. E é essa visão empobrecedora do que seria a “cultura cívica” em nosso país que percebo dominante nas concepções pedagógicas de arte, de conhecimento artístico, de criação, de cultura e de educação estética nas diretrizes curriculares em questão. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 125 Referências ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1993. BARBOSA, Ana Mae. Arte e educação no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1985. BOTTOMORE, Thomas. Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte/ Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 1997. 130 p. ______ . Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: apresentação dos temas transversais/ Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 1998. 436 p. ______ . Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 1998. 174 p. EAGLETON, Terry. A ideologia da estética. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1993. FERNANDES, Florestan. A formação política e o trabalho do professor. In: CATANI, Denice Bárbara et al. (Orgs.). Universidade, escola e formação de professores. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 13-37. FREUD, Sigmund. O mal-estar da civilização. Tradução José Octávio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Imago, 1997. GIROUX, Henry. Cruzando fronteiras no discurso educacional. Porto Alegre: ArtMed, 1999. HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001. HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1993. HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte. São Paulo: Mestre Jou, 1972. HEGEL, G. W. F. Estética: a arte clássica e a arte romântica. Lisboa: Guimarães, 1972. ______ . Estética: o belo artístico ou ideal. Lisboa: Guimarães, 1983. ______ . Lecciones de estética. Buenos Aires: La Pléyade, 1977. JAMESON, Fredric. A cultura do dinheiro. Petrópolis: Vozes, 2000. ______ . Marxismo e forma. São Paulo: Hucitec, 1985. ______ . ______ . São Paulo: Hucitec, 1987. ______ . Periodizando os anos 60. In: KAPLAN, E. Ann (Org.). O mal-estar no pós-modernismo. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1990. ______ . Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1996. KONDER, Leandro. Os marxistas e a arte. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967. 126 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 ______ . Os sofrimentos do homem burguês. São Paulo: SENAC, 2000. KOSIK, Karel. A dialética do concreto. São Paulo: Paz e Terra, 1995. MAFFESOLI, Michel. A tecnologia e a pós-modernidade: o reencantamento do mundo. Tradução Rosza Vel Zoladz. In: CADERNO de Pós-Graduação 3. Rio de Janeiro: UFRJ, EBA, Programa de Pós-Graduação em História da Arte, 1996. p.109-114. MARX, Karl. Manuscritos econômicos-filosóficos. Tradução Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2004. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2002. REIS, Ronaldo Rosas. A abelha, o arquiteto e a escola: das relações de produção artística e do ensino de arte no pós-modernismo. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 29., 2006, Caxambu. Educação, cultura e conhecimento na contemporaneidade: anais… Rio de Janeiro: ANPED, 2006. ______ . Educação e estética: ensaios sobre a arte e a formação humana no pós-modernismo. São Paulo: Cortez, 2006. ______ . Geração 80: um rótulo na imprensa carioca. In: ROEDEL, Hiran; VIEIRA, Fernando. Panorama sociocultural. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2004. ______ . Trabalho improdutivo e ideologia estética: as relações sociais de produção de arte e formação estético-cultural no Brasil. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 28., 2005, Caxambu. Anais… Caxambu: ANPED, 2005. SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. Tradução Roberto Scharwz e Márcio Suzuki. São Paulo: Iluminuras, 1989. SENNET, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 100-127 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 127 Sobre o relativismo estético Pós-Moderno e seu impacto extra-estético Walzi C. S. da Silva 128 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 O presente artigo discute o relativismo estético sob as perspectivas do pós-modernismo, em especial em suas vertentes desconstrutivistas e relacionadas aos chamados programas fortes em filosofia da mente e ciência da cognição. São primeiramente apresentados preliminares de ordem histórico-filosófica – os antecedentes do relativismo estético. Em seguida, são discutidos os pressupostos dos programas desconstrutivistas, mostrando-se possibilidades e limitações. Finalmente, são apresentados os pilares dos programas fortes, em sua perspectiva causalista, externalista, na construção da experiência estética. A discussão encaminha-se finalmente a uma consideração do impacto das correntes relativistas sobre a perspectiva do pós-modernismo, suas aplicações em teoria do belo e a interdisciplinaridade em um influxo estético factual. This paper preliminarily addresses relativism through aesthetics. It aims at evaluating the bearings of a desconstructivist perspective on a Postmodernist appraisal of the so called strong programmes in philosophy of mind, the philosophical accessment of aesthesis and the social construction of art. Starting from relativism historical tenets, the exposition proceeds to a general presentation of desconstructivism, anti-foundationism in aesthetics and the merging of these two perspectives into the strong programmes. Developments try to cast some lights in the limits and forefront promises of these perspectives. In the article tail, the impact of relativism on postmodernism is considered; a sketch of relativistic approaches and applications on aesthetical values is cast. Constructivist negotiation is evaluated as a pathway to a new aesthetics as an interdisciplinary field. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 129 Existe o belo absoluto? Existe o mundo real onde habita o belo absoluto? Existimos nós como consciências independentes aptas a experienciar o belo absoluto? O que nos traz o belo absoluto — o mundo real — é o que a nós parece? Será a linguagem natural um bom guia na trafegação entre nossa percepção, o belo e o mundo? Temos nós a competência de operar mecanismos de simbolização mais poderosos que os da linguagem? Podemos criar pontes de significado entre mundos simbólicos que à primeira vista seriam tomados como distantes — ao exemplo: pode um fato político ser considerado um dado estético? Pode um evento histórico ser interpretado como uma obra de arte? Pode um símbolo tomar o lugar ontológico do que simboliza? Há limites para um relativismo estético/ontológico radical? O presente artigo aborda estas questões, em torno das quais discute a seguinte tese: nas sociedades onde a mídia exerce presença, penetração e impacto acentuados, realidades podem ser construídas e desconstruídas, fora do eixo de uma determinação causal histórico-política, um processo de construção e desconstrução bastante similar ao da gênese ontológica de uma obra de arte. Trata-se de um artigo de intenção informativa — é uma atualização, um repositório de referência para o entendimento do relativismo estético, contendo, no entanto, uma discussão preliminar de teses polêmicas de fronteira — como a tese de Jean Baudrillard de estetização do fato histórico-político com amplas implicações na ontologia de objetos sociais e no papel da midia como desconstrutora/construtora de uma pretensa realidade histórico-política. 1. Antecedentes do Relativismo Estético Consideram-se relativistas todas as teses que postulam a dependência de um campo conceitual a algo — este algo constituindo-se no parâmetro em face do qual o campo conceitual é relativo. Em suas formas históricas inaugurais, o relativismo assumiu uma declinação cognitiva — aplicando-se ao conhecimento e aos processos individuais de crença — a partir da ação pragmática dos sofistas, sumarizada em duas exortações de Protágoras, aqui mencionadas sob licença literária mais livre: “Nada existe, se existisse não poderia ser 130 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 conhecido, se fosse conhecido não poderia ser comunicado” e “O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são”. O relativismo cognitivo radical protagoreano, em que pese a acidentalidade e falta de contexto dos fragmentos dos pré-socráticos, coloca o homem, o indivíduo como parâmetro de variação — à época confluindo-se no homem dois componentes que mais tarde seriam destacados para originar dois diferentes tipos de relativismo: o componente subjetivo de ordem psicológica e o componente inter-subjetivo de ordem cultural. Já em sua forma protagoreana, o relativismo foi — se não em teoria mas em prática — estendido ao domínio da moral (foi conhecida a amoralidade dos Sofistas) e teve mencionada sua aplicação ao campo da arte “Dê-me as palavras de uma comédia e com elas escreverei uma tragédia”, mais uma exortação sofística com impacto em teoria da arte. Em suas vertentes amadurecidas a partir do século XX, o relativismo se triplica em cognitivo, moral e estético, e suas modalidades se bifurcam entre o tipo subjetivista (em que elementos da psicologia individual são considerados parâmetros de relatividade) e culturalista (em que elementos inter-subjetivos da cultura são considerados parâmetros de relatividade). Os defensores mais robustos do relativismo cognitivo do século XX são, entre outros, Paul Feyerabend (Feyerabend 1988) e Thomas Kuhn (Kuhn 1970). A ênfase do relativismo de Feyerabend é individual: anything goes (vale tudo) é uma exortação metodológica pela liberdade individual de construir visões de mundo, engajar-se em visões de mundo e pelo mais polêmico movimento: ter a liberdade, inerente à condição humana, de variar visões de mundo; pelo exercício da especulação cognitiva, o agente seria livre para a qualquer momento mudar as suas configurações de adoção de crença. Não no sentido de alterar uma crença em particular dentro de um sistema global deixado mais ou menos intocado, mas sim no sentido de descartar um inteiro sistema global e adotar outro, sem nenhuma limitação sobre a freqüência e abrangência destas alterações de estado cognitivo. Thomas Kuhn, em seu turno, é um relativista histórico — a noção de um paradigma segundo Kuhn equivale-se à de uma visão-de-mundo cristalizada pela prática; um exemplo ou instância (exemplar) do que seja cognição, do que seja ciência, conhecer, do que seja método e de quais os problemas que Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 131 devem ser objeto de investigação, bem como o modo pelo qual devam ser investigados (Kuhn 1970). As teses do relativismo, contudo, rapidamente se expandiram sob novas formas a partir das décadas de 60 a 80 nos cenários filosóficos americano e europeu. As formas que aqui nos interessam mais proximamente envolvem uma aplicação do relativismo ao domínio da estética: existe o belo absoluto? A resposta é negativa. A noção de belo é construída e pode ser desconstruída e construída por meio de atos psicológicos ou tenazes culturais. Trata-se de uma sutilíssima variação na concepção do belo: não é que gostemos da obra de arte porque seja ela belíssima, mas antes ela é belíssima porque gostamos dela. Quem toma contato com a obra de arte é um agente—constrói ativamente o evento artístico da contemplação ou contato com o belo; não é um paciente sobre o qual um repositório de “beleza” objetiva agiria produzindo o gozo do belo. O importante pronunciamento metodológico subjacente à idéia de que se inverte o eixo causal — não é o belo que emula a consciência, mas a consciência é que constrói o belo, que em feedback retorna a eulalia (estado geral de prazer e realização) da contemplação — envolve a possibilidade de desconstrução da beleza. O que o homem ou a cultura constrói pode certamente ser pelo homem e pela cultura desconstruído. O descontrutivismo talvez seja a forma mais ousada de relativismo, surgida e cultuada na academia filosófica sobretudo a partir da década de 80. Com um forte componente em teoria da arte, o desconstrutivismo propõe a competência do agente cognitivo para proceder a engenharia reversa do processo de constituição de uma realidade, seja via uma compulsão psicológica, seja via um pacto cultural. Que possamos abrir os fundamentos da psicologia e cultura para transitar livremente no encarte e no descarte de diferentes realidades estéticas, é uma tese polêmica. O argumento da mosca na garrafa é uma construção pictórica que negaria esta possibilidade: assim como uma mosca não tem aptidão cognitiva para descobrir o gargalo que a conduziria para fora de uma garrafa aberta, nós, agentes cognitivos em imersão em um esquema conceitual cultural, não somos aptos a descobrir o caminho que nos leve para fora da cultura. Não é possivel a ninguém sair dos tamancos de sua própria cultura. Há também o equivalente cognitivo 132 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 desta tese: não temos uma neurofisiologia que nos permita transitar entre diferentes formas de vida — lembrando o conhecido aforismo de Wittgenstein: “What has to be accepted — the given is, so one could say, forms of life” — livremente traduzido como: “O que tem que ser aceito, o dado, poderíamos dizer que são formas de vida” (Wittgenstein 1958). Neste sentido, não há trânsito cognitivo entre diversos sistemas simbólicos, restrição que também se aplica a sistemas estéticos: embora o belo não seja absoluto, cada um de nós se encontra de certo modo capturado, em virtude de imperativos psicológicos ou culturais, por um sistema codificador do belo. Quando estranhamos escalas musicais distintas da nossa diatônica, quando não conseguimos realizar a beleza de uma obra de arte de vanguarda, estamos limitados por esta restrição. É também conhecida como tese da incomensurabilidade ou como a posição denominada incomensurabilismo: não há diálogo, não há trocas possíveis entre distintos esquemas conceituais. Quando agentes ou pacientes cognitivos/estéticos estão imersos em diferentes culturas ou em diferentes rationales ou em diferentes visões de mundo, não podem comunicar-se porque suas perspectivas são intradutíveis. Consoantemente à tese incomensurabilista, um agente cognitivo individual não pode submeter-se a uma gênese de sucessão de diferentes esquemas conceituais, quando estes esquemas são incomensuráveis entre si. Só há mudança dentro de uma família de esquemas conceituais não-incomensuráveis, família que constrói o horizonte cognitivo — identificado mesmo com o horizonte ontológico — de cada agente nela imerso. No fim da década de 60, em um movimento que se prolongou até a década de 80 do século passado, contudo, vieram à tona certos movimentos intelectuais, da tradição pós-moderna, que vigorosamente negam a restrição da incomensurabilidade. Estes movimentos são o Interacionismo Simbólico (originado como um epifenômeno da psicologia social de George Herbert Mead — (Mead s/d) e sistematizado por Herbert Blummer (Blummer 1969)) e os Programas Fortes em antropologia do conhecimento (principalmente como em Barry Barnes (Barnes 1967) e David Bloor (Bloor 1976). A tese do interacionismo simbólico sumariza-se como: Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 133 Os agentes sociais não agem em função de realidades objetivas, mas sim em função de atribuições simbólicas que de modo tácito eles mesmos produzem face a “tokens” capazes de exercer o papel de símbolos. Um token é definido como portador de significado — meaning bearer. O manifesto metodológico global do interacionismo simbólico envolve afirmar que, para um agente social, tudo é um token. Assim como Kant nos nega o acesso aos noumena — a realidade em si, a coisa-em-si e apenas nos concede o acesso aos fenômenos — a realidade como embalada por nossa estrutura de categorias apriori fundadas nas condições de possibilidade do nosso conhecimento — o interacionismo simbólico nos nega igualmente o acesso a qualquer coisa que não seja um objeto construído numa relação de simbolização entre o agente perceptual e o que se percebe. A tese do interacionismo simbólico pode ser inteiramente transcrita em termos cognitivos, e, destes termos cognitivos, pode ser inteiramente parafraseada em termos estéticos. De um ponto de vista cognitivo, o agente interacionista só perceberia o que constrói como seu eixo de significados. Realities are meanings — afirmam: realidades (sim, no plural) são os significados. Do mesmo modo, quando a atividade cognitiva é uma atividade estética, o belo passa a ser considerado não como um valor fundado em uma ordem absoluta, mas sim um valor construído a partir de uma ação simbolizadora tácita do agente. Interessante aspecto é — para esta modalidade de construtivismo estético, o momento de construção do belo por parte da interação cognitiva de ordem simbólica requer uma desconstrução prévia da noção de belo absoluto. Ou requer ao menos a admissão de um pressuposto desconstrutivista — o que nos leva ao segundo grupo de teorias relativistas cognitivas e estéticas, que é o derivado dos programas fortes — sobretudo em psicologia e antropologia do conhecimento. O desconstrutivismo é o manifesto hermenêutico do pós-modernismo. O que chamamos de “realidade” está aí para ser desmantelado por processos analíticos masterizados pelo homem. Pelo homem entendido como agente cognitivo. O termo agente aqui não é uma escolha puramente convencional de palavras (o pósmodernismo em certo sentido atende à exortação de Karl Popper: 134 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 “Never quarrel about words”— jamais duelar somente sobre palavras. Agente opõe-se a paciente. Uma teoria estética que supõe o agente estético pode ser denominada ativista, em oposição à estética derivada, por exemplo, do neoplatonismo, em que o esteta é um paciente sobre o qual se imprime em tábula rasa, um belo absoluto: o belo do noumenom. Quando, por exemplo, um esteta como Guy Debord afirma que a nossa sociedade se constitui de modo negociado como uma matriz de espetáculo (Debord 1967) — uma tese próxima à inspiração do filme americano Matrix, no qual a realidade como nos aparenta pode ser essencialmente diferente do construto que ela é —, temos a trabalho a tese relativista estética pós-moderna. Matrix: diante dos nossos olhos mas não o vemos, diante de nossos sentidos mas não a sentimos senão mediante um processo: o processo de desconstrução. No caso de Debord, a mídia é o agente cognitivo, a enzima ativista de um processo de simbolização que produz uma realidade subjacente à aparência, à qual nós podemos em noesis ascender se tivermos mestria de desconstrução/reconstrução. Note-se o extremo realismo que na maior parte das vezes reveste os atuais jogos de internet, programas televisivos e jogos computacionais de indução/sobreposição de realidades na linha dos reality-shows, exemplos como os do sistema Second Life na midia televisiva e na internet mundial. São exemplos ativos da capacidade desconstrucionista/reconstrucionista da qual a mídia e demais agentes cognitivos estéticos são artífices. Neste segmento da tradição pós-moderna, a noesis não é contudo a platônica: em Platão, ao sábio que contemplou a luz não resta mais a alternativa das trevas. O sábio não pode proceder a dialética descendente ao mundo da aparência, uma vez tenha procedido a dialética ascedente ao mundo da essência. Já no desconstrutivismo pós-moderno, temos antes um gestalt-switch do tipo duckrabbit: Podemos converter/desconverter; acionar/desacionar a percepção sobre o objeto do gestalt-switch ou reversão gestáltica. O eixo da construção simbólica estética se alterna então com o da desconstru- Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 135 ção em um looping, um contínuo que cabe ao hermeneuta pós-moderno surpreender, decifrar e em certo sentido, desmascarar. O que seja a realidade dependerá essencialmente do momento em que congelarmos o pêndulo da reconstrução/desconstrução. Este seria um impacto extra-estético de uma teoria ativista estética de ordem relativista. Exatamente o instrumento metodológico de intervenção que pensadores como Debord utilizam para introduzirem até contrafactuais histórico-políticos e a imputação de uma realidade que difiram tanto da percepção do bom senso quanto a Matrix diferia da realidade — o software do filme de mesmo nome, que simula a nossa inteira realidade sobrepondo-a a uma outra atroz que difere da percepção do senso comum. Assim, estão lançadas as bases do relativismo estético, com amplas conseqüências no âmbito das ciências do homem—o que veremos a seguir. 2. Relativismo Estético e Programas Fortes Os Programas Fortes em sociologia, história, antropologia e psico logia do conhecimento têm sua origem remota na sociologia do conhecimento de Karl Mannheim (Mannheim 1952). Sua gênese recente procede a partir de um grupo de filósofos de inclinação naturalista conhecido como A Escola de Edinburgo (Bloor 1976, Barnes 1967). A principal tese dos adeptos dos programas fortes é uma negativa de que se possam construir modelos de racionalidade puramente internalistas—ou seja, modelos que expliquem a gênese e a fundamentação do conhecimento e da cultura somente através de valores absolutos, justificados, internos ao modelo. Em oposição a estes, os adeptos dos programas fortes propõem a adoção de políticas externalistas—ou seja, justificação e reconstrução da gênese e fundamentação do conhecimento e da cultura levando em conta nexos causais, empíricos, externos ao modelo de racionalidade. Nexos do domínio de fato e medida, em oposição a nexos baseados em valores absolutos. Para os adeptos dos programas fortes, não há nenhuma indignidade em se propor que os valores e processos cognitivos que a tradição filosófica clássica considera intocados pelo tempo, pela cultura, pela adversidade factual, sejam antes sujeitos a estas ordens, contingentes portanto e não absolutos. 136 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 As implicações desta posição sobre uma teoria estética de ordem relativista são imediatas. Não há o belo como essência invariante, imune ao tempo, à variação sincrônica e diacrônica dos fatos. Mesmo aqueles valores aparentemente mais fixados pelas tradições por exemplo artísticas — como, digamos, as escalas harmônicas/diatônicas da música ocidental — podem ser objeto de variação de origem cultural e/ou psicológica. Nos programas fortes, admite-se a existência de um vetor causal que leva da cultura e da psicologia para a determinação de um eixo do que seja belo. O próximo passo é determinar qual é a extensão ontológica da construção estética. Para os relativistas estéticos radicais, uma inteira realidade pode ser construída como um processo de picturação (trata-se aqui de um neologismo para picturing/imagery) de ordem artística. Esta tese tem uma contraparte de ordem culturalista, que resulta em correntes de antropologia e sociologia da cultura. Estrito senso, o que chamamos de realidade? Para os relativistas estéticos radicais, a realidade é aquela imagem, dentre as picturações possíveis, que achamos bela. Aquela que apreciamos, que gostamos. Observar aqui uma sutil inversão gestáltica: não se trata de afirmar que gostamos do belo porque é belo, mas sim afirmar que o que é belo, é belo porque dele gostamos. Por que a escala diatônica nos toca ao coração ocidental? Porque gostamos dela — e não o contrário. Por que a escala da cítara indiana nos causa a nós, ocidentais, espécie? Porque não estamos afinados para ela. Nossa rede neural não está wired (cabeada) para este modelo de beleza — mas ele é um modelo possivel, dentre tantos de inúmeros mundos possíveis. Temos uma competência inata para apreender rapidamente o mundo em que nos encontramos e excluir os demais mundos possíveis. A partir deste processo de seleção, o mundo possível que escolhemos se confunde com nossa realidade. Eis a quintessência do pós-modernismo sob inspiração dos programas fortes: o eixo estético sobrepõese ao eixo ontológico. A construção da realidade é um epifenômeno da construção da beleza. A cognição é a forja da substância. Ora se o relativismo estético radical assim compreende o eixo ontológico, digamos dos objetos físicos, no espirito de uma ontologia relativista, é imediata e muito mais fácil, ipso facto, a passagem para o relativismo ontológico sobre o objeto das ciências do homem. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 137 É possível que esta passagem tenha sua origem na inversão relativista do dictum: “Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã inteligência.” Para uma ontologia relativista baseada no primado da cognição estética sobre a constituição da ordem existente, valeria antes: “Há menos coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã inteligência.” Esta tirada foi comum entre os lógicos do início do século XX, quando descobriram a fecundidade das lógicas não-clássicas gerando ontologias não-clássicas, inconsistentes, anti-simétricas, paraconsistentes. Coincidiu com o boom da física quântica, do principio da incerteza; no âmbito das ciências formais, coincidiu com os teoremas limitadores do formalismo e da profusão de geometrias não-clássicas e diferenciais. Dada a licença estética desconstrutivista, o eixo dos fenômenos sociais, psicológicos, culturais, passa a ser constituído mediante esta licença. Neste sentido é que se pode dizer que os gestores das trocas simbólicas nas sociedades industriais contemporâneas são em última instância os artífices de nossas realidades (aqui cabe sim o plural). Neste sentido, as diversas formas de mídia imperam neste ofício de nos servir de bandeja—mas sub-repticiamente—nosso senso de real. Que parte de nós sobrevive incólume e consegue se realizar ausente das construções culturais de uma sociedade onde a mídia prepondera? Há o zumbi cognitivo que consegue experimentar somente a si mesmo e reconstruir uma ordem solipsista existente, à ausência do contexto cultural? Para a maior parte das sociedades industriais contemporâneas, a resposta a esta pergunta é contundentemente negativa. A antropologia filosófica clássica nos definiu os homens e mulheres como racionais e gregários. O relativismo estético radical desconstrutivista nos define como o resultado do belo do momento. Como o resultado da interação simbólica vertiginosa e constante da mídia. Atribui-se a Sócrates o dito: “A educação é o apurar de uma chama, não o preenchimento de um vaso.” Muito do processo de constituição ontológica de nossas realidades é realizado mediante a paidéia— educação no sentido grego de ascensão à humanidade. O relativismo estético radical estende a noção de educação, conferindo-lhe contingência máxima: não é um processo limitado à escola formal, mas sim um processo em constante fluxo pela imersão cultural em uma so- 138 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 ciedade midializada. A mídia apura a chama, não preenche nenhum vaso com uma ordem ontológica absoluta. Esta é uma das aplicações mais profícuas do relativismo estético sob a perspectiva dos programas fortes de ordem cognitivista e culturalista. 3. Ativismo e Intervencionismo Cognitivo: Questões Geradoras Temos agora a base necessária para abordarmos, na perspectiva sob estudo no presente artigo, as questões básicas que lhe foram geradoras. Existe o belo absoluto? — Não. Existe o mundo real onde habita o belo absoluto? — Não. Existimos nós como consciências independentes aptas a experienciar o belo absoluto? — Sob os pressupostos do relativismo estético radical, nós somos consciências ativas a construir o que se toma por absoluto. O que nos traz o belo absoluto — o mundo real — é o que a nós parece? — Nunca saberemos e não precisamos saber. Não sabê-lo e saber que não o sabemos concede-nos enorme liberdade e poder. Será a linguagem natural um bom guia na trafegação entre nossa percepção, o belo e o mundo? Temos nós a competência de operar mecanismos de simbolização mais poderosos que os da linguagem? — As linguagens naturais são um dos mais fortes instrumentos de intervenção. Fazemos coisas com palavras. Mas não é o único; toda outra forma de linguagem serviria de instrumento de intervenção — algumas formas de linguagem com capacidade simbólica mais extensa que a de uma linguagem natural. A obra de arte — terá maior poder expressivo para a constituição de uma ontologia relativizada; temos sim o poder de operar instrumentos simbolizadores mais fortes do que os da linguagem natural. Podemos criar pontes de significado entre mundos simbólicos que à primeira vista seriam tomados como distantes — ao exemplo: pode um fato político ser considerado um dado estético? Pode um evento histórico ser interpretado como uma obra de arte? Pode um símbolo tomar o lugar ontológico do que simboliza? Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 139 — Sim três vezes, aqui. Chegamos então à mais ousada provocação metodológica do relativismo estético radical pós-moderno. É possivel, sim, considerar mesmo fatos históricos ou políticos considerados duros, objetivos e objetais (hard facts) como na realidade negociados e construídos (artifacts). Arte-fatos, se o trocadilho cabe. A licença libertária do relativismo estético pós-moderno é: podemos questionar toda ordem factual histórica e política que nos seja apresentada e imputá-la o caráter de uma particular interpretação/representação, de ordem não absoluta. Podemos também nos considerar especulativamente libertos para oferecer construções alternativas. Neste sentido, não é absurda a presença de uma corrente interpretativa de dados da mídia como a que afirma não ter exatamente havido, como descrito, a conquista da Lua em 1969 (Internet 1). Ou a interessante recaracterização do streamming da mídia sobre a Guerra do Iraque, que leva Baudrillard a propor que, sob a ótica correta, para o homem médio não houve uma Guerra do Iraque exatamente como noticiada por força do próprio modo em que foi noticiada pela mídia. Ou a conhecida tese do relativismo legal: não há fatos jurídicos, tudo pode ser sujeito a interpretação. A realidade é negociada. O belo é negociado. O belo é a realidade, e a realidade é o belo. Nesta perspectiva, o agente cognitivo — que neste caso é o agente estético — adquire atividade máxima, real capacidade de intervir na ordem ontológica e costurar o ser, como o apurar socrático de uma chama. Um dos eixos mais ousados e profícuos do relativismo estético pós-moderno é exatamente esta liberdade especulativa concedida ao agente cognitivo, uma liberdade semelhante à licença artística. Este impulso pode ter sido determinante das principais revoluções do século XX: do modernismo brasileiro aos beatniks; da liberdade quântica de Viena da virada do século ao orientalismo hippie — e explicam-se as confluências de águas de extrema diversidade que de certo modo populam a imagery das sociedades industriais do Ocidente. Não só Nova York merece a alcunha de melting pot — amálgama de variedades — mas a vida diária do homem comum, por mais plana que pareça, também é assim. Nós somos bombardeados diariamente por uma extrema combinação de diferenças. A mídia das mídias — a Internet — nos mantém em contato com extrema variância, e mesmo o mais estático dos pacientes cognitivos acaba premido 140 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 a tomar suas próprias decisões e construir ativamente seu universo simbólico de referência. Que ele considerará, antes de tudo, belo. E que a partir desta beleza atribuída, constrói-se e negocia-se o eixo de uma realidade. O relativismo estético não requer que o construtor da realidade seja um indivíduo solipsista. A construção mais ousada será aquela compartilhada socialmente, culturalmente, historicamente. O agente interventivo poderá ser um agente grupal, um agente comunitário, um millieux simbólico. O resultado será a diversidade — fauna e flora simbólicas distribuídas no tecido urbano com a mesma diversidade da selva amazônica. O convívio de distintas realidades é talvez um dos significados da democracia simbólica: os diversos tecelões de diversas ordens ontológicas podem conviver. A abordagem é compatibilista. O que nos leva a uma questão final: há limites para um relativismo estético/ontológico radical? 4. Limites: Paraconsistência do Relativismo Estético Pós-Moderno O que em geral amedronta nas propostas relativistas mais radicais é a perspectiva de uma permissividade sem limites. Uma licença libertária para a interpretação sem constrangimentos. Contudo, não se pode afirmar que a existência de uma licença libertária, de cunho artístico, na constituição do belo e com ele na determinação de um eixo ontológico, resulte em trivialidade cognitiva, lógica ou moral. Fixar limites neste caso é importante para resgatar a fecundidade da perspectiva. Para tanto, precisamos mencionar a noção de paraconsistência, que tem sua origem na lógica proposicional. Tem aplicações em quaisquer outros sistemas de normas e valores. O imaginário clássico sobre o lógico caracteriza-o como um agente que tenha horror à contradição. No entanto, os teoremas limitadores do formalismo demonstraram no meio do século passado que não se demonstram a um mesmo tempo a completude e a consistência de um sistema lógico: entendendo-se por completude a propriedade metalógica de um sistema ser capaz de derivar, a partir de seus axiomas e pela aplicação de suas regras de inferência, todos os seus teoremas, e como consistência a propriedade de não ser derivável no Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 141 sistema nenhuma contradição. Os teoremas limitadores em última instância afirmam que ou bem demonstramos a consistência (e empobrecemos o sistema de tal modo que tenhamos que abrir mão da completude) ou bem demonstramos a completude (e enriquecemos o sistema a ponto de ele necessariamente nos permitir a derivação de contradições). O que há de errado com uma contradição? É o fato de, se admitirmos uma contradição em um sistema lógico clássico, podermos dela derivar qualquer coisa. O sistema se tornaria supercompleto ou trivial: ou seja, toda sentença bem-formada do sistema seria um teorema; poderíamos nele derivar qualquer proposição. Os sistemas triviais costumam ser destituídos de interesse epistêmico. A trivialidade em lógica pode ser transcrita para outros sistemas de normas: em teoria da moral, um sistema moralmente trivial é um sistema dentro do qual tudo é permitido, nada é proibido; em heurística, tudo é problema e tudo é solução; em hermenêutica, todo ato interpretativo é correto; em estética, finalmente: tudo é belo e tudo é feio; em metodologia, anything goes (tudo funciona). A trivialidade realmente seria uma ameaça e costuma ser considerada o esqueleto no armário de toda proposta relativista. Contudo, o antídoto para esta crítica que aparentemente exporia o flanco do relativismo estético pós-moderno tem sua origem também na lógica formal. Chamamos um sistema lógico de paraconsistente quando satisfaz duas propriedades: (a) podemos derivar nele uma contradição, mas (b) podemos provar dentro do sistema que há proposições que não podem ser demonstradas como teoremas. Ou seja, um sistema é paraconsistente quando ele é inconsistente mas não-trivial. Ora — o que horrorizava os lógicos clássicos não era somente a contradição, mas sobretudo a trivialidade dela decorrente. Se conseguimos trabalhar com sistemas contraditórios provando de saída que, a despeito de contraditórios, não são triviais, temos um campo não-destrutivo de relativismo. Ou melhor, não autodestrutivo. O trabalho em lógicas paraconsistentes é marca de um grupo de lógicos e filósofos brasileiros, liderados por N. C. A. Da Costa (Da Costa 1963). Mas a noção de paraconsistência pode ser aplicada muito além do domínio da lógica pura. O relativismo estético pós-moderno pode ser considerado para consistente no sentido de que, embora haja o convívio de perspec tivas ontológicas radicalmente distintas (no exemplo conhecido de 142 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 Baudrillard: houve Guerra do Iraque versus não houve Guerra do Iraque), no interior de um sistema construído existem restrições à trivialidade. Ou seja, mesmo a mais ousada especulação exclui alguma possibilidade, e, com isso, preserva-se contra ser trivial. Em epistemologia, denomina-se de conteúdo lógico de uma teoria tudo o que ela implica mediante alguma lógica; e denomina-se de conteúdo empírico de uma teoria tudo o que ela exclui, ou seja, tudo o que dela se implique a negação, de um ponto de vista lógico. Mesmo se na perspectiva relativista estética pós-moderna houver o convívio de perspectivas ontológicas rivais, ainda assim, dentro de uma dada perspectiva podemos provar que há conteúdo empírico — ou seja, as perspectivas internamente são incompatíveis com pelo menos um mundo possível. Isso garante-lhes a não-trivialidade. De um ponto de vista pragmático, como esta visão pode ser útil, por exemplo, aos leitores mais prováveis do presente periódico: os especialistas em educação social. Ora, a perspectiva discutida favorece certo elenco de estratégias de intervenção e ação que têm impacto propedêutico, ou seja, impacto pedagógico-educacional. Em todos os níveis da performance pragmática de profissionais de todas as áreas constituintes do mercado — dos ídolos do mercado — lembramos a teoria dos Idola de Francis Bacon — ganha aquele profissional que souber melhor adaptar-se, exatamente, à variedade da mídia. À diversidade dos sistemas de belo, de crença, de valores, de visões de mundo. Vale lembrar uma interessante passagem de Karen Blixten, lembrada por Paul Feyerabend: A ausência de preconceitos no Nativo [africano de Kenia] é algo de intrigante se você espera encontrar obscuros tabus em tribos primitivas. Ela é devido, creio eu, à sua familiaridade com uma variedade de raças e tribos, e ao vívido intercurso humano que foi trazido à África Oriental, primeiro pelos antigos negociantes de ébano e escravos e em nossos dias [década de 30] pelos posseiros [europeus] e pelo jogo pesado da caça. Quase todo nativo, desde o pastor menino das planícies, teve seu dia de se encontrar face a face com um inteiro espectro de nações tão diferentes entre si, e dele, quanto um siciliano de um esquimó: britânicos, judeus, di- Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 143 namarqueses, árabes, somalianos, indianos, swhaeli, maçai e kawirondos. No que tange à receptividade de idéias, o Nativo é mais um homem do mundo do que o posseiro suburbano provincial, ou do que o missionário—que cresceram em uma comunidade uniforme com um conjunto de idéias estáveis. Muito dos desentendimentos entre brancos [europeus] e Nativos [africanos] surge deste fato. (Karen Blyxten apud Feyerabend 1988, 20). A liberdade ontológica que o relativismo estético pós-moderno possibilita, sugestão também presente na obra de outros autores da tradição, desde a opus magna de Deleuze e Guattari de 1972, Capitalismo e esquizofrenia: o anti-Édipo (Deleuze 1972). O conceito aqui é o da licença para reconstruir, reinterpretar, impetrar novos valores estéticos com liberdade, que tenham primado sobre a constituição do elemento ontológico. Trata-se quase de uma teoria da viabilização de utopias. O que se enseja que exista, assim será. O que se constitui como uma matriz de valores, se instancia. O interjogo entre realidade/irrealidade; sonho, ilusão/realismo; verdadeiro/falso não pode ser compreendido ou encetado apenas de um ponto de vista fundacionista ou objetivista. Há que haver a licença artística. Ora a licença artística é exatamente o que faz a obra de arte pairar sobre e independente da determinação terrena, da causação física ou social, do determinismo cultural. A obra de arte, o belo, não se deixa tanger pelos determinantes dos trilhos absolutos. A ilusão pode se tornar realidade, o sonho pode ser a melhor via para o realismo, o verdadeiro e o falso assumem papéis cruzados—verdade depende de uma relação pictórica com uma construção social, com primado do elemento estético e da ação dos construtores do Espetáculo. Trata-se sem dúvida de uma posição bastante estimulante, que convida a reflexões mais aprofundadas e, no que tem de iconoclasta de tradições clássicas e positivistas, abre uma perspectiva de pesquisa profícua. Este é o impacto extra-estético do relativismo estético pós-moderno. Nós vivemos em um millieux de diversidade. Não podemos mais referenciar-nos a uma razão monológica. Não podemos mais viver a bipolaridade que foi tão típica, por exemplo, do período da Guerra 144 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 Fria: esquerda/direita; certo/errado; negro/branco; belo/feio; proibido/permitido; existente/inexistente. Os limites de aplicação desta perspectiva pós-moderna ainda se encontram expandindo. Há aplicações em computação não-clássica, teoria dos autômatos; em matemática e lógica: imagine-se a relativização da matemática e da lógica formal, no espirito por exemplo do volume de Bloor (Bloor 1983); ou uma antropologia da matemática, no espírito de Livingston (ver Livingston 1986 e DaSilva 1996). A extensão de uma navalha de corte estético-culturalista mesmo dentro de disciplinas que classicamente seriam tomadas como repousando em fundamentos objetivos, atemporais, intocados pelo tempo e pelo espaço, é uma marca do pós-modernismo e das correntes hermenêuticas que em torno dele se erigiram, propondo grande liberdade e atividade ao agente da cognição: uma liberdade comparável à da criação artística instruída. O jogo de cintura cognitivo, a habilidade de traduzir a diferença em termos de positividade heurística e ganho estratégico, é algo que se espera por exemplo de quem tange um mercado, forma profissionais, ocupa posições de gerência estratégica e tomada de decisão sobre educação e cultura. Por isso um tema aparentemente tão distante quanto o relativismo estético pós-moderno pode vir a ter aplicação no varejo da trajetória pessoal dos que constroem os idola do mercado cultural. Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 145 Referências BARNES, Barry. Interest and the growth of knowledge. London: Routledge & K. Paul, 1967. BAUDRILLARD, Jean. The Gulf War did not take place. Translated and with an introduction by Paul Patton. Bloomington: Indiana University Press, 1995. BLOOR, David. Knowledge and social imagery. London: Routledge & K. Paul, 1976. ____. Wittgenstein: a social theory of knowledge. London: Routledge & K. Paul, 1983. BLUMMER, Herbert. Symbolic interactionism: perspective and method. Berkeley: University of California Press, 1969. COSTA, Newton C. A. da. Sistemas formais inconsistentes. Curitiba: Universidade Federal do Paraná,1963. DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Tradução de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. Disponível em: <http://www.cisc. org.br/portal/biblioteca/socespetaculo.pdf - EbooksLibris>. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Anti-Oedipus: capitalism and schizophrenia. Translated from the French by Robert Hurley, Mark Seem, and Helen R. Lane. New York: Viking Press, 1977. FEYERABEND, Paul. Farewell to reason. New York: Verso, 1987. Debates sobre interpretações alternativas da aterrissagem na Lua em 1969. Disponível em: <http://www. apfn.org/apfn/moon.htm.> KUHN,Thomas S. The structure of scientific revolutions. 2nd. edition. Chicago: University of Chicago Press, 1970. LIVINGSTON, Eric. The ethnomethodological foundations of Mathematics. London: Routledge & K. Paul, 1986. MANNHEIM, Karl. Essays on the Sociology of knowledge. London: Routledge & K. Paul,1952. MEAD, George Herbert. Essays in social Psychology. Edited by Mary Jo Deegan. Chicago: University of Chicago Press, [ca. 2000]. SILVA, Walzi C. Sampaio da. São vivenciais os fundamentos da Matemática? Ciência e Filosofia, São Paulo, n.5, p.107-124,1996. WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical investigations. 3rd. edition. Translated by G.E,M. Anscombe. New York: MacMillan,1958. 146 Sinais Sociais | RIO DE JANEIRO | v.2 nº5 | p. 128-146 | SETEMBRO > DEZEMBRO 2007 Esta revista foi composta nas tipologias Optima, em corpo 10/9/8,5, e ITC Officina Sans, em corpo 26/16/9/8, e impressa em papel off-set 90g/m2, na Set Print Gráfica e Editora.
Baixar