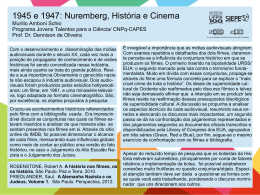2 SÁBADO, 15 DE JANEIRO DE 2005 CULTURA ANA LUZ, DIVULGAÇÃO/ZH CINEMA JORGE FURTADO * M eu objetivo aqui é o de dialogar com dois textos publicados em Zero Hora e assinados por pessoas a quem eu respeito e admiro, Fernando Mascarello e Luís Augusto Fischer. Mascarello escreveu um ótimo ensaio publicado no suplemento Cultura (1/1/2005) com o título “Brasilidade no Rio Grande do Sul?”. O texto comenta o filme Meu Tio Matou um Cara, faz um bom levantamento e análise da recente produção de cinema no Estado e traz, entre várias questões procedentes, esta: “Deverá o cinema brasileiro produzido no Rio Grande do Sul suceder ao que até bem pouco era (e não sem controvérsias) o cinema gaúcho?”. Meu primeiro impulso é responder que sim, acho que sim, mas não é pergunta que me faça enquanto penso um filme. Sou gaúcho, nasci e sempre morei em Porto Alegre, e faço cinema aqui. Meus filmes são gaúchos? Acho que sim, a sede da produção é a Casa de Cinema de Porto Alegre, a maior parte da equipe é residente ou nascida no Rio Grande do Sul. Os filmes são quase todos baseados em textos de um gaúcho, que sou eu. Também já fiz filmes e programas de televisão baseados em outros autores gaúchos (Luis Fernando Verissimo, Tabajara Ruas, Simões Lopes Neto, Lourenço Cazarré), muitos brasileiros nãogaúchos (muitos) e também em autores estrangeiros (Tolstoi, Mempo Giardinelli). Os atores dos meus filmes são gaúchos? Às vezes todos (Houve uma vez Dois Verões), às vezes alguns (Dorival, O Homem que Copiava), às vezes poucos (Meu Tio). E o sotaque? Também varia, conforme o filme. A temática dos filmes é claramente gaúcha? Menos de uns, mais de outros. O Temporal, meu primeiro curta, dirigido em parceria com José Pedro Goulart, baseado em conto do gaúcho L. F. Verissimo, poderia se passar em qualquer cidade, acho que do mundo. O Dia em que Dorival Encarou a Guarda, outra parceria com o Zé Pedro, está baseada em original do gaúcho Tabajara Ruas, idem. Barbosa, dirigido com Ana Azevedo e baseado num conto do carioca Paulo Perdigão, é uma história brasileira, se passa no Rio de Janeiro e deu um trabalhão para filmar aqui. Os filmes seguintes são todos roteiros originais e, mais ou menos, poderiam se passar em outros lugares. Não sei se são filmes gaúchos, nem penso nisso. São brasileiros, falados em português, com diferentes sotaques. Outra maneira de se determinar o Estado da federação que o filme representa é pela fonte dos recursos de produção, se as empresas patrocinadoras ou produtores associados são majoritariamente gaúchas. Neste critério os filmes que dirigi são mais (Temporal, Dorival, O Homem que Copiava) ou menos gaúchos (Veja bem, Houve uma vez Dois Verões e Meu Tio Matou um Cara.) E dois dos meus curtas nem brasileiros são: Esta não é a sua Vida é uma produção inglesa (feita para o Channel Four) e A Matadeira, alemã (produzido pela ZDF). Mascarello percebe em Meu Tio “um excessivo fascínio em jogar com os itinerários da cidade”, afirmando que o filme “provoca o espectador de Porto Alegre ao transpor um ônibus Bela Vista/Anita para o interior de uma área favelizada”. Se o itinerário pareceu provocação, foi involuntária. Acho que Bela Vista é um nome bastante neutro, nome de muitos bairros e muitas ruas em muitas cidades do país, assim como Anita Garibaldi (ou Malfatti). Realmente não Viúva: Deborah Secco interpreta a sedutora Soraia, mulher do defunto no filme “Meu Tio Matou um Cara”, dirigido por Jorge Furtado Melhor porque é nosso? O diretor do longa Meu Tio Matou um Cara responde às críticas de Fernando Mascarello e Luís Augusto Fischer: “Nunca pensei em fazer um filme gaúcho, embora pense que os faça” acho que este detalhe seja importante, passa despercebido em qualquer outra cidade. Ao espectador brasileiro (ou estrangeiro, por que não?) que se perguntar “que cidade é esta?”, o filme responde: é uma cidade brasileira, não importa qual. Tendo a concordar com a análise do Jean-Claude Bernardet, não reconhecendo claramente uma estética particular nos diferentes filmes urbanos gaúchos produzidos de 80 para cá. Acho que a temática, o estilo e mesmo a “ideologia da representação” identificada por Mascarello, “nem sertão/nem favela/nem pampa/nem Leblon”, pode incluir outros filmes não-gaúchos produzidos nos mesmos anos 80, e me lembro de imediato de O Sonho não Acabou (Sérgio Resende, 1982), Vera (Sergio Toledo, 1986) e A Cor do seu Destino (Jorge Duran, 1986). Pode incluir também filmes como Todas as Mulheres do Mundo (Domingos de Oliveira, 1967), produzido no auge do Cinema Novo e no nascimento da teledramaturgia brasileira, tendo as praias e ruas cariocas como cenário, mas com nada (ou pouco) de Cinema Novo e nada do “realismo” das telenovelas. Penso em alguns dos criadores gaúchos que mais admiro em várias áreas, Luis Fernando Verissimo, Mario Quintana, Armindo Trevisan, Moacyr Scliar, Iberê Camargo, Lupicinio Rodrigues, Nei Lisboa, Elis Regina, Adriana Calcanhotto, Paulo José, e só com algum esforço identifico no trabalho deles traços de gauchismo. Todos, em algum momento, revelaram sua origem gaúcha: Elis gravou o Boi Barroso, Verissimo eternizou o Analista de Bagé, Iberê registrou alguns de nossos cenários, mas são todos eles artistas nacionais, ou ainda internacionais. Mesmo Erico, autor da melhor história gaúcha, tem muitos livros e contos que poderiam se passar em qualquer lugar. Sempre houve e sempre haverá, é claro, o cinema e a arte que representam o gaúcho típico, a cavalo, de bombachas, em bons e maus filmes, livros, discos ou pin- turas. Um dos (bons) filmes mais gaúchos que conheço é A Intrusa (1979), uma produção carioca, dirigida por um argentino (Carlos Hugo Christensen), com elenco paulista e carioca e baseada num conto de Jorge Luis Borges, um gaúcho-argentino. O assunto é interessante e pode ser bom tema de estudo mas, confesso, não é preocupação minha. Meu interesse é outro. Nunca pensei em “fazer um filme gaúcho”, embora pense que os faça. Sou gaúcho e faço filmes aqui, sempre com uma grande equipe, muitos gaúchos. É só isso. Já o professor Luís Augusto Fischer escreveu no Segundo Caderno (11/1/2005) um texto em que relata suas impressões ao ver meu filme. Nunca respondi críticas e nem pretendo começar agora, teria que defender ou explicar meu próprio filme, uma péssima idéia sempre e que piora quando o autor da crítica é um amigo. Mas estranhei bastante a análise que o Fischer faz da trama do filme. E estranhei por um motivo simples: quando do lançamento do livro com o conto Meu Tio Matou um Cara, Fischer escreveu na Folha de S.Paulo, no caderno Folhateen, uma resenha bastante favorável, recomendando a leitura do livro e do conto: “Pelo que lemos ali, Jorge demonstra ser um grande leitor, que conhece o ofício, provavelmente auxiliado por sua experiência em narrativas audiovisuais. Jorge, quando escreve, mistura as duas coisas e alcança um resultado ótimo. (...) E há a grande história que dá título ao livro. Ingredientes: amor adolescente meio contrariado metido num triângulo amoroso, um tio que aparentemente mata por amor, os pais meio tontos com o filho e com o tal do tio assassino. Tudo narrado pelo sobrinho, numa história que caminha para um desfecho emocionante.” Agora, com o lançamento do filme, Fischer escreveu sobre a mesma idêntica história: “O personagem-narrador sabe que alguém foi morto (aparentemente pelo tio), sabe que a mulher que é pivô do crime trai o mesmo tio, mas tudo fica bem em sua consciência desde que a menina de seus encantos fique com ele. É isso que fica no saldo de tudo, para meu discreto horror: nem os encargos da morte, nem o exame moral, apenas diversão”. Gostaria de entender onde o “desfecho emocionante” virou “apenas diversão”. Quando e onde o “resultado ótimo” passou a provocar um “discreto horror”. A contradição entre a resenha do livro e a crítica ao filme é grande e, ao meu ver, insanável. Para os leitores de Zero Hora e Folha, se o livro caminha para um “desfecho emocionante” e o saldo do filme é “apenas diversão”, algo se perdeu no caminho. E parece não ser culpa da produção ou direção, que o Fischer elogia. O que houve? A história é boa e merece ser lida, mas não é boa o suficiente para virar um filme? A morte já estava lá, desde o título do conto. A história é a mesma, com o mesmo final. Qual a diferença? Crimes podem ficar impunes e mortes podem representar pouco para os personagens de um livro mas não de um filme? Comédias só podem ter mortes por escrito? Não entendi essa. Meu palpite é que os critérios mudam quando o livro, de repercussão local, se transforma num filme de repercussão nacional. Não por maldade ou qualquer sentimento mesquinho, mas por um certo ciúme provinciano que alimenta picuinhas na aldeia enquanto os poetas federais tiram ouro do nariz. Acho que somos todos, nós gaúchos, vítimas da “síndrome de Banrisul”, que rebaixa critérios ao eleger o “melhor porque é nosso”. Ou, pior, da “síndrome Polar Export”, que embaralha o juízo ao afirmar que o que é bom é bom não apenas porque mas enquanto “é só nosso”. * Cineasta Confira os artigos de Fernando Mascarello e Luis Augusto Fischer em zh.clicrbs.com.br
Download