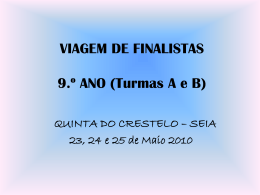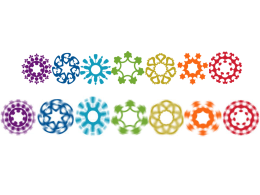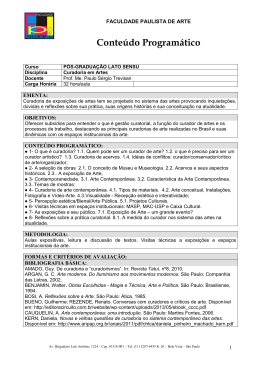Faculdade de Belas Artes Universidade do Porto Críticas e Arte Contemporânea Ana Sofia Sousa Porto Janeiro de 2013 Ana Sofia Sousa 121247018 Críticas e Arte Contemporânea Trabalho apresentado ao professor João Sousa Cardoso, no âmbito da disciplina de Pensamento e Prática da Arte Atual, da turma do Mestrado em Estudos Artísticos, vertente de Estudos Museológicos e Curadorias. Faculdade de Belas Artes - Universidade do Porto Porto, Janeiro de 2013 2 Índice Introdução 4 Críticas e Arte Contemporânea 5 Conclusão 18 Bibliografia 19 3 Introdução Este trabalho tenta centrar-se na crítica institucional e arte contemporânea e nas práticas curatoriais como crítica de arte contemporânea. Num momento em que a crítica poderá estar em crise, este trabalho procura o centro das problemáticas levantando questões para que se perceba o estado da arte atual. Não é um ‘frankenstein teórico’, mas devo desde já avisar que é um trabalho ligeiramente híbrido que toca assuntos que se relacionam com a crítica e a arte contemporânea, de forma superficial, mas que achei importante referir pois dão-nos uma visão mais abrangente do que acontece e porquê. É como o tempo, um círculo infinito com centro em muitos pontos que considero importantes. Uma vez que a arte é vista como paradigma crítico dos modos de agir e pensar humanos, não pode ser vista como um estilo mas como um conjunto de respostas sociais. Assim, o crítico de arte tem a função mais negativa e radical do campo cultural. 4 Críticas e Arte Contemporânea Estará a crítica em crise? Ainda existirá crítica? Estes foram temas abordados na conferência ‘História e Teoria da Crítica’, por Augusto M. Seabra 1, no final do ano 2012. “Crise significava em primeiro lugar acção de distinguir e disputa, mas também decisão no sentido de um juízo definitivo ou de um juízo simplesmente, o que é hoje do domínio da crítica” (Miranda, 1997 apud Koselleck, 1959: 164). As palavras “crítica” e “crise” têm a mesma origem. Ambas provêm do grego “krités”, e assim como “critério”, ambas pressupõe que se emita um juízo. Entenderíamos a crítica, fosse da arte, fosse institucional, fosse como prática curatorial, como uma exposição de uma opinião fundamentada, exposta publicamente e acessível a todos. A crise seria qualquer lacuna que estivesse contida nesse processo, desde uma opinião não fundamenta a uma fundamentação que não é acessível ao público. “(...) Partamos da seguinte constatação: parece ser indiscutível, desde o fim do Renascimento, ou pelo menos desde o século XVIII, que é amplamente sentida um ruptura na história ocidental, que há uma percepção de catástrofe – aquilo a que Hölderlin chamava “cesura”. Esta situação, em que a negatividade parece dominar, pode ser denominada por crise, o que aconteceu frequentemente. Mas reconhecer isso ainda é insuficiente. Convém acrescentar a este um segundo fenómeno, o facto de o discurso da crise se inscrever numa “dialética” da reconciliação (redenção), da resolução, cujo palco é a história” (Miranda, 1997: 111). Estará a arte em crise? Estará a cultura em crise? E a instituição? Ainda há espaço para mais? Como podemos ir mais longe? Qual o papel da História? Com o passar do tempo a crise deixou de ser uma lacuna, ou um fim, para se tornar num processo, que permite o progresso. É como um ponto e vírgula na história, um começar de novo. Também podemos dizer que está intimamente ligada com a cultura e civilização. É normalmente humana, generalizada e esperada, uma vez que surge quando tudo depende da vontade humana, possuindo um carácter público e aberto. Pode ser uma ordem criadora, justa, caso o cidadão participe no debate, julgando e decidindo o rumo ‘da vida’. A crítica foi inserida no espaço público no século XVIII através dos meios de imprensa. Sobre este assunto Augusto M. Seabra disse “ [...] O que distingue a crítica 5 não é apenas uma subjetividade de gosto mas sim a explanação de critérios estéticos, tendo em conta a historicidade das obras, os paradigmas interpretativos e as suas noções de contemporaneidade. [...] é um processo de legitimação tendente também à teorização de obras, autores, tendências e conceitos, que se constitui igualmente num exercício de seleção e poder. E nesse sentido não é menos necessária uma ‘crítica da crítica’ ”(Seabra, 2012: 49). Esta ideia de “crítica da crítica” faz-nos recuar até ao modernismo. Clement Greenberg defendia que o princípio fundador do modernismo era a autocrítica. A arte moderna integrou como parte da sua identidade este princípio, que em parte, consistia num exercício de autoprofanação das práticas artísticas, subvertendo-as. Lembre-se que o modernismo sugeria a experiência tridimensional no plano bidimensional, recusando a perspectiva, figuração e ilusão, num processo de autopurificação. Havia a necessidade de caminhar para a verdadeira essência da arte, no caso da pintura a essência era a superfície e o pigmento. Procurava-se a pureza da obra de arte, a sua autodefinição, a “arte pela arte”. Seria esta autocrítica do modernismo uma crítica correta? Arthur Danto diz que os princípios críticos só podiam existir depois do modernismo, quando a grande narrativa acaba e tudo passa a ser possível. Quando deixa de haver questões como ‘porque sou eu uma obra de arte?’. Essa seria a principal diferença entre arte moderna e arte contemporânea, a primeira é vista como uma narrativa e a segunda como um momento pós-histórico, um momento de profundo pluralismo e total tolerância na arte. Mas em tudo ou só na arte? Com a modernidade a tradição entra em crise generalizada e apesar da narrativa chegar ao fim o mesmo não se passou com o seu tema. A pintura deixa de ser um reflexo de nós mesmos como sujeitos na história. A arte contemporânea manifesta consciência da história da arte, mas leva-a muito mais além. É um fim de um ciclo e o início de outro. Este lado inimaginável da arte futura é um dos limites que nos mantêm encerrados nos nossos próprios períodos. É a arte que marca a sensibilidade do presente, mas o contemporâneo é mais do que o presente, mais do que o moderno e mais do que o mais recente. Agamben diz-nos que é contemporâneo aquele que percebe o escuro do presente e nele apreende a luz resoluta. Consegue dividir e interpolar o tempo, transformando-o e colocando-o em relação com outros tempos (Agamben, 2009). Também Benjamin reforça a ideia que ser contemporâneo não é apenas do nosso século e do ‘agora’, é isso conjuntamente com textos e documentos do passado (Agamben, 2009: 72-73 apud Benjamin). Este é um período de 6 informação desordenada e entropia estética, equiparado a um período de quase perfeita liberdade – liberdade esta, breve, se é que alguma vez existiu realmente. A arte e os meios de comunicação multiplicam-se. Agamben chama-nos à atenção para o estado do sujeito que deixa de ser real, devido ao aparecimento destes dispositivos (Agamben, 2009). Já Danto diz-nos que a linde da história deixou de existir. Já não há imperativos (Danto, 1999). A. Blanqui diz-nos que “somente nas bifurcações está em aberto a esperança” (Miranda, 1997: 129 apud Blanqui). Assim a arte deixa de ser um rio e passa a ocupar o espaço dos seus afluentes. Surge outra questão. Uma vez que a arte contemporânea é tão livre e geral, será incompatível com o museu e as suas infraestruturas? Ou, apesar de tudo, cabe no museu? Há o risco do museu a transformar a partir do momento em que ela entra no seu espaço? A exposição de Marijke Van Warmerdam em Serralves explora novas possibilidades de expressão formal e conceptual, que cruzam filme, escultura, fotografia e linguagem. Focava-se na beleza do quotidiano e mostrava o extraordinário presente no mais trivial. Esta exposição retroespectiva curada por Jan Debbaut foi mais do que uma narrativa. O próprio título ‘De Perto à Distância’ poderia ser uma interpretação do contemporâneo. São conjuntos de pequenos gestos que se adaptam ao museu, transformando-o. A obra de arte é um diálogo entre o espectador e a artista. A obra ‘Bola de Gelo’ é particularmente interessante, uma vez que representa a efemeridade que uma obra pode ter e as ações necessárias (não por parte do artista) para que ela ‘sobreviva’. “A ideia de efémero como instante crítico das verdades estabelecidas se mostrou, ironicamente, também efémera” (Conduru, 2008). Será que estamos a ver a obra original? Ou serão reproduções? Será a reprodução a própria obra? As instituições definem a arte? Partindo do princípio que nenhuma arte é historicamente mais verdadeira que outra, deveríamos tratá-las de igual modo? Caberão todas no mesmo local? Na minha opinião podemos assumir que nenhuma é mais ou menos verdadeira que outra, mas não deixam de ser diferentes e de se basear em princípios diferentes. Não deveriam, desse modo, caber no mesmo sítio. Talvez por isso os gabinetes de curiosidades tenham percorrido um longo caminho até se transformarem em museus. Houve a transposição do espaço fechado para o espaço aberto, do privado para o público, do museu do mundo para o museu no mundo. Penso que o cubo branco tentou de alguma forma conter as obras modernistas de maneira totalmente diferente dos espaços que continham arte até então. Houve um 7 grande choque quando este apareceu. A obra passa a ter espaço para respirar e tudo no espaço pode ser visto como arte, desde uma pintura a um cinzeiro (O’Doherty, 2007 :4). Surge um novo nível reflexivo. Qualquer coisa pode ser considerada arte? Qualquer um é artista? Deve haver critérios. Mas quais? Sabemos que seria impossível estudar o espaço sem falar do tempo. Para Pascal o eixo do tempo é como um “círculo infinito com centro em todo o lado” – está no centro de tudo e sem ele nada seria possível. Os movimentos subordinam-se ao tempo. É um retorno que não cessa e não atinge a origem. “[...] é preciso que o espaço e o tempo encontrem determinações verdadeiramente novas. Tudo o que se move e muda está no tempo, mas o tempo em si não se move tal como não é eterno. Ele é a forma de tudo o que muda e se move, mas é uma forma imutável que não muda” (Miranda, 1997 apud Deleuze, 1986: 29-30). Mas será suficiente falar em tempo e espaço? E o estilo de vida? E a cultura? O estilo de vida abraça a arte ou será a cultura demasiado elevada para que tal aconteça? Sabemos que quando o Louvre surgiu havia um incentivo a que a instituição de arte fosse visitada por toda a população. O museu era totalmente público, tinha um carácter educativo e até os horários estavam pensados para que a população trabalhadora e menos erudita o visitasse. O que acontece nos nossos dias? Vamos partir do princípio que o museu continua a ser uma instituição pública, no sentido em que é acessível a todos, sendo ou não propriedade do Estado. O máximo que pode acontecer é este acesso livre ser condicionado por um pagamento. Pensemos que todos estes locais, quando exigem que o visitante pague para os visitar, possuem como alternativa visitas grátis ao domingo de manhã, por exemplo, e assim a falta de meios económicos não é razão para a população não visitar tais instituições. Vamos também partir do princípio que o museu continua a ter um carácter educativo. A conferência com que iniciamos este trabalho é um exemplo disso - não foi organizada por um museu mas por uma fundação, que apoia a cultura e não cobra pagamento por parte do espectador. Outras instituições de arte apostam na sua vertente educativa apesar de nem sempre ser muito bem divulgada junto da audiência em geral. Até aqui não encontramos nenhuma razão para que o estilo de vida não abrace a arte. Contudo, penso que é claro que o estilo de vida continua a não abraçar a arte. Porquê? Como podemos mudar isso? Acho que há duas maneiras relativamente simples de o fazer. A primeira é levar a arte às pessoas e não o contrário, como na arte pública. Mesmo que 8 eu não seja apreciador de arte, se tropeçar numa obra ela vai inevitavelmente mudarme. Pode não ser uma mudança grande, nem pequena. Pode ser minúscula e inconsciente, mas vai acontecer. Porquê? Porque é inevitável. E porquê? Porque apesar de não sabermos definir arte, sabemos caracterizá-la e uma das características que lhe podemos atribuir é o facto dela nos mudar. Um exemplo disso é Guimarães 2012. A obra ‘Open Cinema’, de Marysia Lewandowska e Colin Fournier, é um exemplo de uma instalação que vive das pessoas e vice-versa. Não está num museu e isso faz com que seja vista de maneira diferente. O facto de estar numa praça e desenhada de maneira a que as pessoas que interajam com ela interajam, inevitavelmente, umas com as outras, cria uma proximidade entre a obra e o público. A segunda maneira é criar um evento dentro da mesma linha de Serralves em Festa, que conte não só com exposições e performances, mas também com música e atividades que deixem as pessoas à vontade. Um evento que se passa num espaço que não intimida e é muito mais próximo das pessoas em geral, do que um ambiente como o do cubo branco, por exemplo. Anteriormente dissemos que não há artes mais verdadeiras que outras, mas sabemos que os Museus de Belas Artes continuam a ser vistos como tesouros visuais, de maior valor que os Museus de Arte Moderna. Ganham força apenas as instituições produtoras de memórias. Quando me referi ao pouco à vontade que a população sente ao entrar num museu contrariamente a participar num evento como ‘Serralves em Festa’, queria dizer que há sempre uma associação à figura de autoridade da instituição. O museu possui sempre um valor simbólico, económico e político, sendo que muitas vezes as práticas artísticas dependem dele para que certas obras ganhem outra força e valor perante a audiência. Mas que adianta esta força se as pessoas se sentirem intimidadas e não as forem visitar? O que é que o museu deve ser ou fazer para aumentar o seu valor junto da audiência? Não me refiro a valor monetário, refiro-me à barreira que ainda existe entre o museu e a população. Voltamos à questão sobre se o estilo de vida abraça a arte ou as instituições que albergam arte. Será que basta ver as estatísticas das visitas anuais dos museus? Será que a quantidade de pessoas que visita museus todos os anos representa uma população à vontade e realmente interessada? Ou será a quantidade de visitas posta à frente de tudo, cegando-nos e impedindo-nos de melhorar os espaços públicos? Estaremos a reduzir as visitas da população a um nível vulgar que poderá transformar-se em catastrófico? Não será a qualidade da participação aquilo a que 9 devemos estar atentos? Não estaremos a fazer do museu um espaço de consumo e entretenimento, e não de experiência estética? Apesar do museu não ter mudado, surgiram alguns espaços na cidade que pretendem mostrar obras, afastando-se desse lado político e económico – os chamados espaços alternativos. Um exemplo desses espaços é a galeria Uma Certa Falta de Coerência que vive exclusivamente financiada por dois artistas e que só expõe trabalhos de conhecidos desses artistas criando um ambiente quase familiar. Esta galeria é um exemplo de um espaço que se distancia completamente do modelo do cubo branco e tendo marcas claras do tempo e de algumas experiências lá vividas. Podemos dizer que é um espaço produtor de memórias, de alguma maneira. O que será mais correto: o Museu de Belas Artes, o Cubo Branco ( neutro, sem história e sem memórias) ou nenhum dos dois? É preciso analisar o comportamento dos espectadores. Será Uma Certa Falta de Coerência tão visitada como os Museus de Belas Artes, uma vez que ambos produzem memórias? Será sequer isto questionável? Porque preferem os espectadores templos e palácios a museus? A arte deve ser dirigida a todos, mas como podemos pensar no nosso tempo aliando-a às memórias do passado, que o público tanto gosta, fazendo com que seja suficiente? Como podemos manter o ‘equilíbrio entre o conhecimento e o prazer do jogo da arte’ trabalhando-a, não como uma ferramenta educacional, mas como qualidade formativa que transforma o cidadão num crítico sensível? Como podemos fazer tudo isso afastando-nos do Governo e da religião, do poder e do entretenimento das massas, que fazem da arte um factor de alienação e controlo sociais? O percurso futuro deve confrontar coisas que à partida não têm relação entre si. Por exemplo, em Uma Certa Falta de Coerência a nossa relação com o espaço pode ser um choque. Na minha opinião isso é uma experiência positiva uma vez que nos leva para fora da nossa zona de conforto, e daquilo a que estamos habituados, o que é essencial para o progresso. A experiência no lugar deve ser sempre exigida. Talvez o tempo do cubo branco deva começar a ser encarado como passado, dando lugar a novas formas de ver o espaço. Na conferência “A "Crítica institucional" como discurso crítico contra e através das instituições do mundo da arte” lecionada por Hélder Gomes, dia 30 de Novembro na Faculdade de Belas Artes Universidade do Porto, percebemos que há vários artistas que se tentam aproximar do museu para que as suas obras sejam sacralizadas e outros fazem o contrário. Nos últimos dois séculos surgiu uma tendência de produzir no próprio espaço do museu - a instituição como atelier. Há assim uma dependência da 10 obra para com o espaço, para que o seu contexto não se perca. Clement Greenberg debate-se com este paradoxo da autonomia da arte contemporânea que esconde esta relação de interdependência das práticas artísticas com a instituição. A autonomia crítica da arte como em Duchamp, onde havia uma crítica da relação entre artista, obra e instituição é comprometida por esta relação de interdependência de que fala Greenberg. Vejamos por exemplo a obra ‘Museum Highlights’ de Andrea Fraser. Esta obra possui uma relação de sinceridade com a arte, possuindo um discurso crítico e um desfasamento crítico face ao trabalho criativo. Um museu fictício que se centra não na obra mas na reprodução ideológica do que há de nobre e poderoso no mundo da arte. Nunca nada cabe no espaço institucional mas, por outro lado, sacraliza-se a relação de pertença – vendendo-se a instituição. Há uma mais-valia simbólica nesta ideia de pertença à instituição de arte – é a assinatura do artista que tem valor e não a obra. Perde-se o médium e tudo cabe e resulta indiferenciando esta ideia de arte como pertença. É um procedimento consciente para profanar as instituições e, contudo, não funcionaria noutro local que não fosse a instituição. Para que o espaço do museu/galeria/arte seja dessacralizado, antes teve que ser sacralizado, havendo espaço para uma consciência de exceção. Aqui, a própria instituição possui uma crítica encenada, tendo uma dimensão paradoxal. No caso desta obra o contexto é tudo. Fraser vai “Da crítica às instituições a uma instituição da crítica”. A crítica institucional aproxima a arte de interesses políticos, económicos e sociais, centrandose não só na instituição mas também nos seus reflexos ( artista, produtor, museu, galeria, público, colecionador, financiador e instituição pública e privada). Os produtores de exposições de grande escala, em especial nos EUA e na Europa, mudaram para sempre o lugar da arte em negociações simbólicas sociais, havendo um tráfico de interesses camuflado. A arte e o seu prestígio social são valor cultural aproveitado pelo poder intectual e económico das nações não para promover interesses na sociedade mas para promover interesses privados (Campos, 2010). O artista é um pensador da cultura e da sociedade, transformando-se num ativista. A arte tem potencial mobilizador. Será, contudo, possível conceber uma arte do seu tempo? Deveríamos ser atores da mudança trabalhando para além do que se vê. Deveríamos ter consciência de quem nem tudo se produz nas academias, ultrapassando o academismo contemporâneo e dando voz a um novo contemporâneo. 11 A instituição, historicamente carregada e onde a arte assume uma função epistemológica, critica o objecto, o mercado, a galeria, o museu, a produção, a técnica, as bienais, as feiras e o artista. A própria crítica institucionaliza-se. Lygia Clark é uma artista que tem a capacidade de praticar a autocrítica com carácter positivo, deixando de lado o poder e focando-se na arte, na liberdade, na sensualidade, na verdade e no romântico. Ela transforma o meio – a realidade e os indivíduos à sua volta. O seu trabalho crítico é produção cultural. Para ela só quem saía da condição de espectador poderia relatar a dimensão do vivido. Isto não acontecia com muitos críticos de arte. Também o mercado dificultava a circulação de obras críticas e com diferentes visões. Na sua obra ‘Os Bichos’ valorizava-se a ação do participante e a experiência, mais do que objecto. Não era preciso colocar réplicas para a obra original não se ‘estragar’ na experiência com o público, pois era essa a finalidade da obra e não estar num pedestal para ser admirada. A cultura de massas padronizou a estética e esvaziou o conteúdo da sua produção. O suporte financeiro, representado por galerias e marchands, institucionaliza trabalhos através de exposições, catálogos, críticas favoráveis e prémios, de maneira a recuperar o capital investido. O carácter privilegiado da arte é ameaçado pelo poder da indústria cultural. Um novo paradigma estético tem implicações ético-políticas e por isso a criação artística exige responsabilidades. “Quanto à posição à priori, de ser contra galerias, museus, etc.etc., não leva a nada de positivo a não ser criar uma nova elite [...] Acho que o que fazemos é que é importante e teorias nesse sentido são muito boas para o crítico que nada comunica e pode se dar ao luxo de assim pensar. Porque é que eles não podem admitir que as coisas mudam e também as instituições? Muita pretensão a gente achar que nós mudamos para melhor mas que do outro lado só querem nos ‘recuperar’ para se dizerem à la page... [...] Eu pessoalmente topo tudo. Faço minhas exposições onde me convidarem, na rua, na minha casa e ainda no inferno se houver possibilidade” (Maxwell apud Clark, 1996: 151). A crítica que em tempos foi vista com descrédito, associada à instituição e ao pensamento corporativo, ganha uma nova vida a partir do momento em que a arte entra em contacto com outras áreas, onde se forma a autocrítica propondo novas possibilidades teóricas e práticas para resolver questões em campos específicos. Clark antecipa o movimento da crítica institucional reinventando o público. A íntima relação com o seu trabalho permite que se reinventem juntos como no processo da vida. “Na própria vida nota-se o processo. O quotidiano, que para mim é 12 sempre mágico, rico em nova aparência, para eles é o vazio, a repetição e nada representa como maturação. Até acho que invento minha própria vida, que a recrio todos os minutos e ela me recria à sua imagem; vivo mudando, me interrogando maravilhada, sem controle de nada, dos mínimos acontecimentos, me deixando fluir, despojada de quase tudo, guardando somente minha integridade interior” (Maxwell apud Clark, 1996: 207). O que há de monumental no nosso tempo? Como é que alguém propõe algo na sociedade e no seu tempo, sabendo o grande valor social que a arte possui? Hélio Oiticica fez arte para quem nada sabia. A sua produção artística foi anti académica. O interessante na exposição ‘Museu é o Mundo’ foi perceber que a sua obra não vive do museu, ela está lá mas não precisa dele – consegue viver sozinha aproximando-se intimamente do visitante, interagindo com ele e fazendo-o esquecer os seus limites. Estamos disciplinados para ver exposições em museus e outras instituições e isso pode tornar as obras mais valiosas, mas também pode ter o efeito contrário. Esta exposição tinha um ‘wow-effect’, era quente nas cores e nos materiais, mas pedia liberdade. Há uma participação física e sensorial do espectador. É um pouco irónico ver a obra de Oiticica no espaço do museu, uma vez que ele recusava a transformação do artista num produto de consumo por parte da instituição. A sua arte era para a sociedade, para o povo, e em ‘Cartas’ podemos perceber que o próprio objecto já não interessa como antes, ele serve apenas para que haja participação por parte do público. Como é que alguém traz um novo olhar sobre algo que já foi visto? O comissário Nuno Faria fê-lo, aventurando-se e correndo riscos. E resultou. Já todos tínhamos visto algumas das obras expostas em Para Além da História mas nunca daquela maneira ou estabelecendo aquele diálogo. A crítica institucional não se trata de um movimento artístico mas de uma categoria para perceber o trabalho dos artistas. No conceito ‘crítica da instituição’, a própria crítica corre o risco de ser institucionalizada. O discurso crítico age interiormente à obras, centrando a maior parte do projeto criativo em questões de construção de obras políticas e sociais. Como dizia Hélio Oiticica arte é encarada como instrumento de transformação da sociedade , sendo o artista visto como vector de mudança (Oiticica, 1986: 85). Surge a pergunta: a quem pertencem as obras de arte? À instituição? Qual é o sentido de inscrevermos o discurso expressivo e libertário das obras, retirando-as da mão do artista e inscrevendo-as nas lógicas do mercado? 13 Os modelos das mostras de arte são questionados, assim como a expansão das mostras a outros locais, nomeadamente no panorama internacional. Estudam-se as intenções por trás dos modos de expor e debate-se vivamente a exposição como obra – no limite denominada por ‘arte de expor’. Fala-se da instalação como género característico da arte contemporânea. Um universo de conceitos, objetos, lugares e sujeitos. Como pode o curador seduzir a audiência gerando retorno nos média? Como pode valorizar o ambiente? Será tudo sobre o ambiente? Terá a curadoria um papel ativo na crítica? Poderá a curadoria trazer mais visitantes à instituição, dando-lhes uma nova visão da arte enquanto factor de mudança social e cultural? Jean-François Chougnet disse: “a curadoria é uma profissão recente que se afirma só no final dos anos 1960 (com, naturalmente, alguns ilustres precessores na década de 1939). Existem mil e uma maneiras de a exercer, com estatutos profissionais diversificados: membros de organizações, universitários, ‘freelancers’, etc. O curador é agora alternadamente um filósofo, um mediador, um ‘registrar’ de obras em exposição e, muitas vezes, um produtor cultural” (Chougnet). Como se apresenta a curadoria hoje? Sabemos que com a curadoria internacional os mesmos problemas são abordados, ao mesmo tempo, em várias partes do mundo, mas até quando será assim? E que repercussões traz? E a crítica? Este pode ser um tópico de discussão. Segundo o artigo ‘The Fine Art of Being a Curator’ (Kennedy, 2012), Emilia Gladis pensa que não é assim, apesar de cada vez mais os curadores estarem em muitos sítios diferentes num reduzido espaço de tempo, não há muitos problemas comuns em diferentes locais. Já Mr. Su, discorda e diz que por onde tem passado muitos dos problemas são os mesmos. Penso que Mr. Su terá razão uma vez que o mundo da arte é um mundo de curadoria, agora internacional, e por isso é normal que as mesmas situações vão surgindo em diferentes locais. Vamos partir do princípio que a afirmação anterior se verifica. Será esta ‘nova’ curadoria uma forma de homogeneização das maneiras de expor arte? A partir do momento em que eu tenho um determinado background político, social e cultural e vou para outro sítio curar uma exposição, quais serão as consequências? Uma das consequências poderá ser o chamado ‘modelo de helicóptero’ - abordar o espaço, a forma de expor, a escolha das obras de acordo com a minha essência enquanto cidadão. Isso por um lado pode ser importante na medida em que o público vai assistir a algo mais ou menos novo, por outro a probabilidade de eu estar a trabalhar para alguém diferente de mim, em vez de alguém igual, é reduzida. Quero com isto dizer que o curador pode 14 ser um médium entre a obra e a audiência. A maneira como as obras são expostas pode alterar completamente a forma como são vistas e interpretadas, e nesse sentido se eu não conheço a fundo a cultura daqueles para quem estou a expor, a obra nunca vai ser absorvida da maneira que desejo. Sabemos que o pensamento ocidental é na sua base etnocêntrico, assumindo que a nossa cultura é o centro e que todas as outras são ‘inferiores’. Contudo sabemos que não é só na cultura ocidental que isto se sucede. Todas o são a partir do momento em que olhamos para os outros partindo dos nossos próprios valores. Assim, desenvolvemos competências críticas para lidar com o nosso próprio etnocentrismo. Derrida sugere que o assumamos, subvertendo-o ao mesmo tempo. Isto leva-nos a outro ponto – até onde a obra deve ser vista como eu quero que seja? Até que ponto a minha linguagem deve ser entendida? Até que ponto a interpretação da audiência deve ser guiada pelos meus princípios? Se o curador é um médium então ele próprio é uma linguagem. Não deve o curador ser apenas um transportador da mensagem que o artista cria com a obra? Se é uma linguagem pode ser bem ou mal entendida. Onde está o espaço da interpretação completa? A interpretação existiria mas nunca seria totalmente aberta. “Desde que o papel da linguagem está em jogo, o problema torna-se político por definição, pois é a linguagem que faz do homem um ‘animal político’ ” (Miranda, 1997 apud Arendt, 1958: 11). Será a política sempre um efeito do agir? Talvez sim mas esta política refere-se ao campo da politicidade e não ao domínio político. Assim surge a metapolítica, algo que está para além da política e se apresenta como categoria crítica do discurso, sempre presente em qualquer experiência. Voltamos ao Homem e à sua vontade. Tudo depende de nós e da maneira como usamos o que nos é implícito, quer seja na maneira como usamos o poder ou como lemos a História. Assim a linguagem desempenha um papel fundamental na experiência (Miranda, 1997). A política precisa de sujeitos reais . À medida que os dispositivos se reproduzem sozinhos a política transforma-se numa forma sozinha que caminha para a catástrofe (Agamben, 2009). Há várias maneiras críticas de curar uma exposição compreendendo a cultura contemporânea. Houve uma desmistificação das produções do mundo da arte, quando os curadores apareceram mostrando o seu trabalho, como mediadores entre produção e disseminação da exposição. Nos anos 1960 o discurso à volta da obra de arte exposta assume uma forma autónoma de se estudar e criticar, surgindo a curadoria crítica, onde o espaço da exposição é um elemento de grande peso. Assim, nos anos 15 1990, este torna-se um possível lugar da crítica da arte. Já a curadoria internacional é vista como uma prática individual e uma autonarrativa, posicionando-se no mapa fora do discurso. O mesmo se passa com o curador ‘como artista’ que tenta quebrar com as bases da curadoria. Todas as exposições são ideológicas na medida em que produzem formas de comunicar algo, tornando intenções privadas em públicas. Assim, o curador deve, também, ser agente cultural. Quando o curador estava associado à instituição era invisível. Hoje em dia o curador conquistou outro nível de liberdade. Curar não é só organizar, é sugerir questões sobre. É criar reflexões sobre a natureza humana, sobre realismo social ou contexto histórico. É articular a voz curatorial através de pesquisas e evocação de obras, criando temas, espaços e atrações para ‘o povo’. “A curadoria tem-se tornado o médium através do qual a maior parte da arte se torna conhecida” (O’Neill apud Ferguson, Greenberg e Nairne, 1996: 2). O principal médium de distribuição de arte são as exposições temporárias, sendo o principal agente do debate e crítica. Há a tentativa de escapar ao controlo e às estratégias de dominação de museus, galerias, coleções, etc. Deverão as obras estar na reserva ou em viagem? Será a instituição mera hospedeira de exposições? A curadoria deve pensar nas exposições como uma construção que vai passar informação e conhecimento ao visitante. Não é mera construção estética e por isso deve estimular o envolvimento da exposição com o visitante. É intermediação entre o espaço museológico e o visitante. Também devemos ter atenção ao facto de que numa exposição todos os elementos presentes fazem parte do discurso. É preciso entender e participar. Como fazer isso quando o mundo contemporâneo vive da novidade? Tem que surgir um compromisso da parte do artista, público e curador, para que se perceba que nada é feito de forma ‘gratuita’. Há que tentar compreender o que está a ser dito. A obra de Renato Ferrão, exposta na segunda sala do Chiado 8, pode ser encarada como uma personificação da verdade, sendo semelhante a uma borboleta – só a podemos ver se a pararmos, mas se fizermos isso perdemo-la para sempre por isso só nos restam curtos segundos. Esta exposição também nos remete para a importância de montagem de uma exposição uma vez que é um bom exemplo de relação entre a dinâmica mental e física do espectador com a obra. Didi- Huberman diz-nos que há uma necessidade de deslocamento como sistema, sendo que para diferentes desafios precisamos de ir escolhendo pontos de vista em trânsito. Colocar questões e fazer um trabalho de escrita. O que interessa não é a obra exposta mas o que deu origem a essa obra e que experiência pode o observador tirar dela. Referi anteriormente que a arte 16 contemporânea é observada de maneira mais acelerada e superficial. Este autor reflete sobre essa necessidade de tempo e disponibilidade que devemos ter para com as obras, chamando à atenção que uma maior exposição não garante uma melhor experiência. Este é um ponto em que o curador deve ter especial atenção, principalmente na era em que vivemos das exposições retroespectivas. DidiHuberman também reflete sobre o ‘tampão metafísico’ e o buraco político dos nossos tempos – o poder político faz-nos acreditar que estamos informados, quando na realidade não estamos. As instituições enquanto espaços políticos contribuem para este caos, pois não dizem não. Não sabem, não podem ou não querem? Provavelmente a terceira hipótese. E onde está o eco crítico? Tem que haver mais gente a escrever e a criar diálogos com artistas, para que o plano cultural seja entendido como conversa e debate. Como pode isto ser feito? Tem que haver maior proximidade entre críticos e artistas. 17 Conclusão A crítica de arte deve ser trabalhada de uma nova maneira, sendo que a arte deve ser baseada na comunidade. Por vezes é acusada de ser conservadora já que há uma conexão aos círculos sociais e elites económicas quando a sua função, supostamente, seria uma atividade transformadora. Surge a necessidade da crítica encontrar um lugar fora dos trilhos do mercado. Contudo, separar crítica do mercado é tarefa uma impossível. O museu é um espaço concebido, proporcionando hipervisibilidade e controlo, e que apresenta o presente em vitrinas provocando tédio e monitorização dos sentidos. Devemos questionar as funções e propostas dos museus. Não se pretende que sejam meros silos de obras de arte ou centros eruditos. Pretende-se que provoquem mudanças na vida das pessoas, trazendo-lhes algum tipo de benefícios. Torna-se um desafio para os museus expandir o seu campo de ação, embora mantenham o seu papel de preservação de memórias. Tudo aquilo com que o Homem interage são dispositivos e, uma vez que somos seres políticos, há sempre relações de arte e poder à nossa volta. Maneiras inovadoras de curar como em Para além da história devem começar a surgir. As obras de arte devem ser deslocadas do seu contexto habitual de maneira a que não percam sentido, mas que aconteça o contrário. Devemos tentar atingir a obra para além do espaço físico. Nos nossos dias as periferias representam lugares de criação artística inovadora uma vez que se encontram menos protegidas pelo controlo social e por isso há algo diferente a nascer. Há que tomar uma posição crítica e fazer escolhas. Estar disponível e não aceitar tudo. A curadoria como maneira crítica passa por curar, editar e escrever sobre isso. Abre espaço à produção de arte mas implica exigências que por vezes condicionam o pensamento. Nos últimos anos tem-se assumido como visualização da experiência da arte através de exposições. É essencialmente um processo de pesquisa, envolvendo investigação, descoberta e reflexão crítica. Torna-se intervenção crítica quando abre exploração e debate, evocando questões e emoções do espectador. Deveríamos ver o futuro sem outras esperanças além da própria capacidade de repensar o presente. 18 Bibliografia Agamben, Giorgio (2009) O que é o Contemporâneo? – e outros ensaios. Chapecó: Argos. Campos, Camila Rocha (2010) “O Social para uma Crítica Institucional – Sistemas Simbólicos, Arte e Instituição”. http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/chtca/camilla_rocha_campos.pdf [20 de Dezembro de 2012]. Clark, Lygia; Oiticica, Helio (1996) Cartas, 1964-74. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. Conduru, Roberto (2008) “Por uma Translucidez Crítica – Pensando a Curadoria da Exposição de Arte”. Caderno de Diretrizes Museológicas 2, [11 de Dezembro de 2012]. Danto, Arthur C. (1999) Después del Fin del Arte – El Arte Contemporéneo y el Linde de la Historia. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérico. Gombrich, E. H. (1994) Para uma História Cultural. Lisboa: Gradiva. Kennedy, Randy (2012, 18 Julho) “The Fine Art of Being a Curator” The New York Times, C1, [4 de Dezembro de 2012] Maxwell “Crítica Institucional”. Reportório institucional da Pontifícia Universidade Católica do Rio de http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/13056/13056_4.PDF [26 de Dezembro de 2012] Miranda, José A. Bragança de (1997) Política e Modernidade – Linguagem e Violência na Cultura Contemporânea. Lisboa: Edições Colibri. O’Doherty, Brian (2007) No interior do Cubo Branco – A ideologia do espaço. São Paulo: Martins Fontes. Rugg, Judith; Sedgwick, Michèle (2007) Issues in Curatoring Contemporary Art and Performance. http://books.google.pt/books?hl=ptPT&lr=&id=xhT7zp4rIukC&oi=fnd&pg=PA7&dq=curatorial+practices+as+a+critiqu e+of+contemporary+art&ots=Q6vWrUjOdh&sig=NuMArg37rCGoDGz9NBiwMXjgeE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [6 de Dezembro de 2012] Seabra, Augusto M. (2012) “História e Teoria da Crítica” Setembro Dezembro 2012. Culturgest (3), 48-49. Serota, Nicholas (2000) Experience or Interpretation – The Dilema of Museums of Modern. London: Art.Thames & Hudson. 19
Download