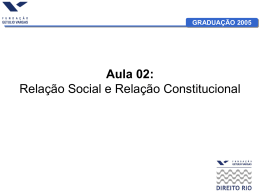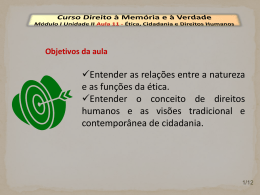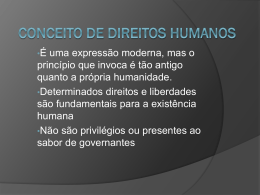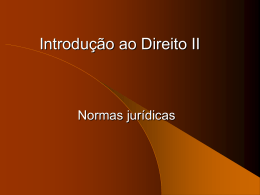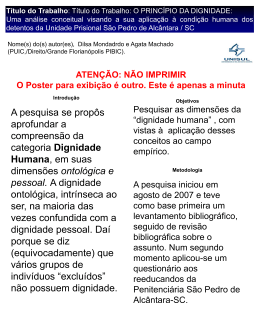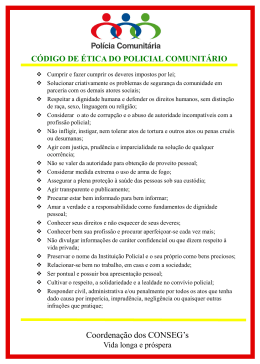UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
RELAÇÕES EXISTENCIAIS DECORRENTES DO PODER FAMILIAR
E SUA TUTELA PELAS NORMAS DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES
Catarina Almeida de Oliveira
TESE DE DOUTORADO
Área de Concentração:
Teoria e Dogmática do Direito
Recife, 2012
1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
RELAÇÕES EXISTENCIAIS DECORRENTES DO PODER FAMILIAR
E SUA TUTELA PELAS NORMAS DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES
Tese de Doutorado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Direito da
Faculdade de Direito do Recife/Centro de
Ciências Jurídicas da Universidade Federal
de Pernambuco como requisito parcial para
obtenção do grau de Doutora.
Área de Concentração: Teoria e Dogmática
do Direito.
Orientadora: Profa. Dra. Fabíola Santos
Albuquerque
Catarina Almeida de Oliveira
Recife, 2012
Catalogação na fonte
Bibliotecária Eliane Ferreira Ribas CRB/4-832
O48r
Oliveira, Catarina Almeida de
Relações existenciais decorrentes do poder familiar e sua tutela pelas normas
do direito das obrigações / Catarina Almeida de Oliveira. – Recife: O Autor, 2012.
196 f.
Orientadora: Fabíola Santos Albuquerque.
Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco. CCJ. Direito,
2012.
Inclui bibliografia.
1. Constituição Federal de 1988 - Direito brasileiro - Direito civil. 2. Dignidade
humana - Solidariedade - Igualdade - Ordenamento jurídico brasileiro. 3. Princípio
da dignidade da pessoa humana - Brasil. 4. Direitos civis - Relações de família. 5.
Direito constitucional - Relações de família. 6. Filiação - Direitos e deveres - Brasil.
7. Relações familiares - Aspectos jurídicos - Aspectos psicológicos - Aspectos
sociais - Aspectos morais - Brasil. 8. Comportamento afetivo - Brasil. 9.
Obrigações civis - Relações jurídicas - Poder familiar. 10. Direito de família Modernização - Brasil. 11. Relações familiares - Responsabilidade civil - Brasil. 12.
Pátrio poder - Brasil. 13. Direitos e garantias individuais - Brasil. 14. Família Direitos fundamentais. I. Albuquerque, Fabíola Santos (Orientadora). II. Título.
346.81015 CDD (22. ed.)
UFPE (BSCCJ2012-029)
2
Catarina Almeida de Oliveira
“Relações existenciais decorrentes do poder familiar e sua tutela pelas normas do direito das
obrigações”
Tese de Doutorado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Direito da
Faculdade de Direito do Recife/Centro de
Ciências Jurídicas da Universidade Federal
de Pernambuco como requisito parcial para
obtenção do grau de Doutora.
Área de Concentração: Teoria e Dogmática
do Direito
Orientadora: Profa. Dra. Fabíola Santos
Albuquerque
A Banca Examinadora composta pelos Professores abaixo, submeteu a candidata à defesa em
nível de Doutorado e a julgou nos seguintes termos:
MENÇÃO GERAL:____________________________________________________
Prof. Dr. Paulo Luiz Netto Lôbo (Presidente - UFPE)
Julgamento:_____________________________Assinatura:____________________
Profa. Dra. Carolina Valença Ferraz (1ª Examinadora - UNICAP)
Julgamento:_____________________________Assinatura:____________________
Prof. Dr. Roberto Paulino de Albuquerque Junior (2º Examinador – UFPE)
Julgamento:_____________________________Assinatura:____________________
Profa. Dra. Larissa Maria de Moraes Leal (3º Examinadora – UFPE)
Julgamento:_____________________________Assinatura:____________________
Prof. Dr. Torquato da Silva Castro Junior (4º Examinador – UFPE)
Julgamento:_____________________________Assinatura:____________________
Coordenador do Curso: Prof. Dr. Marcos Nóbrega
3
Para Manoela
4
THE FAMILY SPIRIT
The family, in a sense, is a spiritual entity, for the dead and unborn are widely believed
to be as much a part of it as the living. Just as animals and humans have more “force”
than inanimate objects, so spirits have more than humans. A family may maintain a
shrine not only to honor the ancestral and thus secure their general protection, but also
to seek specific aid at special times that generally involve the family as such.
Pregnancy, birth, sickness, initiation, marriage, death are all occasion when family
spirits may be invoked, using a ritual performed by the head of the family. There seems
a clear divison between the natural and the supernatural, the material and the spiritual.
Yet we are not quite beyond the realm of science, for the “force”, if spiritual, is none the
less real in traditional belief.
(METROPOLITAN MUSEUM. Nova Iorque, abril 2011)
A chilly breeze that seemed to emanate from the heart of the forest lifted the hair at
Harry’s brow. He knew that they would not tell him to go, that it would have to be his
decision.
“You’ll stay with me?”
“Until the very end,” said James.
“They won’t be able to see you?” asked Harry.
“We are part of you,” said Sirius. “Invisible to anyone else.”
Harry looked at his mother.
“Stay close to me,” he said quietly.
(ROWLING, J. K. Harry Potter and the Deathly Hallows, 2007)
Mother, you had me, but I never had you/ I wanted you, you didn't want me/ So I, I just
got to tell you/ Goodbye, goodbye…
Father, you left me, but I never left you/ I needed you, you didn't need me/ So I, I just
got to tell you/ Goodbye, goodbye…
Children, don't do/ what I have done/ I couldn't walk and I tried to run/ So I, I just got to
tell you/ Goodbye, goodbye…
Mama don't go….Daddy come home…
(JOHN LENNON - John Lennon Plastic Ono Band – 1970)
5
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus por tudo.
Ao meu irmão Fábio, por me proteger e inspirar sempre, e não me abandonar nunca.
À minha mãe Juliana, por proporcionar a mim e a Manu, a melhor experiência familiar
do mundo.
Ao meu pai Geraldo, por seu amor, por sua curiosidade acadêmica, por seu entusiasmo
inteligente, pelas palavras de incentivo, pela revisão ortográfica desta tese e pela ajuda
com o Abstract.
À minha filha Manoela pelos melhores momentos de minha vida. Por tornar minhas
obrigações parentais, as experiências mais fabulosas de minha existência.
Às minhas tias, especialmente Thetê, por ser minha segunda mãe, me apoiando e
incentivando todas as vezes que preciso.
Ao meu irmão Chico e ao meu amigo Leonardo Galiza, pela preocupação,
disponibilidade e ajuda, quando, em plena madrugada de carnaval, apaguei de meu
computador, o programa que continha o editor de texto que estava utilizando para
escrever esta tese.
A Fabíola Albuquerque que, além de amiga, foi uma orientadora sensível, profissional e
criteriosa.
Ao meu professor Paulo Lôbo, pelas melhores lições de Direito Civil, sendo o meu
paradigma profissional.
A Liana Lins, por me ajudar, sempre, a tomar as decisões mais importantes, que vão da
compra do meu apartamento à escolha do tema desta tese.
A Tania Onoratti, por ter me ensinado italiano, idioma sem o qual, não teria iniciado
esta jornada.
A Antonieta Lynch pela sólida amizade e pela insistência de anos, para que eu fizesse o
doutorado.
A Roberta Cruz, pela adequação desta tese às regras da ABNT e por ser a minha amada
irmã caçula, provando que os laços familiares vão além da identidade genética.
6
A Felipe Negreiros, pela amizade e pelo contagiante entusiasmo profissional e
acadêmico.
A Roney Lemos, pelo profissionalismo tranquilo que me acalma sempre que está por
perto.
A Clarissa Marques, pelos bons artigos disponibilizados e pela valiosa companhia em
tantas madrugadas de estudos, via facebook.
A Marcos Erhrardt, por ter sofrido comigo, sendo meu melhor exemplo de persistência,
coragem, determinação e êxito.
A José Mário Wanderley, por ter me fornecido bons links para doutrina estrangeira e
pela ajuda no Abstract.
A Larissa Leal, por milhares de motivos. Por me proporcionar uma existência
emocionante em histórias que merecem um livro e que a torna essencial em minha vida.
Em especial, nesta tese, por ter me escolhido para apresentar as ideias de Alexy em
seminário de sua disciplina.
A Pablo Malheiros, pelo massacre impiedoso no meu seminário de tese e, depois, já
meu amigo, pelas boas conversas, risadas, reflexões, livros e artigos.
Ao meu aluno, Avner Cavalcanti, que, ainda no terceiro período da graduação,
contribuiu ativa e ricamente, em meu seminário de tese.
A Pablo Falcão, pela amizade, pela música e pela filosofia.
A Alexandre Costa Lima, pela amizade, pelo humor refinado e pela filosofia.
A Roberto Paulino, por sua solidariedade, me emprestando, desapegadamente, cinco
exemplares do Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda; Por ter se disposto
tantas vezes a ouvir minhas inquietações e pelos valiosos momentos de descontração na
Unicap.
A Eduardo Rabenhorst, por compartilhar sua erudição comigo, confiando as primeiras
leituras de seus excelentes escritos. Pelas palestras e conversas que sempre me
despertaram a vontade de saber cada vez mais. Por ter me apresentado a teoria de W. N.
Hohfeld.
A Helena Castro, por ser minha valiosa ponte com Torquato Castro Jr., na fase de
qualificação desta tese.
7
A Torquato Castro Jr., pelas melhores aulas de Teoria do Fato Jurídico, pelo exemplo
acadêmico e pelo livro de autoria de seu pai, Torquato Castro.
A Carolina Ferraz, pela forte energia vital que coloca em todas as suas ações. Pela
torcida e por todo apoio, pelo amor ao Direito Privado, pelo incentivo à pesquisa, pela
dedicação à academia e mais do que tudo, por mostrar ao mundo, sempre junto a
Glauber Salomão e ao incrível Vini, que a família é o mais lindo e importante vínculo
que temos na vida.
A Taciana Beltrão, pelo estímulo, apoio, amizade e principalmente, pelo jeito alegre de
viver a academia, trazendo leveza e cor à rotina profissional de quem a cerca.
A Maria Rita Holanda, pela irmandade, por me proporcionar uma linda família
estendida (Eduardo, João e Nathália), por fazer parte de minha melhor rotina e pela
doutrina francesa utilizada nesta tese.
A Luciana Brasileiro, por seu profissionalismo, maturidade, jovialidade e alegria. Pelos
cuidados comigo em nossas viagens Ibedermanas. Por estar sempre por perto. Por
muito mais.
A Adriana Rocha, por ser tão importante pra mim, por todo o carinho, pelos terapêuticos
momentos de alegria, pela sensatez de seus conselhos, pela incentivadora leitura desta
tese, em sua versão final.
A Gustavo Andrade, Everilda Brandão, Tatiane Goldhar, Eduardo Dantas, Belinda
Guedes, Patrícia Lane, Raymundo Juliano, Bruno Galindo, João Paulo Allain Teixeira,
Marília Montenegro, Mirian de Sá Pereira, Walber Agra, Theresa Nóbrega, Alessandra
Gomes, Ricardo Galvão, Cynthia Suassuna, José Itamar Carvalho, Andréa Campos,
Lúcia Monteiro, Nicolle Torres, Maria Dlara, Virgínia Colares, Saulo Miranda,
Armando Andrade, Felipe Vilanova, George Pessoa, Edmílson Maciel, D. Creuza,
Vinícius Calado, Roberto Campos, Pe. Caetano, João Franco, Adílson e Idaia Barreto e
tantos bons amigos, por todo o incentivo, carinho e amizade.
Aos advogados pernambucanos, por me confiarem, honrosamente, a OAB/PE.
A Henrique Mariano, por ser um dos melhores exemplos de integridade,
profissionalismo, firmeza e polidez que eu conheço e também por, juntamente a Hebron
Cruz, Pelópidas Neto, Leonardo Coelho, Bruno Baptista, Jayme Asfora, Leonardo
Accioly, Pedro Henrique Alves, conselheiros e funcionários da OAB de Pernambuco,
8
compartilhar comigo, a grande alegria de trabalhar na construção de uma sociedade
solidariamente justa.
A Inácio Feitosa, por ter me proporcionado a boa doutrina argentina.
A Juliana Schetini, por cuidar de minha saúde, para que eu tivesse condições de escrever
um dos trechos essenciais desta tese.
A Fabíola Ferreira e Walman Rosas pelas atividades físicas e pelos momentos
agradáveis de descontração, imprescindíveis neste período.
À Livraria Jaqueira, nas pessoas de Seu Alfredo, Fabrízio, Carlão e Edson e à
lanchonete Dalena, na pessoa de Seu Batista, pelo atendimento, ao mesmo tempo,
profissional e acolhedor, oferecendo, além dos livros, cafés, chás e tortas, os melhores
ambientes de estudo, onde a maior parte desta tese foi escrita.
9
RESUMO
OLIVEIRA, Catarina Almeida de. Relações existenciais decorrentes do poder
familiar e sua tutela pelas normas do direito das obrigações. 2012. 196 f. Tese de
Doutorado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife,
Universidade Federal de Pernambuco.
A Constituição Federal de 1988 pode ser considerada um marco divisor na história do
direito brasileiro, exercendo grande e vital influência sobre o direito civil. A
importância por ela conferida aos princípios, sobretudo os da dignidade humana,
solidariedade e igualdade, promoveu uma grande mudança na interpretação de institutos
já sedimentados no ordenamento jurídico brasileiro. O poder familiar não escapou às
profundas alterações que não se limitaram, apenas, à mudança de nomenclatura. A
própria noção de poder enquanto situação jurídica complexa que salienta os deveres dos
pais em relação aos interesses dos filhos, aponta para o giro sofrido pelo instituto,
restando ressaltados, hoje, os interesses daquele polo relacional que, até então, via-se
apenas, sujeito à autoridade paterna. Com a evidência do momento de vulnerável
importância pelo qual passa toda criança e adolescente, enquanto pessoas em formação,
assim como, pela necessidade de que todos os que integrem a sociedade, tenham uma
formação estrutural emocional e física, equilibrada, transcendendo os interesses
meramente individuais, cumpre entender a estrutura relacional que vincula pais e filhos
durante o poder familiar, com o objetivo de compreender os deveres do pai e da mãe,
como obrigações no sentindo técnico e, assim, possibilitar a eficácia das normas que
ressaltam os direitos existenciais, verdadeiras bases da dignidade humana. Admitindo a
possibilidade de entender os deveres jurídicos parentais como condutas exigíveis, tornase viável a utilização dos recursos jurídicos próprios daquela área do direito civil que
até então, tinha se voltado, apenas, à satisfação de interesses econômicos, originados
nos negócios jurídicos, na responsabilidade civil e no enriquecimento sem causa.
Assim, diante da relevância dos interesses que se busca efetivar, principalmente por
meio da convivência familiar, as condutas obrigadas poderão ser exigidas, bem como a
impossibilidade de cumprimento por fato imputado ao pai e/ou à mãe, poderá resultar
em obrigação de indenizar. A interferência do Estado, justificada pela natureza de
direitos humanos vivenciados na família, se torna plausível diante dos direitos
considerados fundamentais pela norma maior que ficou conhecida como a “Constituição
Cidadã.”
PALAVRAS-CHAVES: 1. PODER FAMILIAR. 2. DIREITOS FUNDAMENTAIS. 3.
OBRIGAÇÕES. 4. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. 5. RESPONSABILIDADE CIVIL.
10
ABSTRACT
OLIVEIRA, Catarina Almeida de. Existencial relations from parental authority and
their protection by the rules of obligations law. 2012. 196 f. PHD Thesis – Centro de
Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de
Pernambuco.
The Federal Constitution of 1988 can be considered a milestone in the history of
brazilian law, continuously exerting a strong and vital influence on the civil law. The
importance granted by it to principles, especially of human dignity, solidarity and
equality promoted a great change in the interpretation of precepts already sedimented in
the brazilian legal system. The parental authority could not escape the profound changes
that were not limited only to the change of nomenclature. The very notion of authority
as a complex legal situation that emphasizes the duties of parents in relation to the
interests of children, points to the dramatic changes suffered by the rules, remaining
importants today, the interests of that relational pole, until then one could see only
subject to parental authority. With the evidence of the moment of vulnerable importance
all children and teenagers experiment as humans beings in their development as well as
the need that all who integrate society have a balanced structural, physical and
emotional formation, transcending the merely individual interests, we must understand
the relational structure that links parents and children in the parental authority, in order
to understand the duties of father and mother as obligations, in the technical sense, and
thus enabling the effectiveness of rules that focus on the existential rights, real
foundations of human dignity. Admitting the possibility to understand parental legal
duties as mandatory behaviors, it becomes feasible the utilization of legal resources in
the realm of civil law faced only to the satisfaction of economic interests arised in the
business of law, liability and unjust enriching. So, considering the importance of the
interests that one seeks to effect mainly in family life, mandatory behaviors could be
required, resulting in indemnization obligation in the case of accomplishment failure by
any fact attributed either to father, mother or both of them. Thus the interference of the
state justified by the nature of human rights experienced in family becomes plausible in
the face of fundamental rights considered by the major law known as the Citizen
Constitution.
KEY WORDS: 1. PARENTAL AUTHORITY. 2. FUNDAMENTAL RIGHTS. 3.
OBLIGATIONS. 4. FAMILY LIFE. 5. LIABILITY.
11
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO..........................................................................................................14
I Delimitação do Tema.................................................................................................14
II Método.....................................................................................................................16
III Desenvolvimento da Tese.......................................................................................17
CAPÍTULO I – PODER FAMILIAR – NOVOS PARADIGMAS NA
TRAVESSIA DO PATRIARCADO À FAMÍLIA DEMOCRÁTICA
CONTEMPORÂNEA
1.1 Patriarcado como Modelo Milenar de Família......................................................20
1.2 Patriarcado no Brasil. Mulheres, Filhos e Sociedade............................................24
1.3 Decadência da Autoridade Paterna........................................................................28
1.4 Poder Familiar na Constituição Federal de 1988. Para a Realização da Dignidade,
Igualdade e Solidariedade............................................................................................31
1.4.1 Dignidade Humana, como Princípio Norteador das Relações Humanas,
aplicável ao Direito de Família....................................................................................33
1.4.2 Sem Igualdade, não há Dignidade......................................................................36
1.4.3 A Solidariedade na Repersonalização dos Direitos Civis com ênfase nas
Relações de Família.....................................................................................................40
1.5 Conteúdo Constitucional do Poder Familiar..........................................................42
1.6 Poder Familiar no Direito Civil Brasileiro............................................................45
1.7 Para onde Apontam os Deveres Parentais no Poder Familiar................................48
1.8
Interferência
Estatal
e
Intimidade
Familiar............................................................50
CAPÍTULO II – SITUAÇÃO JURÍDICA E DIREITOS SUBJETIVOS
EXISTENCIAIS NO PODER FAMILIAR
2.1 Situação Jurídica e Relação no Poder Familiar.....................................................56
2.1.1 Situações Jurídicas Patrimoniais........................................................................60
2.1.2 Situações Jurídicas Existenciais.........................................................................61
12
2.2 Direitos subjetivos e Deveres no Poder Familiar..................................................63
2.3 Definindo os Direitos Subjetivos nas Relações Jurídicas do Poder Familiar com
base na Teoria de Hohfeld...........................................................................................67
2.4
Liberdades
no
Exercício
do
Poder
Familiar...........................................................73
2.5 Proteção Integral para a Concretização dos Interesses da Criança e do
Adolescente..................................................................................................................76
2.6 Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente na Interpretação do
Poder Familiar Contemporâneo...................................................................................79
2.7 Definindo o Afeto enquanto Objeto de Relações Jurídicas do Poder
Familiar........................................................................................................................81
2.7.1 A Afetividade como Princípio............................................................................82
2.7.2 Do Valor ao Princípio.........................................................................................84
2.7.3 Afeto e Deveres Jurídicos...................................................................................86
CAPÍTULO III - IMPERATIVIDADE NORMATIVA NA TUTELA DOS
DIREITOS EXISTENCIAIS DECORRENTES DO PODER FAMILIAR
3.1 Influências Culturais, Naturais e Religiosas na Definição Jurídica de Família e a
Dificuldade de Separar Tradição, Fé, Instinto e Razão...............................................93
3.2 Deveres ou Faculdades. Distinção Necessária entre Comandos e Conselhos em
Bobbio..........................................................................................................................99
3.3 Identificando as Obrigações Civis nas Relações Jurídicas do Poder
Familiar......................................................................................................................102
3.3.1 Prestação Debitória nas Relações Parentais.....................................................107
3.3.2 Conteúdo Econômico da Prestação Debitória..................................................108
3.3.3 Repersonalização do Direito das Obrigações...................................................110
3.3.4 Interesse Puramente Moral e o Reconhecimento da Prestação Debitória
Desprovida de Conteúdo Econômico........................................................................112
3.4 Inserção de Normas Obrigacionais nas Relações de Família..............................116
CAPÍTULO IV - CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMO DIREITO E MEIO
REALIZADOR DOS INTERESSES EXISTENCIAIS NO PODER FAMILIAR
13
4.1
Convivência
Familiar
para
Construção
e
Realização
da
Personalidade.............................................................................................................122
4.2 Convivência Familiar como Direito Fundamental..............................................126
4.3 Conflito de Interesses..........................................................................................129
4.4 Ponderação de Interesses nas Relações Jurídicas Parentais................................133
4.5 Guarda Compartilhada como Garantia de Convivência......................................136
4.6 Mediação. A Força do Diálogo............................................................................141
CAPÍTULO V – INADIMPLEMENTO E RESPONSABILIDADE
5.1 Inadimplemento nas Obrigações Parentais.........................................................145
5.1.1 Alienação Parental...........................................................................................149
5.1.2 Multa Cominatória...........................................................................................154
5.2 Responsabilidade Civil nas Relações Parentais..................................................157
5.2.1 Alguns Pressupostos de Responsabilidade Civil..............................................161
5.2.2 Dano Moral Indenizável...................................................................................163
5.2.3 Perda de uma Chance como Dano Moral Indenizável.....................................165
5.3 A Retórica no Superior Tribunal de Justiça.........................................................167
5.4 Amar é Faculdade, Cuidar é Dever. O Reconhecimento do Abandono Afetivo no
Superior Tribunal de Justiça......................................................................................182
CONCLUSÃO..........................................................................................................186
REFERÊNCIAS.......................................................................................................189
14
INTRODUÇÃO
I Delimitação do Tema
A afetividade, enquanto princípio, direito e dever, foi introduzida nas discussões
acadêmicas de direito de família, nas últimas duas décadas. Partindo de reflexões
acerca da nova normativa constitucional, que centrou o ordenamento na dignidade
humana, considerada no contexto político-social solidário e democrático, a reconhecida
importância das posturas afetivas provocou significativas mudanças no direito de
família nacional. Primeiro, por ser o principal pilar sobre o qual se sustenta e se verifica
a existência de entidades familiares não matrimonializadas como as hoje, já
juridicizadas, uniões estáveis. Por força dessa mudança de paradigma, seguiram
diversos desdobramentos, como por exemplo, o reconhecimento das uniões
homoafetivas e até, o questionamento acerca da possibilidade e dos limites da tutela
jurídica de famílias simultâneas. Também, no rumo dos reconhecimentos jurídicos, a
afetividade tem cumprido uma importante função na vinculação de pessoas em relações
de filiação, estabelecendo elos que tornam, muitas vezes, desnecessária a coincidência
genética.
É inegável que já se pode comemorar o avanço social e cultural brasileiro, a se ver
prevalecer as vivências, sobre os exageros formais, ainda que para torná-las,
oficialmente aceitas, na aparente contradição de refutar o formalismo em busca do
reconhecimento formal do Estado. Na verdade, o que se pretende é inserir no sistema, o
que antes era marginal e excluído, perseguindo o ideal democrático nas mais diversas
searas.
Ainda assim, a abrangência das principais mudanças não foi muito além do
contorno das famílias, praticamente se limitando a dizer se o vínculo familiar existe ou
não e, existindo, quais são seus principais efeitos patrimoniais.
Para a preocupação se voltar, de maneira mais enfática, à intimidade das relações
de família, sobretudo das relações parentais, ressaltando os interesses puramente
existenciais como interesses juridicamente merecedores de tutela, foi preciso em 2004,
que a mídia veiculasse três histórias de pessoas que, sentindo-se abandonadas por seus
15
pais, buscaram amparo jurídico, resultando em decisões polêmicas acerca da
reparabilidade dos prejuízos advindos da falta de afeto.1
Apesar de existir no direito brasileiro, em diversos diplomas legais, inclusive na
Constituição Federal vigente, previsão quanto ao conteúdo jurídico das relações do
poder familiar, abrangendo principalmente, os interesses existenciais, foram levantadas
inúmeras indagações acerca da moralidade das ações impetradas, tendo em vista que,
em princípio, a indenização pela falta de afeto mercantilizaria as relações e seria
contrária ao que se espera, natural e culturalmente, das experiências entre pais e filhos.
Muitas dúvidas foram levantadas acerca das reais intenções dos autores nos referidos
processos, quando buscavam satisfação econômica em substituição da convivência
familiar saudável que não tiveram. E para tornar o debate mais polêmico, argumentavase que a negligência, sobretudo a paterna, estaria inserida em outros campos
normativos, para ser regulada, tão somente por normas religiosas ou morais, tendo em
vista que o Estado não poderia invadir a intimidade da família, buscando ponderar o
imponderável.
Talvez um primeiro e apressado contato com o tema, remeta a tais conclusões,
mas, na análise mais cuidadosa de nosso ordenamento jurídico, se verá que aqueles
comportamentos naturalmente esperados de um pai ou de uma mãe são, na verdade,
condutas obrigatórias impostas, sobretudo, pela Constituição Federal, pelo Código Civil
e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. São deveres geradores de obrigações e
não, de meras faculdades à mercê da livre vontade das pessoas. A liberdade encontra-se
antes, no âmbito do planejamento familiar e após, o que se verifica são regras de
conduta exigíveis e metas principiológicas a serem perseguidas, ressaltando assim, a
responsabilidade parental.
O principal objetivo desta tese é apresentar a plausível aplicação das normas que,
usualmente regem o direito patrimonial para conferir eficácia aos princípios e regras
que lastreiam os direitos existenciais, nas relações entre pais e filhos, durante o poder
familiar.
O ordenamento jurídico brasileiro elenca uma série de deveres típicos do poder
familiar e entre eles, encontram-se tanto os que se voltam à satisfação de interesses
econômicos, como os que apontam para a formação essencial da personalidade dos
1
Ago/2003 – Comarca de Capão da Canoa; Abr/2004 – 7ª Câmara Cível do TAMG e Jun/2004 – 31ª Vara
Cível da Comarca de São Paulo.
16
filhos. Como se tratam de interesses exigíveis e, salientada sua relevância no caput do
art. 227 constitucional, revestidos de prioridade absoluta, cabe ao Estado assegurar
meios capazes de trazer eficácia à ordem sob o risco de ver o seu comando esvaziado.
No que tange às obrigações patrimoniais, não se questiona a utilização de meios
processuais que garantam o seu cumprimnto, a exemplo das ações de alimentos e de
todos os efeitos que delas decorram, como a possibilidade de prisão do devedor. No
entanto, o mesmo não acontece quando nos direitos a serem tutelados, inexiste o
interesse econômico.
Diante de tantas opiniões diferentes acerca da possibilidade jurídica (ou
possibilidade moral) de reparação dos danos que decorram do abandono afetivo, bem
como quanto à possibilidade jurídica (ou possibilidade moral) da interferência do
Estado na intimidade do ambiente familiar, condenando pais e mães ao pagamento de
indenizações ou, antes e para evitar tal desfecho, utilizando a tutela inibitória para tornar
efetivos os interesses tanto dos filhos quanto dos próprios pais, propõe-se mostrar que
os deveres jurídicos dos pais não se confundem com qualquer obrigação de sentir amor,
mas antes, consistem em verdadeiras obrigações de fazer e não fazer, com a finalidade
principal de auxiliar os filhos a crescerem e se tornarem pessoas sociais, saudáveis e
felizes.
II Método
A abordagem metodológica da tese é quase totalmente, dogmática, seguindo um
enfoque analítico que abrange os conceitos básicos e elementares de sua temática
central, compreendendo basicamente, o Direito Constitucional e o Direito Civil, como
pode se verificar ao longo de todo o trabalho.
Na seara do Direito Civil, apesar de, aparentemente, se tratar de um tema próprio
do Direito de Família e apesar das ideias terem nascido a partir da doutrina mais
avançada lançada, em sua maioria, pelos membros do Instituto Brasileiro de Direito de
Família (IBDFAM), poderá se constatar que nenhum dos capítulos versa sobre questões
puramente de família, remetendo à análise de temas mais afeitos à Parte Geral do
Direito Civil e ao Direito das Obrigações, com dois capítulos reservados a este último, o
III e o V. A parte geral do Direito Civil e algumas noções de Lógica Jurídica são os
principais objetos de análise do capítulo II.
17
No campo do Direito Constitucional, a atenção se volta para o capítulo III,
inserindo a convivência familiar como direito fundamental e abordando o papel dos
princípios no ordenamento jurídico contemporâneo, sua estrutura e função para verificar
as soluções mais apropriadas aos objetivos constitucionais, quando ocorrer o conflito de
interesses, a partir da técnica da ponderação.
A escolha pelo direito material levou a uma análise apenas indispensável, da
dogmática processual, no que se refere à eficácia da sentença (e à efetividade dos
direitos), a partir da utilização da tutela inibitória nos casos em que ainda for possível
cumprir os deveres parentais.
Também foi utilizado o método na perspectiva filosófica, para se chegar a uma
ideia de afeto mais adequada às preocupações jurídicas e ainda, considerando a retórica,
inserida nesta perspectiva, para analisar o voto proferido pelo ministro Fernando
Gonçalves, no primeiro julgamento do STJ sobre a matéria.
A referida análise retórica também participa do método empírico utilizado no
trabalho, com o intuito de não se distanciar tanto da realidade em uma abrangência
puramente conceitual. Não se procurou, aqui, usar a jurisprudência como argumento de
autoridade, mas antes, apresentar na prática, as teses contrárias e a favor do objeto do
presente estudo. A escolha pelo STJ, além do fato de ser um tribunal superior, se deve
ao número reduzido de julgamentos sobre o tema, contando, atualmente, três em seu
histórico, possibilitando mostrar o perfil do tribunal, induzindo à reflexão sobre a
evolução da matéria, não por um critério quantitativo, mas, pelas argumentações
utilizadas nos votos dos relatores dos julgamentos ocorridos em 2005 e, agora, em 2012.
Por fim, como as relações jurídicas estão sempre em construção, não poderia ser
diferente nas relações de família. Assim, não poderia ficar de fora o estudo crítico de
obras que versem sobre os aspectos sociológicos e antropológicos do assunto,
complementados pela análise psicanalítica no que interessa à construção emocional da
pessoa como parte da realização de sua personalidade.
III Desenvolvimento da Tese
O capítulo I objetiva contextualizar as relações jurídicas entre pais e filhos nos
cenários sociais, políticos e culturais em que a família esteve inserida durante milhares
18
de anos, em um mundo de raiz greco-romana. A situação dos menores também foi
influenciada pelo modelo patriarcal que vigorou por quase toda a história da
humanidade e por isso, a necessária apresentação do trânsito, no Brasil, do modelo
patriarcal para o democrático. Também aqui, se encontra a análise constitucional do
poder familiar, partindo de seus princípios mais importantes: dignidade, igualdade e
solidariedade, que lastreiam o novo modelo familiar que enxerga cada integrante do
grupo, observando os vulneráveis para melhor protegê-los. Finalmente, respondendo
uma das indagações mais frequentes, o capítulo esclarece, na abordagem psicanalítica, o
que se espera que uma geração transmita à outra, especificamente considerando as
relações entre pais e filhos.
O capítulo II pretende mostrar que o conceito de direito subjetivo ainda guarda
importância na efetividade dos interesses que neles estão abrigados, ainda que
compreendidos em um modelo mais amplo de situação jurídica. É a partir da análise
desses direitos subjetivos que integram o poder familiar, com base na teoria de Hohfeld
e nas regras da lógica jurídica que se esclarece a posição dos filhos menores enquanto
sujeitos de direitos e, assim, titulares de pretensões que correspondem por outro lado, a
verdadeiros deveres jurídicos de seus pais, enquanto vigore o poder familiar. Nessa
abordagem, também são verificadas as liberdades, enquanto privilégios familiares,
protegidos da interferência do Estado para, por fim, analisar a importância do afeto nas
relações parentais, no intuito de esclarecer qual de suas muitas maneiras de se
apresentar, vai ser a que, verdadeiramente, interessa ao direito.
Após verificar a forte presença dos deveres jurídicos do pai e da mãe em relação
aos interesses de seus filhos enquanto crianças e adolescentes, o capítulo III passa a
analisar as razões da resistência de muitos, em considerar tais deveres, como obrigações
em seu sentido técnico, mostrando que a negação tem sua base alicerçada em um
momento cultural que não é mais o atual. É também neste capítulo que se vai abordar os
conceitos e elementos basilares do direito das obrigações para defender a tese da
possibilidade de relações obrigacionais com interesses e prestações puramente morais,
no sentido de não haver nelas, nenhum conteúdo econômico e aqui, poder inserir as
obrigações parentais que se voltam a realizar os direitos existenciais de seus filhos na
vigência do poder familiar.
O capítulo IV trata da convivência familiar, como um direito fundamental que
também se faz necessário como instrumento para o cumprimento da maior parte das
19
obrigações parentais na busca da realização do melhor interesse das crianças e
adolescentes em seu direito à proteção integral. Numa perspectiva constitucional, aqui
também se verifica a adequação da técnica da ponderação para superar os conflitos que
surgirem entre direitos de base principiológica. Neste capítulo, ainda, será apresentada a
mediação, como meio mais eficaz de transformação dos conflitos nas relações de
família, sobretudo nas relações entre pais e filhos, buscando ainda, viabilizar a
convivência, para resgatar a saúde das relações e com isso, evitar as medidas mais
enérgicas, próprias das regras do direito das obrigações.
No capítulo V, diante do descumprimento das obrigações parentais, seja pelo
abandono, pela alienação parental ou por outras condutas também reprováveis,
apresentam-se as medidas adequadas a forçar o seu cumprimento, como a aplicação de
multas, na tutela inibitória, assim como a aplicação da responsabilidade civil, enquanto
consequência do inadimplemento, com a finalidade de reparar os prejuízos por ele
causados, ainda que se tratem de prejuízos não econômicos, como nos danos morais ou
nos danos que correspondam à perda da chance. Nesse último capítulo são apresentados
os votos dos relatores dos julgamentos do abandono afetivo no STJ, demonstrando que
o caminho que se vem se abrindo para as vivências entre pais e filhos é o da
responsabilidade para a concretização da dignidade.
20
CAPÍTULO I
PODER FAMILIAR – NOVOS PARADIGMAS NA TRAVESSIA
PATRIARCADO À FAMÍLIA DEMOCRÁTICA CONTEMPORÂNEA
DO
1.1 Patriarcado como Modelo Milenar de Família. 1.2 Patriarcado no Brasil.
Mulheres, Filhos e Sociedade. 1.3 Decadência da Autoridade Paterna 1.4 Poder
Familiar na Constituição Federal de 1988. Para a Realização da Dignidade,
Igualdade e Solidariedade. 1.4.1 Dignidade Humana, como Princípio Norteador das
Relações Humanas, aplicável ao Direito de Família.1.4.2 Sem Igualdade, não há
Dignidade. 1.4.3 A Solidariedade na Repersonalização dos Direitos Civis com
Ênfase nas Relações de Família 1.5 Conteúdo Constitucional do Poder Familiar 1.6
Poder Familiar no Direito Civil Brasileiro 1.7 Para Onde Apontam os Deveres
Parentais do Poder Familiar 1.8 Interferência Estatal e Intimidade Familiar
1.1
Patriarcado como Modelo Milenar de Família
Entre as várias relações jurídicas possíveis em uma sociedade ocidental
organizada, pode-se dizer que as familiares foram das que sofreram mudanças mais
significativas. E o que mais impressiona, é o curto espaço de tempo em que ocorreram,
considerando o tempo de existência humana, o tempo de existência consciente e o palco
das transformações que foi o século XX. Um quase nada temporal.
Mas, há explicação para tanto. O século XX vivenciou as consequências de duas
das mais importantes revoluções do passado, a francesa e a industrial, assim como foi
nele que a humanidade experimentou duas grandes guerras mundiais, uma em seu
alvorecer e outra em meio caminho. Entre glórias e tragédias, novos rumos sociais
foram traçados.
Família e sociedade guardam relação bastante estreita, reconhecida, inclusive,
pela Constituição Federal.2 A primeira corresponde a um microcosmo da segunda.3 Com
2
Art. 227. “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.
“A família, átomo da sociedade civil, é a responsável pelo gerenciamento dos “interesses privados”, cujo
bom andamento é fundamental para o vigor dos Estados e o progresso da humanidade. Cabe-lhe um semnúmero de funções. Elemento essencial da produção, ela assegura o funcionamento econômico e a
transmissão dos patrimônios. Como célula reprodutora, ela produz as crianças e proporciona-lhes uma
primeira forma de socialização. Garantia da espécie, ela zela por sua pureza e saúde. Cadinho da
consciência nacional, ela transmite os valores simbólicos e a memória fundadora. É a criadora da
cidadania e da civilidade. A “boa família” é o fundamento do Estado e, principalmente para os
republicanos, como assinala Jules Sion em Le devoir [O dever] (1878), existe uma continuidade entre o
amor à família e à pátria, instâncias maternais que se confundem, e o sentimento de humanidade. Daí o
interesse crescente do Estado pela família: em primeiro lugar pelas famílias pobres, elo fraco do sistema,
e a seguir por todas as outras.” PERROT, Michelle. Funções da Família. In: PERROT, Michelle (org).
3
21
base na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que estabelece em seu
art. 16.3 “A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à
proteção da sociedade e do Estado”, Paulo Lôbo alerta que “a família não é célula do
Estado (domínio da política), mas, da sociedade civil, não podendo o Estado tratá-la
como sua”.4 Não se pode compreender a família, sem verificar a sociedade na qual ela
se insere. Assim, também não se pode pensar em família, sem compreender aspectos
sociais importantes, como a influência econômica e religiosa.
Voltando a um passado distante, é possível encontrar algumas respostas para
muitos comportamentos que perduraram até pouco tempo, assim como também, para
alguns que ainda se mantém bem vivos, ainda que alicerçados em bases antigas que não
cabem mais em uma sociedade plural e democrática.
A cultura da supremacia masculina em face da mulher, por exemplo, conforme
Regina Lins,5 teve início ainda, no período neolítico, momento em que ele se dá conta
de ser o responsável pela procriação. Antes dessa descoberta, as mulheres tinham grande
importância para o grupo, levando-se ao extremo de atribuir a elas, a causa da
fertilidade dos campos. A divindade, inclusive, era feminina. Os homens do paleolítico
e, ainda em parte do neolítico, não tinham a consciência de sua participação na origem
dos filhos gerados pelas mulheres. A noção do seu papel na reprodução, só ocorreu no
momento em que surge a necessidade de se fixar na terra, para fins de realizar
atividades de agricultura e pastoreio.
A partir do momento em que abandonam a caça e participam daquelas atividades
junto às mulheres, passam a conviver mais com os animais, o que os leva a observar que
as ovelhas segregadas não produziam nem cordeiros, nem leite. No entanto, verificavam
que isso acontecia exatamente em períodos constantes, após o carneiro cobrir a ovelha.
Ainda conforme a autora, outra importante descoberta segue a essa: o carneiro,
não era apenas responsável pela fertilização de uma ovelha por vez, mas, poderia ser ao
mesmo tempo, capaz de emprenhar mais de 50 delas. Essa percepção foi decisiva para a
mudança de comportamento em relação à autoridade de acordo com o sexo, dessa vez o
masculino. O macho não era, simplesmente, parte do processo de geração de vida. Sua
História da Vida Privada. Da Revolução Francesa à Primeira Guerra. Tradução: Denise Bottmann. São
Paulo: Companhia das Letras, 2009 (p. 91-106). p. 91.
4
LÔBO, Paulo. Famílias.1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1- 2.
5
LINS, Regina Navarro. A Cama na Varanda. Arejando nossas ideias a respeito de amor e sexo. 3 ed.
Rio de Janeiro: BestSeller, 2008, p. 21- 29.
22
participação tinha um poder maior, autorizando o homem a exercer uma autoridade que
perdura, com mais ênfase em uns lugares que em outros, por milhares de anos.
A família ocidental foi fortemente influenciada pelo modelo greco-romano.
Assim, para melhor compreendê-la, é preciso buscar suas raízes na antiguidade, quando
a autoridade masculina ainda era a realidade, dentro e fora da família. Em Grécia e
Roma antigas, segundo os ensinamentos de Fustel de Coulanges,6 os laços de união dos
membros de uma família, não tinham origem na afeição natural e nem mesmo, na
identidade do sangue. Para aquelas civilizações, ainda que existissem os afetos, para o
direito isso nada significava.
Na busca de conhecer as razões que conferiram origem às famílias, Fustel de
Coulanges parte da análise de textos de historiadores romanos que concluíam que o
fundamento da família romana seria o poder paterno ou marital. Coulanges, no entanto,
refuta essa ideia, afirmando que a força seria um efeito e, não, uma causa. A origem e a
razão estariam na religião e a força masculina, à época, resultava dela. A “família antiga
era mais uma associação religiosa que uma associação natural”7
O sentido grego de família era apontado pelo vocábulo que a designava: epístion,
significando literalmente, “aquilo que está junto de um fogo doméstico”, assim “Uma
família era um grupo de pessoas a quem a religião permitia invocar o mesmo fogo
doméstico e oferecer o repasto fúnebre aos mesmos ancestrais.” 8 O casamento foi a
primeira instituição estabelecida pela religião doméstica, que não pertencia,
exclusivamente, ao homem, uma vez que havia a participação da mulher no culto, como
filha, junto ao pai e como esposa, participando dos atos religiosos de seu marido. No
entanto, a mulher estava longe de ser a figura central da religião doméstica, tanto é que,
pelo casamento, rompiam-se as relações da mulher com a religião doméstica dos seus
pais, passando, então, a sacrificar ao fogo doméstico de seu marido.9
6
COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Estudos sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia
e de Roma. Tradução: Edson Bini. 4 ed. São Paulo: Edipro, 2009, p. 39-45.
7
“Não há dúvida que não foi a religião que criou a família, mas seguramente foi ela que lhe deu suas
regras, daí resultando que a família antiga recebeu uma constituição tão diferente daquela que teria
recebido se os sentimentos naturais tivessem constituído por si sós seu fundamento.” COULANGES,
Fustel de. A Cidade Antiga. Estudos sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia e de Roma.
Tradução: Edson Bini. 4 ed. São Paulo: Edipro, 2009, p. 40.
8
COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Estudos sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia
e de Roma. Tradução: Edson Bini. 4 ed. São Paulo: Edipro, 2009, p. 40.
9
COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Estudos sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia
e de Roma. Tradução: Edson Bini. 4 ed. São Paulo: Edipro, 2009, p. 41.
23
Ainda que houvesse a participação feminina no culto ao fogo doméstico e ao
repasto aos antepassados, é ao homem, como marido ou pai que é dado o poder de ser o
primeiro junto ao fogo doméstico. Tanto a família como a religião era perpetuada
através do pai e somente ele, representa toda a sua descendência. A autoridade, então, só
poderia ser masculina dentro de uma casa.10
Nas antigas civilizações greco-romanas, a autoridade masculina, não se resumia
ao poder e superioridade exercidos sobre a mulher. Os filhos também estavam sob a
decisão do pai, tanto em relação às questões patrimoniais, como também, para as de
cunho existencial. A própria condição de filho, dependia da vontade do pai.
No Império Romano, conforme estudo de Paul Veyne11, a vinda ao mundo de um
romano, não dependia unicamente de um fato biológico. Dependia da decisão do chefe
da família, simbolizado pelo ato de levantar o recém-nascido do chão, onde era
colocado logo após o parto. Esse era o gesto que levava a criança, a ser reconhecida
como filho. Por outro lado, aquela que não fosse levantada, seria enjeitada, exposta
diante da casa ou num “monturo público”. Embora não houvesse qualquer necessidade
de justificar a rejeição dos recém-nascidos, isso acontecia, normalmente, por razões de
natureza econômica. Ou pela pobreza que impossibilitava alimentar e educar mais uma
pessoa ou para evitar quebra de testamentos já selados. Algumas vezes, para afastar o
fruto de uma suspeitada infidelidade.
A lei familiar era representada, então, pelo pater, reduzindo a mulher, a uma
posição secundária, inclusive com relação aos filhos que paria.
Por essas razões, a família se desenvolve no modelo patriarcal, nome que encontra
justificativa no poder do pai em relação à sua descendência, e na autoridade do marido
em relação à mulher e aos escravos.
Diante do exposto, pode-se afirmar que o patriarcado firmou-se, gradativamente,
em um processo que teve início por volta de 3100 a.C. e vai até, mais ou menos 600
a.C. quando alcança, então, o seu ápice, passando em seguida, a uma lenta, quase
10
COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Estudos sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia
e de Roma. Tradução: Edson Bini. 4 ed. São Paulo: Edipro, 2009, p. 73-79.
11
VEYNE, Paul. O Império Romano. In: ARIÈS, Philippe; DUBY, George (coords.) História da Vida
Privada. Do Império Romano ao Ano Mil. Tradução: Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras,
2009. v 1, (p. 17-211). p. 21- 23.
24
imperceptível descida, que acentua abruptamente, ao fim do século XVIII, com a
Revolução Francesa12, “quando a democracia pretende aplicar-se a todos”.13
É neste novo cenário, democrático, que acontece a invenção do amor como força
originadora das famílias. O sentimento é necessário ao processo de democratização que
se iniciava: “ao amor é atribuída a nova tarefa de fundar o casamento e de, ao fazê-lo,
superar as fronteiras entre os diversos estados que compõem a sociedade”.14 Afastando
as razões de ordem religiosa, políticas ou econômicas, o amor servia a todos como
sentimento comum aos seres humanos. A semente da igualdade começa a germinar.
No entanto, ainda que tenha sofrido um grande estremecimento nas bases que o
justificaram durante milênios, o patriarcado no ocidente, não deixou de existir. Na
realidade, ele existe, ainda que alicerçado no inconsciente coletivo que impulsiona a
vida à despeito de reconhecimentos formais que ditem o contrário. Muitas mulheres
continuam submissas aos seus companheiros ou maridos. Muitos vínculos de filiação
são negados em razão apenas, da vontade masculina. Se juridicamente, é possível coagir
um homem a reconhecer sua paternidade, socialmente, a negligência e o abandono
masculino, com relação aos seus filhos, não causa muito estranhamento. São homens e,
assim, como na Cidade Antiga, a paternidade ainda é, de fato, um ato de escolha.
Remodelar completamente, a forma pela qual os seres humanos vêm se
relacionando, praticamente, desde as origens de sua vida em comunidade, não é fácil.
Portanto, a sociedade brasileira atual, também influenciada pela história, não poderia
deixar de apresentar resquícios de um patriarcado ensinado pelo europeu colonizador.
1.2 Patriarcado no Brasil. Mulheres, Filhos e Sociedade
O Brasil nasceu e se desenvolveu, sob a influência do europeu que o moldou
através de sólidas bases patriarcais, importadas da cultura greco-romana, e ainda da
influência moura e cristocêntrica. Fátima Quintas aponta um Brasil colonial,
essencialmente família e assim, para contar e entender a história brasileira, não se pode
12
Vale ressaltar que, apesar de apontarmos, o enfraquecimento do poder do pai, a partir da Revolução
Francesa, isso não se deu da noite para o dia. O enfraquecimento da autoridade masculina na família foi,
paulatinamente, acontecendo desde Roma. Piano, piano, até mostrar-se mais claramente, conforme será
visto ainda neste capítulo.
13
LINS, Regina Navarro. A Cama na Varanda. Arejando nossas ideias a respeito de amor e sexo. 3 ed.
Rio de Janeiro: BestSeller, 2008, p. 42.
14
SCHWANITZ, Dietrich. Cultura. Tudo o que é preciso saber. Lisboa: Dom Quixote, 2004, p. 402.
25
fazê-lo fora do ambiente doméstico, em um cenário que, inicialmente, era autocrático e
oligárquico. Em relações que se interlaçavam, na família do Brasil nascente, “se
processaram outros brasis: o político, o monárquico, o federativo e o republicano.”15
A estrutura do Brasil colonial era a que melhor atendia às necessidades sociais e
econômicas dos portugueses, ou seja, era uma sociedade baseada na agricultura,
escravocrata e com condições pautadas na “estabilidade patriarcal da família.”16
As famílias, no Brasil do período colonial, eram assim hierarquizadas e à mulher
portuguesa não cabia outro papel que não o de virar matrona velha e ociosa. Isso porque
as meninas como eram acostumadas, casavam muito cedo, aos 13, 14, 15 anos,
tornando-se mães logo e sucessivas vezes. A interrupção da adolescência dessas
meninas-mulheres e a agressão aos seus corpos ainda em formação, causada por várias
gestações, impossibilita essas mães de exercerem a maternagem de seus filhos, que
deveria ser realizada por uma pessoa mais robusta, surgindo, então, a figura da “mãepreta” que aleitava e mimava, sendo então, responsável pelo lado mais afetivo da
infância17.
Percebe-se que a atenção e os cuidados dirigidos aos filhos do Brasil nascente, são
bem diferentes dos que se praticam e exigem nos dias atuais. A cultura da época
permitia que algumas pessoas fossem “coisificadas” e admitia a dominação daqueles
que não fossem homens, adultos, brancos e portugueses. Como esperar que se
percebessem, nos pequenos, pessoas merecedoras de atenção e cuidados diferenciados,
pelo fato de viver um momento especial de formação, não apenas de seus corpos, mas,
principalmente, de suas personalidades?
Fátima Quintas ensina que os meninos e meninas, nascidos àquela época, em
famílias legítimas, eram bem-vindos como criancinhas adoráveis, mas até atingirem os
seis ou sete anos, quando o processo de crescimento, que faz nascerem os adultos, era
15
QUINTAS, Fátima. A Família Patriarcal. In: QUINTAS, Fátima (org) A Civilização do Açucar.
Recife: Sebrae, Fundação Gilberto Freyre, 2007, (p. 85-123), p. 90.
16
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. Formação da família brasileira sob o regime da
economia patriarcal. São Paulo: Círculo do Livro, 1980, p. 43.
17
“O que houve, entre nós, foi a impossibilidade física das mães de atenderem a esse primeiro dever de
maternidade. Já vimos que se casavam todas antes do tempo; algumas fisicamente incapazes de ser mães
em toda a plenitude. Casadas, sucediam-se nelas os partos. Um filho atrás do outro. Um doloroso e
contínuo esforço de multiplicação. Filhos muitas vezes nascidos mortos – anjos que iam logo se enterrar
em caixõezinhos azuis. Outros que se salvavam da morte por milagre. Mas todos deixando as mães uns
mulambos de gente”. FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. Formação da família brasileira sob o
regime da economia patriarcal. São Paulo: Círculo do Livro, 1980, p. 378.
26
abreviado, suprimindo-se a adolescência que se apresentava de maneira artificial,
endurecida na falsa condição de mini adultos.
O tornar-se “maduro” assumiu ares de imperativo categórico, porque o canavial não
permitia deslizes de infância. Portanto, os ritos de passagem foram praticados com
um rigor inigualável. Rigor e precocidade. Por conseguinte, a criança pouco se
entendeu com a meninice. Foi órfã da sua puerilidade. A impaciência de um
crescimento fora de hora encarregou-se de arrancar-lhes dos braços as bonecas de
pano feitas pelas negras. Afinal, o Brasil precisava de gente para colonizar terras tão
vastas e os úteros ainda virgens clamavam por fecundação. Crianças por pouco
tempo.18
Essa postura não era praticada somente no Brasil. Se nossa sociedade surge do que
aprendemos com o europeu, também por lá, os pequenos eram encarados como adultos.
A infância e adolescência, como fases especiais para a formação da pessoa, ainda não
tinham sido assim, percebidas. A inexperiência, a ignorância e a dificuldade de se
conter, eram percebidas como meros déficits. Não se fazia diferença entre o mundo dos
adultos e o mundo das crianças.19
Com o declínio do patriarcado, no Brasil, novos olhares se lançam sobre a
sociedade e seus integrantes. Para Paulo Lôbo, podem ser apontadas duas principais
razões para que a família patriarcal saísse de cena, ao longo do século XX: a
urbanização acelerada e a emancipação feminina20.
Tanto uma como a outra tiveram impulso com as mudanças nas relações de
trabalho, causadas pela revolução industrial, no final do século XVIII. No entanto, o
“sair de cena”, não pode significar o desaparecimento por completo de um modelo que
sempre ditou a postura dos brasileiros.
O historiador Sérgio Buarque de Holanda, ao explicar a natureza cordial do
brasileiro,21 aponta a influência daquela família rural e patriarcal. No cenário que
acompanhou a transição do trabalho industrial, que exigia relações cada vez mais
impessoais, tem início a crise que opõe a “velha ordem familiar”, hierárquica e voltada à
educação de seus filhos para o círculo doméstico, à exigência de uma educação que
18
QUINTAS, Fátima. A Família Patriarcal. In: QUINTAS, Fátima (org) A Civilização do Açucar.
Recife: Sebrae, Fundação Gilberto Freyre, 2007, (p. 85-123), p. 98.
19
SCHWANITZ, Dietrich. Cultura. Tudo o que é preciso saber. Lisboa: Dom Quixote, 2004, p. 403.
20
LÔBO, Paulo. Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 15.
21
BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil. 26 ed. 34 reimp. São Paulo: Companhia das
Letras, 2010. p. 139-151.
27
objetiva a independência desses filhos, resumindo a educação familiar à “apenas, uma
espécie propedêutica da vida na sociedade fora da família.”22
O novo modelo que lança os filhos para longe da família, em nome das novas
virtudes antifamiliares, como as que se arrimam na iniciativa pessoal e na
competitividade, dá origem a uma “crise de adaptação dos indivíduos ao mecanismo
social” que se opunha ao meio patriarcal que nem viabilizava a liberdade e nem a
igualdade23. No entanto, ressalta o historiador que “só hoje”, o ambiente familiar que
circunscreve os horizontes da criança dentro da paisagem doméstica é considerado uma
“escola de inadaptados e até de psicopatas.” Antes, ao contrário, era aquela postura que
garantia a prosperidade e ordem sociais24.
No Brasil, onde imperou, desde tempos remotos, o tipo primitivo da família
patriarcal, o desenvolvimento da urbanização – que não resulta unicamente do
crescimento das cidades, mas, também do crescimento dos meios de comunicação,
atraindo vastas áreas rurais para a esfera de influência das cidades – ia acarretar um
desequilíbrio social, cujos efeitos permanecem vivos ainda hoje.25
Vive-se hoje, um momento de transição, quando o problema maior é a
convivência de novos e antigos valores, marcada pelo giro que se inicia na queda do
poder daquele, que há milênios, era o chefe de família, assim como na ascensão
daqueles que sempre foram seus subordinados: mulheres, crianças e adolescentes.
Some-se a isso, a ausência de definições quanto a papéis e funções.
As atuais exigências sociais, os ideais de igualdade, dignidade e liberdade, a atual
cultura ocidental, contrapostos à memória registrada pela história da humanidade,
conduzem as famílias ocidentais a um remodelamento necessário, considerando ao
mesmo tempo, o ideal democrático, os direitos humanos e as tradições ensinadas pelas
gerações passadas.
22
BUARQUE DE HOLANDA,
Letras, 2010. p.143.
23
BUARQUE DE HOLANDA,
Letras, 2010. p. 144.
24
BUARQUE DE HOLANDA,
Letras, 2010. p 145.
25
BUARQUE DE HOLANDA,
Letras, 2010. p. 145.
Sérgio. Raízes do Brasil. 26 ed. 34 reimp. São Paulo: Companhia das
Sérgio. Raízes do Brasil. 26 ed. 34 reimp. São Paulo: Companhia das
Sérgio. Raízes do Brasil. 26 ed. 34 reimp. São Paulo: Companhia das
Sérgio. Raízes do Brasil. 26 ed. 34 reimp. São Paulo: Companhia das
28
1.3 Decadência da Autoridade Paterna
Uma das principais características da família ocidental contemporânea é a
igualdade entre seus membros. Um regime democrático não pode permitir qualquer
discriminação, conforme está expresso na Constituição Federal Brasileira, no inciso IV
do art. 3º que elenca os objetivos fundamentais da república26, não dando espaço à ideia
de supremacia em razão de sexo. O homem sai do pedestal doméstico para dar espaço e
ladear outros atores da relação familiar.
Atualmente, autoridade na família, restrita às relações parentais, tem um sentido
mais protetivo, transcendendo os interesses de seu titular para satisfazer os interesses
daqueles cujas existências justificam e dão origem a tal poder. O direito de ser protegido
não inferioriza ninguém, apenas ressalta uma circunstância de vulnerabilidade, muitas
vezes temporária, como acontece com as crianças e os adolescentes, que por suas curtas
experiências em razão da idade, necessitam ser guiados por pessoas experientes, a fim
de viabilizar que sejam preparadas pessoal e profissionalmente. O crescimento físico e
emocional dos mais jovens é viabilizado, normalmente, pela presença constante de
pessoas adultas que, por esta condição, somada à proximidade familiar, parecem aptas a
viabilizar tal formação.
O grande desafio, hoje, é considerar a rapidez das mudanças culturais e sociais,
acompanhado da lentidão no processo de transformar, no inconsciente individual e
coletivo, a cultura que justifica as relações familiares há milênios e que fora importada
da Europa para o Brasil, estando presente em boa parte de nossa história contada e
vivida, marcando ainda, a contemporaneidade.
Dizer, no entanto, que apenas hoje, vive-se o declínio do patriarca, seria uma
inverdade. Também não prospera o argumento de que, apenas no século XX, inicia-se o
processo de mudanças nas relações de família. Mesmo que o patriarcado tenha sido o
modelo que perdurou por quase toda a história humana, a autoridade do pater não
obedeceu a uma constância. Ele já vinha se transformando, paulatinamente, desde a
Antiguidade. O que aconteceu no século XX, foi, apenas, a aceleração desse processo.
26
“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (…), IV – promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.”
29
Em estudo que pretende compreender a figura paterna, na perspectiva
psicanalítica, Luigi Zoja,27aponta que a decadência daquela personagem forte, tem
início na própria Antiguidade, quando Cristo introduz os conceitos de caridade e amor
ao próximo, antecipando o princípio da igualdade em uma ampla fraternidade não
hierarquizada. “Isso significa que o pai não era mais a imagem exclusiva de Deus na
Terra, nem Deus, a imagem do pai no céu: as duas realidades, terrestre e celeste,
incorporavam a nova igualdade radical que colocava o filho.” 28 (grifo do autor).
O enfraquecimento da autoridade paterna sofre o golpe mais radical com a
revolução francesa e a queda do poder dos reis. “Além das cabeças que caem nas cestas
com um rumor surdo, também os símbolos são decapitados”29
Seguindo à queda do poder dos reis e da Igreja, avança o laicismo. Pode-se dizer,
também, que o surgimento do sistema escolar que também contribuiu para a mudança
de paradigma. Influenciada pela obra Émile de Rousseau, que centrava a educação no
desenvolvimento natural da criança, a educação dos filhos é tirada do pai e transferida a
terceiros. Retira-se mais parte do manto de autoridade do pai.
Com a revolução industrial, novas mudanças foram introduzidas no ambiente
familiar. A entrada de mulheres e crianças no mercado de trabalho termina por afastar a
exclusividade masculina, no papel de provedor. Duro golpe na figura do chefe de
família. Pior ainda, alerta Zoja, submetia sua mulher e filhos a uma autoridade externa
e não pessoal.
Com os avanços na industrialização e o surgimento das primeiras normas de
proteção ao trabalho, o homem retoma a hegemonia no campo laboral, recuperando um
pouco e brevemente, o poder que a história vinha lhe tirando. Retoma, assim, o seu
27
ZOJA, Luigi. O Pai. História e Psicologia de uma espécie em Extinção. Tradução: Péricles Machado Jr.
São Paulo: Axis Mvndi, 2005. p. 151–206.
28
ZOJA, Luigi. O Pai. História e Psicologia de uma espécie em Extinção. Tradução: Péricles Machado Jr.
São Paulo: Axis Mvndi, 2005. p. 156.
29
Inclusive, Zoja ainda vincula alguns ideais da Revolução às experiências familiares de seus principais
líderes. O poder do rei, representado em casa, no poder do pai, estava em xeque. “De um lado, mudam
por via política, as normas que concernem ao pai e à família; de outro, a renovação política é influenciada
pelos sentimentos privados: cada um associa a autoridade e, principalmente, o rei, às próprias recordações
familiares, à própria imagem do pai (…) as teorias políticas desse período deveriam ser lidas em conjunto
com as biografias privadas dos seus protagonistas” ZOJA, Luigi. O Pai. História e Psicologia de uma
espécie em Extinção. Tradução: Péricles Machado Jr. São Paulo: Axis Mvndi, 2005. p. 161-163. O autor
explica que, enquanto Voltaire rejeitava o pai, Rousseau, embora criado por um bom e dedicado pai
viúvo, obstinou-se na reforma da educação, a ponto de não exercer sua própria paternidade, entregando
cada um de seus 5 filhos à institutos para crianças abandonadas. Voltaire derrubou seu pai externo e
Rousseau, o seu pai interno.
30
posto de provedor. No entanto, a necessidade de ausentar-se para conseguir a renda
para a família, o fazia estranho para os filhos.
Perdem a autoridade sobre os filhos e o porto seguro em sua imaginação e seus
corações: pois as suas ocupações, as suas jornadas, os seus próprios sentimentos
voltam-se para o longe e tornam-se estranhos aos filhos. Produzem renda, mas não
produzem mais o ensinamento direto e a iniciação dos filhos na vida adulta: funções
fundamentais que não podem ser substituídas por intervenções profissionais e
institucionais, do mesmo modo pelo qual o mestre-escola não pode suprir o
aprendizado da primeira língua, pois ela deve ser transmitida nos recônditos da
família.30
Zoja ainda analisa o efeito devastador das grandes guerras do século XX, no poder
do pai, tendo em vista que a simbologia comparativa entre o pai de família e a
autoridade militar, a partir do momento em que as pessoas passaram a sofrer mais do
que se entusiasmar com as guerras, tornou o que era positivo no que de mais destrutivo
podia se imaginar. Primeiro pais ausentes pela guerra, pais que matam e que morrem.
Pais que deserdam. Pais que proferem ordens mortais e pais que as acompanham. “A
novidade, certamente, não é a expectativa de que o pai descreva a guerra ao filho, mas,
que deva prestar contas da guerra ao filho, e desse modo ser julgado por ele”31
Ao mesmo tempo em que decai a hegemonia masculina, surgem necessidades
econômicas e políticas que fortalecem os movimentos feministas, alicerçados no próprio
espírito democrático, vivenciados por muitos países ocidentais e que autorizam, quase
sem precedentes, a participação efetiva das mulheres na vida que segue além de suas
casas e de seus problemas domésticos.
A partir de então, a evolução social se dá numa velocidade jamais experimentada
pelo homem. Por isso mesmo, prender-se a conceitos e tradições rígidas que, embora
pareçam oferecer estabilidade e certeza, não é mais condizente com o modo atual, plural
e veloz de ser “humano”.
30
ZOJA, Luigi. O Pai. História e Psicologia de uma espécie em Extinção. Tradução: Péricles Machado Jr.
São Paulo: Axis Mvndi, 2005. p. 167–168.
31
ZOJA, Luigi. O Pai. História e Psicologia de uma espécie em Extinção. Tradução: Péricles Machado Jr.
São Paulo: Axis Mvndi, 2005. p. 178.
31
1.4 Poder Familiar na Constituição Federal de 1988. Para a Realização da Dignidade,
Igualdade e Solidariedade
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é um marco no pensamento jurídico
nacional. Na verdade, o constitucionalismo “chega vitorioso”, nas palavras de Luís
Roberto Barroso32, porque oferece às pessoas: a) legitimidade, por meio da soberania
popular, através do Poder Constituinte; b) limitação do Poder, c) valores, que
correspondem às conquistas sociais, políticas e ética que passam a integrar a
Constituição.
Os valores, quando positivados, são alçados à condição de princípios e o povo
brasileiro conquistou, ao longo de sua história, muitos valores importantes, tais como a
dignidade, a liberdade, a igualdade e a solidariedade. Expressos na Constituição Federal
de 1988, como fundamentos e objetivos da república, os princípios não podem mais
esperar sua aplicação, apenas quando da inexistência de regras que versem sobre
determinada matéria. O caráter subsidiário dos princípios, ainda mantido no art. 4º da
Lei de Introdução ao Código Civil33, não cabe mais no modelo constitucional de uma
sociedade complexa, plural e democrática e caso a dignidade, igualdade, liberdade,
solidariedade fossem recursos, apenas voltados para preencher espaços vazios do
ordenamento, não teríamos nos afastado tanto do modelo patrimonialista e hierárquico,
que na história, mostrou-se injusto e incoerente.
A Constituição Federal Brasileira de 1988, não se limita às questões de direito
público, versando ainda, fortemente, sobre os interesses privados. Ao inserir as relações
privadas em seu conteúdo e ao colocar a dignidade como princípio da República, a
constituição ressalta a pessoa humana, como o centro ao redor do qual, todo o
ordenamento gravita, sempre no sentido de viabilizar os seus interesses, como razão e
fim de todo e qualquer direito.
Esse novo olhar sobre o direito, que resgata o protagonismo da pessoa humana, é
o que alguns autores chamam de fenômeno da Repersonalização do Direito e não se
deve confundir com o individualismo liberal que era, sem dúvidas, antropocêntrico, no
32
BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional
Brasileiro (Pós-modernidade, Teoria Crítica e Pós-positivismo). In: BARROSO, Luís Roberto (org.) A
Nova Interpretação Constitucional. Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 3ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2008. (p. 1-48), p. 10.
33
Que a partir da Lei 12.376/2010, passou a se chamar “Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro – LINDB”, mantendo seu conteúdo.
32
entanto, particularizante e alienador. O indivíduo, nesse novo modelo, é considerado
como pessoa relacional, assim, enquanto ser social que, em sua dignidade particular,
viabiliza a dignidade do grupo em que está inserido.
Trazendo a ideia de repersonalização, para as relações mais íntimas, Paulo Lôbo34
afirma que a família deve ser o espaço de realização da afetividade humana e, por isso,
as antigas funções econômicas, políticas, religiosas, procracionais, não serviriam mais
para justificar o agrupamento permanente. Os valores existenciais e a própria ideia de
felicidade e responsabilidade, norteiam a vida familiar contemporânea. A família é, para
o autor alagoano, “o espaço por excelência, da repersonalização do direito”35.
Essa nova interpretação familiar encontra fundamento na própria hermenêutica
constitucional, principalmente, por causa da efetividade da atual Constituição, cujas
normas “conquistaram o status pleno de normas jurídicas, dotadas de imperatividade,
aptas a tutelar direta e imediatamente todas as situações que contemplem”36. Somada a
sua efetividade à condição de Lei Maior que norteia todo o ordenamento jurídico
brasileiro, bem como à consideração dos princípios, como normas de aplicação direta (e
não, subsidiária), tendo ainda, grande parte das regras constitucionais, forte conteúdo
valorativo, o que as tornam regras de fundo principiológico.
Em um ordenamento jurídico, como o do Brasil, iluminado pelas normas
constitucionais vigentes, não deve se admitir mais, pensar em família, limitando-se ao
modelo nuclear do século XIX, negando os diversos arranjos possíveis para sua origem,
sua história e, até, seus objetivos. Não se deve afastar, principalmente, dos legítimos
interesses existenciais de seus membros, considerando a sociedade democrática que
espelha, então, uma família plural e responsável.
34
LÔBO, Paulo. Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 11.
LÔBO, Paulo. Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 11.
36
BARROSO, Luis Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O Começo da História. A Nova Interpretação
Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. In: BARROSO, Luis Roberto (org.) A Nova
Interpretação Constitucional. Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 3ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008. (p. 327-378), p. 329.
35
33
1.4.1 Dignidade Humana, como Princípio Norteador das Relações Humanas, aplicável
ao Direito de Família
A dignidade humana, fundamento da República, abrindo o texto constitucional37de
1988, aparece como alicerce da justiça e da paz mundial, na Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, proclamada pela resolução nº 217 A (III) da Assembléia
Geral das Nações Unidas, logo após o término da 2º Grande Guerra que devastou o
mundo, deixando a marca inapagável do tratamento mais cruel, desumano e injusto
dirigido a uma parcela da humanidade considerada inferior pelos que promoveram o
longo massacre. O artigo 1º da declaração, com a seguinte redação: “Todas as pessoas
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e
devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”, não apenas
reconhece a dignidade como parte integrante e inerente às pessoas humanas, como
estabelece seus pilares na liberdade, igualdade e espírito fraterno que pode ser traduzido
pela solidariedade.
Todavia, sua origem é mais longínqua e traduz o pensamento cristão pelo qual e
“pela primeira vez, concebeu a ideia de uma dignidade pessoal, atribuída a cada
indivíduo”38. Embora seja inegável a influência de outras religiões e doutrinas
filosóficas, não parecendo correto, para alguns autores, imputar a originalidade e a
exclusividade no cristianismo,39 o que difere, na dignidade cristã é o fato de que o
cristianismo, desvinculado de qualquer nação ou Estado e voltado diretamente para o
Deus único, coloca cada indivíduo, independentemente da comunidade organizada, em
relação direta com Ele40, viabilizando a importância e o respeito, ou seja, a dignidade de
cada um enquanto ser amado pelo Pai e irmãos entre si.
O seu conteúdo e alcance desenvolvem-se paulatinamente, traduzindo em sua
essência, o imperativo categórico de Kant, inspirando a regra ética maior que é o
respeito pelo outro. Ainda, de acordo com o pensamento kantiano, o mundo social seria
37
“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(…)
III – A dignidade da pessoa humana.”
38
MORAES, Maria Celina Bodin. O Princípio da Dignidade Humana. In: MORAES, Maria Celina Bodin
(coord.) Princípios do Direito Civil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. (p. 1-60). p. 8.
39
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana. Parte I. In: BARRETO, Vicente de Paulo
(coord.) Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.
212.
40
MORAES, Maria Celina Bodin. O Princípio da Dignidade Humana. In: MORAES, Maria Celina Bodin
(coord.) Princípios do Direito Civil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. (p. 1-60). p. 9.
34
composto de duas categorias de valores que são preço e dignidade. O primeiro,
representando um valor externo de mercado e interesse privado e o segundo, valor
interno, voltado à moral e de interesse geral41.
Na mesma linha kantiana, para Ana Carolina Teixeira, a dignidade humana
justifica-se na racionalidade e livre-arbítrio humanos, que os tornam capazes de
interagir com os outros e com a natureza e, por isso, é contrário à dignidade “tudo o que
possa reduzir a pessoa à condição de objeto.” 42
Canotilho explica as razões de dever constar, nas constituições, o princípio da
dignidade humana.
Em primeiro lugar, porque, como limite ao próprio poder, deve estar na
Constituição. Em segundo lugar, porque se trata de um imperativo categórico, que
deve estar na Constituição, porque implica também uma proibição total da
transformação de um sujeito (que é a pessoa) em objeto. Em terceiro lugar, porque
ela própria é um índice de que vivemos em comunidades inclusivas, e a dignidade é
uma questão de reconhecimento recíproco de uns em relação aos outros (só temos
dignidade uns em relação aos outros).43
Ainda assim considerada, apresentar e discorrer sobre o conteúdo da dignidade
humana em uma perspectiva jurídico-constitucional é tarefa impossível de ser esgotada
em poucas páginas, sobretudo, como alerta Ingo Sarlet, por sua natureza
necessariamente polissêmica, ainda que nem todos os seus atributos se apliquem à
dignidade da pessoa humana.44
Admitindo a dificuldade de conceituar e estabelecer um conteúdo para a dignidade
da pessoa humana, ao mesmo tempo com a necessidade de fazê-lo, Ingo Sarlet
apresenta o tema em três perspectivas diferentes: a dignidade em sua dimensão
ontológica (enquanto qualidade inerente ao ser humano e por isso, não passível de
cessão, renúncia, criação, sendo indestacável por ser essencial à sua própria
humanidade); a dignidade como construção (contextualizada historicamente, não
podendo ser vista de maneira fixista por, assim, ferir o pluralismo e a diversidade de
41
Apud MORAES, Maria Celina Bodin. O Princípio da Dignidade Humana. In: MORAES, Maria Celina
Bodin (coord.) Princípios do Direito Civil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. (p. 1-60). p.
8.
42
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, Guarda e Autoridade Parental. 2 ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2009, p. 69.
43
CANOTILHO, J.J. Gomes. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (org.) Canotilho e a
Constituição Dirigente. 2 ed. São Paulo: Renovar, 2005, p. 21.
44
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana. In: BARRETO, Vicente de Paulo (coord.)
Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 217.
35
valores que imperam nas sociedades democráticas contemporâneas, trata-se da
dimensão cultural da dignidade que deve ser complementada por sua dimensão natural
e, assim, interagirem mutuamente) e dignidade e intersubjetividade (em sua dimensão
comunicativa e relacional). 45
Em todas as três perspectivas, encontramos as razões que permitem defender a
dignidade familiar, ou a dignidade da pessoa humana enquanto ser-em-família, já que
esta deve ser vista “como espaço comunitário por excelência para realização de uma
existência digna e da vida em comunhão com outras pessoas”46.
Especificamente com relação aos vínculos decorrentes do poder familiar,
encontramos neles, sujeitos dignamente iguais, no entanto, diferentes em razão do
momento de vida de seus partícipes. Considerar a diferença entre pais e filhos, justifica
inclusive, a própria existência e sentido do poder familiar, no entanto, isso não implica
em superioridade dos primeiros em relação aos últimos, mas antes, nas
responsabilidades dos pais em face da vulnerabilidade dos filhos enquanto menores, a
fim de garantir um crescimento digno e uma personalidade plena.
Ana Carolina Teixeira enxerga o viés mais sublime da realização da dignidade, a
partir da relação parental. Nas palavras da autora:
É sob este prisma que se considera a dignidade dos co-partícipes da relação parental:
como uma construção dual, perpassada pelo respeito mútuo. Isso porque, mesmo
que os pais tenham muito a ensinar aos filhos, a contribuir para a construção da sua
dignidade e personalidade, esses – mesmo sem saber ou sem querer – também
ensinam muito aos pais.47
Por mais imperativa que seja a regra, o direito conhece a efetividade quando segue
o mesmo sentido que os valores sociais. O contrário também pode apresentar suas
verdades, assim, os princípios, como valores positivados, não somente impõem
condutas, como norteiam objetivos a serem perseguidos. A dignidade humana ainda não
é uma realidade geral, no entanto, sua força é tão presente nos anseios individuais e
sociais que em breve, na perspectiva mais otimista, qualquer discussão a seu respeito já
será manifestação do senso comum.
45
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana. In: BARRETO, Vicente de Paulo (coord.)
Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 217-225.
46
LÔBO, Paulo. Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 38.
47
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, Guarda e Autoridade Parental. 2 ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2009, p. 74.
36
1.4.2 Sem Igualdade, não há Dignidade
É na igualdade, que também se alicerça a dignidade humana, não obstante o
reconhecimento jurídico da existência de características diferentes entre as pessoas.
Diferenças naturais que classificam os humanos em homens, mulheres, crianças,
adolescentes, adultos e velhos. Diferenças sociais que classificam as pessoas em
integrantes das classes A, B, C, etc., de acordo com a quantidade de dinheiro que são
capazes de fazer circular no mercado. Diferenças religiosas que fazem do país, que já
foi uma potência católica, um lugar onde se pratica livremente, o espiritismo, o
protestantismo, o catolicismo, o candomblé, etc. Diferenças educacionais que apontam a
existência de um mínimo de pessoas razoavelmente educadas convivendo com uma
legião de completos analfabetos e de analfabetos funcionais. Diferenças culturais
marcadas pelas raízes importadas, sobretudo da Europa e da África, culminando em
uma variedade de expressões artísticas, marcadas, sobretudo, nas regiões mais
influenciadas por esses estrangeiros.
Diferenças que algumas vezes aproximam, no entanto, mais frequentemente,
afastam muitas pessoas dos valores e objetivos constitucionais. Diferenças que
encastelam uns, marginalizam outros e enfraquecem o ideal de dignidade para todos,
principalmente quando as diferenças ressaltam para segregar e, não, para erradicar o
preconceito e a discriminação, dignificando uma sociedade plural, formada por pessoas
que são diferentemente iguais. Uma igualdade voltada para substancialidade humana,
em suas diferentes possibilidades de se manifestar.
A dignidade pela igualdade está, também, em permitir que a pessoa seja
considerada em suas características de fragilidade ou vulnerabilidade face às outras,
para que, assim, possam merecer tratamento de acordo com as suas particularidades, a
fim de que, supridas as lacunas, seja realizada a personalidade que abriga a dignidade
constitucionalmente perseguida. A igualdade é, então, construída pela solidariedade que
viabiliza a plenitude e concretiza o ideal democrático.
Para se compreender a igualdade material, faz-se necessário, primeiro, reconhecer
essa vulnerabilidade e, depois, estabelecer as responsabilidades que estarão justificadas
pelo reconhecimento anterior.
37
Transportando o tema, para as relações familiares, particularmente, para o Poder
Familiar, que é o centro deste estudo, não se pode deixar de repetir o passado histórico
que ressaltava as diferenças entre homens e mulheres e entre adultos e crianças.
O ordenamento jurídico anterior, apenas considerava a capacidade feminina,
enquanto não existisse a figura de um marido que, por ser homem, possuía maiores
condições de decidir o seu destino. Daí o casamento fazer regredir a posição da mulher,
que descia à condição de pessoa relativamente incapaz, juntamente com os índios e os
menores entre 16 e 21 anos.
O último século foi palco de grandes avanços na condição da mulher como pessoa
capaz e responsável, igual a seus pares do sexo masculino. Ao passo que decaía a
hegemonia masculina, com o enfraquecimento da figura do pater, ressaltava a força
feminina que se mostrava capaz de lutar, trabalhar, prover, gerar, cuidar e amar. O
Código Civil anterior, datado de 1916, trazia uma série de regras que conduziam a
mulher a um papel subalterno, serviente e, por isso, indigno (ainda que a retórica
apontasse no sentido de protegê-la, por sua fragilidade física e emocional).
A mulher só deixou de ser considerada relativamente incapaz em 1962, a partir do
Estatuto da Mulher Casada. A partir de então, as necessidades econômicas, as lutas das
feministas e a própria vivência feminina que desmentia o discurso machista e
paternalista, fez avançar, passo a passo, a condição da mulher, como membro
importante de sua família.
É óbvio, no entanto, que a igualdade não foi reconhecida da noite para o dia. O
Código Civil, apesar de ter sofrido algumas alterações, sobretudo após o Estatuto da
Mulher Casada, continuou reconhecendo a participação feminina, na formação e nos
cuidados para com seus filhos, apenas enquanto colaboradora. Nada mais razoável, em
uma legislação que refletia o espírito liberal que colocava os interesses patrimoniais
acima dos existenciais (que por sua vez, eram até, questionáveis).
Na seara constitucional, o embrião da igualdade entre homens e mulheres, já se
encontrava, ainda que de maneira implícita, na Constituição de 1824, quando, em seu
art. 174, n. 14, declarava: “Todo cidadão ode ser admitido aos cargos públicos civis,
políticos, ou militares, sem outra diferenciação que não seja a de seus talentos e
virtudes.” A partir do texto constitucional de 1934, a isonomia de sexo começa a ser
38
tratada de maneira expressa48, no entanto, naquela época, ainda havia uma distância
entre o conteúdo constitucional e a lei civil, ampliada pela cultura machista que
vigorava. Mais uma vez, é graças a Constituição Federal de 1988, que se fertilizam os
campos da igualdade, já que passa a ser direito fundamental. Quando se tem uma norma
constitucional que não admite mais nenhum tipo de tratamento discriminatório em
razão, também, de sexo, dá-se um golpe de morte na legislação que seguia diferente.
Ainda que tenham convivido por um curto período, o Código Civil de 1916 e
Constituição Federal de 1988, a interpretação do direito civil só deveria apontar para
onde a luz da Constituição iluminasse.
A igualdade constitucional, assim, interfere nas relações decorrentes do poder
familiar, pois amplia a sua titularidade. Se antes, a mulher não passava de uma
colaboradora, sendo o titular do poder, o pai, justificando inclusive, a nomenclatura
anterior, pátrio poder, agora, é conferida à ela, mãe, uma situação jurídica idêntica à do
homem. Esse foi um dos tantos motivos estruturantes que justificou a mudança no nome
do instituto, passando a se chamar poder familiar49.
Fica claro, então, que o modelo familiar machista e hierárquico que guardou seu
sentido em quase toda a história da humanidade, não se identifica mais com o atual
modelo democrático baseado na ideia de dignidade humana.
A igualdade constitucional, não se resume àquela entre homens e mulheres. No
que pertine à condição de filho, não será a forma como foi originado, nem a relação
entre seus pais, que vai dizer se são ou não, titulares de direitos próprios das relações
paterno/materno-filiais. Desde que seja filho, será igual a qualquer outro filho. Não
importa o quanto tenha sido desejado ou indesejado. Não importa se foi concebido com
amor ou sob efeito de álcool. Não importa se fruto de um casamento, união estável ou
encontro casual. Não importa a identidade genética, tendo em vista que a filiação pode
48
AGRA, Walber de Moura. Manual de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
p. 151.
49
O motivo gerador de tantas mudanças, incluindo a nomenclatura do instituto, foi a elevação da
dignidade da pessoa humana, ao patamar de princípio constitucional, fundamento da República. Daí
decorre toda uma proteção especial aos demais direitos fundamentais, inclusive a igualdade. Ao
centralizar o ordenamento jurídico no ideal de dignidade humana, o legislador promoveu um giro
hermenêutico, a partir do qual resultou, para a nova codificação, não somente a mudança da nomenclatura
(de pátrio poder para poder familiar), mas, também a alteração do conteúdo normativo, ainda que se
mantenha a redação dos direitos ou poderes que decorrem do instituto.
39
ter origem na afetividade e na história de vida relacional com aqueles que se
conduziram como pais.
O legislador constituinte foi tão enfático quanto ao tema, que não se contentou
apenas com a igualdade genérica do caput do artigo 5º, voltando ao assunto em local
específico, impondo, no parágrafo 6º do artigo 226, que “os filhos, havidos ou não da
relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações,
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”.
Assim, estarão sujeitos ao poder familiar, sobretudo pela garantia dos direitos que
estão em seu conteúdo, tendo em vista o reconhecimento de sua condição especial,
vulnerável, enquanto criança ou adolescente, todos aqueles que forem reconhecidos
(espontaneamente ou não) como filhos. Por outro lado, a responsabilidade pela
satisfação daqueles interesses, recairá, sobre o pai e mãe, em conjunto (ainda que não
estejam juntos entre si) – tudo para a viabilização e realização da personalidade
daqueles primeiros.
Essa perspectiva, de enxergar as diferenças para promover a igualdade, coloca o
filho menor (que no passado, já foi considerado “coisa” ou, até, “adulto com déficit”),
na posição de alguém que passa por um momento especial de sua vida e que, por isso
mesmo, merece especial atenção na formação de sua personalidade. É exatamente por
isso, que se reconhece sua vulnerabilidade. Nesta condição, a ele deve ser assegurado
tratamento prioritário para o seu desenvolvimento adequado.
O reconhecimento constitucional do valor da igualdade, como princípio, assim
como a eficácia constitucional, foram os grandes responsáveis por este giro
paradigmático. Considerando a igualdade dos pais enquanto responsáveis pela formação
física, psíquica e relacional de seus filhos (que também são iguais), veio conferir a
existência e a força dos direitos existenciais que são os protagonistas dessa relação.
É importante ressaltar que a decadência da figura do pater, a proibição da conduta
discriminatória, reconhecendo homens e mulheres como iguais, não implica em uma
inferiorização do homem ou no deslocamento social de homens e mulheres, a fim de
inverter antigas funções e características. Significa apenas, que em dignidade e
responsabilidades, os homens passaram a compartilhar o mesmo espaço, com as
mulheres. Subtrai-se um poder masculino injusto e confere-se uma participação
40
feminina mais condizente com a sua capacidade de ser social. Os dois, agora, em uma
justa posição de equilíbrio.
O exercício conjunto do poder familiar, só se sustenta considerando a
responsabilidade igual, a liberdade igual, direitos fundamentais iguais, considerando os
papéis que cada um cumpre no exercício de uma autoridade que visa à satisfação dos
interesses prioritários dos filhos menores.
Conclui-se assim, que as principais mudanças nas relações jurídicas entre pais e
filhos menores aconteceram, exatamente, por causa da posição dos refletores que antes,
ressaltavam os direitos do adulto masculino e aumentava a distância hierárquica entre
ele e seus filhos, para iluminar as necessidades da criança e do adolescente, que passam
de objeto a sujeito dos direitos que, hoje, destacam e justificam qualquer ideia de poder
(ou melhor, autoridade), na responsabilidade igual de homens e mulheres enquanto pais.
1.4.3 A Solidariedade na Repersonalização dos Direitos Civis com ênfase nas Relações
de Família
O Princípio da solidariedade, assim como os demais princípios fundamentais
constitucionais, é de difícil conceituação. A palavra solidariedade, por sua pluralidade
de sentidos pode remeter a diversos significados distintos, entre eles, o sentimento de
compaixão em relação ao outro que impulsiona a condutas de apoio, de suporte e de
estabelecimento de uma situação mais favorável em relação a quem despertou a ideia de
ajuda. Ocorre que, restringindo ao campo dos sentimentos, não se poderia pensar em
eficácia fora de uma motivação que tenha por origem, o coração das pessoas.
Como a solidariedade é princípio relativo à própria organização da sociedade (art.
3º, I), assim como relativo à prestação positiva do Estado (art. 3º, III) 50, a ideia de
solidariedade está mais próxima do conceito de “responsabilidade social” do que,
propriamente, de caridade.
A inserção da solidariedade, enquanto norma jurídica é talvez, o que mais nos
distancia do modelo liberal anterior. A solidariedade, não apenas no Brasil, é efeito de
50
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 96.
41
um período de guerras que marcou o século passado. Maria Celina Bodin 51 explica que
a sua origem está na assimilação da própria percepção de humanidade, elaborada após o
período da 2º Grande Guerra Mundial, como resposta aos crimes do período. A ideia de
conjunto, presente na humanidade, retira a força da vontade individual, que marcou os
interesses patrimoniais liberais para considerar, cada indivíduo, como parte de um todo
e conferir aos interesses existenciais, uma importância que se justifica na ideia de
dignidade e se realiza na natureza social de cada ser humano.
Com esse entendimento, Paulo Lôbo52 apresenta o sentimento (pathos) da
sociedade, como a inclinação valorativa que resulta na norma constitucional referente à
responsabilidade que não se limita aos poderes públicos, mas, recai sobre cada
integrante da sociedade, no que diz respeito à existência social de todos os demais
membros.
Se a Constituição Federal de 1988, aponta, como um dos objetivos da República,
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I), e reconhece na família,
a base da sociedade (art. 226), expande para esta, a responsabilidade social de cada um
de seus integrantes em relação aos demais, na realização da personalidade de cada um,
enquanto partícipes de uma estrutura que espelha e afeta, diretamente, a vida que
transcende os limites de cada lar.
Guilherme Calmon53 lembra que, nas relações familiares, a solidariedade se
especializa na proteção voltada para as crianças e adolescentes, assim, também, com
relação aos idosos (arts. 227 a 230 da Constituição Federal), sem esgotar seu âmbito de
abrangência que vai mais além, vez que também se refere aos demais vínculos
familiares.
O princípio da solidariedade confere norte a diversos artigos de direito de família,
presentes no Código Civil54, não se limitando, apenas às necessidades materiais, mas,
51
MORAES, Maria Celina Bodin. O Princípio da Dignidade Humana. In: MORAES, Maria Celina Bodin
(coord.) Princípios do Direito Civil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. (p. 1-60). p. 4445.
52
LÔBO, Paulo. Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 40.
53
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios Constitucionais de Direito de Família: Guarda
Compartilhada à Luz da Lei nº 11.698/08: Família, Criança, Adolescente e Idoso. São Paulo: Atlas, 2008,
p. 74.
54
“No Código Civil, podemos destacar algumas normas fortemente perpassadas pelo princípio da
solidariedade familiar: o art. 1.513 do Código Civil tutela ‘a comunhão de vida instituída pela família’,
somente possível na cooperação entre seus membros; a adoção (art. 1.618) brota não do dever, mas do
sentimento de solidariedade; o poder familiar (art. 1.630) é menos ‘poder’ dos pais e mais um múnus ou
serviço que deve ser exercido no interesse dos filhos; a colaboração dos cônjuges na direção da família
42
também e, sobretudo, às existenciais, afastando o argumento de que a solidariedade
apontada na Constituição Federal, como objetivo da República, não cabe nas relações
familiares, pois se volta aos problemas econômicos da nação e se dirige aos demais fins,
de erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades regionais.
Se a ideia de solidariedade tem origem na própria percepção de humanidade e a
dignidade humana é o princípio que, por sua vez, justifica a própria solidariedade, se a
dignidade, conforme Kant, é o valor daquilo que não tem preço, então, não se pode
discutir que os interesses existenciais do ser social, ressaltam diante dos demais
interesses econômicos que, por sua vez, ganham importância exatamente por viabilizar
aqueles primeiros. E nenhuma sociedade ou associação tem a capacidade de realizar tais
interesses, melhor que a família.
1.5 Conteúdo Constitucional do Poder Familiar
O conteúdo constitucional do Poder Familiar está expresso no art. 227, com a
seguinte redação:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O art. 226 da Constituição Federal de 1988 reconhece na família, a base da
sociedade e o artigo acima transcrito, reconhece nas duas, a responsabilidade pelos
principais interesses das crianças e dos adolescentes. A vulnerabilidade dos menores e a
consciência da importância do momento que vivem, impõem para as relações entre pais
e filhos, condutas que não podem ser guiadas por regras e princípios que se voltam para
as relações conjugais. Em qualquer relação jurídica, deve ser preservada a dignidade das
(art. 1.567) e a mútua assistência moral e material entre eles (art. 1.566) e entre companheiros (1.724) são
deveres hauridos da solidariedade; os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e
dos rendimentos, para o sustento da família (art. 1.568); o regime matrimonial de bens legal e o regime
legal de bens da união (comunhão parcial), sem necessidade de se provar a participação do outro cônjuge
ou companheiro na aquisição (arts. 1.640 e 1.725); o dever de prestar alimentos (art. 1.694) a parentes,
cônjuge ou companheiro, que pode ser transmitido aos herdeiros no limite dos bens que receberem (art.
1.700), e que protege até mesmo o culpado (§ 2º do art. 1.694 e art. 1.704), além de ser irrenunciável (art.
1.707) decorre da imposição de solidariedade entre pessoas ligadas por vínculo familiar.” LÔBO, Paulo.
Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 41.
43
pessoas envolvidas. Talvez por essa razão, a liberdade venha ganhando cada vez mais
espaço e força nas relações conjugais. Todavia, no que se refere às relações dos pais
com seus filhos, a responsabilidade dá o tom do vínculo, exatamente pelo fato de seus
principais titulares se encontrarem, ainda, formando suas personalidades para,
futuramente, alcançar a autonomia necessária que viabiliza a liberdade e o poder da
vontade.
Neste sentido, pode-se afirmar que o direito não se pode se afastar, até para que
não se fragilize, dos valores sociais a respeito do conceito e da abrangência da família
(ou das famílias). E é exatamente por isso que tais valores conquistaram a posição de
princípios da mais alta categoria normativa do país, encontrando-se ainda que
implicitamente, regulando as relações familiares. A postura afetiva, entre casais adultos,
passa a ser a origem, o dever e uma das principais finalidades das famílias
contemporâneas. Paradoxalmente, a natureza contratual e, assim, a autonomia privada
tem sido ressaltadas nesse novo perfil do direito de família, refletindo na liberdade
quanto à forma escolhida para ser originadora do agrupamento. O paradoxo, no entanto,
apresenta-se exclusivamente, da análise superficial da matéria, vez que, na reflexão
mais apurada, percebe-se que é exatamente a liberdade e a vontade que unem os casais
na afetividade. Quando a Constituição Federal, em seu art. 226, tornou oficial a família
presente na união estável, bem como a família monoparental, não engessou as
modalidades em numerus clausus e, assim, permitiu o reconhecimento de outros
agrupamentos, como entidades familiares que serão reconhecidos pelos critérios da
afetividade, ostensibilidade e estabilidade55.
A afetividade, então, é a mola propulsora das relações familiares contemporâneas
o que não mais admite motivações exclusivamente econômicas ou políticas no
reconhecimento de uma união conjugal, matrimonializada ou não.
Como mencionado, a ideia de dignidade, que não se afasta da noção de liberdade,
assim como as razões da família, como núcleo promotor de afetos e realizador da
personalidade, conferem à vontade, um papel revelador nesse novo olhar sobre a
família.
55
LÔBO, Paulo. Entidades Familiares Constitucionalizadas: Para além do Numerus Clausus.
Disponível em: http://jus.uol.com.br/revista/texto/2552/entidades-familires-constitucionalizadas. Acesso
em: 08 de Março de 2011.
44
E é exatamente, como diz o artista, no “estar-se preso por vontade”56 que se
percebe a força das famílias de hoje. A Lei do Divórcio (6.015/1977), apesar de versar
sobre o término das histórias conjugais, veio mais revolver o sentido anterior de família,
no modelo indissolúvel que protegia, por motivos religiosos e patrimoniais, não as
pessoas, mas a instituição casamento, do que incentivar a desagregação do núcleo
familiar.
Em 2007, a Lei 11.441 conferiu mais força ainda, à vontade, nas relações de
família, uma vez que possibilitou a separação consensual e o divórcio consensual pela
via administrativa, ressaltando a natureza contratual, mencionada há pouco, do
casamento.
Com a Emenda Constitucional nº 66 de 2010, esvazia-se do ordenamento jurídico
brasileiro, a figura da separação judicial, para permitir o divórcio, sem pré-requisitos
processuais ou temporais.
Na trajetória do Direito de Família, está claro que, ao longo dos últimos 40 anos, a
liberdade e sua expressão na vontade, ganha caráter de essencialidade para a
manutenção de uma família democrática e afetiva, refletindo, ao mesmo tempo, em uma
sociedade democrática e livre (para que também se permita dizer, justa).
No entanto, no que se refere aos vínculos de filiação e parentalidade, para que se
respeite a norma constitucional, transcrita no início deste item, é preciso esvaziar da
liberdade e da vontade, a força que lhes foram atribuídas para as relações de
conjugalidade. Não significa dizer que estão abolidas, até porque o planejamento
familiar (que parte da ideia de liberdade e vontade) é, também, constitucionalmente
assegurado.
O que se pretende afirmar é que nas relações entre pais e filhos, os laços da
solidariedade se tornam mais estreitos para que a responsabilidade, independentemente
da vontade, permita a realização do conteúdo prioritário do poder familiar.
Fabíola Albuquerque57, ao afirmar que, no modelo atual de poder familiar, existe a
reciprocidade de direitos, explicita o deslocamento conceitual do instituto clássico do
56
Frase retirada da letra da música “Monte Castelo” da banda Legião Urbana, de autoria de Renato Russo
e inspirada na frase do poeta Luís de Camões em soneto sobre o amor.
57
ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Poder Familiar nas Famílias Recompostas e o art. 1.636 de
CC/2002. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (org.) Afeto, Ética, Família e o Novo Código Civil. Belo
Horizonte: Del Rey, 2004, (p. 161-179), p. 163-164.
45
pátrio poder e percebe no filho menor, não mais um objeto de direito, mas também, o
sujeito de direito na relação com seus pais.
Como sujeito dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, tais interesses não podem ser desconsiderados com base no
argumento de vontade daqueles que têm o dever de torná-los reais: em primeiro lugar, a
família (e nela, em primeiro lugar, os pais), a sociedade e o Estado.
Por esse motivo, Paulo Lôbo entende que no poder familiar, está o centro da
solidariedade familiar, na “exigência da pessoa de ser cuidada até atingir a idade adulta,
isto é, de ser mantida, instruída e educada para a sua plena formação social”58
Alguns civilistas já entendem, inclusive, que o cuidado é valor jurídico,
aproximando solidariedade e responsabilidade, na proteção que deve ser dispensada aos
vulneráveis59.
Pode-se afirmar a partir do que foi exposto, que as principais mudanças, no poder
familiar, na Constituição Federal de 1988, foram: a) o reconhecimento da igualdade
entre homens e mulheres que, por sua vez, conferiu igualdade na participação dos pais
no exercício do poder familiar; b) a igualdade entre os filhos, não importando a sua
origem; c) o deslocamento conteudístico de poder com ênfase nos direitos do pai, para
poder como múnus dos pais; d) o interesse prioritário dos filhos menores na formação
de suas personalidades.
1.6 Poder Familiar no Direito Civil Brasileiro
O direito civil não poderia se afastar da norma constitucional, primeiro pela
hierarquia que o ordenamento lhe confere e, segundo, pela força principiológica dos
direitos fundamentais constitucionais que refletem os valores socialmente aceitos. E a
efetividade das normas depende, não apenas da obrigatoriedade que caracteriza as
normas jurídicas, mas, também da aceitação social quanto ao seu conteúdo e objetivos.
58
LÔBO, Paulo. Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 41.
Para melhor compreender o tema, sugere-se a leitura das seguintes obras: PEREIRA, Tania da Silva;
OLIVEIRA, Guilherme de. O Cuidado como Valor Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2008 e
PEREIRA, Tania da Silva; OLIVEIRA, Guilherme de. Cuidado & Vulnerabilidade. São Paulo: Atlas,
2009.
59
46
Na esteira do conteúdo constitucional do poder familiar, pode-se dizer que, para o
direito civil contemporâneo, ele consiste no “exercício da autoridade dos pais sobre os
filhos no interesse destes”60, sendo, obviamente, temporário, enquanto perdurar a
menoridade.
Não se deve afirmar, no entanto, que no poder familiar não existam direitos
conferidos aos pais. Existem sim, são direitos e deveres em reciprocidade a direitos e
deveres dos filhos menores. No entanto, e o que caracteriza para os pais, a ideia de
poder-dever são exatamente, os interesses que estão, principalmente, voltados para a
pessoa dos filhos. São situações jurídicas que serão melhor esclarecidas mais adiante.
Um problema que pode ser levantado, na interpretação do poder familiar,
encontra-se propriamente, na nomenclatura escolhida pelo legislador, para apresentá-lo.
Muitos autores defendem que o instituto seria melhor compreendido caso tivesse sido
nomeado por autoridade parental. No entanto, não foi essa a escolha de quem tinha o
poder para tanto. Pode-se dizer, em defesa de seu conteúdo, que a interpretação que o
distancie das regras e princípios constitucionais, com base apenas no nome, não será
adequada e, portanto, deverá ser descartada. A expressão poder familiar deve ser
entendida por autoridade parental, ainda que literalmente, guarde um outro sentido61.
No âmbito do direito civil, o poder familiar está regulado pelo Código Civil, nos
artigos compreendidos entre o de número 1.630 e o 1.638.
Como existe outro diploma legal que também regula a matéria, o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) Lei 8.069/90 versando nos arts. 21 a 24, sobre a
convivência familiar, bem como nos arts. 155 a 163, nas regras procedimentais sobre
perda e suspensão do poder familiar, surge a preocupação a respeito das possíveis
antinomias entre as duas leis que poderiam resultar na revogação por incompatibilidade
de uma delas. No entanto, deve ficar claro que as duas leis não são excludentes, mas,
complementares. Paulo Lôbo explicita a distinta abrangência do Código Civil e do
ECA, onde no primeiro, estão as dimensões do exercício dos poderes, enquanto no
segundo, ressaltam os deveres dos pais62.
Ainda não é fácil definir poder familiar, ou melhor, ainda não é fácil pensar em
poder familiar em sua definição e conteúdo constitucionais e o momento em que
60
LÔBO, Paulo. Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 268.
LÔBO, Paulo. Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 269.
62
LÔBO, Paulo. Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 272.
61
47
vivemos contribui para esta dificuldade. Estamos, ainda, em fase de transição (pra não
dizer de crescimento) onde coexistem sólidos valores democráticos com antigas
tradições que insistem em gritar nos espíritos brasileiros e por isso, talvez devesse ter
sido incluída no Código Civil, uma norma que apontasse o conceito do instituto, a
exemplo do Código Civil Francês que é mais explícito ao atribuir a natureza de direitos,
deveres e interesses em ambas as esferas jurídicas desse tipo de relação jurídica, em sua
redação:
Art. 371-1. A autoridade parental é um misto de direitos e de deveres dirigidos ao
interesse dos menores. Ele pertence ao pai e a mãe até a maioridade ou emancipação
dos menores para a proteção de sua segurança, saúde e moralidade; para assegurar
sua educação e permitir seu desenvolvimento com o devido respeito à sua pessoa.
Os pais assistirão os menores nas decisões que lhes concernem, considerando sua
idade e grau de maturidade.63
O Código Civil Brasileiro inicia a Seção I, de seu capítulo V, no art. 1.630
enfatizando, mais do que qualquer coisa, a sujeição dos filhos à autoridade dos pais: “os
filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.”
A ausência de definição normativa abre espaço para as retóricas mais variadas e,
exatamente por essa falta de clareza, não se mostram, enquanto tais, os direitos
subjetivos dos filhos menores e por isso, questiona-se a própria existência e,
consequentemente, a eficácia de tais direitos.
Maria Helena Diniz64, em suas anotações ao Código Civil, interpreta o termo
sujeição, como uma sujeição dos filhos à proteção do poder familiar, considerando que
este existe para nada mais do que protegê-los.
É inegável que, diante de tudo o que foi exposto, os artigos do Código Civil, bem
como do ECA, devam ser interpretados de maneira a viabilizar a dignidade das pessoas
humanas integrantes da relação familiar, conduzindo os comportamentos para construir
e praticar a solidariedade, com base na responsabilidade e no cuidado, que são os
aspectos objetivos da afetividade, priorizando os interesses que justificam a existência
63
“Art. 371-1 – (1) L’autorité parentale est um ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intéêt
de l’enfant. Ele appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’emancipation de l’enfant pour le
protéger dans sa sécurité, as santé et as moralité, pour assurer son éducation et permettre son
développement, dans le respect dû à sa personne. Les parentes associent l’enfant aux décisions qui le
concernente, selon son âge et son degré de maturité.” FRANCE. Code Civil. Paris: Litec, 2009, p. 251.
64
DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 1.159.
48
do instituto, ou seja, os interesses dos filhos menores, considerados pessoas vulneráveis
pelo atual estágio de vida que experimentam.
1.7 Para onde Apontam os Deveres Parentais no Poder Familiar
A responsabilidade parental justifica-se na forma como os filhos menores são
encarados pelos valores de uma sociedade laica e consumista.
Conforme dito há pouco, hoje, é incontestável a afirmação de que a criança e o
adolescente vivem um período especial de formação de suas personalidades e a
responsabilidade dos pais é, principalmente, no que pertine à viabilização desse
momento, para que a criança e o adolescente possam vir a ser adultos saudáveis e
capazes de conviver com os outros de forma harmônica e equilibrada. A pergunta que se
faz é: em que consiste um crescimento saudável? Philippe Julien65, em sua abordagem
psicanalítica sobre o que cada geração deve transmitir à seguinte, termina oferecendo
objetivos que, em uma análise jurídica, podem ser apresentados, também, como os fins
das prestações parentais.
Para Julien, no século XX, a intimidade familiar foi, aos poucos, invadida pelo
social. Não propriamente, no âmbito da conjugalidade, mas, principalmente, na
parentalidade, no que ele chama de “intimidade conjugal” e “extimidade parental”66. A
modernidade veio mostrar que a parentalidade não pode ser deixada ao arbítrio da mãe
e/ou do pai. “Em nome do bem do filho, vem então tomar lugar, sob figuras diversas,
um terceiro social: o professor, a pediatra, a psicóloga, a assistente social, o juiz de
menores, o juiz de varas de família”.67E isso ocorre em nome do bem-estar do filho,
titular dos principais interesses em suas relações com seus pais.
A história mostra que os filhos já tiveram vários significados para a família. No
entanto, hoje, por mais que se aponte a existência e a força de princípios, como
solidariedade e afeto, que norteiam o direito de família, ao se observar a sociedade
como um todo, estes parecem conflitar com uma realidade moderna e líquida, na
65
JULIEN, Philippe. Abandonarás teu Pai e tua Mãe. Tradução: Procópio Abreu. Rio de Janeiro:
Companhia de Freud, 2000, passim.
66
JULIEN, Philippe. Abandonarás teu Pai e tua Mãe. Tradução: Procópio Abreu. Rio de Janeiro:
Companhia de Freud, 2000. p. 17.
67
JULIEN, Philippe. Abandonarás teu Pai e tua Mãe. Tradução: Procópio Abreu. Rio de Janeiro:
Companhia de Freud, 2000. p. 15.
49
expressão de Zygmunt Bauman68. Ter filhos, hoje em dia, não significa mais a benção
de ser contemplado com a mão-de-obra que ajudará no sustento da família, nem com a
alegria de sentir-se infinito na geração seguinte. Atualmente e para muitos, ter filhos
representa uma satisfação consumista com riscos altos e imprevisíveis, originadores de
estresse e angústia que “adulteram a alegria”69de exercer a parentalidade.
O estresse, tão presente na sociedade contemporânea, e a contradição de associar
filhos a bens de consumo, ao passo que, ao menos em tese, a dignidade tem sido
destacada como substância que iguala a humanidade e norteia o ordenamento jurídico,
desfoca o conjunto de direitos e deveres, interesses, sujeições e eficácia das relações
paterno/materno-filiais.
A vinculação justificada por razões diversas, científicas ou culturais, também
incrementa a existência de várias opiniões e interpretações da norma jurídica do poder
familiar. Na origem genética ou no ato de escolha, o que se deve considerar é a
finalidade da parentalidade hoje. Existindo interesses prioritários, conforme a redação
da lei maior do país, voltados para os filhos menores, quais são os objetivos que devem
justificar tais interesses?
Na leitura de Julien, ao abordar o que deve ser transmitido para a geração
seguinte, podemos concluir que os deveres que nascem a partir do momento em que se é
pai ou mãe, são: 1) inicialmente, assegurar ao filho, o direito à filiação; 2) nesta
condição, promover a integridade psicofísica do filho, em sua formação rumo à plena
capacidade, viabilizando as circunstâncias nas quais, normalmente, se é feliz, de acordo
com o que a sociedade, naquele momento, reconhece como felicidade. Não se quer dizer
com isso, que o dever traga a garantia de felicidade, pois é certo que se trata de um
sentimento e, assim, é próprio e muitas vezes, involuntário em cada pessoa. Situações
adversas podem originar felicidade, bem como, um ambiente considerado saudável,
pode levar à depressão. No entanto, a “sociedade pretende saber cada vez melhor qual é
a felicidade da criança”70, tanto é que autoriza e impõe a entrada do terceiro social,
conforme já foi dito há pouco. Para o psicanalista francês, segurança, proteção,
68
BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido. Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2003.
69
BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido. Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2003, p. 60.
70
JULIEN, Philippe. Abandonarás teu Pai e tua Mãe. Tradução: Procópio Abreu. Rio de Janeiro:
Companhia de Freud, 2000. p. 19.
50
prevenção e assistência são “palavras-mestras do discurso social sobre a família.”71
Assim, com o cuidado apresentado nos quatro fatores de promoção de um crescimento
saudável, conclui-se que os deveres dos pais são mais com os meios que com o
resultado (que lhes foge à competência), 3) pela lei do dever, também compete aos pais,
posicionar o filho em face do outro, como ser responsável, tornando-o social e, por fim
4) no exercício do poder familiar, cabe aos pais permitir a formação da identidade do
filho, através da figura do pai e da mãe, compreendendo-se aí, as funções masculina e
feminina72, vivendo a conjugalidade, para que esse filho se liberte de sua família de
origem, estando apto a fundar, publicamente, a sua própria.
1.8 Interferência Estatal e Intimidade Familiar
A família sempre foi compreendida em seu casulo impermeável e isso acontece
por diversas razões, adaptadas em cada contexto histórico, religioso, social, político ou
econômico.
A interferência na família, por parte de terceiros, sobretudo quando o terceiro é o
Estado, apresenta-se, no senso comum, como uma forma de violência naquilo que de
mais íntimo, diz respeito à vida das pessoas.
Não se pode negar a lógica dessa não intervenção, em tempos passados, quando o
agrupamento familiar se confundia com a religião ou até, com o próprio Estado.
Retornando à Antiguidade e às lições de Fustel de Coulanges, 73verifica-se que a
religião dos primórdios não seguia a crença tão comum nos dias de hoje, de culto a um
Deus único e, ainda, um Deus que se voltasse para todas as gentes, castas, nações, ou
seja, uma única divindade que atendesse a todo o gênero humano. Acreditava-se na
pluralidade dos deuses, que não eram, simplesmente, alvo de adoração de cada família,
mas, antes, se confundiam com a própria família. Era a religião doméstica, intimamente
71
JULIEN, Philippe. Abandonarás teu Pai e tua Mãe. Tradução: Procópio Abreu. Rio de Janeiro:
Companhia de Freud, 2000. p. 23.
72
Lembrando que as funções remetem à idéia de gênero e não de sexo, sendo cultural e não biológico.
Deixe-se claro, assim, que apesar da lei da conjugalidade, originariamente, exigir a presença de homem e
mulher, esta necessidade deve ser entendida a partir da importância e influência dos gêneros na formação
da personalidade do menor e, assim, não poderá ser este o obstáculo para impedir o exercício por casais
do mesmo sexo, que exerçam funções masculinas e femininas. Ressalte-se, todavia, que este pensamento
não é compartilhado por Philippe Julien.
73
COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Estudos sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia
e de Roma. Tradução: Edson Bini. 4 ed. São Paulo: Edipro, 2009, p. 37-38.
51
ligada ao ritual de repasto fúnebre e ao culto à memória dos mortos, que ficavam sob a
responsabilidade da descendência masculina de cada família, passando de pai para filho
e que não admitia a interferência de estranhos, ainda como simples observador74.
A proteção da família contra estranhos e até contra o Estado, inicia porque a
família não existe por causa do direito. O direito regula a família que o precede. A
necessidade de agrupamento e de permanência no grupo é da própria natureza humana e
assim, não nasce porque a lei impõe, mas, porque é assim que vive o ser humano.
Portanto, a intromissão, por si só, já é problemática, imagine o que significa um terceiro
impondo condutas? Imagine isso em Roma antiga que, por sua vez, tanto influenciou a
sociedade ocidental contemporânea? Fustel de Coulanges, na sua narrativa, explica a
impotência da Cidade face à Família:
A família não recebeu suas leis da Cidade. Se fosse a Cidade que tivesse
estabelecido o direito privado, é provável que o houvesse feito completamente
diferente daquilo que estudamos até este ponto. Teria regulado o direito de
propriedade e o direito de sucessão segundo outros princípios, pois não constituía
seu interesse a terra ser inalienável e o patrimônio indivisível. A lei que permite ao
pai vender e até matar seu filho, lei que encontramos tanto na Grécia quanto em
Roma, não foi concebida pela Cidade. A Cidade teria, antes, dito ao pai: “a vida de
tua mulher e de teu filho não te pertence mais, tanto quanto não te diz respeito a
liberdade deles; eu os protegerei, mesmo de ti; não é tu que os julgarás, que os
matarás se falharem nos seus deveres: eu serei o único juiz deles”. Se a Cidade não
discursa assim, é aparentemente porque não pode fazê-lo. O direito privado existia
antes dela.75
É possível afirmar que a sociedade atual é um reflexo de sua experiência histórica
e assim, condutas antigas vão se adaptando às novas realidades e necessidades,
permanecendo, em muitos aspectos, sua essência, ainda que tais costumes sejam
reproduzidos, sem que a maioria das pessoas tenha noção de que repetem condutas,
muito menos, perquiram as origens e as razões de seus comportamentos.
74
“O culto não era público. Todas as cerimônias, ao contrário, eram realizadas exclusivamente no seio da
família. O fogo doméstico não era jamais colocado nem fora da casa e nem mesmo próximo da porta
exterior, de onde qualquer estranho poderia vê-lo. Os gregos o colocavam sempre num recinto que o
protegesse contra o contato e mesmo contra o olhar dos profanos. Os romanos o ocultavam no coração de
suas casas. A todos esses deuses, Fogo doméstico, Lares, Manes, chamava-se de deuses ocultos ou de
deuses do interior. Para todos os atos dessa religião o segredo era mister, sacrificia occulta, diz Cícero; se
uma cerimônia fosse percebida por um estranho estaria perturbada, conspurcada tão-só por seu olhar”
COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Estudos sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia e
de Roma. Tradução: Edson Bini. 4 ed. São Paulo: Edipro, 2009, p. 36.
75
COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Estudos sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia
e de Roma. Tradução: Edson Bini. 4 ed. São Paulo: Edipro, 2009, p. 73.
52
Ao longo da história, várias foram as justificativas encontradas para afastar a
interferência de quem quer que seja. Estado ou particulares estranhos, não cabiam
interferir na intimidade da vida familiar. Nos momentos em que se experimentou a
simbiose entre família/religião; família/Estado, não havia relação de subordinação,
devendo existir, antes, uma relação de certo respeito.
Com o advento do Estado Liberal, ainda que as Constituições insistissem em
considerar a família, a célula base do Estado, ocorreu a separação normativa, própria do
espírito liberal e justificada pelo fato de integrar, a família, sobretudo a família
matrimonializada, o ramo do direito privado. Assim, com a afirmação do
individualismo, típica daquele contexto histórico e político, a família, como lar do
indivíduo, ficava a salvo de qualquer interferência, tudo para preservar a autonomia
conquistada nas codificações liberais, enquanto as constituições liberais se prestavam,
somente, para limitar o poder do Estado76. Nas palavras de Tepedino, as constituições se
reduziam a “um documento essencialmente político, um convite à atuação dos Poderes
Públicos”,77que por sua vez, deveriam intervir minimamente na esfera privada.
Esse modelo liberal foi substituído pelo Estado Social, caracterizado pela
regulação constitucional da ordem econômica, como aconteceu a partir da Constituição
de 1934.
Tem-se início a superação daquele modelo de ordenamento que separava
marcadamente a legislação constitucional da normatização civil como também, se inicia
a superação do pensamento jurídico que separava, absolutamente, o interesse público,
do que seria interesse privado.
A Constituição Federal de 1988 abriga valores e positiva, assim, princípios que se
voltam diretamente à proteção do ser humano enquanto pessoa, aproximando-se do
cidadão enquanto titular de direitos fundamentais que não podem ser negados nas
relações que envolverem o particular e o Estado, bem como, nas relações chamadas
horizontais, inclusive nas relações de família.
76
LÔBO, Paulo. Entidades Familiares Constitucionalizadas: Para além do Numerus Clausus.
Disponível em: http://jus.uol.com.br/revista/texto/2552/entidades-familiares-constitucionalizadas. Acesso
em: 08 de Março de 2011.
77
BARROSO, Luis Roberto. A Constitucionalização do Direito e o Direito Civil. In: TEPEDINO,
Gustavo. (org.) Direito Civil Contemporâneo. Novos problemas à luz da legalidade constitucional. São
Paulo: Atlas, 2008 (p. 238-261), p. 241.
53
Paulo Lôbo78 reconhece que, tanto as normas de direito civil, como as normas de
direito constitucional, estão presentes, constantemente, no cotidiano de cada pessoa,
incidindo diariamente, nas relações onde se coloquem, como sujeitos de direitos ou
deveres, aqueles que se relacionem também, como contratantes, parentes, proprietários,
cônjuges, etc.
Para Paulo Lôbo, apesar de superados diversos paradigmas, o antigo dualismo
(normas civis e constitucionais) continua seduzindo o senso comum de muitos juristas.
Tem-se, ainda, a força da tradição, que alimenta o discurso do isolamento do direito
civil, pois seria um conhecimento acumulado de mais de dois milênios, desde os
antigos romanos, e teria atravessado as vicissitudes históricas, mantendo sua função
prático-operacional, notadamente no campo do direito ds obrigações 79.
E se é assim, existindo, ainda, o espírito da tradição que afasta o direito civil de
todos os demais ramos, quando se trata de direito de família, o conforto do
conservadorismo parece falar mais alto, dificultando a compreensão de que é possível
exigir respeito a direitos fundamentais, como também, impor o cumprimento de deveres
fundamentais, ainda que versem sobre interesses puramente existenciais diretamente
vinculados às relações familiares.
Fabíola Albuquerque80, explica que a resistência se dá pelo fato de que a
interferência do legislador constitucional recai sobre o espaço mais íntimo da pessoa, no
entanto, explica que o leitmotiv da intervenção estatal, está no próprio dever do Estado
de proteger a família, tudo para viabilizar a realização e desenvolvimento de seus
integrantes.
78
LÔBO, Paulo. A Constitucionalização do Direito Civil Brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo (org.)
Direito Civil Contemporâneo. Novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas,
2008. (p. 18-28), p. 19.
79
LÔBO, Paulo. A Constitucionalização do Direito Civil Brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo (org.)
Direito Civil Contemporâneo. Novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas,
2008 (p. 18-28), p. 19.
80
ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Poder Familiar nas Famílias Recompostas e o art. 1.636 de
CC/2002. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (org.) Afeto, Ética, Família e o Novo Código Civil. Belo
Horizonte: Del Rey, 2004, (p. 161-179), p. 162
54
O que não se pode negar é que a constituição, hoje, se encontra no ápice do
ordenamento jurídico, exercendo uma função de “filtro, pelo qual se deve ler o direito
em geral”.81
A característica de superioridade da constituição, o atual papel dos princípios no
ordenamento jurídico, a despatrimonialização e a repersonalização das relações civis,
rompem o tabu da família impenetrável para abrir as portas, tanto ao Estado, como à
sociedade, quando houver necessidade de proteger seus integrantes vulneráveis,
sobretudo as crianças, adolescentes, mulheres e idosos que estejam sendo lesados em
seus direitos fundamentais, por outros integrantes de sua família.
O argumento que afasta a interferência do Estado, baseado na privacidade e na
intimidade familiar, por serem também, direitos fundamentais, se enfraquece diante da
mesma norma constitucional em que se alicerça, por expresso dever de perseguir a
dignidade humana e proteger os vulneráveis, como se observa, a exemplo, no artigo
227.
Muitos dos direitos fundamentais, presentes da Constituição Federal de 1988, se
realizam no seio da família, no entanto, não se aprisionam nesse locus. Os direitos
fundamentais, ainda que individuais, transcendem as pessoas de seus titulares,
interessando a toda a comunidade, pois, o atual modelo político do país não se considera
os indivíduos isolados como acontecia na política liberal.
No que diz respeito às relações parentais do poder familiar, a doutrina
portuguesa82 considera a relação triangular entre pai/mãe-filho que por sua vez, também
dá forma à relação triangular com o Estado, devendo este, exercer controle sobre as
famílias, através dos Tribunais, buscando realizar os interesses do menor. No entanto, a
intervenção deve acontecer quando os pais agem (ou deixam de agir), manifestamente
contra o menor, ou quando os pais não estiverem de acordo nas questões relevantes de
interesse do menor.
Também no Brasil, o Estado assume uma postura semelhante, confirmando a clara
mudança de paradigmas no que tange às relações jurídicas do Poder Familiar,
ressaltando os interesses dos menores e expondo ainda, o interesse público no bom
81
BARROSO, Luis Roberto. A Constitucionalização do Direito e o Direito Civil. In: TEPEDINO,
Gustavo. (org.) Direito Civil Contemporâneo. Novos problemas à luz da legalidade constitucional. São
Paulo: Atlas, 2008 (p. 238-261), p. 258.
82
RODRIGUES, Hugo Manuel Leite. Questões de Particular Importância no Exercício das
Responsabilidades Parentais. Coimbra: Coimbra, 2011, p. 29.
55
desenvolvimento da personalidade das crianças e adolescentes brasileiros que, sendo
partes no todo social, caminham para uma atuação independente, necessária ao
equilíbrio da coletividade.
56
CAPÍTULO II
SITUAÇÃO JURÍDICA E DIREITOS SUBJETIVOS EXISTENCIAIS NO
PODER FAMILIAR
2.1 Situação Jurídica e Relação no Poder Familiar; 2.1.1 Situações Jurídicas
Patrimoniais; 2.1.2 Situações Jurídicas Existenciais; 2.2 Direitos Subjetivos e
Deveres no Poder Familiar; 2.3 Definindo os Direitos Subjetivos nas Relações
Jurídicas do Poder Familiar com base na Teoria de Hohfeld; 2.4 Liberdades no
Exercício do Poder Familiar; 2.5 Proteção Integral para a Concretização dos
Interesses da Criança e do Adolescente; 2.6 Princípio do Melhor interesse da Criança
e do Adolescente na interpretação do Poder Familiar Contemporâneo; 2.7 Definindo
o Afeto enquanto Objeto de Relações Jurídicas de Poder Familiar; 2.7.1 A
Afetividade como Princípio; 2.7.2 Do Valor ao Princípio; 2.7.3 Afeto e Deveres
Jurídicos.
2.1 Situação Jurídica e Relação no Poder Familiar
É possível afirmar que o direito encontra seu fundamento nas relações jurídicas
intersubjetivas. Não haveria sentido falar em normas jurídicas se as pessoas não
estivessem socialmente relacionadas. Até mesmo o direito de propriedade,
aparentemente vinculativo de pessoa (titular) e coisa, encontra sua razão de ser, na
existência dos outros sujeitos que integram o todo social e que estão proibidos de
interferir desautorizadamente no domínio alheio.
A experiência familiar é a primeira que o ser humano tem, de estar em face de
outro. Os laços de família são, comumente, os mais fortes a vincular pessoas. São
relações que, em sua maioria, escapam o critério da vontade, conferindo uma
permanência obrigatória, seja por razões de ordem biológica ou por força de ordem
jurídica, e se voltam para a satisfação dos mais diversos fins, existenciais e materiais,
embora quase todos convirjam para a realização puramente pessoal.
Embora seja possível elencar as mais variadas formas de relação entre parentes,
interessa ao presente estudo, a relação jurídica entre pais e filhos na vigência do poder
familiar.
Neste sentido, seguindo a doutrina de Pontes de Miranda e considerando relação
jurídica, a “relação inter-humana, a que a regra jurídica, incidindo sobre os fatos, torna
57
jurídica”83, entende-se que ser filho significa estar em uma relação fática onde a regra
incide, tornando-a jurídica (relação de filiação-maternidade/paternidade)84.
Como se constata na atual dinâmica familiarista, a forma como o direito regula as
relações jurídicas nessa área, sofreu alterações significativas. A marca do patriarcado e
da hierarquia assentada na prevalência dos interesses paternos perde significativamente
a força, dando espaço a um sentido social e cultural, mais condizentes com os
fundamentos de dignidade, igualdade e solidariedade que alicerçam os direitos mais
fundamentais das pessoas.
Nesse contexto, se faz urgente definir a atuação daqueles que integram as relações
jurídicas do poder familiar para que, compreendendo suas posições e funções, seja
possível conferir maior efetividade aos interesses merecedores de tutela, em cada caso
concreto.
Para uma análise mais acurada dos direitos e deveres que integram as relações do
poder familiar atualmente, é necessário entender a situação jurídica em que se
encontram pais e filhos. Isto porque a noção de relação jurídica está inserida na ideia de
situação jurídica, na condição de espécie e gênero.
De maneira diversa, Perlingieri85 compreende a relação jurídica como sendo o
vínculo entre situações jurídicas, colocando estas últimas, na condição de elementos
constitutivos da primeira, partindo, assim, da análise de cada sujeito individualmente
para, depois, considera-os vinculados.
Em sua abordagem sobre o tema, Marcos Mello apresenta a noção de situação
jurídica em duas acepções. A primeira, em sentido lato, que “designa toda e qualquer
consequência que se produz no mundo jurídico em decorrência de fato jurídico,
englobando todas as categorias eficaciais, desde os mínimos efeitos à mais complexa
das relações jurídicas”. A segunda acepção, em sentido estrito, abarca, “exclusivamente,
os casos de eficácia jurídica em que não se concretiza uma relação jurídica. 86”
Simplificadamente, Amaral apresenta as situações jurídicas como sendo os:
83
PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Rio de Janeiro: Borsoi,
1954, t. I, p. 117.
84
PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Rio de Janeiro:
Borsoi, 1954, t. I, p. 117.
85
PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional. Tradução:
Maria Cristina Di Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 115.
86
MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Eficácia 1ª parte. 4 ed. São Paulo:
Saraiva, 2008, p. 80.
58
(...)
conjuntos de direitos ou de deveres que se atribuem a determinados sujeitos, em
virtude das circunstâncias em que eles se encontram ou das atividades que eles
desenvolvem. Surgem como efeito de fatos ou atos jurídicos, e realizam-se como
possibilidade de ser, pretender ou fazer algo, de maneira garantida, nos limites
atributivos das regras de direito.87(grifos do autor)
As situações jurídicas complexas comportam em seu âmago, a intersubjetividade
vista aqui, no sentido de vinculação ou possibilidade de vinculação entre duas ou mais
esferas jurídicas. Mas, nem todas as situações jurídicas complexas serão bi ou
plurilaterais. Naquelas unilaterais, apesar desta necessária intersubjetividade, delas não
resultam de imediato, relações jurídicas88, pois comportam eficácia limitada a uma
esfera jurídica, apenas. É o caso, no exemplo de Marcos Mello 89, da oferta, inclusive ao
público, cuja eficácia remete apenas, àquela esfera jurídica que exteriorizou a vontade
negocial.
A concepção de relação jurídica, conforme Amaral estaria vinculada à situação
jurídica complexa multilateral, podendo ser conceituada como aquela que “se estabelece
entre sujeitos, uns em posição de poder, e outros em correspondente posição de
dever.”90
Para Marcos Mello91, essa correspectividade é um dos princípios fundamentais
(entre a intersubjetividade e a essencialidade do objeto) a reger as relações jurídicas.
Assim, apresenta o seguinte esquema representativo das relações jurídicas, aqui
representadas pela letra R:
87
SUJEITO ATIVO
R
SUJEITO PASSIVO
↕
OBJETO
↕
DIREITO
↔
DEVER
AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 222.
Aqui considerada a relação jurídica em sentido estrito, vez que, sendo todo o direito, relacional,
guardando a sua própria razão de ser na coexistência humana, toda situação jurídica seria relação jurídica
de forma ampla. Assim, por exemplo, as qualificações jurídicas como capacidade, só se justificam pela
vivência das pessoas em face de outras.
89
MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Eficácia 1ª parte. 4 ed. São Paulo:
Saraiva, 2008. p. 166.
90
AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 195.
91
MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Eficácia 1ª parte. 4 ed. São Paulo:
Saraiva, 2008, p. 173.
88
59
↕
PRETENSÃO
↕
↔
↕
AÇÃO
OBRIGAÇÃO
↕
↔
SITUAÇÃO DO
ACIONADO
↕
EXCEÇÃO
↕
↔
SITUAÇÃO DO
EXCETUADO
O esquema apresentado por Marcos Mello, seguindo a diretriz de Pontes de
Miranda é de extrema relevância para a compreensão dos elementos eficaciais das
relações jurídicas, no entanto não se pode esquecer que algumas situações complexas
vão se apresentar mais complexas ainda, como é o caso das relações jurídicas
decorrentes do poder familiar. A própria denominação do instituto contribui para a
confusão existente quanto às posições assumidas na relação jurídica. A palavra poder,
mantida atualmente, ressalta a posição dos pais em relação aos filhos menores,
conferindo uma falsa ideia de supremacia hierárquica, quando esse não é o telos
contemporâneo do instituto.
Considerando as relações jurídicas do poder familiar, inseridas no momento
eficacial do fato jurídico92, se reconhece a dinamicidade do instituto. A estrutura do
antigo pátrio poder não se adequa mais ao que se espera da relação entre pais e filhos
em dias atuais. Quando a Constituição Federal expressa a prioridade absoluta dos
interesses das crianças e adolescentes quanto à realização de seus direitos fundamentais,
afasta qualquer interpretação contrária à ideia de que eles são, hoje, os principais
sujeitos de direito do poder familiar e assim, juridicamente situados de maneira ativa.
92
Para Pontes de Miranda as relações jurídicas do Poder Familiar, ainda poderiam ser classificadas como
relações intra-jurídicas, diferentemente das relações de parentesco que seriam fundamentais ou básicas. A
distinção entre uma e outra consiste na ideia de que as relações básicas seriam a juridicização de relação,
enquanto as outras seriam oriundas da eficácia do fato jurídico. PONTES DE MIRANDA, Francisco.
Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, t. I, p. 120 a 123.
60
2.1.1 Situações Jurídicas Patrimoniais
As relações jurídicas do poder familiar não são complexas apenas pela
bilateralidade estruturante ou pela dificuldade em se definir as posições de seus sujeitos.
Os interesses que animam os possíveis objetos desses tipos de relações, também
sofreram significativas alterações na reconfiguração que fez do pátrio poder, o atual
poder familiar.
É certo que o fenômeno da repersonalização do direito privado coloca o ser
humano no centro de interesse do ordenamento jurídico e é para a sua realização
existencial que se deve voltar a atenção de todo aquele que se dedica ao estudo e à
aplicação do direito. No entanto, isso não exclui a significativa importância dos bens
materiais na vida das pessoas, inclusive considerando sua imprescindibilidade à
manutenção da vida e à manutenção da sociedade.
Assim é que durante o poder familiar, todos os direitos fundamentais, materiais ou
imateriais, imaginados constitucionalmente e necessários à realização da dignidade
humana, deverão ser garantidos às crianças e aos adolescentes, competindo
primeiramente, aos pais, assegurar que sejam satisfeitos.
Ainda que esteja claro que é na pessoa em si, que se concentram os fins do direito
e, por isso mesmo, que os interesses existenciais ganham relevância em relação aos
materiais, é inegável que o viés econômico também seja imprescindível à realização da
personalidade dos sujeitos e assim, também, à satisfação daqueles interesses
existenciais. Ocorre que, reconhecer o papel de devedores, dos pais, quanto aos gastos
financeiros com alimentação, vestuário, mensalidades escolares de seus filhos, não
causa estranhamento; no entanto, não é tão fácil admitir a existência de verdadeiros
deveres, nas condutas necessárias e adequadas a garantir a construção e realização das
personalidades de seus filhos, por se aproximem mais do aspecto emocional.
Nas relações jurídicas entre pais e filhos, quando os interesses a serem realizados,
forem materiais, parecem se revestir de um contorno jurídico mais definido. Todos os
elementos do esquema anteriormente apresentado, nas lições de Marcos Mello estarão
marcadamente presentes. Assim, por exemplo, na obrigação de prestar alimentos, temse, claramente, a presença do sujeito ativo e do passivo, de direito e dever, pretensão e
obrigação, ação e situação do acionado, exceção e situação do excetuado.
61
Assim, no poder familiar, apresentam-se claramente, deveres de dar e de fazer,
como já era, no sistema anterior, no entanto, entre as diferenças dos modelos, para além
da atual igualdade entre os pais, no exercício do poder familiar, está a divisão de tarefas,
que antes, concentrava os deveres de dar, sob a responsabilidade paterna, reservando o
fazer, às mães. Atualmente, ainda se cobra mais o cuidado da mãe e o sustento material
do pai, mas, a justificativa para isso, ainda é cultural e não mais, jurídica.
2.1.2 Situações Jurídicas Existenciais
Enfatizando o aspecto atributivo da situação jurídica, embora ressaltando a relação
entre sujeitos e objeto (res em sentido mais geral, que vai da parcela do mundo físico,
passando pelos atos humanos até às qualificações morais e sociais), Torquato de Castro
critica o idealismo presente em diversas tentativas de conceituar situação jurídica, o que
fica evidenciado na definição, influenciada pela filosofia existencialista, de situação,
que seria “a realidade do homem enquanto existência situada93” (grifo do autor). Em
termos jurídicos, significando “a pura realidade existencial do homem, já visto como
imerso nos fatos, já como sujeito, diante da ordem jurídica. 94” Assim, tanto as situações
de fato como as situações jurídicas, seriam situações existenciais.
A afirmação que insere no contexto existencial, toda e qualquer situação jurídica,
ainda que voltada para os interesses puramente patrimoniais, serve, também, para
ressaltar as circunstâncias do caso concreto a ser considerado, fugindo de uma abstração
positivista superada.
A percepção do caso concreto vai ser importante para, mais adiante, traçar o que
pode ou não ser considerado como impossibilidade, em um sentido mais amplo, de
cumprir com os deveres que se tenha, considerando a impossibilidade, como falta de
capacidade financeira, mais facilmente percebida, como também, como ausência de
capacidade emocional.
Ainda que sejam consideradas, toda e qualquer situação jurídica, uma situação
existencial, ainda é possível proceder com a classificação em direitos existenciais e
patrimoniais, a depender se o conteúdo econômico do interesse a ser protegido, for
93
CASTRO, Torquato. Teoria da Situação Jurídica em Direito Privado Nacional: Estrutura, causa e
título legitimário do sujeito. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 53.
94
CASTRO, Torquato. Teoria da Situação Jurídica em Direito Privado Nacional: Estrutura, causa e
título legitimário do sujeito. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 53.
62
considerado principal, meramente instrumental ou ausente. Nas relações do poder
familiar, os interesses a serem perseguidos, serão todos, quase absolutamente,
existenciais, prevalecendo o caráter instrumental do conteúdo econômico na maioria dos
direitos subjetivos que decorram daquelas relações jurídicas. Nesse sentido, afirma
Perlingieri, que “um conceito exclusivamente patrimonialista não responde aos valores
os quais inspiram um ordenamento moderno.95”
Diante da relevância constitucional, voltada aos interesses existenciais, sobretudo
a partir de uma principiologia que inicia no ideal de dignidade humana é até possível
incluir certos interesses patrimoniais na categoria de situações jurídicas existenciais.
“São (...) situações patrimoniais que por seu estreito vínculo com o livre
desenvolvimento da pessoa, assumiram relevância existencial.96”
Assim considerados a partir dos interesses, os direitos próprios do poder familiar,
sejam eles patrimoniais ou não, deverão estar inseridos no conceito de situações
jurídicas existenciais, tendo em vista que é para a realização da pessoa que eles se
apresentam no poder familiar. Na realidade, as situações jurídicas devem ser
consideradas como um corpo único composto por sujeitos em suas posições específicas
e seus conjuntos de interesses sejam eles de qualquer natureza, desde que considerados
relevantes, sérios e úteis pelo ordenamento jurídico nacional.
Ainda assim, é necessário apresentar a tradicional classificação bipartida para, no
mínimo, para mostrar a incoerência de se aceitar as relações jurídicas patrimoniais com
seus elementos de direitos e deveres, pretensões e obrigações e titubear quando se trate
de relações jurídicas existenciais, apenas por lhes faltar o conteúdo econômico e
estarem, frequentemente, acompanhadas de forte carga emocional. Considerando a
estrutura relacional e o reconhecimento jurídico dos interesses que buscam realizar, é
fácil perceber que não assiste razão para uma percepção tão marcadamente distinta entre
elas.
Nas suas diversas possibilidades relacionais, a família é, para a doutrina atual, de
vital importância, como local de realização da personalidade de seus integrantes. Com
95
Tradução livre para “Uma concezione esclusivamente patrimonialistica non responde ai valori ai quali
s’ispira un ordinamento moderno”. PERLINGIERI, Pietro. Il Diritto Civile nella Legalità
Constituzionale. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1991, p. 318.
96
Tradução livre para “Vi sono (...) situazioni patrimoniali che, per lo stretto legame al libero sviluppo
della persona, assumono rilevanza esistenziale PERLINGIERI, Pietro. Il Diritto Civile nella Legalità
Constituzionale. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1991, p. 318.
63
relação às crianças e adolescentes é ainda o ambiente necessário à construção e ao
desenvolvimento de suas personalidades.
Assim é nesse propósito que devem se
concentrar os esforços dos pais/mães, para que seus filhos se desenvolvam de maneira
plena.
2.2 Direitos Subjetivos e Deveres no Poder Familiar
Considerando a mudança dos paradigmas que salientam na sociedade, os
interesses dos vulneráveis, como também, o reconhecimento da realização da
personalidade, como razão de ser das entidades familiares, compreende-se a mudança
de perspectiva do poder familiar que, atualmente, encontra justificativa no melhor e
superior interesse das crianças e adolescentes, enquanto vivenciam a fase de suas vidas
que se volta, não apenas para a realização, mas antes, para a construção de suas
personalidades.
Não havendo dúvidas quando ao posicionamento das crianças e adolescentes
como sujeitos de direito na relação jurídica de poder familiar, pretende-se mostrar que
essa situação jurídica ativa significa, também, a titularidade de direitos subjetivos que
correspondem a deveres jurídicos dos pais na persecução de seus interesses.
A complexidade da vida contemporânea impõe uma reconfiguração dos direitos
subjetivos, para acomodá-los em um ambiente jus-sócio-político democrático e
solidário. Isso se torna possível a partir do momento em que se reconhecem nos direitos
subjetivos, criações jurídicas que se voltam a cumprir determinadas funções, entre elas,
evidenciar os interesses a serem tutelados, viabilizando a realização de seus titulares no
âmbito da eficácia relacional.
Para Eduardo Rabenhorst97, os direitos subjetivos consistem em um constructum e
com tal afirmação, justifica o surgimento de tantas teorias na busca de esclarecer seu
significado, cada uma delas considerando o cenário jurídico onde atuavam os autores
que mais se destacaram nesse propósito.
Historicamente, a noção de direito subjetivo está relacionada ao movimento
liberal e democrático e surge com a finalidade de proteger os indivíduos da opressão e
97
RABENHORST, Eduardo R. Dignidade Humana e Moralidade Democrática. Brasília: Brasília
Jurídica, 2001. p. 58
64
dos abusos do absolutismo estatal98. Como uma das características do Estado Liberal era
a liberdade individual com amplos poderes conferidos pela codificação civil em face de
um Estado mínimo, distante o suficiente para não interferir nas relações privadas, o
papel da vontade ganha relevo ao ponto de ser, esta, considerada por grandes juristas, o
substrato dos direitos subjetivos, como foi o caso de Savigny e Windscheid99.
Pela teoria da vontade (willentheorie), de raiz germânica, direito subjetivo seria “o
poder juridicamente protegido que exerce a vontade de uma pessoa sobre a outra”100.
As críticas à teoria voluntarista, apesar de sua ampla aceitação ao longo do século
XIX, passam da exclusão de algumas pessoas que não seriam capazes de expressar por
si sós, suas vontades e estariam assim, impossibilitadas de “terem” tais direitos, como é
o caso dos incapazes, até à impossibilidade de negar a existência de direitos subjetivos
em algumas situações, ainda que não seja apresentada a vontade de exercê-los, como no
caso do credor de uma determinada importância que não se disponha a cobrar do
devedor a conduta correspondente. O não exercício do direito pela carência da vontade
não poderia significar a ausência do direito101.
Buscando superar a teoria anterior, estaria a ideia defendida por Ihering, de
colocar o interesse juridicamente protegido e não a vontade, no centro de atenção e,
assim, na essência dos direitos subjetivos (Interessendogma)102.
Segundo a teoria do interesse, haveria dois elementos na composição dos direitos
subjetivos, um substancial (vantagem ou benefício a ser atingido) e outro formal
(proteção jurídica que assegura a realização daqueles benefícios e vantagens)103. Miguel
Reale explica a relevância do interesse na teoria de Ihering, para quem, toda relação
jurídica possui uma:
(...)
forma protetora, uma casca de revestimento e um núcleo protegido. A capa que
reveste o núcleo é representada pela norma jurídica, ou melhor, pela proteção à ação,
o que quer dizer, por aqueles remédios jurídicos que o Estado confere a todos para a
defesa do que lhes é próprio. O núcleo é representado por algo que interessa ao
98
AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 229.
AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 229.
100
RABENHORST, Eduardo R. Dignidade Humana e Moralidade Democrática. Brasília: Brasília
Jurídica, 2001. p. 59.
101
REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1978, p. 250.
102
RABENHORST, Eduardo R. Dignidade Humana e Moralidade Democrática. Brasília: Brasília
Jurídica, 2001. p. 60.
103
AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 230.
99
65
indivíduo. O direito subjetivo, segundo Ihering, é esse interesse enquanto
protegido104.
A principal crítica lançada contra a teoria do interesse consistiu em apontar a
confusão entre o conteúdo dos direitos subjetivos e seus fins, já que são considerados na
combinação de dois elementos: um substancial, que é a própria vantagem em si, e outro
formal, que é a sua proteção jurídica105. Apesar da seriedade da crítica à teoria do
interesse protegido, não há como se confundir o conteúdo (essência) com a proteção que
dele decorre, apesar de constituírem, ambos os elementos, a lógica dos direitos
subjetivos. Por exemplo, o direito de propriedade se define pelos elementos que o
integram que são os direitos de usar, gozar, dispor e reivindicar determinadas coisas. O
direito de crédito se define pela exigibilidade de determinadas condutas do outro sujeito
relacional e que correspondam ao interesse do credor. Em todos os casos, os direitos
subjetivos corresponderão aos seus conteúdos, enquanto interesses que, por sua vez,
estarão juridicamente protegidos com as respectivas ações possíveis para sua realização.
Enquanto técnica jurídica, o maior desafio na compreensão dos direitos subjetivos
na contemporaneidade está, tão somente, na sua contextualização, clamando que sejam
adaptados ao momento histórico, econômico, jurídico e político da sociedade e assim,
definindo quais sejam os interesses relevantes ao ponto de merecerem tutela jurídica.
Lembrando que o princípio motor da dignidade humana impõe ainda, que se observem
as desigualdades entre as diversas pessoas, considerando especiais, os interesses dos
grupos vulneráveis.
Sendo os direitos subjetivos, um constructum, é plenamente possível moldá-los
adaptando-os de acordo com seus fins. A importância de se levar em consideração as
teses contrárias, se encontra exatamente, em enxergar as falhas de construção para que,
superando-as, permita o aperfeiçoamento da técnica.
Por exemplo, no caso do positivismo sociológico, que negava os direitos
subjetivos, impondo a observação dos fatos sociais, exatamente por salientar que a
“contingência social que envolve o indivíduo”, terminou, contrariamente, por contribuir
para a teoria dos limites dos direitos subjetivos, fazendo surgir as figuras jurídicas do
104
105
REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1978, p. 251- 252.
AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 230.
66
abuso do direito, da função social da propriedade e das limitações da ordem pública ao
exercício da autonomia privada.”106
Outra corrente que buscava a negação dos direitos subjetivos, o positivismo
normativista, também contribuiu para a compreensão de que os direitos subjetivos
dependem dos direitos objetivos e isso não excluiria uma coexistência harmônica107.
Alf Ross108, em seu Tû Tû, apresenta os direitos subjetivos como abstrações
racionalizáveis, cumprindo o fim de vincular o fato jurídico ao seu consequente, bem
como, de organizar o ordenamento jurídico, tornando-o mais ágil, por facilitar a
percepção dos fatos e seus consequentes, vez que estariam ordenados por esses direitos
subjetivos (tû tûs) que seriam os seus elos. Por mais surreal que pareça a apresentação
dos direitos subjetivos em Alf Ross, é nela que se percebe uma das melhores definições
de direitos subjetivos. Como já foi dito anteriormente, é preciso apenas,
contextualização.
O problema é que, sendo os direitos subjetivos, ficções jurídicas e permanecendo
ainda, o tabu que envolve a família, afastando a interferência de terceiros, o que inclui o
Estado, observa-se a influência da tradição na utilização desses conceitos. Assim,
considerar a presença de direitos subjetivos em alguns momentos, implicaria
inicialmente, admitir pretensão em certas searas das relações familiares, que por sua
vez, traria o Estado para a intimidade do lar.
Esse raciocínio tradicional contraria normas explícitas da Constituição Federal, a
exemplo dos direitos das crianças e adolescentes, que não se limitam apenas, ao elenco
do artigo 227, mas, ainda são fortalecidos pela atribuição de responsabilidades em
deveres que recaem primeiramente, sobre a família, para a realização daqueles
interesses.
É inadmissível, no ambiente preparado pela Constituição Federal, afastar, do
âmbito do poder familiar, a titularidade dos filhos menores, de verdadeiros direitos
subjetivos existenciais, sobretudo porque se tratam de interesses tão relevantes que são
prioritários, o que traduz da melhor maneira, a linha humanista do direito
contemporâneo.
106
AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 228.
AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 228.
108
ROSS, Alf. Tû-Tû. São Paulo: Quartier Latin, 2004. Passim.
107
67
2.3 Definindo os Direitos Subjetivos nas Relações Jurídicas do Poder Familiar com
base na Teoria de Hohfeld
Somado à dificuldade cultural, encontra-se o problema semântico para admitir
a aplicação da técnica dos direitos subjetivos nas relações de família, especialmente, nas
relações decorrentes do poder familiar. Isso porque a palavra direito serve a vários
propósitos. Juridicamente, o termo serve para acomodar o direito objetivo em todas as
modalidades normativas, bem como o direito subjetivo em todas as maneiras
concebíveis.
A língua inglesa ainda faz uma distinção entre o termo law, com que se nomeia o
direito objetivo e right, para direito subjetivo. Ainda assim, persiste a dificuldade em
definir o que, realmente, significa ter um direito.
Uma das melhores contribuições para esclarecer o termo direito subjetivo em suas
variadas possibilidades partiu do estudo do professor norte-americano Wesley
Newcomb Hohfeld, que no início do século passado, no ano de 1913, escreveu o artigo
intitulado Fundamental Legal Conceptions as apllied to Legal Reasoning, para, de
maneira analítica, afirmar precisamente todas as significações da palavra direito,
separando aquilo que é termo de uso comum e aqueles utilizados pelos operadores do
direito. Também vale ressaltar que o estudo do professor Hohfeld não tentou unificar o
conteúdo do direito subjetivo, nem buscou explicar sua natureza. Como na tradição
analítica, sua teoria equilibra-se com outras de juristas que consideram os direitos
subjetivos, entidades imaginárias com funções simplesmente diretivas ou técnicas,
como foi o caso do realismo jurídico escandinavo representado pelo jus-filósofo
anteriormente mencionado, Alf Ross109. Explica o autor que:
A tendência para confundir ou misturar conceitos não-legais e legais consiste na
ambiguidade e frouxidão de nossas terminologias jurídicas. A palavra “propriedade”
fornece um notável exemplo. Tanto para os juristas como para os leigos, este termo
não possui conotação definida ou estável. Às vezes, é empregado tanto para indicar
o objeto físico até os direitos, privilégios, etc, a ele relacionados. Então, novamente,
com uma discriminação muito maior e precisão – a palavra é usada para denotar o
interesse jurídico (ou agregado de relações jurídicas), pertencentes a tal objeto físico.
Frequentemente, acontece uma rápida e enganosa mudança de um sentido para
109
RABENHORST, Eduardo R. Dignidade Humana e Moralidade Democrática. Brasília:Brasília
Jurídica, 2001. p. 64-65.
68
outro. Às vezes, também, o termo é utilizado em tal sentido “misturado”, como se
para transmitir um significado não definitivo 110.
O mérito de Hohfeld consistiu em distinguir quatro tipos de situações em que o
termo direito subjetivo pode ser empregado: Direito (no sentido de pretensão),
Privilégio, Poder e Imunidade, cumprindo esclarecer que sua teoria se aplica apenas às
situações jurídicas que correspondam a relações jurídicas, não devendo ser empregada,
por exemplo, naquelas situações simples ou complexas unilaterais.
Para Hohfeld, tais situações possíveis de se experimentar um direito subjetivo
ficam mais bem definidas a partir de um esquema que as relacione tanto com suas
correlações, como com seus termos opostos, da seguinte forma111:
Correlações Jurídicas:
DIREITO (pretensão) ↔ DEVER
PRIVILÉGIO ↔ NÃO DIREITO
PODER ↔ SUJEIÇÃO
IMUNIDADE ↔ INCOMPETÊNCIA
Opostos Jurídicos:
DIREITO (pretensão) ↔ NÃO DIREITO
PRIVILÉGIO ↔ DEVER
PODER ↔ INCOMPETÊNCIA
IMUNIDADE ↔ SUJEIÇÃO
O esquema de Hohfeld fica ainda mais claro, a partir da síntese feita por Adrian
Sgarbi, referindo-se ao campo das correlações, utilizando os símbolos X e Y, para
110
“The tendency to confuse or blend non-legal and legal conceptions consists in the ambiguity and
looseness of our legal terminology. The word “property” furnishes a striking example. Both with lawyers
and with laymen this term has no definite or stable connotation. Sometimes it is employed to indicate the
physical object to which various legal rights, privileges, etc., relate; then again – with far greater
discrimination and accuracy – the word is used to denote the legal interest (or aggregate of legal relations)
appertaining to such physical object. Frequently there is a rapid and fallacious shift from the one meaning
to the other. At times, also, the term is used in such a “blended” sense as to convey no definite meaning
whatever”. (Tradução livre). HOHFELD, Wesley Newcomb. Fundamental Legal Conceptions as
apllied to Legal Reasoning-I. New Haven: Yale University Press, 1918, p. 28.
111
Jural Correlatives: right/duty; privilege/no-right; power/ liability; immunity/ disability. Jural
Opposites: right/no-right; privilege/duty; power/disability; immunity/liability. HOHFELD, Wesley
Newcomb. Fundamental Legal Conceptions as apllied to Legal Reasoning-I. New Haven: Yale
University Press, 1918, p. 36.
69
significar os polos da relação jurídica e p, para determinar certo tipo de ato. Então se
tem:
a) (Direito-dever): se X tem um direito que Y deva p, o correlativo é que Y tem um
dever de p diante de X;
b) (Privilégio-não direito): se X tem a permissão de Y de fazer p, Y não tem o
direito de impedir p;
c) (Poder-sujeição): se X tem o poder de modificar a posição jurídica de Y quanto a
p, a posição jurídica de Y é subordinada a de X quanto à p;
d) (Imunidade-incompetência): se Y tem uma imunidade diante de X, X não tem um
poder de modificar a posição jurídica de Y quanto à p.
a) Ter direito-pretensão frente a alguém significa estar em posição de exigir algo de
alguém.
b) Ter um privilégio frente a alguém significa não estar sujeito a qualquer pretensão
sua. Privilégio expressa aqui ausência de dever.
c) Ter um poder frente a alguém significa possuir a capacidade jurídica
(competência) de modificar a situação jurídica desse alguém.
d) Ter uma imunidade frente a alguém significa que esse alguém não tem o poder
normativo de alterar-lhe a situação jurídica, pois é incompetente normativamente
para isso112.
A contribuição de Hohfeld está em considerar outras situações jurídicas que
correspondem ao direito subjetivo, para além da relação direito subjetivo/pretensão,
apresentada no esquema de Marcos Mello, reproduzido no início deste capítulo.
Assim, admitindo a vinculação entre direitos subjetivos e direitos objetivos e com
a finalidade de apontar as possíveis situações jurídicas dos sujeitos integrantes do poder
familiar (pais e filhos), devem ser analisadas algumas das regras de direito civil e
constitucional, que regem essas relações para, partindo delas, chegar à conclusão de
que, atualmente, não será possível negar a posição dos filhos como verdadeiros sujeitos
de direito em face dos deveres parentais. Entende-se desnecessário, para este momento,
realizar o exame das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), vez que
especializam as regras gerais apontadas pelos outros dois diplomas normativos.
Ainda com base na doutrina de Hohfeld, interpretada por Sgarbi no viés da lógica
jurídica, sendo as normas primárias, normas de conduta sobre as quais se assentam as
qualificações elementares dessas condutas, cumprindo suas funções de estatuir o
proibido, o obrigatório e o permitido, Sgarbi apresenta as seguintes representações para
tornar evidentes tais inter-relações: O = Obrigatório; P = Permitido; Ph = Proibido; p =
comportamento qualquer; ~ = negação. Assim:
112
SGARBI, Adrian. HOHFELD, Wesley Newcomb, 1879-1918. In: BARRETTO, Vicente de Paulo
(coord.) Dicionário de Filosofia do Direito. Rio Grande do Sul: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar.
2006, (p. 443-448), p. 445.
70
a) Pp = ~O ~p = ~Php
b) ~Pp = O ~p = Php
c) P ~p = ~Op = ~Ph ~p
d) ~P ~p = Op =Ph ~p
113
Usando o esquema lógico acima, com o elenco de correlações de Hohfeld,
tomem-se as regras do art. 1.634 do Código Civil que elencam as competências dos pais
em relação à pessoa dos filhos, na vigência do Poder Familiar.
O inciso I atribui-lhes a direção da criação e da educação dos filhos. Não se trata
apenas de uma permissão, mas, de imposição de conduta que, se não for observada,
poderá resultar em sanções civis e até, penais, caso incida o tipo penal, por exemplo, de
abandono intelectual. Desta forma, para o inciso I, tem-se Op ou ~P ~p ou Ph ~p,
restando claro que estamos diante de um dever jurídico que se correlaciona, então, ao
direito subjetivo que situa os filhos como titulares de pretensões.
O inciso II aponta a competência dos pais com relação a ter os filhos sob sua
companhia e guarda. Também se tratando de um comportamento obrigatório o que pode
ser constatado na ausência de liberdade de se agir de outro modo, sob pena inclusive, de
responder criminalmente, por abandono de incapaz (art. 133 CP) ou, dependendo do
caso, por entrega de filho menor a pessoa inidônea (art. 245 CP). Assim, Op ou ~P ~p
ou Ph ~p. É possível argumentar que a convivência familiar, que é um direito dos filhos,
inclusive merecendo capítulo próprio no título referente aos direitos fundamentais do
ECA, também seja um direito dos pais. No entanto, enquanto os filhos são menores e,
exatamente por isso, necessitem da proteção e do cuidado que viabilize um crescimento
saudável, o caráter de dever dos pais ressaltará em prol dos interesses prioritários de
seus filhos. Aqui, também então, têm-se os correspondentes direitos/pretensões dos
filhos em face da conduta parental juridicamente devida.
O inciso III atribui aos pais, autorizar ou negar autorização de casamento a seus
filhos menores. Percebe-se aqui, que a alternatividade já aponta certa liberdade aos pais.
Também não existe nenhuma consequência negativa para o descumprimento da
conduta, no máximo, a ausência de autorização poderá ser suprida por um juiz
113
SGARBI, Adrian. HOHFELD, Wesley Newcomb, 1879-1918. In: BARRETTO, Vicente de Paulo
(coord.) Dicionário de Filosofia do Direito. Rio Grande do Sul: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar.
2006, (p. 443-448), p. 445.
71
competente. Assim, a conduta verificada nesta regra, se aproximará mais de uma
permissão, ou seja Pp ou ~O ~p ou ~Ph ~p, conduzindo a uma situação de poder dos
pais e a correspondente sujeição dos filhos.
O inciso IV com a hipótese de qualquer dos pais nomearem tutor por testamento
ou documento autêntico, caso o outro dos pais não lhe sobreviva, ou sobrevivendo, não
possa exercer o poder familiar, também não irá além de uma conduta permitida
representada por Pp ou ~O ~p ou ~Ph ~p, mais uma vez sujeitando os filhos a este
poder dos pais, ainda que sempre, para o melhor interesse daqueles.
O inciso V atribui aos pais a representação legal e a assistência de seus filhos
menores, nos atos da vida civil. Havendo interesses dos menores em jogo, os pais não
podem se furtar de representá-los ou assisti-los evitando que, futuramente, respondam
pelos prejuízos causados por suas desídias. Assim, na proteção dos legítimos interesses
dos filhos menores, estar-se-á diante de verdadeira obrigação para cumprir a imposição
legal, representando-se, mais uma vez por Op ou P ~p ou Ph ~p e então, direito
(pretensão) dos filhos correspondendo a mais um dever parental.
O inciso VI pareceria inicialmente, um direito dos pais que estariam autorizados a
reclamar seus filhos de quem ilegalmente os detenha. Se estivéssemos no campo dos
direitos reais, poder-se-ia falar em direito de sequela, viabilizando a aproximação
material necessária ao exercício das demais faculdades que compõem o direito de
propriedade. Mas, o foco de interesse aqui não são coisas, são pessoas que se encontram
no momento de merecerem a maior proteção possível. Assim, a conduta que a regra
traça, não objetiva garantir os interesses dos pais, como acontece com relação ao
proprietário, mas, sim dos filhos reclamados. Ainda pode-se afirmar que a companhia e
guarda dos filhos é, antes, um dever dos pais no exercício do poder familiar. Dessa
forma, note-se que o presente inciso complementa o inciso II já comentado, impondo
assim, uma obrigação dos pais, de cuidado com seus filhos menores. Mais uma vez, será
Op ou P ~p ou Ph ~p, assim, a situação dos filhos será de titulares de direito/pretensão,
uma vez que será a situação correlacionada ao dever jurídico de seus pais, conforme o
esquema de Hohfeld.
O inciso VII autoriza os pais exigirem obediência e respeito de seus filhos, assim
como impor-lhes os serviços próprios de sua idade e condição. Trata-se de liberdades
conferidas pelo direito aos pais, ainda que atreladas ao dever de dirigir a criação e
72
educação de seus filhos, na busca do interesse destes. Dentro dos limites do melhor
exercício do poder familiar, podem os pais, impor respeito a seus filhos menores da
maneira que julgar conveniente considerando-se esta, a seara da relação jurídica cuja
competência se restringe ao julgamento pessoal do pai e da mãe, inclusive por melhor
conhecerem a personalidade de seus filhos, na condução de seus deveres. Assim,
respeitando os interesses dos filhos menores, estar-se-á diante de uma permissão
normativa representada por Pp ou ~O ~p ou ~Ph ~p na relação de poder/sujeição,
quando se referir a relação entre pais e filhos e privilégio/não-direito quando for
considerada a relação pais/Estado.
A Constituição Federal deixa ainda mais clara a compreensão de que o Poder
Familiar, tal como deve ser exercido atualmente, é composto mais por deveres parentais
e seus correlatos direitos subjetivos filiais, do que por permissões que iriam conferir
apenas poderes aos pais, aos quais ficariam apenas sujeitos, os filhos menores, ou ainda,
privilégios dos pais, diante do não-direito do Estado de impedi-los de se conduzirem
com uma liberdade que, talvez, não atendesse a verdadeira finalidade do instituto.
A redação do texto constitucional não deixa dúvidas quanto ao que foi colocado
acima, apresentando-se da seguinte maneira, quando se trate especificamente dos
direitos das crianças e dos adolescentes:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(grifo nosso)
Da mesma maneira, impondo uma conduta obrigatória e recíproca de cuidado e
proteção, entre pais e filhos, considerando o especial momento da infância e juventude,
bem como a idade avançada dos pais, na maioridade de seus filhos, conforme prescreve
o texto do art. 229: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e
os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou
enfermidade”.
73
2.4 Liberdades no Exercício do Poder Familiar
Interessante temática ao se referir às relações familiares, com maior ênfase nas
relações entre pais e filhos, é a que trata das liberdades.
Pode-se falar em liberdade no que se refere ao planejamento familiar, sendo
inclusive, direito assegurado constitucionalmente114. Tanto faz a opção de não vir a ter
filhos, como tê-los em quantidade reduzida, assim como abarcar o maior número
possível em sua prole. Os métodos contraceptivos são permitidos no país, embora não
se admita o abortamento fora das exceções do direito penal. Também as técnicas de
reprodução assistida não encontram proibição legal, apenas restrições éticas. A adoção é
uma opção, submetida à avaliação das condições favoráveis pelo Estado, observados
requisitos objetivos e que favoreçam o melhor interesse dos menores.
Assim é mais enfática a noção de liberdade, antes de ser estabelecido o vínculo
parental. Depois, é principalmente na falta de opção que se deve arrimar essa e muitas
outras modalidades de relações jurídicas familiares.
Luíz Pondé, comentando os riscos das liberdades nas relações familiares, advoga
pela necessidade de se manterem os vínculos, inclusive em rituais que ultrapassam o
interesse jurídico. Para ele a manutenção da vida familiar, depende da falta de opção:
Famílias se mantêm unidas apenas pela obrigação dos ritos do almoço de domingo
ou da noite de Natal ou da Páscoa judaica. O amor nasce do peso do rito contínuo.
Claro que pode haver rito e não haver amor, mas isso não implica que haja amor
duradouro sem rito. O amor é frágil e sobrevive mal na realidade. A falta de escolha,
normalmente é quem faz você permanecer até o fim115.
Diante de tudo o que foi exposto, não resta dúvidas de que a liberdade não é a
palavra de ordem nas relações entre pais e filhos, reguladas pelas normas do poder
familiar. O conjunto normativo é composto, também, por regras que impõem condutas
que se inobservadas, sem motivo relevante que justifique o descumprimento, resultarão
consequências negativas para os devedores das condutas.
114
“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 7º - Fundado nos
princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício
desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.”
115
PONDÉ, Luiz Felipe. Liberdade. In: Contra um Mundo Melhor. Ensaios do Afeto. São Paulo: Leya,
2010, p. 188.
74
No entanto, também é certo que é preciso deixar uma margem de conduta livre
dentro do contorno das regras, inclusive para viabilizar a manutenção de laços e, não,
correntes, unindo os membros de uma família, propiciando o cuidado e a delicadeza
com que os parentes devem se tratar.
A privacidade também é direito conferido à família, como direito constitucional
fundamental assegurado a todos os seus integrantes, assim também, por imposição da
regra de direito civil, expressa pelo art. 1.513 do CC116.
No caso das relações entre pais e filhos, na abrangência das normas do poder
familiar, existem interesses pessoais que extrapolam o interesse do grupo familiar,
permitindo a interferência estatal, caso os interesses prioritários das crianças e
adolescentes não estejam se realizando por condutas comissivas ou omissivas imputadas
àqueles que, primeiramente, deveriam satisfazê-los, que são seus pais.
Ocorre que, nem todas as vivências experimentadas nas relações entre pais e
filhos, deverão merecer o rótulo de relações jurídicas. Ou, ainda, dentre os
comportamentos necessários ao exercício do poder familiar, haverá aqueles que
dependerão unicamente da conveniência julgada pelos pais, sendo as pessoas mais aptas
a conhecerem as necessidades rotineiras de seus filhos.
Pode-se afirmar, então, que a experiência familiar comporta em parte, verdadeiras
relações jurídicas e por outro lado, relações sociais não juridicizadas e, portanto,
afastadas da incidência das normas jurídicas. A liberdade, nesses casos, será razoável
quando o objetivo final de qualquer relação jurídica, sobretudo as existenciais, é a
concretização da dignidade humana.
Amaral comenta o pensamento de Savigny, afirmando que:
(...)
nem todas as relações de homem a homem entram no domínio do direito, nem todas
têm necessidade, nem todas são suscetíveis de serem determinadas por uma regra de
tal gênero. Cabe, pois, distinguir três casos: ora a relação está inteiramente dominada
por regras jurídicas, ora está somente em parte, ora escapa a elas por completo. A
propriedade, o matrimônio e a amizade podem servir como exemplo dos três
diferentes casos.117
116
“Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida
instituída pela família.”
117
AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 198.
75
A relação entre pais e filhos, também estaria, juntamente com o matrimônio, nesta
forma intermediária, compreendendo tanto relações jurídicas como também, relações
puramente sociais ou morais. Deve ser assim, até mesmo para que se favoreça a
realização da personalidade de cada membro enquanto objetivo da vida familiar, no
ideal de dignidade que também exige liberdade e respeito à privacidade.
O risco que não se deseja correr, na interpretação das normas jurídicas familiares,
sobretudo as que compõem o poder familiar, é de limitar a juridicidade das relações
apenas quando estiverem presentes os interesses patrimoniais, afastando, por completo a
noção de direitos e deveres nas relações familiares quando se tratem de interesses
puramente existenciais, sob a antiga justificativa do respeito à intimidade familiar.
Por tudo o que foi exposto no item anterior, não resta dúvidas que existem deveres
jurídicos dos pais quanto à criação e educação de seus filhos menores e assim, em
correspondência, o direito exigível destes de serem criados e educados. Educar, no
entanto, é um dever amplo que não se resume, apenas, no pagamento de mensalidades
escolares. A escolaridade é parte da formação pessoal, mas, não a torna completa. No
entanto, competindo aos pais, dirigir a criação e educação, a eles deve ser assegurada
certa liberdade no que se refere aos métodos que julgarem adequados. Assim, por sua
vez, não deverão sofrer interferências por parte do legislador ou do Judiciário, as
modalidades esportivas que deverão matricular seus filhos, também o horário da TV, a
quantidade de legumes que se deve comer por dia, se vão seguir uma dieta restritiva de
carne vermelha, a maneira de exigir obediência, etc.
Os limites da liberdade relacional se encontram nos direitos de personalidade dos
sujeitos cujos interesses prevalecem nas relações do poder familiar. Assim, ainda que
diante de verdadeiros privilégios, face ao não direito do Estado intervir nesses hiatos de
liberdade, é o dever jurídico de proteção integral, que será explicado na sequencia,
voltado para a concretização dos interesses prioritários dos filhos, enquanto não atinjam
a idade que lhes confira a autonomia, que deve dizer se estão ou não, sendo respeitadas
as margens dessa liberdade.
76
2.5 Proteção Integral para a Concretização dos Interesses da Criança e do Adolescente
Conforme visto, tanto os objetivos das normas do poder familiar como os limites
das liberdades permitidas nas relações parentais, convergem para a noção de proteção
integral e interesses prioritários das crianças e dos adolescentes. Essa parece ser a força
motriz das relações entre pais e filhos, animada pela ideia de afetividade que será
abordada ao final deste capítulo.
Para compreender melhor o tema, faz-se necessário tecer uma breve abordagem
dos caminhos percorridos, passando pelo reconhecimento internacional de que a
infância e juventude merecem atenção especial, até a compreensão de seu alcance no
ordenamento pátrio.
É inegável que, durante muito tempo, as crianças e adolescentes não receberam a
atenção compatível com o momento de vida que experimentavam. Já que foram, por
muito tempo, vistos como adultos em miniatura,118 era comum vê-los inseridos no
mercado de trabalho, assim como lançados a uma vida conjugal precoce e nada disso
parecia escandalizar a sociedade, exatamente porque tudo isso era muito comum.
Como o Brasil se trata de um país relativamente novo, pode-se afirmar que essa
visão sobre a infância acompanhou quase toda a sua existência, considerando que a
mudança de percepção com relação aos pequenos, somente ganha ênfase no século
passado.
No início do século XX, ainda eram comuns os casamentos na adolescência
(principalmente para as meninas) e o trabalho infantil no comércio, nas atividades rurais
e no âmbito doméstico. Foi no século passado que começou a ser traçado um novo olhar
sobre a criança e o adolescente.
A partir de uma percepção mais humanista, com ênfase nos direitos fundamentais,
os períodos da infância e adolescência começam a ser percebidos como os momentos
118
“Na Idade Média não havia uma consciência da particularidade infantil, a criança era diferente do
homem apenas no tamanho e na força, sentimento expresso nas representações infantis que colocavam a
criança como um espelho miniaturizado do adulto. Foi no séc. XIV que se apresentou uma tendência na
arte, iconografia e religião para exprimir a personalidade que se admitia existir nas crianças, o sentido
poético e familiar que se atribuía a sua particularidade, mas somente nos sécs. XVI e XVII, nas camadas
superiores da sociedade, que esse sentimento foi aflorado, sobretudo, no uso de um traje especial que
distinguia a criança do adulto.” P. Ariès apud MEIRELLES, Rose Melo Vencelau. O Princípio do Melhor
Interesse da Criança. In: MORAES, Maria Celina Bodin de. (coord.) Princípios do Direito CivilContemporâneo. Rio de janeiro: Renovar, 2006 (p. 459-493), p. 463.
77
mais especiais da formação pessoal e, por isso mesmo, faz-se necessário reconhecer sua
vulnerabilidade para garantir a máxima proteção que necessitam.
O século XX foi palco de grandes guerras, mas, também (e ainda, por causa disso)
de relevantes discussões a respeito de temas que se voltavam à tutela dos direitos
humanos. Entram em vigor normas importantes, com validade nacional ou abrangência
internacional, com comandos voltados à proteção da criança e do adolescente.
A Declaração de Genebra de 1924 foi o primeiro documento internacional a expor
a necessidade de se conferir à criança e ao adolescente, uma proteção especial. No
entanto, foi a partir do fim da 2ª Grande Guerra, com a criação da ONU, que temas
como estes ganharam maior importância, sobretudo depois das barbaridades sofridas
pela humanidade naquela guerra. A Declaração Universal dos Direitos Humanos das
Nações Unidas de 1948, inspiradora de nossa constituição democrática nos direitos
fundamentais nela elencados, recolocando a pessoa humana no centro de interesses do
ordenamento, desautoriza qualquer postura que reduza a condição humana em relação à
plenitude e dignidade que ela impõe.
Em 1959, com a Declaração Universal de Direitos da Criança, da qual o Brasil é
signatário, é apresentada uma série de princípios que devem orientar os Estados sobre a
postura a ser adotada com relação à criança e ao adolescente no sentido de garantir-lhes,
não apenas os direitos humanos dirigidos a todas as pessoas, mas, ainda outros especiais
de sua condição. Nela se observa a proteção integral necessária ao seu melhor
desenvolvimento físico e moral, reconhecendo seus interesses, como melhores e
superiores.119
119
Como pode ser observado no texto dos princípios 2 (A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão
proporcionadas oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições de
liberdade e dignidade. Na instituição das leis visando este objetivo levar-se-ão em conta sobretudo, os
melhores interesses da criança.); 7 (A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e
compulsória pelo menos no grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua
cultura geral e capacitá-la a, em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua
capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil
da sociedade./Os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua
educação e orientação; esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais./A criança terá ampla
oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as
autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito); e 8 (A criança figurará, em
quaisquer circunstâncias, entre os primeiros a receber proteção e socorro). Disponível em:
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Criança/declaracao-dos-direitos-da-crianca.html.
Acesso
em 26 de Julho de 2011.
78
A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, ratificada pelo
Brasil, através do Decreto nº 99.710/90, direcionando o país no caminho de garantir
proteção integral à criança e ao adolescente. A regra ganha força de norma
constitucional, por força do §3º, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 que
estabelece que os Tratados e Convenções Internacionais, assinados pelo país, são
equivalentes às emendas constitucionais. E não esgotando as normas de direito
internacional que tratam da matéria, ainda pode ser citada a Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de San José), ratificada pelo Brasil em 1922 (ver art. 19).
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, resume a essência do que as
normas de direito internacional mencionadas estabelecem como o mínimo necessário
para a compreensão da proteção integral da criança e do adolescente.
Antônio Carlos G. da Costa120 explica a necessidade de uma proteção especial,
pela vulnerabilidade da criança e do adolescente justificada, exatamente, pelo momento
de vida que passam e que deve ser considerada pelos seguintes motivos, entre outros: a)
a falta de conhecimento acerca dos direitos que possuem; b) a falta de meios para
defender, por si sós esses direitos, frente às violações que decorram de transgressões e
omissões; c) impossibilidade de arcar e suprir, por si sós, suas necessidades basilares; d)
impossibilidade de responderem, como cidadãos, pelo cumprimento das leis, de deveres
e obrigações, como adultos, exatamente por lhes faltar a maturidade física, emocional,
intelectual e sociocultural.
A ausência de qualidades que, espera-se, integre, sobretudo, uma personalidade
adulta, decorre da pouca experiência, pelo pouco tempo de vida e não, apenas de
condições sociais, econômicas ou de saúde. A fase é de formação e fortalecimento físico
e moral, que não se alcança apenas com o avançar da idade, mas, a partir de um
conjunto de experiências, a maioria delas, conduzidas pelos adultos com quem convive.
O ser humano é, entre os animais, aquele que por mais tempo depende dos
cuidados de outros da mesma espécie para poder ganhar autonomia e independência. A
sua formação, que também deve ser uma formação social, depende da ajuda e do
suporte daqueles que, presume-se, já tenham atingido a maturidade necessária para
atuarem autonomamente diante dos desafios da vida. A proteção de toda criança e do
adolescente deve ser integral e não pode se limitar, apenas, ao adolescente infrator, ao
120
Apud PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente. Uma Proposta
Interdisciplinar. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 25.
79
órfão, ao abandonado ou ao doente. Toda criança e adolescente tem o direito de ser
auxiliado a se tornar um adulto equilibrado, saudável, sociável e feliz.
Um dos maiores avanços do ordenamento jurídico foi o reconhecimento da
criança e do adolescente como verdadeiros sujeitos de direito e não, apenas, objetos de
direitos, sobretudo do pai, como figuravam há até poucos anos.
Para Fabíola Albuquerque “há uma inversão no foco, quer dizer, os principais
interessados no melhor exercício do poder familiar são os filhos, e não os pais.”121A
afirmação, não apenas reconhece a mudança paradigmática, de objeto para sujeito de
direitos, mas, ainda enfatiza que os interesses prevalecentes, por serem melhores, nas
relações do poder familiar, são os dos filhos. Assim, existindo uma reciprocidade de
direitos no instituto do poder familiar, diante do conflito, terão maior peso os interesses
dos filhos em relação aos interesses dos pais.
Ainda, não será a relação estabelecida entre os pais que irá definir os interesses e
por causa destes, os direitos dos filhos. “A relação parental deve ser tratada à parte da
relação conjugal, posto que se põe fim a esta, mas aquela permanece sob novos
regramentos que devem atender, ao máximo, os princípios constitucionais do melhor
interesse da criança e sua proteção integral e o da paternidade responsável.”122
2.6 Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente na Interpretação do
Poder Familiar Contemporâneo
Percebe-se que na ideia de proteção integral e por sua justificativa, está ainda
inserido no ordenamento pátrio, o princípio do melhor interesse e, também, a noção de
interesses prioritários ou superiores.
O princípio do melhor interesse tem sua raiz no instituto inglês do Parens Patriae,
prerrogativa do rei e da coroa, delegado no séc. XIV ao chanceler, tendo inicialmente, a
finalidade de proteger as pessoas incapazes de maneira geral, como as crianças, os
débeis, os loucos. No séc. XVIII, as cortes de chancelaria colocaram as crianças em
121
ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. As Perspectivas e o Exercício da Guarda Compartilhada
Consensual e Litigiosa. In: Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v.
7, n. 31, ago/set 2005 (p. 19-30), p. 26.
122
OLIVEIRA, Catarina Almeida de; OLIVEIRA, Maria Rita de Holanda. O Novo Divórcio e seus
Reflexos na Guarda e nas Visitas aos Filhos Menores do Casal. In: FERRAZ, Carolina Valença; LEITE,
George Salomão; LEITE, Glauber Salomão (orgs.) O Novo Divórcio no Brasil. De acordo com a EC nº
66/2010. Salvador: JusPodivm, 2011 (p. 253-280), p. 278.
80
classificação distinta dos demais incapazes (loucos), o que levou a uma redefinição do
Parens Patriae.123
O termo melhor interesse vem do inglês best interest e foi introduzido, como
informa Tânia Pereira124, no ano de 1813 no julgamento do caso Commonwelth v.
Addicks, da Corte da Pensilvania, em uma disputa de guarda de filho, em ação de
divórcio originado pelo adultério da mulher. A corte entendeu que a conduta da mulher
com relação ao seu marido, não tinha relação com a sua conduta enquanto mãe. Foi
nessa época, ainda, que se viu inserida no país, a Tender Year Doctrine, posteriormente
repensada, sobretudo a partir de cada caso concreto.
O que torna o princípio do melhor interesse diferente do conteúdo da prioridade
absoluta (termo constante da redação do art. 227 constitucional), uma vez que são
termos distintos com conteúdos próprios, conforme Rose Vencelau, é que um diz
respeito à qualidade e outro à quantidade.
“Maior” é a qualidade do que excede outra, em duração, espaço, extensão, grandeza
ou intensidade. “Melhor” é comparativo superlativo de bom, significa o que em
termos comparativos é superior a tudo o mais, assim como aquilo de mais acertado e
sensato.125
(...) assim, inicialmente, a superioridade do interesse da criança, se revela em
situações nas quais é o interesse dela versus o de outrem que está em jogo, enquanto
o melhor interesse da criança se manifesta em hipóteses onde o interesse da criança
participa de uma escolha comparativa de opções.126
Como prioridade absoluta, entendem-se as situações constatáveis por critérios
claros e objetivos, revestidos de uma natureza mais de regras do que de princípios,
tendo em vista a imposição de condutas, como as apontadas no parágrafo único do art.
4º do Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 4º (...)
Parágrafo único. A garantia e prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
123
PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente. Uma Proposta Interdisciplinar. 2 ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 42.
124
PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente. Uma Proposta Interdisciplinar. 2 ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 43.
125
MEIRELLES, Rose Melo Vencelau. O Princípio do Melhor Interesse da Criança. In: MORAES, Maria
Celina Bodin de. (coord.) Princípios do Direito Civil-Contemporâneo. Rio de janeiro: Renovar, 2006
(p. 459-493), p. 470.
126
MEIRELLES, Rose Melo Vencelau. O Princípio do Melhor Interesse da Criança. In: MORAES, Maria
Celina Bodin de. (coord.) Princípios do Direito Civil-Contemporâneo. Rio de janeiro: Renovar, 2006
(p. 459-493), p. 470.
81
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.
Já o princípio do melhor interesse surgirá no momento do conflito, quando
deverão ser ponderados os interesses em oposição, já estando atribuído àqueles
pertencentes à criança e ao adolescente, maior peso em relação aos dos adultos,
sobretudo quando disserem respeito ao que for necessário para garantir-lhes educação e
desenvolvimento, bem como à promoção da estabilidade do lar, à superação de traumas,
ao suprimento das necessidades morais, materiais, sociais e afetivas.127
2.7 Definindo o Afeto enquanto Conduta Imposta nas Relações Jurídicas de Poder
Familiar128
Na última década, muitos juristas brasileiros, voltaram sua atenção ao tema do
afeto nas relações familiares. Perigosamente, foram ultrapassados limites que separam o
que vem a ser objeto de preocupação do Direito e o que vem a ser preocupação
exclusiva de outras áreas afins, como a filosofia, a psicologia, a biologia.
Não se quer com isso, negar a interdisciplinaridade que caracteriza todos os ramos
do direito, sobretudo o direito de família. Não se pode separar absolutamente, as
relações jurídicas familiares das emoções que compõem, inclusive, o substrato
existencial constitucionalmente protegido.
No entanto, apesar da aproximação temática, é preciso cuidado ao definir o que é
objeto de discussão jurídica, distinguindo do que não lhe compete. Assim, ao tratar de
um tema tão emocional nas relações parentais, o termo mais apropriado deveria ser
afetividade, para que fosse evitado o risco de confundir a conduta afetiva com o
sentimento de afeto. No entanto, será mantida a denominação afeto, pelo uso corrente
nas atuais discussões jurídicas e, ainda, porque o termo também pode ser considerado
amplamente, abarcando o afeto-conduta (afetividade), como será demonstrado adiante.
127
MEIRELLES, Rose Melo Vencelau. O Princípio do Melhor Interesse da Criança. In: MORAES, Maria
Celina Bodin de. (coord.) Princípios do Direito Civil-Contemporâneo. Rio de janeiro: Renovar, 2006
(p. 459-493), p. 486.
128
OLIVEIRA, Catarina Almeida de. Refletindo o Afeto nas Relações de Família. Pode o Direito impor
Amor? In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; OLIVEIRA, Catarina; ERHRARDT, Marcos (orgs)
Famílias no Direito Contemporâneo. Estudos em Homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador:
JusPodivm, 2010, (p. 47- 67).
82
A maior parte das relações familiares é frequentemente, pautada por esse elo
emocional que impulsiona as aproximações, a permanência, o cuidado, a sobrevivência.
E isso não é privilégio apenas da espécie humana. Muitas outras espécies de animais se
agrupam afetivamente e assim permanecem, muitas vezes, por toda vida.
O afeto é parte da vida. E, apesar disso, para o direito, o tema foi deixado de lado
por muito tempo. Afinal, a grande vedete, o patrimônio material, econômico, não tinha
quase nada a ver com ele.
Recentemente, o assunto vem ganhando espaço nas discussões sejam elas
acadêmicas ou não. Hoje em dia, o afeto é tão importante para o direito que não é
incomum a realização de encontros, colóquios, congressos, etc que se volte quase que
exclusivamente, para sua análise. No Brasil, o Instituto de Direito de Família, IBDFAM,
foi um dos maiores responsáveis por trazer o tema à baila.
A interpretação atual, das regras que regulam o direito de família, não pode se
afastar dessa tendência, uma vez que alguns tribunais já se manifestam favoráveis ao
reconhecimento do afeto como objeto de interesse jurídico.
Com a evidente repersonalização do direito privado, os interesses existenciais,
marcadamente imateriais, ganham relevo, justificando o seguinte questionamento: pode
o afeto se inserir nas relações jurídicas familiares, como um verdadeiro dever imposto,
sobretudo, nas relações entre pais e filhos? E ainda: pode o afeto servir de base
justificante dos interesses existenciais que estruturam os direitos subjetivos das crianças
e adolescentes, enquanto filhos em relações jurídicas reguladas pelo poder familiar?
São essas considerações que se buscará fazer em seguida, para que não restem
dúvidas quanto ao que se deve entender como verdadeiros deveres jurídicos de afeto.
2.7.1 A Afetividade como Princípio
Primeiro, cumpre esclarecer a pertinência de se falar em um princípio da
afetividade. Nas inúmeras discussões jurídicas sobre o afeto, o tema tem sido tratado
como princípio constitucional de direito de família, no entanto, como a Constituição
Federal não trata, expressamente, do assunto, cabe investigar o seu papel na cena
jurídica, ou seja, se é realmente um princípio constitucional, se princípio de direito de
família ou, apenas, um valor jurídico.
83
Caso se verifique, realmente, sua condição de princípio, surge outro ponto a ser
esclarecido: qual o seu conteúdo? Sim, porque apesar dos princípios não possuírem, por
sua natureza e finalidade, rigidez de conteúdo (característica mais voltada às regras
jurídicas), a afetividade enquanto tal, como tem sido utilizada na doutrina e na
jurisprudência, tem apresentado uma abertura de tamanha dimensão que mais aponta
para o desconhecimento dos operadores do direito do que para a que largueza de sua
abrangência.
Não se pode negar a presença marcante do afeto nas relações de família,
sobretudo no atual contexto social, onde a liberdade tem sido mais exercida que outrora.
Contudo, é urgente esclarecer que afetividade é essa que merece a preocupação do
jurista, a partir da definição do seu objeto e do estabelecimento dos seus limites, para
não correr o risco de ampliar ou restringir interpretações que possam afastar a realização
da pessoa humana como titular de dignidade, uma vez que o afeto, em qualquer relação,
ganha sentido na realização de quem pratica e de quem recebe.
Com relação ao primeiro questionamento, se a afetividade é mesmo um princípio
de direito de família, ou antes, um princípio constitucional de direito de família, a
importância de se verificar parte da própria aplicabilidade hoje, dos princípios de
direito, uma vez que, não sendo mais, como no contexto jusnaturalista, o norte abstrato,
o direito ideal; também não se resumem como no contexto positivista, nas fontes
subsidiárias129, às quais deveriam recorrer os aplicadores do direito, quando estivessem
diante de lacunas da lei.130 Entende-se, atualmente, que os princípios são bases de
complementação, informação, contextualização, norteadora das regras, como a alma que
anima o corpo.
Diversamente, entende-se que princípios e regras não sejam duas faces da mesma
moeda, embora não estejam totalmente afastados. Humberto Ávila131, nessa linha,
aponta algumas características distintivas entre eles, como a de não terem as mesmas
propriedades, uma vez que as regras instituem deveres definitivos, que não podem ser
superados por razões contrárias, sendo aplicadas ante a correspondência entre o conceito
129
Decreto-lei 4.657/42 (Lei de Introdução ao Código Civil), art.4º “Quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.”
130
MORAES, Maria Celina Bodin de. Princípios do Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Renovar,
2006. Apresentação.
131
ÁVILA, Humberto. Princípios, teoria dos. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (coord.) Dicionário de
Filosofia do Direito. Rio Grande do Sul: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar. 2006, (p. 657-661), p. 658659.
84
normativo e o conceito do material fático, enquanto os princípios estabelecem deveres
provisórios que, por sua vez, podem ser superados por razões contrárias e são aplicados
após fazer uma ponderação valorativa entre razões colidentes.
Ainda que seja adotada a opinião de que os princípios descrevem fins a
dependerem da adoção de comportamentos132, eles mantêm crucial importância na
contribuição para a decisão, por complementarem as regras.
A Constituição Federal de 1988, explicitamente, aponta princípios aplicáveis às
relações jurídicas de família, só para citar alguns exemplos: o Princípio da Dignidade
Humana (art. 1º, III); o Princípio da Solidariedade (art. 3º, I); o Princípio da Igualdade
(art. 5º, caput, art. 226, § 5º; art. 227, § 6º); o Princípio do Melhor Interesse do Menor,
da Convivência Familiar (art. 227), entre outros. No entanto, não menciona,
literalmente, a 'Afetividade'.
Não parece que o fato de não participar da redação
constitucional, signifique a sua exclusão do elenco principiológico, porquanto estaria
como princípio implícito por “especializar os princípios da dignidade, solidariedade e da
convivência familiar”.133
2.7.2 Do Valor ao Princípio
A importante presença do afeto no pensamento jurídico dos dias de hoje, se dá a
partir da significativa mudança na percepção e na vivência das famílias.
Até bem pouco tempo, percebia-se a família, na proximidade de um casal
heterossexual, vinculado pelos laços indissolúveis do matrimônio e a descendência
proveniente desse enlace. A simbologia mental representativa da família, para muitos
ainda hoje, é a desse agrupamento tradicional, portanto, casado. As razões que uniam e
mantinham tais famílias eram diversas; o afeto entre os membros que as integravam era
uma delas, todavia, sem o poder conferido pela liberdade de estar, sair, acolher, afastar,
uma vez que o casamento era indissolúvel, a importância exagerada conferida ao
patrimônio e a desigualdade entre filhos e entre homens e mulheres, conferiam razões
para o estar junto que podiam coincidir ou não, com um sentimento de inclinação
emocional pelo outro. Não há, nesse modelo formalizado, dificuldades em se enxergar a
132
ÁVILA, Humberto. Princípios, teoria dos. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (coord.) Dicionário de
Filosofia do Direito. Rio Grande do Sul: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar. 2006, (p. 657-661), p. 660.
133
LÔBO, Paulo. Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 48.
85
família, pois o sangue e, principalmente, o documento, materializava a relação. Talvez
existissem mais dificuldades para viver a família.
Todavia, outras formas de vida conjunta já existiam há milênios, embora fossem
ignoradas. Isso por causa de uma cegueira voluntária, em prol dos bons costumes e da
paz social. Cegueira mais ou menos profunda de acordo com as conveniências de época
e lugar.
A pós-modernidade e, com ela, a fragmentação das regras lineares de conduta,
viabilizou o descortinamento dessas famílias marginais. A liberdade de extinguir e criar
núcleos familiares e, em alguns momentos, a independência, no sentido de não ser
essencial o cumprimento de alguns papéis biologicamente e/ou culturalmente
assinalados para a espécie humana dividida (até hoje) em gênero, pelos modelos
masculino e feminino, vem clamar pela tutela de interesses materiais e existenciais para
quem, até pouco tempo, era invisível ao Direito.
Assim, retirado o invólucro da formalidade, emerge o afeto que passa a ser visto
como aquilo que origina e mantém as famílias. Como o tema raramente preocupou o
jurista no passado, agora motiva discussões acaloradas entre os estudiosos e aplicadores
do Direito.
Para Paulo Lôbo, foi revolucionária a mudança na concepção de família: de
instituição natural e de direito divino (que justificava sua imutabilidade e
indissolubilidade), para lugar de realização dos afetos. Assim, o afeto que antes era
secundário, passa a ser “o único elo que mantém pessoas unidas nas relações
familiares134”.
Não restam dúvidas de que a afetividade é socialmente aceita como aquilo que
justifica o surgimento e a manutenção das famílias e, em sendo assim, enraizado o
entendimento de sua presença, ela será no mínimo, socialmente presumida.
O reconhecimento jurídico de um valor social alça-o à condição de valor jurídico
que, ao ser positivado, figura como princípio135.
Paulo Lobo136 ensina que a afetividade nem é fato exclusivamente sociológico ou
psicológico, nem é petição de princípio, mas, princípio mesmo, com fundamento
134
LÔBO, Paulo. Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 52.
O projeto de Lei nº 2.285/07 – Estatuto das Famílias – em seu artigo 5º, expressamente, inclui a
afetividade como princípio fundamental para sua interpretação e aplicação.
135
86
constitucional, conforme anteriormente mencionado, que especializa os princípios da
dignidade e da solidariedade.
Essa afirmação vem seguida de três fundamentos essenciais, encontrados na
Constituição Federal de 1988: No artigo 226, § 4º137 e no artigo 227, §§ 5º e 6º138, que
versam sobre a igualdade dos filhos independentemente de sua origem, inclusive na
adoção, como escolha afetiva, como também no reconhecimento constitucional da
entidade familiar existente na comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes, incluindo os adotivos.139
2.7.3 Afeto e Dever Jurídico
Tanto as regras quanto os princípios comportam conteúdos de direitos e deveres o
que nos leva a questionar se a afetividade, em algum momento, pode ser objeto de
ordem. A afetividade consiste, tão somente, no elo espontâneo que vincula pessoas,
servindo, ainda, para ostentar a condição de família, ou é possível obrigar alguém a
amar? Existe o direito ao afeto? Assim, existe o dever de afeto? Tal questionamento, de
início, parece impertinente uma vez que a coerção volta-se para aquilo não é
espontâneo, para aquilo que pode ser realizado, independentemente da vontade de quem
se obriga. O dever de amar retira da ação, um elemento que lhe é essencial: a
espontaneidade. É tão certo que, podemos afirmar consistir em senso-comum o
pensamento aqui reproduzido nas palavras de André Comte-Sponville, de que “o dever
136
LÔBO, Paulo. O Princípio Jurídico da Afetividade na filiação. Disponível em:
http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=130. Acesso em: 10 de Maio de 2008.
137
“Art. 226. A família, base da sociedade tem especial proteção do Estado. (...) § 4º Entende-se, também,
como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.”
138
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (...) § 5º.
A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua
efetivação por parte de estrangeiros; § 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias
relativas à filiação”.
139
LÔBO, Paulo. O Princípio Jurídico da Afetividade na filiação. Disponível em:
http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=130. Acesso em: 10 de Maio de 2008. “A família recuperou a
função que, por certo, esteve nas suas origens mais remotas: a de grupo unido por desejos e laços afetivos,
em comunhão de vida. O princípio jurídico da afetividade faz despontar a igualdade entre irmãos
biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos fundamentais, além do forte sentimento de solidariedade
recíproca que não pode ser perturbada pelo prevalecimento de interesses patrimoniais. É o salto à frente
da pessoa humana nas relações familiares.”
87
é uma coerção (...), o dever é uma tristeza, ao passo que o amor é uma espontaneidade
alegre.” 140
Por outro lado, Erich Fromm141 consegue ver no amar, uma arte cujo
comprazimento dependeria do nível de maturidade alcançado e que, para sua prática,
não se deveria pensar em técnicas, mas no desenvolvimento de uma personalidade
disciplinada, com concentração, paciência e uma ‘preocupação suprema’ com o domínio
dessa arte (assim como de qualquer arte).
Na esteira desse pensamento, conclui-se que tais virtudes (disciplina,
concentração, preocupação, fé), auxiliam na arte de amar, no sentido de lhe conferir a
possibilidade de controle, permitindo interferir na dosagem do sentimento, para que
possam ser objetivadas da forma mais saudável possível.
De fato, a sociedade organizada exige do ser afetivo, que ele saiba controlar suas
paixões, seus afetos. E é exatamente isso que justifica a existência de tantas normas que
permitem, proíbem ou impõem as diversas condutas possíveis, consciente da presença
de toda sorte de sentimentos em cada relação social e jurídica.
Reconhecer, simplesmente, a presença do afeto nas famílias e aprender a conduzir
o seu exercício, não resolve esses questionamentos. Domar o seu uso é uma coisa, fazêlo nascer é outra. Não se controla o nascimento de sentimentos como amor e ódio, o que
dificulta sua presença como objeto de controle judicial. Então, o que foi exposto
anteriormente, a respeito de ser descabido buscar o sentimento de afeto com o intuito
de, através dele, perceber a entidade familiar, também não se pode pretender que o
sentimento de afeto seja passível de surgir a partir de uma ordem do Estado. Nem se
demonstram, puramente, os sentimentos, nem se ordena sua vinda.
Para que se
percebam e se comandem, também é necessário pensá-los de maneira objetiva,
materializá-los na conduta. E isso não é fácil.
Qual o afeto que pode ser realizado por força de uma ordem?
140
COMTE-SPONVILLE, André. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Tradução: Eduardo
Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 241. Na mesma obra, nas páginas 242 e 243, completa o
pensamento, afirmando o seguinte: “Só necessitamos de moral em falta de amor, repitamos, e é por isso
que temos tanta necessidade de moral! É o amor que comanda, mas o amor faz falta: o amor comanda em
sua ausência e por essa própria ausência. É o que o dever exprime ou revela, o dever que só nos
constrange a fazer aquilo que o amor, se estivesse presente, bastaria, sem coerção, para suscitar”.
141
FROMM, Erich. A Arte de Amar. Tradução: Milton Amado. Belo Horizonte: Itatiaia, 1960. Passim.
88
A pergunta inicia com qual, porque o afeto, sendo raio de amor, se projeta de
maneiras diferentes, dependendo do tipo de relação sobre a qual ele incide. Algumas
vezes exigindo certo retorno, outras vezes de maneira incondicional, algumas vezes
desejo, outras vezes não. Externa-se, por vezes instintivamente, por outras, cheio de
razão (ainda que se diga que razão e emoção moram em casas separadas, muitas vezes,
se visitam).
Haveria, apenas, um tipo de afetividade com vários matizes, ou seriam coisas
diferentes? Isso porque a pluralidade de famílias aponta para afetividades
(sentimento/justificante) diferentes. A afetividade do casal (heterossexual ou não) é
diferente da afetividade entre pais e filhos, entre irmãos, etc.
O certo é que a afetividade, como expressão do amor, é o que se espera fazer parte
de qualquer relação familiar. No entanto, como ensina Leloup 142, pode-se imaginar o
amor como uma escada composta por degraus correspondendo a seus vários níveis,
analisados de forma ascendente, a partir de tipos apresentados pelos gregos. Em artigo
publicado no âmbito da paróquia do bairro do Espinheiro, na cidade do Recife, o frade
carmelita Geraldo de Araújo Lima143, inicia a curiosa distinção entre três manifestações
filosóficas do amor, apontados nos verbos Erao (Eros); Fileo (Filia) e Agapao (Agape),
despertando a curiosidade acadêmica que resulta nos comentários abaixo.
Platão, no Banquete144, nos brinda com um texto, mais sob a forma de narrativa do
que diálogo, onde alguns convidados do banquete de Ágaton: Fedro, Pausânias,
Erixímaco, Aristófanes, o próprio Ágaton, Sócrates e, por fim, Alcibíades, discorrem
sobre o amor. O amor-desejo: Eros.
O filósofo grego busca, em todo o texto, apresentar o Eros de maneira moralmente
aceitável na Polis, uma vez que justifica o amor erótico entre rapazes. Em uma primeira
interpretação, essa forma de amar volta-se para o desejo pelo outro, na identidade ou
diversidade de sexos, sendo, assim, a atração sexual, impulso natural e instintivo.
No entanto, ao interpretar o discurso de Sócrates, o mais importante da obra, que
aponta o amor (eros) como o amor por aquilo que se deseja e que, ao mesmo tempo, lhe
142
LELOUP, Jean-Yves. O Corpo e seus Símbolos. Uma Antropologia Essencial. 15 ed. Petrópolis:
Vozes, 2008, p. 78.
143
LIMA, Geraldo de Araújo. Amor – Um Presente de Grego. In A Partilha. Jornal da Paróquia do
Coração Eucarístico de Jesus do Espinheiro. Ano 09, n 94, fev. Recife: Nagrafil, 2009, p. 3-4.
144
PLATÃO. O Banquete. Tradução: Maria Teresa Schiappa de Azevedo. Lisboa: Edições 70, 1991.
Passim. Platão ainda aborda o tema amor no Lísis e no Fedro.
89
seja faltoso, André Comte-Sponville145 estende esse sentimento para outras situações
onde o objetivo sexual encontra-se, plenamente, descartado. Desde que haja o desejo
por aquilo que lhe falte. Como no caso do pai que deseja um filho que ainda não existe.
Depois, ao tê-lo, substitui este eros paterno que se dirige a um filho sonhado, pelo amor
experimentado por causa de um filho real. Ressalte-se que, este eros paterno, no
exemplo de Comte-Sponville, não desaparece com o nascimento do filho. “Ninguém se
liberta sem mais nem menos de Platão ou de Eros”146, pois o desejo permanece mirando
o futuro, que é o que ainda não se viveu, o que falta agora.
Seguindo a ideia de Sócrates e considerando esse amor como, essencialmente, o
desejo de alguém por aquilo que lhe falte, incluindo o desejo sexual, ainda assim, podese conceber que, com o amadurecimento, educação e regras impositivas, essa paixão
possa ser controlada, domada e até, inibida. O que não se harmoniza com o seu
conteúdo é a ideia de que o Eros pode ser originado por um dever. Por mais que haja
esforço em tentar fazê-lo surgir, sua subjetividade, naturalidade e espontaneidade,
afastam a razão do seu mecanismo propulsor. Assim como a fome.
Philia, expressão da amizade que Aristóteles distingue em três tipos: a) a que se
baseia na virtude (benevolência recíproca), que seria a amizade perfeita; b) a que tem
base no interesse e c) a que se baseia no agradável. Para o estagirita, a primeira seria a
perfeita, pelo fato de ser, também, útil e agradável. 147 Ora, se para Aristóteles, a
amizade perfeita se baseia na virtude (benevolência recíproca), ousamos afirmar que,
até essa forma de afeto, volta-se em sua origem, para a natureza, ainda que possa, a
razão, atuar para complementá-la. A amizade surge da afinidade entre as pessoas por ela
vinculadas. Talvez seja o amor 'não absurdo', do questionamento feito por Bauman 148 ao
abordar a dificuldade de amar o próximo, porque diz respeito a amar alguém tão
parecido conosco a ponto de amar nele, o ideal de nós mesmos.
145
COMTE-SPONVILLE, André. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Tradução: Eduardo
Brandão. São Paulo: Martins Fontes. 2007, p. 265-266.
146
COMTE-SPONVILLE, André. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Tradução: Eduardo
Brandão. São Paulo: Martins Fontes. 2007, p. 266.
147
Apud ORTEGA, Francisco. Amizade. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (coord.) Dicionário de
Filosofia do Direito. Rio Grande do Sul: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar. 2006, (p. 38-43), p. 39.
148
BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido. Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2004, p. 97.
90
Storghé poderia ser entendido como ternura, harmonia, “uma maneira de
harmonizar o seu ser com o ser do outro”149. Aproxima-se do amor natural entre
familiares: dos pais para com seus filhos e dos filhos para com seus pais. Todavia, para
se falar nesse amor é necessário que as pessoas que o experimentam, se vejam como
partes que integram uma mesma família. Não tem a conotação sexual do Eros, não
dizendo respeito ao desejo de alguém por aquilo que lhe falte, como no exemplo acima,
que toca no desejo do pai pelo filho que ainda não tenha (e que na verdade, só será pai
com o nascimento desse filho). Também não seria simplesmente, o amor pelos entes
reais da família, os entes vivos, atualmente existentes – que poderia se tratar da etapa
anterior, da amizade, Philia.
Storghé vem a ser o sentimento que vincula a família e independe de qualquer
merecimento. Existirá esse amor onde houver o reconhecimento emocional do outro
enquanto família, assim, também subjetivo, natural e limitado a algumas pessoas.
Outra manifestação, ou nível, do amor é o Ágape, que expressa o amor Cristão e é
despojado de interferências terrenas e efêmeras. Dirige-se a tudo e a todos, sem porquês
nem para quês. Não se pretende prazer, nem utilidade, nem agradar a si próprio. É o
amor de entrega plena. “Amar não a partir de sua carência, mas amar a partir de sua
plenitude”150.
Não se pretende tecer aqui, nenhum discurso de tom religioso, no entanto, é
necessário passar pelo assunto, quando se aventura a trabalhar esse tema, porque o que
mais esclarece o ágape é a ordem cristã de “amar uns aos outros”.
Percebe-se, aqui, que se tem um dever de amor. E não dirigido a uma(s) pessoa(s)
específica(s), mas, a toda a coletividade humana que habita a Terra.
Assim, deve-se amar, pelo Ágape, o filho, o amigo, o objeto de desejo, da mesma
maneira como se deve amar o estranho que nunca lhe foi apresentado. Ou mais difícil
ainda, o criminoso que lhe tenha lesado ou a alguém querido. Aquele que agir assim,
conforme Bauman: "rompe a couraça dos impulsos, ímpetos e predileções 'naturais',
assume uma posição que se afasta da natureza, que é contrária a esta, e se torna o ser
149
LELOUP. Jean-Yves. O Corpo e seus Símbolos. Uma Antropologia Essencial. 15 ed. Petrópolis:
Vozes. 2008, p. 80.
150
LELOUP, Jean-Yves. O Corpo e seus Símbolos. Uma Antropologia Essencial. 15 ed. Petrópolis:
Vozes, 2008. p. 82.
91
não natural que, diferentemente das feras (e, na realidade, dos anjos, como apontou
Aristóteles), os seres humanos são”.151
Aplicando-se à família, verifica-se o dever de amar o companheiro, quando aquele
agir corretamente ou quando houver deslize. Deve-se amar o filho esperado da mesma
forma que se deve amar o indesejado.
Ágape, como na encíclica do Papa Bento XVI152, guarda identidade com
Caritas153, que, para Ortega, apresenta um sentido de “amor comunitário num sentido
amplo e nunca amor singular, particular.154” Leloup155 também aponta a mesma
etimologia para 'graça' ou 'gratuidade'.
É o amor mais bonito de todos, porque é desprendido. Não se olha a quem, nem se
deseja nada em troca. E é menos comum que os outros, porque “só sabemos amar a nós
mesmos ou a nossos próximos, porque nossos desejos são egoístas, quase sempre,
enfim, porque nos vemos confrontados não apenas com nossos próximos, que amamos,
mas com próximos, que não amamos”156.
Observando o sentido da palavra caridade no dicionário, encontra-se, entre outros,
que é “ato pelo qual se beneficia o próximo, esp. os pobres e desprotegidos; Disposição
favorável em relação a alguém em situação de inferioridade (física, moral, social
etc)”157.
Percebe-se que esse nível de amor, sai da subjetividade e encontra-se no agir com
cuidado, respeito e afeto para com aqueles que carecem.
Quem é caridoso, é solidário. E como conceito de solidariedade, temos:
“compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a
151
BAUMAN, Zygmunt. Amor Liquido. Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2004, p. 98. - ainda neste local, explica o autor que amar o próximo é “o ato fundador da
humanidade. Também é a passagem decisiva do instinto de sobrevivência para a moralidade”.
152
Deus Caritas est – primeira carta encíclica do Papa Bento XVI.
153
“O gr. usa o termo eros, philia e ágape e seus cognatos para designar o amor (...) Ágape ou Agapam,
menos frequentes no gr. profano, possivelmente por esta razão, foram escolhidos para designar a idéia
cristã única e original do amor o NT. Também em vernáculo, a palavra “caridade” é usada para mostrar o
caráter único deste amor, e é empregada na maioria das versões da Bíblia para traduzir ágape e agapam.”
McKENZIE, John L. Amor. In: Dicionário Bíblico. 5 ed. São Paulo: Paulus, 1984, p. 35.
154
ORTEGA, Francisco. Amizade. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (coord.) Dicionário de Filosofia
do Direito. Rio Grande do Sul: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar. 2006, (p. 38-43), p. 41.
155
LELOUP, Jean-Yves. O Corpo e seus Símbolos. Uma Antropologia Essencial. 15 ed. Petrópolis:
Vozes. 2008, p. 82.
156
COMTE-SPONVILLE, André. O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Tradução: Eduardo
Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 286.
157
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2001, p. 627.
92
todas.”158 Como se vê, a solidariedade, também remete a um compromisso com o intuito
de favorecer o outro. Ocorre que, diferentemente da caridade, na solidariedade, haverá
reciprocidade no comprometimento.
É clara a relação de proximidade entre caridade e solidariedade, sendo que na
segunda, temos acrescentado o caráter de reciprocidade. Note-se que, ambas as
definições, não comportam sentimentos, mas, condutas159.
Se a afetividade especializa os princípios da solidariedade e da dignidade160,
assim, finalmente, encontramos que tipo de afetividade figura como direito e dever. É a
que depende mais do braço, do ombro e da razão do que do coração.
Seguindo esse raciocínio, o reconhecimento jurídico do afeto, nada mais é do que
o reconhecimento jurídico de uma conduta solidária, que pode ou não, estar
acompanhada de bons sentimentos. Assim como um dano moral pode apresentar por
consequência, a dor, não sendo sua ausência, descaracterizadora do dano indenizável, a
solidariedade pode estar antecedida pelo afeto (sentimento), ou não. Sentir dor, tristeza,
amor, afeto, está fora do controle das pessoas. A ação é escolha. Cooperar é efetivar
afeto, ainda que não se sinta afeto.
Ao confundir a afetividade que pode ser realizada, independentemente do
sentimento que se tenha, com aquelas outras expressões do amor (eros, philia, e até
storghé), corre-se o risco de afastar da proteção do Judiciário, situações que tenham esse
princípio como cerne, como por exemplo, o abandono afetivo, o que justificaria o
argumento contrário de que a lei não pode obrigar ninguém a amar. Pode sim.
Objetivamente.
158
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2.602.
159
“Para o amor “ágape” não importa o que uma pessoa faça ou deixe de fazer, não importa o modo como
nos tratem, ou se nos injuriam ou ofendem. Em nós sempre estará a possibilidade de amá-la, que não
consiste em sentir algo por ela, mas sim em fazer algo em seu favor, prestar-lhe algum serviço, oferecerlhe nossa ajuda, mesmo que não nos sintamos bem, afetivamente falando. O amor “ágape” não consiste
no afetivo, mas, no efetivo.” LIMA, Geraldo de Araújo. Amor – Um Presente de Grego. In: A Partilha.
Jornal da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus do Espinheiro. Ano 09, n 94, fev. Recife:
Nagrafil, 2009, p. 4.
160
LÔBO, Paulo. Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 48.
93
CAPÍTULO III
IMPERATIVIDADE NORMATIVA NA TUTELA DOS DIREITOS
EXISTENCIAIS
3.1 Influências Culturais, Naturais e Religiosas na Definição Jurídica de Família e a
Dificuldade de Separar Tradição, Fé, Instinto e Razão; 3.2 Deveres ou Faculdades.
Distinção Necessária entre Comandos e Conselhos em Bobbio; 3.3 Identificando as
Obrigações Civis nas Relações Jurídicas do Poder Familiar; 3.3.1 Prestações
Debitórias nas Relações Parentais; 3.3.1.1 Conteúdo Econômico da Prestação
Debitória; 3.3.1.2 Repersonalização do Direito das Obrigações; 3.3.1.3 Interesse
Puramente Moral e o Reconhecimento da Prestação Debitória Desprovida de
Conteúdo Econômico. 3.4 Inserção de Normas Obrigacionais nas Relações de
Família
3.1 Influências Culturais, Naturais e Religiosas na Definição Jurídica de Família e a
Dificuldade de Separar Tradição, Fé, Instinto e Razão
O maior obstáculo para quem se aventura no estudo das normas que regem as
relações de família, a fim de compreender nelas a noção jurídica de responsabilidade,
está exatamente, em identificá-las como relações jurídicas. Isto por causa da forte carga
de cultura social e religiosa que as acompanham. Some-se a isto, a inegável necessidade
biológica de agrupamento para fins de preservação e continuidade, que caracteriza a
maioria das espécies vivas do planeta, mostrando que a ideia de família antecede ao
próprio direito. Assim misturadas, cultura, fé e natureza, tem-se frágil qualquer
definição jurídica que pretenda oferecer, tanto um conceito de família como suas
finalidades e efeitos, sobretudo a responsabilidade familiar.
Culturalmente, os interesses patrimoniais prevaleceram por anos, no ordenamento
jurídico brasileiro. Basicamente, o direito se ocupava do patrimônio das pessoas,
competindo à religião e à ética, a ocupação com o que fosse espiritual, existencial,
puramente pessoal ou transcendental, ideias fortalecidas em nossa cultura, por
atribuições de papéis sociais diferentes em razão do gênero, e a consequente e injusta
desigualdade entre homens e mulheres, justificada por argumentos que estabeleciam tais
funções, baseados na natureza de cada gênero.
Assim, enfatiza-se a função provedora masculina, desde os tempos em que o
alimento vinha da luta pela caça, até as formas admitidas pelas regras do jogo do
capitalismo contemporâneo, sendo ainda, o homem, para o direito, o protagonista da
94
família. Para a mulher, restava a função acolhedora, sempre ligada à ideia de procriação
e cuidados com os filhos, a família e a casa. Seria uma personagem mais romântica ou
divina, do que jurídica. Desta maneira, é viável pensar em responsabilidade jurídica
masculina, já que seus deveres são principalmente materiais, enquanto os deveres
femininos estariam mais voltados para os afetos e o cuidado, para interesses sem preço.
Portanto, os papéis de cada gênero, já se encontravam desenhados desde a ideia milenar
de patriarcado, que chega aos nossos dias transformado, mas, não, superado.
No Brasil, por ter sofrido forte influência do cristianismo europeu e, ainda, pela
afetividade que caracteriza os povos latinos, torna-se evidente a presença de interesses e
condutas emocionais em quase todas as relações familiares, mas daí a considerar os
interesses imateriais como direitos cuja eficácia passa pelo reconhecimento de uma
pretensão e da existência de garantias processuais, existe uma grande distância.
Sobretudo quando se pretende conferir tecnicidade ao que é, principalmente, (ainda que
não, unicamente) emoção. Entendê-los como objeto de certas normas jurídicas não é
fácil, principalmente porque sendo estas artificiais, ao tentarem racionalizar algumas
condutas, contrariam o que é instinto. Mas, não é isso, também, que se busca nos
processos civilizatórios? Domar os instintos para garantir a convivência social e
racional?
Inclusive, hoje, fala-se muito em valores, mas, não seria mais apropriado cultivar
as virtudes? Luiz Pondé161 lembra que, para os gregos, na filosofia antiga, eram nas
virtudes que eles pensavam, considerando, sempre, o esforço para controlar vontades e
os desejos em nome de uma conduta, tida como mais apropriada. Assim, ser corajoso,
combatendo seus medos; ser trabalhador, combatendo sua preguiça; ser justo,
combatendo a crueldade e a indiferença para com os sofrimentos alheios, ser generoso,
combatendo o próprio egoísmo; ser responsável, combatendo seu desejo de se omitir. O
ser humano é o único animal que pode racionalizar seus instintos, suas emoções,
controlando-as em nome de um bem maior e, então, o argumento acima encontrar-se-ia
esvaziado.
Enquanto se sabe que os instintos podem ser domados, embora o Brasil seja um
Estado laico, a influência da religião ainda é muito forte no país. E tem um agravante:
enquanto existe autorização para, com o uso da razão, transpor tendências animalescas
161
PONDÉ, Luiz Felipe. O Gosto da Culpa. In Contra um Mundo Melhor. Ensaios do Afeto. São Paulo:
Leya, 2010 (p. 60-65), p. 64.
95
naturais, no que se refere à ordem divina, por se tratar de imperativo e não de genética,
deve ser obedecida. E a razão não seria argumento que pudesse contrariá-la, pois
pautada na fé.
O Brasil é um estado laico e uma nação cristã. Considerando nação, o “povo com
determinadas características comuns, como a religião, a língua, a cultura, os laços
históricos, a etnia, etc., fazendo parte de uma realidade sociológica”162 – pode-se
afirmar a paradoxal coexistência de dogmas religiosos com o regime democrático.
Embora os ensinamentos do Cristo tenham sido, sempre, no sentido da inclusão e da
responsabilidade incluída na ideia de conduta amorosa para com o próximo.
É tão forte a influencia religiosa na ideia de família que, ainda hoje, embora o
Estado reconheça como casamento, apenas o civil, o costume volta-se para os rituais
religiosos ressaltando a sua primazia social em relação ao outro tipo, que resta reduzido
ao cumprimento das formalidades estritamente necessárias, no âmbito dos cartórios.
A ideia religiosa de sacralidade do casamento confere um poder ao instituto, que
se estende à sua forma civil em nossa sociedade, de tal maneira, que, socialmente, é
preciso que haja a celebração religiosa e o status civil, conferindo uma moralidade ao
casal, como se fosse menor a reputação de qualquer outra forma de união. Ainda hoje,
apesar do reconhecimento constitucional da existência de outras entidades familiares
merecedoras de proteção e dignidade, é comum ouvir de casais que coabitam na
informalidade, que são “casados”, como se o casamento fosse a senha para garantir a
aceitação social, na antiga concepção de “legitimação”, hoje desnecessária e ilegal.
Companheiros se intitulam de “marido” e “esposa” para os amigos, principalmente nas
regiões mais influenciadas pela religião, deixando ainda mais clara, a ideia social,
ressaltada no bordão repetido à exaustão, pelo povo que considera “casado, aquele que
bem vive”.
A importância jurídica, por muito tempo deferida ao casamento civil, por ser
imitação do sacramento religioso, foi de tal maneira que era comum, sobretudo na
codificação anterior, ver os interesses do instituto prevalecendo sobre os interesses dos
membros que compunham aquela família e, também, de terceiros. Ainda que se tratasse
de interesses de grupos, hoje conhecidos por “vulneráveis”, como crianças,
adolescentes, mulheres e idosos.
162
AGRA, Walber de Moura. Manual de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2002, p. 70.
96
A confusão entre sacramento e instituição civil, entre objeto de interesse de
normas religiosas e jurídicas, ajudou a fortalecer a ideia de que ao direito, competia se
preocupar com os interesses patrimoniais, garantindo primeiro, a continuidade da
família institucionalizada e só depois, os interesses patrimoniais de cada membro que a
integrasse. Por fim, garantidos os interesses econômicos, poderia o direito se preocupar
com outros interesses, ainda que puramente existenciais, todavia, de maneira residual,
afinal, o Estado não poderia interferir naquilo que seria da competência de Deus.
O problema é que, quando surge o espaço em que a fé permite a interferência da
razão, o ser humano garante a sua permanência em zona de conforto, voltando a usar a
retórica de sua natureza animal, justificando as tendências de ordem biológica, que
organizam os papéis sociais, por gênero, feminino e masculino. Sendo certo que a
natureza equipou o ser humano com a razão, pelo mesmo motivo que equipou o touro
com chifres e o escorpião com veneno, ou seja, para se defender dos predadores,163esta
mesma razão pode ser usada, estrategicamente, para persuadir de sua permanente
condição animal, de sua supremacia em face da natureza ou até, para criar
características naturais como se fossem verdades imutáveis.
Assim, é possível que o ser humano escolha argumentos que justifiquem sua
condição animal, ressaltando os aspectos naturais para a sua conveniência e se afastem
quando queiram, para criar um universo particular e artificial desde que seus interesses
clamem pelo reconhecimento da superioridade de um ser dotado de um poder
inexistente nos demais seres vivos e que, por isto mesmo, o torna apartado de uma
estrutura natural, permitindo colocá-la a seu serviço, já que, naquela sua concepção, não
a integraria.
O ser humano, então, por ser social, cria normas que permitam a convivência,
construindo estruturas novas a partir de suas necessidades. Foi assim, construindo suas
regras, justificando como mais conveniente ou supostamente apropriado, que surgiu a
diferença entre sexo e gênero. Um biológico e imutável, o outro artificial transitório164.
163
“O intelecto como um meio para a conservação do indivíduo, desdobra suas forças mestras no
disfarce: pois este é o meio pelo qual os indivíduos mais fracos, menos robustos, se conservam, aqueles
aos quais está vedado travar uma luta pela existência de chifres ou presas aguçadas”. NIETZSCHE,
Friedrich. Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extra-moral. In: Obras Incompletas – Coleção Os
Pensadores. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 45.
164
“Faz igualmente parte do equipamento básico de gente esclarecida o facto óbvio de se distinguir entre
“sex” (sexo) e “gender” (gênero). Os dois conceitos chegaram a nós vindos do movimento feminista
americano: aí, “sex” designa o sexo biológico, ao passo que “gender” se refere aos papéis socialmente
atribuídos ao “homem” e à “mulher” em função do sexo biológico. Esta distinção tem em atenção a
97
Com os papéis estruturados em bases diversas, porém sólidas, o lugar de cada um no
cenário social é definido de modo a confundir o adquirido com o inato. Daí se falar em
natureza feminina e masculina e esperar de cada representante do gênero, que cumpra
seu papel, não se exigindo (até por aceitação das verdades), aquilo que lhes fuja à
competência.
Apesar de todo o esforço das feministas e do reconhecimento jurídico da
igualdade em direitos e deveres, entre homens e mulheres, ainda existe certa aceitação
social para o pai que negligencia os filhos, que não convive, que não quer saber. Por
outro lado, não é verdade que o mesmo se afirme com relação ao abandono materno. A
imagem social da mulher/mãe é a do amor incondicional enquanto o afeto paterno é
conquistado. E obviamente, ao se falar em amor, levando-se em conta apenas, seu viés
emocional, este não pode ser reduzido à uma atividade imposta, como dever a cumprir.
Como expressão da natureza, deve ser espontâneo, involuntário.
Socialmente, ainda hoje, se espera do pai, a garantia material da família, assim,
cumprida essa parte, o que fizer a mais, será acréscimo benevolente de sua função.
Juridicamente, não é difícil enquadrar a responsabilidade de alguém, na obrigação de
garantir economicamente o grupo. Tratando-se de interesses patrimoniais, a parcela
artificial da relação parental insere a família na necessidade de integrar o sistema
capitalista de troca de bens necessários à vida e ao conforto das pessoas, pelo dinheiro.
Não se questiona se é pertinente obrigar alguém a prestar alimentos, ao mesmo
tempo em que choca a muitos, a ideia da convivência familiar por imposição externa,
com força coercitiva. A convivência estaria naquela esfera incondicionada ou
conquistada do amor, que tem origem na natureza animal do ser humano, que por sua
vez, é obra divina e que deve ser experimentada pelo natural extinto gregário em
obediência a preceitos religiosos. É a retórica do exercício natural da função feminina.
Contrariando essas verdades culturais, encontra-se em nosso ordenamento, uma
série de normas que regulam as relações familiares, com o objetivo de assegurar,
também, interesses imateriais, não econômicos, com a garantia constitucional de
merecerem proteção especial do Estado, sobretudo quando se tratam de interesses de
vulneráveis, como crianças e adolescentes, centro de atenção desta tese, ressaltando a
seguinte realidade: o sexo biológico é o que é, mas, os papéis sociais são invenções culturais que também
poderiam ser diferentes”. SCHWANITZ, Dietrich. Cultura. Tudo o que é preciso saber. Tradução: Lumir
Nahodil. 8 ed. Lisboa: Dom Quixote, 2007, p. 398.
98
existência de verdadeiros deveres jurídicos dos pais, de forma igual, e não apenas,
papéis sociais dirigidos pela natureza de cada um, se masculino ou feminino.
Nessa linha, o artigo 227 da Constituição Federal impõe:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
Ainda na Constituição Federal, encontra-se o art. 229, estabelecendo o dever dos
pais quanto a assistir, criar e educar os filhos menores, assim como o dever dos filhos
maiores de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Na lei 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), encontram-se
diversas normas que apontam a responsabilidade da família e da comunidade social,
governamental ou não, pela satisfação de interesses também imateriais, de seus filhos,
crianças e adolescentes. Entre elas, encontramos o art. 4º, que se aproxima do
mandamento constitucional:
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Como centro de atenção desta tese, os direitos existenciais da criança e do
adolescente, na constância do poder familiar são mais do que claramente direitos. Ainda
para os que questionam a posição dos filhos menores, nas relações jurídicas do poder
familiar, se estaria resumida à sujeição, apenas, é o próprio ECA que afasta essa
interpretação, na redação de seu artigo 15, que os nomina, expressamente, por sujeitos
de direito165.
Mais expressivo ainda, ficam os direitos existenciais, no capítulo II, título III do
ECA, ao trazer uma série de artigos referentes ao direito à convivência familiar e
165
“Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos
na Constituição e nas leis”.
99
comunitária166, principalmente por ser, a convivência familiar, direito e meio realizador
da personalidade de seus membros. Para os menores, a convivência familiar necessária
para a realização de suas personalidades, ganha proporção maior por se tratar, mesmo,
do momento de construção dessa personalidade, no sentido de (a)firmá-la para que
possa surgir o ser social que, espera-se, atuará equilibradamente na comunidade.
3.2 Deveres ou Faculdades. Distinção Necessária entre Comandos e Conselhos em
Bobbio
Superado o problema inicial, considerando a inclusão, no ordenamento jurídico,
dos deveres jurídicos voltados à satisfação de interesses imateriais da criança e do
adolescente, resta saber o seguinte: qual a força das normas que ditam comportamentos
que se voltam para satisfazer interesses não econômicos? Existe um vínculo jurídico que
confere obrigatoriedade para os sujeitos que integrem as relações jurídicas previstas em
tais normas? Ou trata-se de conselhos, social ou moralmente vinculativos, mas, não
exigíveis por mecanismos jurídicos? Qual o grau de liberdade das pessoas, em uma
relação familiar, diante das normas existentes nos textos jurídicos nacionais, tendo em
vista a ênfase do aspecto existencial e imaterial em tais interesses, combinado com o
direito à intimidade familiar com a mínima (mas, não nula) intervenção do Estado?
Para responder tais perguntas, é importante analisar alguns aspectos das normas já
mencionadas, com o propósito de afirmar sua juridicidade, bem como a sua força. Ainda
que não restem dúvidas, quanto a serem normas jurídicas, nem todas as normas jurídicas
consistem em comandos, portanto impõe-se apontar, aqui, entre várias distinções
166
“Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e,
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente
livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.”
“Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.”
“Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do
que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer
à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.”
“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes
ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.”
“Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a
suspensão do poder familiar.”
“Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento
contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento
injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.”
100
apontadas por Bobbio167, para definir os contornos das normas morais, sociais,
religiosas, técnicas e jurídicas, suas importantes observações realizadas, partindo da
ideia de Hobbes, no capítulo vigésimo quinto de seu Leviatã, acerca do que diferencia
os comandos dos conselhos. Seguem as considerações de Bobbio acerca das distinções
apontadas por Hobbes, às quais, somam-se, nesta investigação, às considerações a
respeito das normas brasileiras sobre a parentalidade.
O primeiro argumento hobbesiano, destacado por Bobbio168, diz respeito ao
sujeito ativo. Para que se fale em comando, o sujeito ativo deveria ser dotado de uma
autoridade para fazê-lo, ao passo que esta inexiste para aquele que aconselha. O
conselho seria dado por aquele a quem não se permite
reclamar do direito de
aconselhar.
No caso das normas em análise, verifica-se a autoridade do poder constituinte e do
legislativo federal a quem foi conferido, pela sociedade representada, o poder de ditar
condutas.
Bobbio169 critica o argumento, lembrando que, no campo do direito, também se
aconselha, assim, para exercer tal poder consultivo, é necessária a existência de tal
autoridade, ainda que particular.
Ainda não sendo suficiente para definir o caráter das normas existenciais que
integram o conjunto normativo do poder familiar, se comandos ou conselhos, outro
argumento hobbesiano é levantado por Bobbio, desta vez, quanto ao conteúdo. Os
comandos vinculam pela vontade manifestada pela autoridade superior, já os conselhos,
vinculam pela sensatez de seu conteúdo. Assim, haveria obrigação de seguir os
comandos, existindo ou não, bom senso no que eles dirijam e, assim, nas palavras do
jurista italiano: “os comandos, por serem confiados ao prestígio de uma vontade
superior, podem destinar-se a qualquer pessoa, os conselhos apenas às pessoas de bom
senso”170.
Antes de concluir tratar-se, para os sujeitos passivos das normas de direito
parental, de deveres jurídicos ou ainda, obrigações jurídicas, conferindo-lhes
exigibilidade, não se pode fugir às consequências presentes no texto do Código Civil
167
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010,
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010,
169
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010,
170
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010,
168
p. 15-181.
p. 89.
p. 90.
p. 89.
101
(arts. 1.635 ao 1.638), assim como do ECA (art. 24), no que pertine às possibilidades de
suspensão ou perda do poder familiar, quando da inobservância daquelas normas. Desta
maneira, não se espera o cumprimento das condutas ali previstas por questão de bom
senso, mas, de obediência à vontade superior, sob pena de sofrer as consequências
indicadas para o caso.
O terceiro argumento trabalhado por Bobbio estaria na diferença quanto à pessoa
do destinatário. Para o comando, o destinatário estaria obrigado a cumpri-lo, o que não
acontece em relação ao conselho, quando o destinatário tem a faculdade de segui-lo.
Com relação a este argumento, admitindo-se o dever de cumprir o que está
disposto nas normas que regulam o poder familiar, precisa-se estabelecer a distinção
entre dever e obrigação.
Considerando a necessidade de obedecer ao que está dirigido pelas normas
jurídicas que regulam o poder familiar, ainda que, no mínimo, para evitar as
consequências que podem ser suspensão ou perda daquele poder, poder-se-ia tratar de
obrigação, considerada em sentido mais amplo, ou estar-se-ia diante daquele sentido
restrito às normas de direito obrigacional?
O quarto argumento é quanto ao fim, sendo o comando voltado para o interesse de
quem ordena, ao passo que o conselho volta-se para o interesse do aconselhado.
Bobbio critica este argumento, enxergando a coerência da afirmação referente ao
conselho, no entanto, enxergando uma falsidade quanto ao interesse no comando,
ressaltando que “seria realmente ingênuo acreditar que as leis sejam emanadas apenas
no interesse público, mas, seria demasiado malicioso acreditar que sejam emanadas
apenas no interesse daqueles que detêm o poder supremo”171.
O quinto e último argumento, quanto às consequências. O mal que resultar do
cumprimento de um comando é de responsabilidade daquele que impôs o comando, por
sua vez, o mal que resultar do cumprimento de um conselho é de responsabilidade do
aconselhado.
171
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 90.
102
3.3 Identificando as Obrigações Civis nas Relações Jurídicas do Poder Familiar
O Ordenamento Jurídico Brasileiro tem finalidades muito claras, apresentadas
pela Constituição Federal em seus artigos iniciais, que tratam dos fundamentos,
princípios e objetivos da República Federativa do Brasil. Toda norma jurídica deve ter
por base, porque também é seu fim, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Deve
objetivar, entre outros fins ali expostos, a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária (art. 3º, I) e a promoção do bem de todos, livres de preconceitos e
discriminações (art. 3º, IV). Com a resposta constitucional do que se espera da
sociedade brasileira e a razão que norteia as normas jurídicas do país, percebe-se o lugar
de destaque em que se encontram, atualmente, os interesses existenciais, antes
esquecidos por uma cultura que sempre enfatizou os valores patrimoniais,
principalmente em países com grande disparidade na distribuição de renda e dirigidos
por elites mais econômicas que intelectuais, como é o caso do nosso.
Essa mudança de paradigma revolve diversos conceitos e ideias que foram
construídos para uma realidade que se voltava mais para interesses econômicos do que
existenciais e hoje, negar a força desses direitos existenciais seria negar a própria
Constituição Federal.
A questão é que, mudar paradigmas não é tão simples a ponto de se resolver com a
substituição de algumas regras (como se isso já não comportasse sua complexidade),
mas, vai além, atingindo o cerne da própria teoria do direito privado. E não basta apenas
reconhecer que não cabe mais a aplicação de alguns conceitos e institutos que já tiveram
seu valor no passado e que, hoje, não conseguem mais resolver os problemas
contemporâneos. É preciso se preocupar com aquilo que vai tomar seu lugar, seja na
adequação do que já existia à nova realidade ou na criação de novos modelos.
No caso do Direito das Obrigações, a dificuldade se encontra em definir sua
abrangência, tendo em vista se tratar de normas que se inserem em um conjunto mais
amplo e que recebe o mesmo nome. Assim, temos o gênero “obrigações”, abrigando
espécies de mesmo nome, como as obrigações reguladas pelos princípios e regras que
compõem o Direito das Obrigações.
O uso de um mesmo nome para designar coisas diferentes ainda não seria um
maior problema se não se tratasse do uso de uma mesma denominação para,
103
confusamente e ao mesmo tempo, significar o continente e parte do conteúdo. Pontes de
Miranda,172 ao definir Direito das Obrigações, ressalta que já se restringe tanto o que se
conhece por obrigações, excluindo as que não se enquadram naquela definição, que
seria melhor se houvesse dado outro nome àquele conjunto de normas.
O termo “obrigação” serve para designar toda conduta entendida como necessária
ao convívio social e considerada um verdadeiro comando, ainda que se trate de
imposição jurídica, social, moral, religiosa ou de trato social.173 Ainda que diferentes em
razões, amplitude e eficácia, todas essas normas podem ser nominadas de
“obrigações”174.
Para distinguir a obrigação jurídica nesta pluralidade de tipos, Pontes de
Miranda175 apresenta como um dos critérios de verificação, o fato de que as jurídicas
obrigam “alguém” e as demais obrigam “todos”, ressaltando a estrutura pessoal da
relação jurídica obrigacional. Ao mesmo tempo, lembra que nem todas as relações
jurídicas de estrutura pessoal integram o direito das obrigações. Também por esta razão,
Pontes de Miranda reconhece a artificialidade do conceito e alerta para o cuidado que se
deve ter no trato do artificial para que não sejamos, por essa característica, enganados.
Na possibilidade de haver enganos pela definição insuficiente que decorre da
artificialidade dos conceitos, Fernando Noronha176 enfatiza a necessidade de bem
definir as relações jurídicas obrigacionais, dentro dessa acepção mais ampla, porque
situações muito parecidas não trarão as mesmas consequências, exatamente por
participarem de estratos distintos do mesmo gênero obrigacional, como por exemplo, a
hospedagem em um hotel e o recebimento de um amigo querido ou de um parente para
passar uns dias em casa, ou ainda, o serviço turístico e a gentileza de indicar caminhos
ou sugerir passeios a alguém, apenas com a finalidade de ser socialmente educado.
172
PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Rio de Janeiro:
Borsoi, 1971, t. XXII, p.7.
173
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 109-110.
174
“É na acepção amplíssima de obrigação, igual a dever que se pode dizer que o serviço militar é
obrigação (jurídica) de todo brasileiro, que o Cristão tem a obrigação (moral) de socorrer os necessitados
e ainda a obrigação (de trato social) de se comportar segundo as regras de decoro e boa educação”.
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 5.
175
PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Rio de Janeiro:
Borsoi, 1971, t. XXII, p.8.
176
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 6.
104
Para Bobbio177, uma das maneiras de identificar uma norma como jurídica, se dá
pelo modo como ela é acolhida por aquele a quem se destina que, por sua vez, deve
estar convencido da sua obrigatoriedade e, portanto, age com a necessidade de fazê-lo.
Tercio Ferraz178, ao explicar a norma jurídica pelo viés da comunicação, enxerga
essa “necessidade” de cumprimento, pela confirmação da relação de autoridade que se
estabelece no segundo nível de comunicação, ou seja, no cometimento.179 Para que isso
aconteça, conforme o autor tem que se considerarem três hipóteses: na primeira, a
relação é confirmada pela obediência àquilo que se prescreveu; na segunda, a relação é
confirmada, paradoxalmente, pela rejeição da conduta prescrita, uma vez que, para
negá-la é preciso reconhecê-la; na terceira, pela desconfirmação da ordem, através de
uma postura ostensivamente contrária ao comando, exatamente por não enxergá-lo
como tal. A última hipótese não deve ser esperada, quando a norma for jurídica,
exatamente pelo fato de ter sido emanada a ordem, por uma autoridade respaldada, ou
seja, confirmada por terceiros não partícipes da relação (consenso social),
institucionalizando tal autoridade em seu mais alto grau, prevalecendo (tal consenso
social) sobre qualquer outro consenso.180
O problema que se pretende enfrentar, no entanto, não se restringe ao
reconhecimento do caráter jurídico de algumas normas que regulam as relações de
parentalidade, mas, de saber se elas podem se enquadrar naquele conceito restrito de
obrigação que integra o “direito das obrigações.” Isso porque não se pode negar a
existência de conceitos distintos entre dever jurídico, sujeição e ônus.
177
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 143.
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação.
2 ed. São Paulo: Atlas, 1994. p. 109-110.
179
“Ao examinarmos a noção de norma-comunicação, verificamos que, ao comunicar-se, o homem o faz
em dois níveis: o relato, isto é, a mensagem que emanamos (sentar-se) e o cometimento, a mensagem que
emana de nós, ou seja, a simultânea determinação da relação entre os comunicadores (“por favor, sentemse” ou “sentem-se!”). É nesta relação que se localiza o caráter prescritivo das normas. É nela que se pode
descobrir o caráter prescritivo jurídico.” FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do
Direito. Técnica, Decisão, Dominação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1994. p. 108.
180
O reconhecimento de uma autoridade institucionalizada que normatiza as relações, não faz retroagir à
ideia de uma aplicação subsidiária dos princípios, colocando equivocadamente, as regras em uma posição
hierarquicamente superior no cenário jurídico, mas, no reconhecimento de um positivismo
contemporâneo, com princípios e regras integrando o corpo de normas jurídicas, reconhecidas como tais,
pelo Estado, enquanto autoridade legitimada para fazê-lo, tanto no momento de elaboração, como nos de
interpretação e aplicação de tais normas.
178
105
Pode-se dizer, brevemente, do ensinamento de Orlando Gomes181, que o dever
jurídico consiste na necessidade que é imposta a todos de observar as normas (qualquer
uma, não se limitando a um grupo de normas específico) que integram o ordenamento
jurídico, sob pena de, não cumprindo, suportar uma sanção. A sujeição, por sua vez, está
ligada à noção de direitos potestativos, consistindo nas consequências jurídicas que
decorrem do exercício regular de tais direitos. Por ônus jurídico entende-se tratar da
necessidade de agir de certa maneira, a fim de realizar interesses próprios.
Para definir, então, obrigação, em seu sentido restrito, diversos autores usam do
recurso da limitação, restringindo às circunstâncias que abriguem apenas interesses
patrimoniais ou, ainda, limitando-se às fontes, tão somente, negociais.
No entanto, ainda que existam divergências entre os diversos autores com relação
ao aspecto patrimonial ou existencial da prestação debitória, assim também quanto às
fontes que originam obrigações em seu conceito restrito, o certo é que todos os
conceitos coincidem em apresentar um elemento verdadeiramente essencial para a
compreensão dessas relações jurídicas: a pretensão do credor.
Parece acertado dizer que, ainda que sejam relevantes outros elementos que
integrem o conceito, o direito do sujeito ativo de exigir o cumprimento da prestação e a
necessidade jurídica do sujeito passivo de agir conforme tal exigência consiste na
principal característica que diferencia as obrigações reguladas pelo Direito das
Obrigações e as demais obrigações ainda que juridicamente consideradas e, por isso,
também capazes de produzir consequências conhecidas pelo Direito.
Considerando as relações jurídicas abrigadas pelo Poder Familiar, a mudança do
nome (que antes era Pátrio Poder) já sugere a significativa alteração em seu conteúdo,
sem, contudo, fazer jus às verdadeiras mudanças que se operaram no cerne de tais
estruturas relacionais, modificando toda a essência dos elementos que as integram. Dos
sujeitos ao conteúdo, passando pelos interesses que se busca tutelar, à força de comando
para as ações necessárias visando a atingir tais interesses.
Na realidade, apesar do reconhecimento social e jurídico da importância da
família na realização da personalidade de seus integrantes, ainda é preciso sedimentar
que tal personalidade é construída e, não apenas, realizada, nos primeiros anos de vida,
181
GOMES, Orlando. Obrigações. 17 ed. Atualização: Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p.
11-12.
106
momento em que estão vinculados pais e filhos, pelas normas do Poder Familiar,
exatamente para propiciar tais interesses recíprocos, no entanto, com maior ênfase nos
interesses das crianças e adolescentes, exatamente pelo momento de formação de suas
personalidades, que é por sua vez, a razão de existência de tal instituto.
Em Portugal, com a L. 61/2008, as relações jurídicas equivalentes ao nosso Poder
familiar, passam a ser chamadas de Responsabilidades Parentais, substituindo a anterior
denominação “Poder Paternal”, apontando de maneira muito mais clara, a profunda
mudança, sobretudo por entender os menores como sujeitos de direito, assim como da
“supremacia da função de cuidado (pelos progenitores) sobre sua função de
representação, afastando-se assim, a ideia de que se trata simplesmente, de um
poder”.182
Ainda que a nova denominação portuguesa receba críticas 183 de alguns autores,
por não se limitar, o instituto, apenas às responsabilidades dos pais que tem, também,
direitos de exigência, o que faria com que denominações do tipo “Cuidado Parental”, se
adequasse melhor, o termo “Responsabilidades Parentais” segue a denominação adotada
por instrumentos de direito internacional, “designadamente a Recomendação nº R(84)4
do Conselho da Europa sobre as responsabilidades parentais.”184
Não sendo possível negar, no modelo brasileiro, o forte caráter de
responsabilidade dos pais quanto às condutas impostas pela legislação pátria,
depreende-se responder se tais responsabilidades consistem em necessidades jurídicas
de cumprimento das ações ali elencadas. Se assim for, deverão ser dotados de
exigibilidade, os sujeitos ativos para quem se voltam os principais interesses
justificadores de tais condutas.
Como essencial ao que se entende por obrigação civil, regulada pelo Direito das
Obrigações, presente em todo e qualquer conceito sobre o tema, soa razoável que a
exigibilidade (a pretensão) deva participar da nova estrutura relacional do poder
182
RODRIGUES, Hugo Manuel Leite. Questões de Particular Importância no Exercício das
Responsabilidades Parentais. Coimbra: Coimbra, 2011, p. 20.
183
“As autoras (M.C. Taborda Simões/ Rosa Martins/ MD Formosinho) referem ainda que expressão
“responsabilidades parentais”, apesar de ser defendida por outros autores e por instrumentos de direito
internacional, não é a mais adequada, pois os pais não têm apenas responsabilidades relativamente aos
filhos mas, possuem também, um ‘dever de exigência’”. RODRIGUES, Hugo Manuel Leite. Questões de
Particular Importância no Exercício das Responsabilidades Parentais. Coimbra: Coimbra, 2011, p.
22.
184
RODRIGUES, Hugo Manuel Leite. Questões de Particular Importância no Exercício das
Responsabilidades Parentais. Coimbra: Coimbra, 2011, p. 26.
107
familiar, do contrário, restaria esvaziado o discurso constitucional de prioridade, ou
melhor, interesse que se volta para a concretização do principio fundante da dignidade,
em fase essencial para construção do amplo equilíbrio individual e social da pessoa
humana.
Para sedimentar a ideia de que é possível utilizar as normas do direito
obrigacional nas relações de poder familiar, deve-se, ainda, voltar o olhar para as
condutas-objeto, a fim de compreendê-las enquanto prestações exigíveis e assim,
garantir verdadeiramente, a tutela dos interesses perseguidos.
3.3.1 Prestações Debitórias nas Relações Parentais
Como o direito é retórico, para entender a prestação na contemporaneidade, é
preciso traçar uma comparação entre o que se entendia como tal, sobretudo no início do
século XX, quando entra em vigor o Código Civil de 1916, sendo a sociedade brasileira
da época, patriarcal e patrimonialista, e a interpretação e significância traduzida pelos
doutrinadores pós Constituição Federal de 1988.
Ainda que tenha se passado menos de 1 século, foram os últimos 100 anos,
significativos para as principais transformações das relações humanas em seus aspectos
morais, sociais, religiosos e jurídicos, o que não significa, necessariamente, no caso das
normas jurídicas, a substituição de alguns textos de lei, mas, da mudança interpretativa
amparada pelos princípios que, hoje, cumprem função mais ativa, otimizando o
conteúdo das regras.
Basicamente, a prestação consiste na conduta comissiva ou omissiva, a ser
realizada pelo devedor objetivando satisfazer o(s) interesse(s) do credor. É o objeto da
relação jurídica obrigacional185, para onde apontam os direitos creditórios.
Na realidade, o que vai mesmo caracterizar a prestação, como objeto de uma
relação obrigacional, é a necessidade jurídica de seu cumprimento, tendo em vista que o
titular do crédito, poderá, com apoio do aparato legal do Estado, exigir tal conduta, a
fim de ter seus interesses, satisfeitos. Nem todo dever se converte em obrigação,
185
“Objeto da relação obrigacional é a prestação, isto é, o ato ou omissão do devedor.” GOMES, Orlando.
Obrigações. 17 ed. Atualização: Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 21. “Objeto da
obrigação é uma prestação, e esta sempre constitui um fato humano, uma atividade do homem, uma
atuação do sujeito passivo”. Clóvis Beviláqua apud PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de
Direito Civil. Atualização: Guilherme Calmon. 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 18.
108
quando, do outro lado, houver um direito subjetivo a ele vinculado e é exatamente por
isso que se reconhece a existência de deveres jurídicos e obrigações jurídicas em
sentidos, embora parecidos, distintos.
Assim, o conceito de prestação debitória, deverá apresentar a sua exigibilidade
como parte de sua estrutura, sendo assim, prestação debitória exigível. E é exatamente
aqui, que se encontram as mais fortes resistências por parte de muitos doutrinadores, em
considerar os interesses existenciais, geradores da força dessa exigibilidade integrante
do conceito de qualquer relação jurídica obrigacional, em sentido estrito. É também
aqui, que se encontra o principal argumento de resistência à confirmação das condutasobjeto do poder familiar como prestações debitórias e assim, exigíveis.
A base da negativa se afirma em desconsiderar as prestações que não abriguem
interesses econômicos, mas, puramente morais, como objeto de regulação por parte do
direito das obrigações. Mas, como já se viu esse pensamento é típico de um modelo
liberal e ultrapassado, que só enxergava a pertinência de prestações patrimoniais para as
obrigações jurídicas, cabendo as demais prestações, às outras esferas obrigacionais
como as morais, sociais e religiosas.
Outra característica da prestação debitória, ao lado de sua exigibilidade, é o fato
de ser essencial para a satisfação do interesse do credor,186 ou seja, o direito do credor só
será realizado pela atuação do devedor que se comporta conforme a prestação impõe.
Trata-se, o crédito, de direito subjetivo que só se cumpre (embora exista), dependendo
da atuação, ou melhor, da conduta comissiva ou omissiva do outro e, por isso, sua
essencialidade.
3.3.2 Conteúdo Econômico da Prestação Debitória
Apesar de não existir, na legislação pátria, a exigência expressa do caráter
econômico na prestação debitória, como acontece na legislação italiana que apresenta
no art. 1.174 de seu Código Civil a regra: “A prestação que forma o objeto das
obrigações, deve ser suscetível de valoração econômica e deve corresponder a um
interesse também patrimonial do credor.”187, nem tampouco, apresente expressamente, a
186
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 95.
Tradução livre para “La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile de
valutazione econômica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.”
187
109
permissão que contraria a norma italiana, como é o caso do art. 398 do Código Civil de
Portugal, que dispõe: “(...); 2. A prestação não necessita de ter valor pecuniário; mas
deve corresponder a um interesse do credor, digno de protecção legal” 188, é certo que o
caráter econômico da prestação sempre esteve presente na definição dos elementos que
integram as relações jurídicas obrigacionais. A razão para ser assim, parece advir da
noção de garantia, que acompanha as relações obrigacionais e que recaem,
necessariamente, no patrimônio econômico do devedor. Isso porque não se pode admitir
que ele responda com a sua pessoa, evitando sua “coisificação” ao ser reduzido a objeto
de segurança da obrigação189. Nos dias atuais, com a tutela, constitucionalmente
assegurada, da integridade física e da liberdade de ir e vir, somente sobre o patrimônio
econômico do devedor poderá recair a garantia das obrigações.
A solução encontrada no ordenamento jurídico, para assegurar os interesses do
credor, induz o pensamento de que bens materiais e dinheiro só poderiam substituir
prestações que também fossem patrimonialmente valoradas.
É assim que Caio Mário190 defende sua posição pela patrimonialidade das
prestações debitórias. Para ele, poderiam ser levantados, em defesa de sua tese, dois
argumentos: o primeiro, no sentido de que, se a lei estabelece a possibilidade de
converter a prestação em equivalente pecuniário (perdas e danos), caso ocorra o
inadimplemento, resta claro que a prestação, ainda que não lhe seja fixado um valor, o
tem implicitamente. O segundo argumento tem por base a ideia de que a pecuniariedade
da prestação, torna mais clara a diferença entre as obrigações em sentido técnico,
daqueles deveres que são indiferentes ao direito, como por exemplo, o dever de
fidelidade conjugal.
ITÁLIA.Il Codice Civile. Disponível em: http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib4.htm,
Acesso em 18 de julho de 2011.
188
PORTUGAL. Código Civil. Disponível em: http://www.portolegal.com/CodigoCivil.html. Acesso em
18 de julho de 2011.
189
Shakespeare abordou o tema em sua obra, criando o personagem de Antônio que, para ajudar seu
amigo Bassanio, em um empréstimo junto ao judeu Shylock, que viabilizaria conquistar uma donzela, se
oferece como fiador, colocando 1 libra de sua própria carne como garantia. SHAKESPEARE, William.
The Merchant of Venice. In: The Complete Works of William Shakespeare. New York: Gramercy
Books, 1990, p. 203-228. Saindo da ficção, encontramos em nossas raízes culturais/jurídicas, a lei das
XXII tábuas, permitindo, em sua tábua terceira, que o devedor inadimplente, depois de preso (liberdade),
fosse, ainda, exposto em praça pública (reputação), e se ainda não houvesse o pagamento da(s) dívida(s),
a lei autorizava sua morte seguida de esquartejamento (vida). Disponível em:
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/12tab.htm. Acesso em: 29 de Abril de 2012.
190
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Atualização: Guilherme Calmon. 22
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 22-23.
110
Posição parecida com a de Caio Mário, tem Ruggiero, que afirma que o que não
se deve confundir é interesse com prestação. Para ele, independente do caráter
econômico ou não, do interesse, a prestação, necessariamente deve apresentar conteúdo
patrimonial. Isso por que, se assim não fosse:
(...)
faltaria ao interesse do credor a possibilidade concreta de se exercer, na falta de
cumprimento, sobre o patrimônio do devedor e, por outro lado, incluir-se-ia no
conceito jurídico da obrigação, uma série de obrigações que, posto que contraindo-se
todos os dias na vida social, nunca ninguém pensou em fazer valer mercê da coação
judicial.191
Paulo Lôbo192, na primeira versão de seu livro de obrigações, admitia o interesse
puramente moral na prestação, no entanto admitia que esta última devesse ser suscetível
de valorização econômica, apesar de reconhecer o posicionamento diverso, em Pontes
de Miranda, como será visto adiante.
3.3.3 Repersonalização do Direito das Obrigações
Apesar de fazer parte da temática da Constitucionalização do Direito Civil,
poucos autores aprofundam o estudo do fenômeno da repersonalização no âmbito do
direito das obrigações. Paulo Lobo é um desses poucos autores que se dedicam ao
estudo da centralização da pessoa nas razões (logos) do direito obrigacional
contemporâneo. Ainda vivendo um período de transição, já que são séculos de tradição
patriarcal e patrimonial, não é tão fácil incluir e salientar interesses não econômicos,
neste ramo que sempre foi, e ainda é, marcadamente, patrimonializado.
Para o autor, o processo de constitucionalização do direito privado, no caso
específico do direito das obrigações, consiste em elevar ao plano constitucional, os
princípios fundamentais desse ramo do direito, ficando vinculada, a interpretação das
regras obrigacionais, de acordo com as diretrizes constitucionais. E isso vale, tanto para
o cidadão quanto para o Estado. Assim, a proteção dos vulneráveis, a equivalência
material, a boa-fé e a solidariedade, seriam exemplos daquilo que devem integrar e
191
RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil. Tradução: Paulo Bernasse. 6 ed. Campinas:
Bookseller, 1999, p. 49.
192
LÔBO, Paulo. Direito das Obrigações. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 16.
111
nortear as relações obrigacionais, tudo baseado no princípio antecedente, da dignidade
humana.
A patrimonialização das relações obrigacionais, no sentido de primazia, é
incompatível como os valores fundados na dignidade da pessoa humana, adotados
pelas Constituições modernas, inclusive pela brasileira (art. 1º, II). A
repersonalização reencontra a trajetória da longa história da emancipação humana,
no sentido de repor a pessoa humana como centro do Direito Civil, ficando o
patrimônio a seu serviço. O direito das obrigações, ainda que essencialmente voltado
às relações econômicas da pessoa, tem relação com essa função instrumental, além
de estar conformado aos princípios e valores constitucionais que a protegem. 193
Apesar de ser mais compreensível verificar a presença do fenômeno da
repersonalização, na interpretação de algumas normas de direito de família, já que é no
contexto familiar que se desenvolve e realiza a personalidade de seus integrantes, isso
não significa dizer que a prevalência dos interesses que se voltem às pessoas enquanto
tais, não se verifique nas normas regulatórias de relações jurídicas tradicionalmente
patrimonializadas.
A repersonalização acontece em todo direito privado, implicando também
observá-la
no
direito
obrigacional,
principalmente,
após
o
reconhecimento
constitucional do patrimônio jurídico existencial (direitos da personalidade) que, ao ser
violado, dá origem à obrigação de indenizar, ressaltando a tutela da pessoa em sua
personalidade, mesmo que inexista qualquer perda de ordem econômica em seu
patrimônio jurídico.
Percebe-se, assim, que não se pode mais afastar a dignidade humana dos ideais de
justiça, impondo que a pessoa percebida como ser social e não mais, como o indivíduo
que dava suporte as ideias liberais, tenha protegido os seus interesses econômicos
porque estes também fazem parte do projeto existencial constitucionalmente perseguido
e, não apenas, pelo interesse material isolado que não condiz com uma sociedade que se
pretenda justa e solidária.
Assim, com a mudança de paradigmas, a partir da noção de repersonalização, a
limitação de interesses que engessa o direito das obrigações no ambiente patrimonialista
tradicional, não se adequa ao pensamento contemporâneo de justiça, devendo ser
revisitado e interpretado sob a iluminação dos princípios constitucionais, sobretudo
observando a concretização dos direitos fundamentais que irradiam da ideia de
dignidade humana.
193
LÔBO. Paulo. Direito Civil. Obrigações. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 17.
112
3.3.4 Interesse Puramente Moral e o Reconhecimento da Prestação Debitória
Desprovida de Conteúdo Econômico
Com a relocação da pessoa no centro do ordenamento, considerada enquanto
integrante da sociedade e cuja dignidade deve ser protegida como princípio republicano,
surge a urgência de repensar as técnicas jurídicas que se voltavam, tradicionalmente e
exclusivamente, para os interesses econômicos, para acomodar os interesses existenciais
que foram alçados ao grau de maior importância no ordenamento brasileiro. Essa
releitura passa, necessariamente, pelo direito das obrigações.
De acordo com Pontes de Miranda, não é necessário o requisito da
patrimonialidade para que uma prestação seja considerada uma prestação debitória
regulada pelo direito das obrigações. Inclusive, ainda que tenha feito tal afirmação
décadas passadas, enfatiza não ser a única voz nesse sentido. Conforme o autor, a tese
que advoga pela existência de prestações puramente morais, já seria aceita de maneira
indiscutível na sociedade. Em suas palavras: “Longe vai o tempo em que se não atendia
ao interesse somente moral da prestação, em que se dizia que a prestação tinha de ser
patrimonial”194.
Pelo fato de ainda se discutir, décadas depois, a pertinência do conteúdo moral das
prestações debitórias, soa estranha a forma enfática como Pontes de Miranda afirmava o
seu posicionamento. É inegável a vanguarda do jurista alagoano, que parecia antever
que as ideias que hoje estão em construção, rumam para as definições previamente
expostas em suas obras.
A esperança de ver reconhecidas, de maneira inconteste, as afirmações acima
apresentadas, decorre da incoerência de pensar diferente, contrariando a tutela de
interesses puramente morais, sobretudo quando temos, na Constituição Federal de 1988,
a dignidade da pessoa humana, como um dos fundamentos da República e, por força
disso, o reconhecimento e a garantia dos vários direitos fundamentais, primordialmente
existenciais. Ainda, a tutela dos direitos não econômicos que decorrem da personalidade
no Código Civil (arts. 11 ao 21), a extensão dessa tutela, no que couber, às pessoas
jurídicas (art. 52), a definição de ação ou omissão que gera dano exclusivamente moral,
194
PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Rio de Janeiro:
Borsoi, 1971, t. XXII, p.40.
113
como ato ilícito (art. 186), a reparabilidade dos danos causados por ato ilícito (art. 927),
etc.
É perfeitamente possível encontrar interesses não econômicos, seja no momento
patológico, de lesão ao patrimônio imaterial, como também, no exercício da autonomia
privada, ao participar de negócios jurídicos, como por exemplo a contratação de um
professor de violão para o fim exclusivo de realizar-se, pessoalmente, em uma
experiência puramente agradável.
O interesse, no entanto, não é o ponto controvertido da discussão, tendo em vista
que a grande maioria dos autores reconhece a possibilidade de protegê-lo, desde que
seja útil, relevante e digno de tutela. A proteção do Estado não lhe seria negada, ainda
que na ausência de qualquer conteúdo econômico. Não é difícil aceitar o interesse moral
na prestação, mas, o conteúdo exclusivamente moral da prestação debitória.
A crítica de Pontes de Miranda, conforme exposto no item anterior, recai no
argumento da necessidade da patrimonialidade na prestação, justificado pela garantia do
adimplemento, que recai no patrimônio econômico do devedor. Para ele, a
ressarcibilidade do dano sofrido pelo credor e causado pelo descumprimento da
prestação a que estava obrigado, conduz ao comprometimento de seu patrimônio em
execução forçada, o que não caberia para outros deveres jurídicos, exatamente por não
serem considerados estes deveres, obrigações em sentido estrito. No entanto, reconhecer
o conteúdo da prestação, a partir da responsabilidade civil, não tem sentido, uma vez
que lança mão da indenização como ato de justiça, na fórmula: “se há inadimplemento,
ressarce-se, pois há ressarcibilidade”, propiciando, na verdade, uma inversão, tornando
“prius o posterius: se não há ressarcibilidade, não houve obrigação”.195
Outro argumento de resistência, desta vez, criticado por Fernando Noronha
consiste em considerar a dificuldade, para o credor, de provar que tais obrigações sejam
verdadeiramente jurídicas e não se tratem de obrigações de outras naturezas, como por
exemplo, aquelas sociais196, como se a dificuldade para provar, subtraísse a juridicidade
da norma.
É indiscutível, hoje em dia, a pertinência da indenização para os danos sofridos
pela pessoa, ainda que inexistam prejuízos de ordem econômica, mas, tão somente em
195
PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Rio de Janeiro:
Borsoi, 1971, t. XXII, p. 41.
196
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 43.
114
sua esfera moral. Ainda assim, Caio Mário, defendendo a patrimonialidade da
prestação, alega que o fato de o direito reconhecer a indenizabilidade do dano moral,
não significaria outra coisa que não, não ser indiferente ao ilícito, ainda que dele
decorram prejuízos tão somente morais. Para ele, a indenização como ressarcimento
pecuniário, não precisa seguir uma equivalência valorativa em relação ao bem jurídico
ofendido, “antes da fixação da prestação, não existia um fato econômico, da mesma
forma que antes da criação voluntária de uma relação obrigacional, podia não existir”.197
Não se pode discordar que o Estado não se deve omitir diante de qualquer ilícito,
sob a alegação de que o interesse lesado não tinha valor econômico, no entanto, não
parece sensata a afirmação de que a indenização deverá ser sempre, pecuniária. A
patrimonialidade não está no cerne da ideia de indenização, no entanto, a utilização
dessa palavra induz a esse pensamento, já que significa “tornar indene”, ou seja, “tornar
sem dano”, ou ainda, voltar ao estado quo ante, o que é possível quando aquilo que se
perdeu é reposto por ser substituído por outro equivalente ou pela quantia em dinheiro,
que corresponda ao seu valor subtraído.
Aplicar uma indenização, neste sentido, sendo o dano, moral, seria impossível,
primeiro pela infungibilidade do bem lesado (vida, honra, liberdade, reputação, etc.),
depois, pela ausência de valor econômico que justifique cobrir com o pagamento de
uma indenização em dinheiro. O que se chama de indenização, no dano moral, deveria
se chamar apenas reparação, pois significa uma maneira de compensar a vítima, a partir
de uma resposta que, ao mesmo tempo signifique “punição” e “desestímulo” para o
ofensor, não restando abandonada, a vítima, ao vazio de ver seu direito impunemente
ferido, por ser valorado unicamente, pela dignidade.
Um exemplo esclarecedor, levantado por Fernando Noronha198, para provar a
existência de prestações puramente morais, a partir de um dano moral, está no caso de
alguém, que tenha maculado a reputação e a imagem alheia, por lançar inverdades em
público, poder sofrer uma condenação que o obrigue a se retratar, também em público.
Percebe-se, claramente, a plausibilidade desta resposta, assim como a total ausência de
qualquer conteúdo econômico na reparação, esvaziando o argumento que justifica a
197
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Atualização: Guilherme Calmon. 22
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 22-23.
198
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 43.
115
necessidade de patrimonialização das prestações debitórias pelo fato de que a
responsabilidade civil e as garantias serão, necessariamente, econômicas.
Ressalte-se que as obrigações civis de conteúdo moral, não se limitam ao
momento da reparação dos danos, devendo ainda, serem reconhecidas como tais, no
momento de garantir que direitos sejam satisfeitos, pela exigibilidade das condutas
necessárias para tanto, evitando inclusive, se chegar ao extremo da condenação em
perdas e danos. O ordenamento jurídico brasileiro fornece uma série de mecanismos
processuais que podem, perfeitamente, ser utilizados para conferir eficácia às normas
geradoras de direitos existenciais, buscando assegurar o cumprimento de prestações não
adimplidas, e ainda possíveis e úteis para o titular de tais direitos, como por exemplo, a
multa cominatória, que é aplicada, não por força de uma patrimonialidade da prestação,
mas, para conferir força à ordem.
Fernando Noronha199 comungando tal pensamento lembra que hoje, além da
condenação à indenização, o direito oferece outros recursos, como por exemplo: a
execução específica; a realização do fato por terceiro; a multa cominatória. Assim, jogase por terra qualquer tentativa de afirmar a impossibilidade de utilização de formas de
coerção jurídica para os casos em que a prestação debitória não seja avaliável
pecuniariamente.
Negar a utilização de meios como esse, para exigir o cumprimento das condutas
necessárias à realização dos direitos existenciais juridicamente conhecidos e tutelados, é
negar a evolução mais importante que a humanidade ousou iniciar neste último século,
elevando os direitos humanos (ou direitos fundamentais) ao mais alto grau de
importância quando da aplicação dos direitos. Tirar a pretensão, negando a exigibilidade
de tais prestações, restringindo a tutela, apenas ao direito de ver reparados os danos
quando sofridos e caso venham a ser reconhecidos como perdas indenizáveis,
significam reduzi-los a uma condição de desimportância injusta e inconstitucional, uma
vez que desprovidos de qualquer eficácia.
Em seu mais recente livro de Obrigações, Paulo Lobo200 já não afirma a
necessidade de se conferir patrimonialidade à prestação. Antes, apresenta vários
argumentos baseados em juristas de escol como Pontes de Miranda, Karl Larenz e
199
200
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 41-42.
LÔBO. Paulo. Direito Civil. Obrigações. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 63-64.
116
Antunes Varela, no sentido de mostrar a realidade contemporânea brasileira, mais
próxima, quanto ao tema, do ordenamento português, do que do italiano.
Para Pontes de Miranda, “no sistema jurídico brasileiro, não se pode introduzir a
regra jurídica italiana. Se a prestação é lícita, não se pode dizer que não há obrigação
(=não se irradiou) se a prestação não é suscetível de valoração”.201
Fernando Noronha202 lembra ainda, que existem inúmeros exemplos de negócios
jurídicos com prestações debitórias sem valoração econômica, como por exemplo: a
procuração para inscrição em concurso, ou ainda, a obrigação de restituir álbum com
velhas fotos de família, que esteja em poder de alguém, em razão de empréstimo; a
obrigação constante em alguns condomínios, de não permitir que, ali, sejam criados
animais, etc.
O que importa, para caracterizar uma prestação como objeto de obrigação, é saber
se o direito é, ou não, digno de tutela, “não é o fato de as obrigações normalmente
dizerem respeito a necessidades econômicas que impedirá a aplicação das respectivas
normas para atender a necessidades afetivas e outras, mesmo quando não exista uma
contraprestação, nem se tenha fixado uma cláusula penal.”203
3.4 Inserção de Normas Obrigacionais nas Relações de Família
Ainda que se supere o problema de admitir no direito das obrigações, em seu
sentido estrito, as relações jurídicas que abriguem interesses e prestações debitórias não
econômicas, isso não seria suficiente para incluir os direitos existenciais originados do
direito de família, na técnica do direito creditório, apesar da relevância de tais
interesses.
Ainda pesa sobre o direito brasileiro e sua interpretação, a cultura do passado, que
tutelava, principalmente, a instituição da família, sobretudo a matrimonializada e era
patriarcal e patrimonialista, exercendo uma influência tão forte e impregnada, que
pensar em mudanças ou intervenções, equivocadamente gera mais insegurança do que
conforto.
201
PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Rio de Janeiro:
Borsoi, 1971, t. XXII, p.41.
202
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 44.
203
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 45.
117
O próprio Fernando Noronha, apesar de toda a defesa quanto à pertinência das
prestações debitórias puramente morais, classifica o direito das obrigações como o
“ramo do direito que regula o processo social de produção e distribuição de bens e
prestação de serviços”,204limitando a relação jurídica obrigacional à presença de um
credor, com interesse sempre passível de ser classificado em expectativas originadas em
negócios jurídicos; interesse na reparação de danos e, por fim, interesse na reversão para
seu patrimônio, daquilo que foi acrescido indevidamente no patrimônio de outrem,
quando deveria estar no dele.205
Seguindo este raciocínio, o direito das obrigações regularia situações decorrentes
de negócios jurídicos, da responsabilidade civil e do enriquecimento sem causa.
Paulo Lôbo também expõe sua opinião neste sentido, afirmando que:
No âmbito do direito privado, as obrigações de direito de família não correspondem
aos pressupostos das obrigações em sentido estrito, especialmente as de caráter
genuinamente pessoais, como os deveres comuns dos cônjuges ou os deveres dos
pais em relação aos filhos; até mesmo as obrigações alimentares entre parentes, ou
entre cônjuges ou companheiros, ainda que de caráter econômico, refogem às fontes
reconhecidas do direito das obrigações, porque dizem respeito diretamente à tutela
jurídica das pessoas206.
O argumento de que as obrigações de direito de família não se confundem com as
regras do direito das obrigações, por se voltarem diretamente à tutela jurídica das
pessoas, nega o reconhecimento já sedimentado no ordenamento jurídico brasileiro, do
instituto da responsabilidade civil por dano moral, principalmente, quando se considera
o dano moral, a violação a direitos de personalidade, conforme ensina o mesmo autor207.
Outro argumento, também muito utilizado, para justificar que as normas do direito
das obrigações não se aplicam às relações de família, é o que aponta, na própria
legislação civil, consequências específicas, para os casos de descumprimento dos
deveres jurídicos típicos daquelas relações, como por exemplo, no poder familiar,
conforme prescreve o artigo 1.638, o descumprimento dos deveres parentais, pode
acarretar inclusive, a própria perda do poder, por decisão judicial, desde que verificadas
as hipóteses previstas em seus incisos e que consistem: 1. no castigo imoderado
204
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 08.
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 21.
206
LÔBO. Paulo. Direito Civil. Obrigações. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 25.
207
LÔBO.
Paulo.
Dano
Moral
e
Direitos
da
Personalidade.
Disponível
em:
http://jus.uol.com.br/revista/texto/4445/danos-morais-e-direitos-da-personalidade Acesso em 21 de julho
de 2011.
205
118
aplicado no filho infanto-adolescente; 2. no abandono, 3; em atos praticados, contrários
à moral e aos bons costumes e, por fim, 4; na reiterada reincidência de práticas
justificantes de outras medidas, entre elas, a suspensão do poder familiar e que estão
apresentadas no texto do art. 1637 do Código Civil, cuja redação é a seguinte:
Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles
inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente,
ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança
do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à
mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a
dois anos de prisão.
Considerar, por consequência do descumprimento dos deveres parentais, apenas a
suspensão ou a perda do poder familiar, retirando o direito de, antes de tais medidas,
exigir o cumprimento das condutas impostas pela lei civil, não somente, enfraquece a
essência dos deveres parentais, como, também, esvazia os direitos dos filhos crianças
e/ou adolescentes, ainda que a Constituição Federal fale em prioridade absoluta na
satisfação dos interesses juridicamente reconhecidos como necessários na formação da
personalidade destes.
Manter o raciocínio jurídico tradicional pode significar a comodidade para pais
irresponsáveis, afastando o sentido de efeito negativo, tendo em vista que ao perderem o
poder familiar, esses maus pais e mães estarão, na verdade sendo “alforriados”,
liberados
de
encargos
que
não
querem
assumir,
consistindo
a
sanção,
contraditoriamente, em um benefício para aqueles que descumprem seus deveres.
Essa maneira de organizar o direito, ainda confere maior ênfase na situação
jurídica dos pais, encobrindo os próprios interesses dos filhos, ajudando a manter a
confusão quanto à própria definição de PODER familiar, imbuído, ainda, do espírito de
um Pátrio Poder que já devia estar morto, mas, prova-se bem vivo.
A prevalência, em algumas circunstâncias, dos direitos dos pais sobre os
interesses dos filhos no poder familiar, fica muito clara quando da aplicação destas
sanções que ainda são mantidas na normativa do direito civil, como as mais graves
consequências do descumprimento das funções parentais. Considerando as relações do
poder familiar com ênfase no poder paterno/materno, a privação destes poderes,
realmente, surtiria o efeito desagradável da falta. No entanto, a noção contemporânea de
119
família, impõe um poder familiar que enfatize os deveres e as responsabilidades
parentais na realização dos interesses prioritários dos filhos menores e assim, a
manutenção quase que exclusiva daquelas sanções, significaria, antes, a liberação do
munus que interessa a toda a sociedade, sendo ainda, um prêmio para aqueles que
negligenciam seus filhos, crianças e adolescentes.
Argumentar que é mais saudável para a formação equilibrada da criança e do
adolescente, o afastamento desses “maus pais”, não deixa de ser pertinente, é claro. No
entanto, não pode servir para tirar, nas circunstâncias que lhes forem favoráveis, a
pretensão que fortalece e permite a tutela de seus direitos, exigindo que seus pais
cumpram suas funções, sobretudo a partir da convivência familiar, já que é somente na
proximidade, que se viabiliza o cumprimento dos demais deveres parentais.
Também não parece adequado afirmar que os instrumentos jurídicos próprios do
direito obrigacional, não cabem nas relações de família, pois seria desconsiderar a
própria legislação civil e processual civil vigente.
Veja-se nas regras do código civil, no que se refere ao poder familiar, a presença
do inciso I do artigo 1.634, que impõe o dever dos pais, de dirigir a criação e educação
de seus filhos. Considerando o aspecto material necessário ao desempenho desse mister,
junta-se o artigo 1.694, que determina que os parentes (e também, os cônjuges e
companheiros) têm o dever de prestar alimentos àqueles que necessitem para viver, com
base em sua condição social, inclusive para atender necessidades educacionais.
Lembrando, ainda, dos recentes alimentos gravídicos da Lei 11.804/2008, percebe-se
que os procedimentos cabíveis para o exercício da pretensão nesses casos, não são
outros, que não, os decorrentes do direito das obrigações.
Faz prova ainda, que o tema é inserido no direito das obrigações, apesar de se
tratarem de relações de família, o fato de que a regra jurídica que regula o instituto da
“compensação” (Livro I da parte especial do Código Civil, art. 373, inciso II),
reconhecendo a natureza creditória dos alimentos, afasta a utilização de tal forma
indireta de adimplemento, tão somente por causa de sua natureza relevante, vez que se
volta a garantir a sobrevivência do credor e por isso, devem ser adimplidos diretamente.
Ressalte-se que o Código Civil, neste tema, não limita o tipo de crédito, sendo
então, considerado de maneira geral, incluindo tanto os alimentos decorrentes da
responsabilidade civil, como aqueles decorrentes do direito de família.
120
Diante da relevância do direito a alimentos, a garantia legal de que o crédito será
realizado, está na possibilidade de acionar o devedor, valendo-se da execução forçada,
regulada pelo atual Código de Processo Civil, nos artigos 732 a 735, existindo, como
meio de conferir força à ordem, a possibilidade de prisão do devedor, pelo prazo que vai
de 1 (um) a três (meses), em caso de não pagamento e nem escusas (artigo 733, § 1º do
CPC), além da possibilidade de ser privado de seu patrimônio penhorável.
A prisão do devedor de alimentos está, também, presente no art. 5º da
Constituição Federal de 1988, em seu inciso LXVII e não corresponde a uma forma de
punição pelo descumprimento de seu dever de alimentar. Não é satisfativa para o credor
que continua no seu direito de seguir exigindo a prestação necessária para a manutenção
de sua vida. A prisão, nos casos de dívidas de alimentos, serve como mecanismo
utilizado para forçar o cumprimento da prestação devida e não paga, como fica claro na
leitura do § 2º do artigo 733 do CPC: “o cumprimento da pena não exime o devedor do
pagamento das prestações vencidas e vincendas.”208
Diante do que foi exposto, não é possível dizer que não se tratam de obrigações
em seu sentido mais técnico, originadas em relações jurídicas próprias do direito de
família. Todos os elementos estão presentes: crédito, dívida, prestação, vínculo jurídico,
pretensão e, necessariamente, obrigação. Contrariando grande parte da doutrina acerca
das fontes de obrigações, os alimentos devidos em razão das relações de família,
principalmente aquelas decorrentes do poder familiar, não decorrem de negócios
jurídicos, como também não correspondem às hipóteses de responsabilidade civil ou de
enriquecimento sem causa. Assim, presentes todos os elementos, só não se consideram
verdadeiras obrigações, por questão de vontade, ou falta dela.
Fernando Noronha, ainda que se mantenha fiel às fontes apontadas em seu livro
(negócios jurídicos, responsabilidade civil e enriquecimento sem causa), não nega a
aplicação de suas regras no âmbito das relações de família, esclarecendo sua
208
No momento de redação desta tese (19/10/2011), tramitava no Congresso Nacional o projeto de
alteração do Código de Processo Civil, encontrando-se na Câmara dos Deputados, depois de sofrer
diversas alterações no texto original, por parte do Senado Federal, onde tinha a numeração de PL
166/2010. Com relação ao tema, nas alterações do relatório geral do Senado, está mantida a prisão civil
do devedor de alimentos, com a seguinte redação: “art. 514. No cumprimento de sentença que condena ao
pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixa alimentos, o juiz mandará
intimar pessoalmente o devedor para, em três dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início
da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de
efetuá-lo. § 1º Se o devedor não pagar, nem se escusar, o juiz decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de um a
três meses. § 2º O cumprimento da pena não exime o devedor do pagamento das prestações vencidas e
vincendas. § 3º Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão”.
121
compreensão através da categoria “Obrigações não Autônomas”, que seriam aquelas
que surgem em e por causa de relações jurídicas de outras naturezas. Assim “nascem no
seio de relações jurídicas preexistentes, não obrigacionais, só existindo em função
dessas relações”.209
Essa classificação guarda uma boa lógica, tendo em vista as peculiaridades do
direito de família, sobretudo diante do envolvimento existencial e afetivo que as
relações de família suscitam. No entanto, não negando a utilização de procedimentos e
mecanismos obrigacionais para o exercício da pretensão, apenas confirma a tese que ora
se levanta.
Ainda é possível ir além. No que diz respeito aos Direitos das Crianças e
Adolescentes, não seria correto limitá-los apenas, ao âmbito de abrangência do direito
de família. Obviamente, que são direitos que se realizam primeiramente, a partir dessas
relações, até porque as próprias condições de incapacidade e vulnerabilidade trazem a
necessidade de serem superadas com o auxílio daqueles que tem maiores condições de
percebê-los. E presume-se que as pessoas mais próximas de uma criança, e por isso,
aptas a exercerem tal função, sejam seus próprios pais. Por isso, a inserção de tais
relações nas regras e princípios de direito de família, mas, sem esquecer a especialidade
que resultou em um estatuto próprio, como a Lei 8069/90, conhecido por Estatuto da
Criança e do Adolescente. Pode-se afirmar que os interesses das crianças e adolescentes,
como pessoas que são também, filhos de alguém, inserem-se com mais propriedade da
temática dos direitos humanos do que propriamente, dos direitos de família. A discussão
se mantém no âmbito familiarista, mais em razão do local onde tais interesses se
realizam do que mesmo, da essencialidade de tais direitos.
209
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 412.
122
CAPÍTULO IV
CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMO DIREITO E MEIO REALIZADOR DOS
INTERESSES EXISTENCIAIS NO PODER FAMILIAR.
4.1 Convivência Familiar para Construção e Realização da Personalidade. 4.2
Convivência Familiar como Direito Fundamental. 4.3 Conflito de Interesses
Fundamentais. 4.4 Ponderação de Interesses nas Relações Jurídicas Parentais. 4.5
Guarda Compartilhada como Garantia de Convivência. 4.6 Mediação. A Força do
Diálogo.
4.1. Convivência Familiar para Construção e Realização da Personalidade
Diante de tudo o que foi abordado nos capítulos anteriores, a partir da adoção da
técnica dos direitos subjetivos, é inegável a posição relacional dos filhos menores, como
titulares de pretensões nas relações parentais decorrentes do poder familiar, opondo-se à
superada ideia de mera sujeição, conforme acontecia na interpretação das regras do
antigo pátrio poder. Às pretensões dos filhos correspondem deveres jurídicos para os
pais, em igualdade, que objetivam a boa formação de pessoas saudáveis nos diversos
aspectos, seja social, físico e também, emocional.
A lógica de uma maior responsabilidade imputada aos pais justifica-se na
proximidade e na força do peculiar vínculo que existe entre eles e seus filhos, até porque
se trata de um vínculo central, que reflete no surgimento dos demais vínculos familiares.
Pelo aspecto central e primeiro, gerador de família, as relações parentais são reguladas
de maneira especializada, nas regras do poder familiar, não implicando, contudo, no
afastamento da importância de outros vínculos familiares. Sérgio Resende de Barros210
entende que o direito de família é o mais humano dos direitos, exatamente por dizer
respeito às mais íntimas relações humanas, assim, onde o humano mais se experimenta.
Dessa maneira, considerados na formatação de direitos humanos exercidos na família, a
Constituição Federal impõe, pela norma do art. 227, a responsabilidade na realização
dos interesses das crianças e adolescentes, à família (em sentido amplo), à sociedade e
ao Estado. Aos pais, conforme exposto, em razão da especial relação que justifica o
210
BARROS, Sérgio Resende de. Direitos Humanos da Família: dos Fundamentais aos Operacionais. In:
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.) Afeto, Ética, Família e o Novo Código Civil. Belo Horizonte:
Del Rey, IBDFAM, 2004 (p. 607-620), p. 607.
123
poder familiar, por força do art. 229, compete a responsabilidade imediata de cuidados
para com seus filhos.
A noção jurídica de família estendida, considerando a importância dos avós, tios,
primos, ressalta o papel da afetividade, somente possível na proximidade, indispensável
para a formação e realização das pessoas e, assim, a iniciar qualquer abordagem acerca
do direito/dever de convivência familiar, esta deve ser compreendida em sua maneira
mais abrangente, não se limitando à relação entre pais e filhos.
Se a família é o lugar de realização pessoal, o meio será pela convivência.
Princípios constitucionais como solidariedade e afetividade, considerados metas a serem
cumpridas, só guardam sentido nas relações humanas. Como os vínculos familiares têm
na ideia de permanência, uma característica que independe, inclusive, da vontade, a
convivência parece ser, inicialmente, uma circunstância natural, no entanto, sendo
regulada pelo ordenamento jurídico, por sua importante função na manutenção do
equilíbrio social. A convivência familiar passa a ser, também, uma circunstância cultural
e jurídica.
Ainda com o devido reconhecimento de sua importância, não é fácil conviver em
uma sociedade cada vez mais complexa. A velocidade com que as coisas acontecem,
trazendo com elas, necessidades também urgentes, segue minando a noção de
durabilidade nas relações, conflitando com a permanência que marca a maioria dos
laços familiares. A escassez de tempo dedicado ao outro enfraquece os laços,
conduzindo à fluidez dos amores cada vez mais líquidos, na expressão utilizada por
Bauman211. Nas relações de família, aquilo que seria naturalmente ou culturalmente
esperado, como a proximidade, a solidariedade, o cuidado e o afeto, passa a merecer
atenção secundária, pois, a cada um, é prioritário suprir as próprias carências, sempre
em busca de uma (re)construção de suas vidas que não para de se transformar.
Ao mesmo tempo, o reconhecimento jurídico da dignidade humana, da igualdade
material e da solidariedade, ressalta a vulnerabilidade de algumas pessoas, considerando
as circunstâncias vivenciadas, colocando-as em posição de dependência em relação a
outras. Na presença de vulneráveis, os aspectos jurídicos ressaltam em relação à própria
211
BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido. Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2003. Passim.
124
natureza, para que os interesses mais fundamentais daquelas pessoas estejam protegidos
e sejam garantidos.
No modelo jurídico brasileiro, considerando o instituto do Poder Familiar, os pais
são os primeiros responsáveis pela convivência, até porque não é possível cumprir os
deveres parentais sem a proximidade necessária. Por outro lado, também serão os pais,
titulares do direito de conviver com seus filhos, tanto para que possam cumprir seus
deveres parentais, como ainda, para que sejam realizadas suas próprias personalidades.
Nem ao pai, nem à mãe será permitido, por seu desejo apenas, praticar a exclusividade
que aliena, estando cada um, obrigado a facilitar a convivência de seus filhos com o
outro, de preferência de maneira equilibrada em uma igualdade quantitativa (em tempo)
e qualitativa (em convívio), assim como também, viabilizar a convivência de seus filhos
com os demais membros da família estendida.
A convivência é o cerne da própria experiência de família e, portanto, essencial a
qualquer modelo de entidade familiar, inclusive para fins de reconhecimento jurídico da
existência de alguns vínculos.
No passado, o nome e o patrimônio econômico eram considerados o centro
gravitacional da instituição familiar, marcadamente, na figura do casamento, mas,
atualmente, com o fenômeno da repersonalização, a dignidade humana é alçada à
condição de maior valor a ser perseguido, considerando cada indivíduo como parte do
todo social e salientando os interesses mais humanos e, com eles, a necessária tutela
jurídica do que seja existencial.
O caráter existencial da família, ou seja, a própria vivência familiar, é tão mais
importante do que os interesses econômicos ou as vinculações genéticas, que foi a
percepção dela, pelo mundo jurídico, que trouxe à baila nos últimos anos, toda a
discussão acerca da afetividade e sua influência no ordenamento nacional. Diante da
nova maneira de compreender família, torna-se perfeitamente pertinente a afirmação de
que, sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988, a família deixa de ser
considerada uma instituição, que valia por si só e por isso, merecia absoluta proteção do
Estado, para ser vista como instrumento, funcionalizada para promover a personalidade
de seus membros.212
212
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, Guarda e Autoridade Parental. 2 ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2009, p. 29. No mesmo sentido, TEPEDINO, Gustavo. A Disciplina Jurídica da Filiação, na
Perspectiva Civil-Dogmática. In: Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2008 (p. 473-518), p.
125
A convivência familiar, hoje também direito de família, representa bem esse
caráter existencial, ressaltando a vivência das relações familiares, tomando lugar do
antigo modelo estático institucional, bem ilustrado pela família nuclear do século XIX.
No conceito oferecido por Paulo Lôbo, a convivência familiar consiste na “relação
afetiva diuturna e duradoura entretecida pelas pessoas que compõem o grupo familiar,
em virtude de laços de parentesco ou não, no ambiente comum”. 213 Além de identificar
a convivência como fato de família, o autor também aponta a convivência como direito
de família, lembrando que a Convenção dos Direitos da Criança, no art. 9.3, nos casos
em que os pais são separados, aponta o direito de “manter regularmente relações
pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse maior
da criança”214.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, expressamente, aponta a convivência
como direito, até porque é a partir dela que se concretizam os principais interesses das
crianças e adolescentes, merecendo lugar de destaque no capítulo III do Titulo II que,
por sua vez, aponta a fundamentalidade dos direitos regulados nos capítulos que o
integram.
Perpassando o poder familiar, a convivência é o instrumento para o exercício dos
deveres parentais e assim, a proximidade que permite acompanhar os filhos e ser
exemplo de conduta, dirigir a educação e criar, vai ser necessária para exercer o munus
que é o próprio poder familiar. Sem convivência, somente os aspectos patrimoniais
poderão ser realizados, contrariando desta maneira, toda a nova hermenêutica do direito
de família a partir da orientação constitucional e tornando improváveis os objetivos que
justificam o próprio instituto do poder familiar.
Graças aos avanços tecnológicos, é possível manter a convivência, ainda que
exista uma distância física separando pais e filhos. Com o auxílio, sobretudo da internet,
quase sempre haverá um recurso virtual servindo para aproximar pessoas, não sendo
mais possível a alegação da distância física para que a convivência não se realize.
509, onde afirma que “a imagem da “família-instituição”, assim delineada, dá lugar à família
funcionalizada à formação e ao desenvolvimento da personalidade de seus componentes, nuclear,
democrática, protegida na medida em que cumpra o seu papel educacional, e na qual o vínculo biológico
e a unicidade patrimonial são aspectos secundários.”
213
LÔBO, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 52.
214
LÔBO, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 52-53.
126
4.2. Convivência Familiar como Direito Fundamental
O art. 227 da Constituição Federal de 1988 elenca a convivência familiar
enquanto direito, sendo possível considerá-la um direito fundamental, assim como os
demais que constam do mesmo enunciado normativo, ainda que expressamente, o termo
não esteja mencionado. Para Ana Carolina Teixeira, o artigo 227 seria mesmo, o “berço,
por natureza, dos direitos fundamentais do menor”215.
Segundo Marmelstein, “juridicamente, somente são direitos fundamentais aqueles
valores que o povo (leia-se: o poder constituinte) formalmente reconheceu como
merecedores de uma proteção normativa especial, ainda que implicitamente” 216.
Não basta, entretanto, constar da redação constitucional para se considerar um
direito fundamental. Na explicação de Robert Alexy217, para que um enunciado
constitucional seja considerado disposição de direito fundamental, faz-se necessário
observar a associação de elementos substanciais e estruturais que assim o apontem,
aqueles que constituem e fundamentam o próprio Estado. Deste modo, para Alexy,
“dizer que um direito constitui o fundamento do próprio Estado é expressar uma
definição substancial”218
No caso da constituição alemã, base da teoria de Alexy, considerando-se o Estado
Liberal, apenas o grupo de direitos individuais de liberdade fazem parte dos
fundamentos do Estado. Assim, em seu sentido estrito, direitos fundamentais seriam
aqueles que tivessem tal estrutura (dos direitos individuais de liberdade).
Ao mesmo tempo em que apresenta essa teoria, Alexy, aponta seus
inconvenientes, principalmente porque restringe os direitos fundamentais, a uma
determinada concepção de Estado que não se garante ser a mesma concepção da
Constituição Alemã. Desse modo, sugere que melhor do que basear o conceito de norma
de direito fundamental, em critérios substanciais e/ou estruturais é “vinculá-lo a um
215
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, Guarda e Autoridade Parental. 2 ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2009, p. 81.
216
MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.19.
217
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008, p. 66.
218
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008, p. 66.
127
critério formal relativo à sua positivação”219, assim, são disposições de direitos
fundamentais, todas aquelas que estiverem abrigadas no capítulo sob o título “Dos
Direitos Fundamentais”.
A Constituição Federal de 1988, além de reconhecer no Brasil, um Estado
Democrático de Direito, fundamentado na soberania, cidadania, dignidade humana, nos
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também no pluralismo político (art. 1º),
traça ainda, uma direção mais social, podendo-se verificar nos objetivos fundamentais
elencados em seu art. 3º: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a
garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização,
assim como a redução das desigualdades sociais e regionais e, ainda, a promoção do
bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
No texto constitucional nacional, pode se verificar as diferenças entre a estrutura
liberal sobre a qual está baseada a teoria de Alexy e a estrutura do Estado Brasileiro, que
conforma, por isso, seu próprio critério de fundamentalidade. Mas, conforme orientação
de Alexy, também será possível saber se um direito é fundamental, pelo critério formal
de verificação, partindo da positivação constitucional. O Brasil positiva como direitos
fundamentais, as normas contidas nos artigos 5º ao 17 estendendo esta compreensão, às
normas contidas em outros enunciados, por força do parágrafo 2º do mesmo art. 5º,
naquilo que Alexy chama, segundo denominação atribuída a Friedrich Klein, de
“disposições periféricas associadas”220.
George Marmelstein orienta a identificação dos direitos fundamentais, naqueles
positivados constitucionalmente, com embasamento ético que se firme na dignidade da
pessoa humana. Em suas palavras:
Os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de
dignidade da pessoa humana e de limitação de poder, positivadas no plano
constitucional de determinado Estado Democrático de Direito que, por sua
importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico. 221
219
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008, p. 68.
220
Friedrich Klein apud ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso
da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 68.
221
MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 20.
128
É mesmo possível afirmar que o legislador constituinte preferiu dispor os direitos
fundamentais, sobretudo os do artigo 5º, de maneira mais geral, retomando em outros
locais, conteúdos mais especializados, principalmente quando se relacionem à dignidade
de vulneráveis a exemplo das crianças, adolescentes e idosos.
Para Ana Carolina Teixeira, os direitos fundamentais também se encontram em
enunciados postos em diplomas diversos que especializem os comandos constitucionais,
como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Não há dúvidas de que os arts. 3º, 4º, 5º e 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente
também traduzem normas de direitos fundamentais. (...) os direitos fundamentais
não se esgotam no catálogo constitucional (Título II), bem como em dispositivos
esparsos do texto da Carta Magna, por força da norma aberta, esculpida no art. 5º, §
2º CF/88.222
Por força desses argumentos, não havendo dúvidas de que a convivência familiar
se trata de um direito, o seu caráter de fundamentalidade passa a ser inquestionável, pois
que se encontra regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo III do
título II que recebe, pertinentemente, o título “Dos Direitos Fundamentais”. É assim,
exatamente, por especializar o conteúdo do art. 227 constitucional.
Outro questionamento que pode ser levantado é com relação à eficácia horizontal
dos direitos fundamentais. O tema tem sido exaustivamente abordado pela doutrina,
podendo ser considerada, tranquilamente, a possibilidade de vinculação de particulares,
mas, apenas por excesso de zelo, faz-se necessário apresentar alguns argumentos
utilizados para esse entendimento. Segundo Wilson Steinmetz, os fundamentos que
servem de base argumentativa para tal vinculação, excetuando-se para aqueles cujos
destinatários sejam exclusivamente os poderes públicos, são: 1. o Princípio da
supremacia da constituição, que unifica materialmente o ordenamento jurídico pátrio; 2.
a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, sendo princípios que se projetam sobre
todo o ordenamento jurídico; 3. o princípio da dignidade da pessoa; 4. o princípio da
solidariedade e 5. o princípio da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais.223
222
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, Guarda e Autoridade Parental. 2 ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2009, p. 80-81.
223
STEINMETZ, Wilson. Princípio da Proporcionalidade e Atos de Autonomia Privada Restritivos e
Direitos Fundamentais. In: SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). Interpretação Constitucional. 1 ed. 2
tiragem. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 25.
129
Os direitos fundamentais justificam-se, não apenas pelas liberdades públicas,
significando o dever de o Estado se abster de violar os direitos humanos, mas antes, no
dever do Estado defendê-los ativamente de agressões e ameaças, ainda que sejam
provenientes de terceiros particulares.224
Na tese defendida por Andrea Galiza225, baseada em sólida doutrina, mas,
principalmente, na análise de decisões do Supremo Tribunal Federal, conclui-se que é
perfeitamente possível considerar a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com a
solução dos conflitos existentes nas relações jurídico-privadas, por decisões fundadas
exclusivamente em direito constitucional, não sendo necessário em muitos casos,
recorrer às normas de direito civil. No caso de ocorrer o conflito entre direitos
fundamentais de particulares, caberá ao decisor aplicar a técnica da ponderação que será
abordada logo adiante.
4.3 Conflitos de Interesses Existenciais Fundamentais
Embora no passado, os interesses patrimoniais tenham merecido destaque no
ordenamento jurídico, inclusive para o direito de família, figurando em posição de
primazia em relação a outros, o presente aponta para os interesses existenciais como
centro maior de interesses a serem tutelados e garantidos, principalmente por força de
sua base alicerçada na dignidade da pessoa humana. A família, sendo o primeiro
agrupamento capaz de realizar tais interesses e que no passado, tinha a importância
jurídica voltada para a instituição do casamento civil, afirma agora, a posição
privilegiada de locus de realização da dignidade humana, ressaltando a importância de
seus membros, que passam a figurar no núcleo justificante da proteção jurídica, não
importando mais a maneira como tenha sido constituída. Simbolicamente, é possível
ilustrar um centro onde estão as pessoas e os direitos inerentes a esta condição, e um
contorno onde gravitam todos os demais direitos, incluídos os patrimoniais, que
objetivam realizar o mais plenamente possível, aqueles interesses centrais.
A afirmação de que uma das principais funções das entidades familiares, aquela
que justifica a proteção jurídica, é a realização (aqui também entendida, a formação) da
224
Cf. SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2006. Passim.
225
GALIZA, Andrea Karla Amaral de. Direitos Fundamentais nas Relações entre Particulares. Teoria
e Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Belo Horizonte: Fórum, 2011. Passim.
130
personalidade de seus integrantes, aproxima e até confunde os interesses pessoais
realizados em família com a própria noção de direitos humanos, assim então, de direitos
fundamentais e, mais restritamente, de direitos da personalidade já solidamente
reconhecidos e tutelados pelo ordenamento jurídico nacional.
O Código Civil de 2002 caracteriza os direitos da personalidade em sua
intransmissibilidade e irrenunciabilidade. Paulo Lôbo226 complementa lembrando que
são, ainda, imprescritíveis, inexpropriáveis, indisponíveis e vitalícios. Caso não fosse
assim, não seria possível sequer, cogitar em dignidade, como realidade concretizável.
Cada indivíduo, ao nascer com vida e já por isso, adquire um conjunto de direitos,
independentemente de qualquer manifestação de vontade em auferi-los ou de vinculação
a relações jurídicas. São direitos inerentes à condição de pessoa, baseados na dignidade
humana, portanto, apresentando precedência sobre os demais. O conteúdo de direitos
humanos dos direitos da personalidade227 os confere a prerrogativa de serem
principalmente garantidos e perseguidos. Por cada um, por todos e para todos.
A principal base de fundamentação jurídica dos direitos da personalidade é a
própria Constituição Federal, abrigando ainda, os direitos humanos reconhecidos pela
comunidade internacional.
Em se tratando de relacionamentos familiares, por se voltarem à essência do
humano em ambiente social, pela estreita e quase sempre permanente vinculação muitas
vezes, não opcional, e pela forte carga emocional que carregam são cenários propícios
ao nascimento dos conflitos.
Somada a isso, a complexidade das relações humanas, sociais e culturais,
propiciada pelo século XXI e que nas sociedades democráticas e ocidentais, ainda
viabiliza que, na “esfera mais íntima da experiência humana”228, encontrem-se vínculos
que relacionam filhos de dois, três ou mais pares de pais diferentes229, onde a ideia de
226
LÔBO, Paulo. Direito Civil. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 140.
Ainda que se estendam, no que for cabível, às pessoas jurídicas (art. 52 do Código Civil), isto não
enfraquece a base humanista daqueles direitos. Na realidade, o legislador pretendeu conferir às pessoas
jurídicas, direitos não econômicos e vinculou-os aos direitos da personalidade pela coincidência de
conteúdo puramente moral (neste sentido, não econômico).
228
BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In:
BARROSO, Luis Roberto (org.) A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos
Fundamentais e Relações Privadas. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. (p. 49-118), p. 51.
229
BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In:
BARROSO, Luis Roberto (org.) A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos
Fundamentais e Relações Privadas. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. (p. 49-118), p. 51.
227
131
casal não se restringe, exclusivamente, à heterossexualidade e onde a primazia do
invólucro formal dá lugar à centralização da pessoa e seus mais fundamentais interesses.
Assim e paradoxalmente, com a implantação de uma democracia familiar em uma
humanidade que ainda não atingiu o grau civilizatório ideal, os conflitos permanecem
constantes e, quanto mais complexas forem as relações, maior a vulnerabilidade dos
envolvidos, ressaltando a urgência protetiva.
O acesso ao judiciário como direito fundamental, pelo exercício do direito de
petição, objetivando tutelar direitos diante da lesão ou ameaça de lesão é garantia
constitucional brasileira que poderia deixar de fora, os interesses mais essenciais à
condição do humano. Por isso mesmo, também, a noção de responsabilidade tem
merecido destaque, pela imposição de limites às condutas e assim, ao exercício dos
direitos, para que a plenitude de uns não corresponda ao injusto prejuízo de outros. A
necessária responsabilidade, que se pode considerar respaldada, também, no princípio
da solidariedade, restringe por si só, e em certo modo, o direito fundamental à liberdade.
De outra maneira, não seria possível viver em sociedade.
A família é o primeiro laboratório social que se vive e é nela que (espera-se) as
crianças aprendem a se relacionar, controlando seus desejos no aprendizado da vida
compartilhada. Nesse momento de crescimento e formação, a falta de experiência de
vida e a necessidade de apreendê-la, assim como, a total dependência de adultos que os
guiem rumo a um futuro saudável, a urgência de construir uma sociedade composta por
pessoas estruturadas que tenham condições de realizar seus principais objetivos,
justificam o télos das normas constitucionais que impõem o melhor interesse e a
proteção integral das crianças e adolescentes.
Nas relações parentais, juridicamente especializadas nas normas do poder
familiar, é da lógica contemporânea que pais e filhos sejam titulares de direitos
subjetivos, ressaltando para as crianças e adolescentes, a qualidade de direitos fundados
na pretensão e relacionados a deveres de condutas dos pais na realização dos interesses,
primordialmente, dos filhos que, assim, prevalecem e devem ser realizados à
integralidade.
Diferentemente do que acontece nas relações jurídicas negociais cujo interesse
patrimonial é destacado e é norteado por regras exclusivamente jurídicas, onde os
conflitos são mais claros e, por isso, mais facilmente solucionáveis, quando estes se
132
instalam nas relações de família, vários interesses jurídicos e não jurídicos se misturam
e isso obriga os profissionais envolvidos a desenvolverem uma sensibilidade necessária
à capacidade de conhecer direitos fortemente influenciados pela cultura, religião,
costumes e normalmente, impregnados de uma violenta carga emocional.
Conforme já foi dito, a responsabilidade que marca as relações sociais e jurídicas
da contemporaneidade entra em choque com a noção de liberdade, ao impor limites às
condutas, prevendo consequências negativas para os que causarem prejuízos às pessoas,
ainda que exclusivamente morais. Ao mesmo tempo, a liberdade é inserida como
princípio jurídico norteador do direito de família, que reconhece o direito, tanto de
iniciar como de dissolver entidades familiares, com base na vontade.
A liberdade não restringe sua força apenas às relações de conjugalidade e
companheirismo, sendo ainda, inegável sua influência nas relações parentais, pois é nela
que está apoiado o direito ao planejamento familiar. Ocorre que a liberdade no
planejamento familiar tem por objetivo, também, viabilizar a paternidade/maternidade
responsável, com a presunção de que é mais facilmente realizada, quando as relações se
iniciam espontaneamente. Assim, liberdade e responsabilidade se unem para que os
interesses existenciais dos filhos e também, dos pais, se realizem.
Nesse jogo de equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade, com a
contribuição de todos os elementos não jurídicos que exercem influência nas relações
familiares, inclusive nas relações parentais, são comuns os momentos em que o conflito
se instala.
É aqui que surge, atualmente, a importância do intérprete, para que o ordenamento
possa garantir a segurança jurídica necessária, em face da complexidade que marca os
dias de hoje.
Para Ana Paula Barcellos, a consequência pragmática mais visível diante da
complexidade das relações é a “ampliação quantitativa e qualitativa do espaço reservado
à interpretação jurídica e ao intérprete.”230
É a partir da interpretação e do domínio das técnicas de ponderação, observados
os critérios objetivos necessários para afastar a arbitrariedade, que os interesses
230
BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In:
BARROSO, Luis Roberto (org.) A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos
Fundamentais e Relações Privadas. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. (p. 49-118), p. 50.
133
existenciais, movimentando direitos fundamentais podem alcançar eficácia, ainda que o
conflito esteja instalado em relações vinculativas de particulares.
4.4 Ponderação de Interesses nas Relações Jurídicas Parentais
O importante papel da interpretação é salientado no momento em que ocorre o
choque de interesses, a fim de que a solução encontrada assegure e fortaleça os direitos
fundamentais. Para garantir a necessária segurança jurídica, é imperioso, então, que
sejam utilizados critérios objetivos que afastem o excesso de subjetividade e a escassez
de fundamentação técnica que propicia a arbitrariedade e o descrédito do judiciário,
sobretudo para tratar de questões de maior relevância existencial.
Como as normas que regulam o poder familiar têm forte conteúdo existencial e
que se referem a todos os sujeitos envolvidos, ao se instalar o conflito, a solução só
poderá partir da utilização de técnicas de interpretação e de ponderação de interesses. A
aplicação da técnica da subsunção, apenas, não é mais suficiente para garantir a tutela
de direitos tão complexos e que se apresentam em interesses tão peculiares para cada
caso concreto.
Inicialmente, para a boa utilização da técnica da ponderação, é necessário que se
faça a distinção entre princípios e regras. Segundo Alexy231, a distinção entre esses tipos
de normas jurídicas se apresenta, marcadamente, nos momentos em que ocorre a colisão
entre princípios e o conflito entre regras.
O conflito entre regras ocorre quando, em caso de aplicação isolada de duas
regras, isso acarretar resultados inconciliáveis entre si, gerando dois juízos concretos de
dever-ser jurídico contraditórios. Daí, em razão de uma estrutura mais definitiva das
regras, só seria possível solucionar de duas maneiras: ou se insere na regra uma cláusula
de exceção, a fim de eliminar o conflito, ou uma delas deverá ser considerada
inválida232. No caso de colisão de princípios, a solução será diversa, devendo um dos
princípios ceder à realização do outro, o que é possível por sua estrutura, não
implicando em invalidade, mas considerando, no caso concreto, a precedência de uma
norma em relação à outra.
231
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008, p. 91- 92.
232
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008, p. 92.
134
Segundo os pressupostos da teoria dos princípios, não se pode falar nem em
declaração de invalidade de um deles, nem em instituição de uma cláusula de
exceção. O que ocorre quando dois princípios colidem – ou seja, preveem
consequências jurídicas incompatíveis para um mesmo ato, fato ou posição jurídica
– é a fixação de relações condicionadas de precedência.233
No que pertine à possibilidade de entrarem em conflito, princípios e regras, na
análise de Ana Paula de Barcellos234, estas terão precedência em relação àqueles.
Apesar de parecer uma afirmação contraditória diante da importância atualmente
conferida aos princípios, considerando seu forte componente valorativo, a afirmação de
Ana Paula de Barcellos justifica-se na própria distinção estrutural entre princípios e
regras. Para a autora, o conteúdo das regras descrevem comportamentos, definindo os
efeitos determinados e específicos que pretende produzir no mundo dos fatos, não se
preocupando diretamente com as finalidades de tais condutas. Contrariamente, os
princípios estabelecem os objetivos, fins ideais, metas políticas que pretendam realizar,
sem definir as condutas para tanto235.
Conforme definição de Alexy236, princípios são mandamentos de otimização, que
podem por isso, ser caracterizados pela possibilidade de realização em graus variáveis.
Já as regras são normas que serão sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas.
Com base nesse raciocínio, as regras não poderão ser ponderadas, pois isto
implicaria em sua não aplicação, não sendo possível “aplicar mais ou menos uma
regra”237, o que explica sua precedência quando conflitarem com princípios.
Outro parâmetro adotado por Ana Paula de Barcellos traz a preferência dos
direitos fundamentais sobre as demais disposições normativas, justificada pela clara
233
SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais. Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia. São
Paulo: Malheiros, 2009, p. 50.
234
BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In:
BARROSO, Luis Roberto (org.) A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos
Fundamentais e Relações Privadas. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. (p. 49-118), p. 69-83.
235
BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In:
BARROSO, Luis Roberto (org.) A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos
Fundamentais e Relações Privadas. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. (p. 49-118), p. 71.
236
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008, p. 90- 91.
237
BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In:
BARROSO, Luis Roberto (org.) A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos
Fundamentais e Relações Privadas. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. (p. 49-118), p. 77.
135
opção que a Constituição Federal de 1988 fez pela “centralidade da dignidade humana
e, como uma sua decorrência direta, dos direitos fundamentais.”238
Assim, direitos fundamentais terão primazia, ao entrarem em conflito com outros
direitos que não se firmem, primordialmente, na dignidade humana.
Os interesses dos filhos menores, tutelados pelas normas do poder familiar, são
basicamente, interesses que animam os direitos mais fundamentais, tratando-se de
verdadeiros direitos humanos realizados primeiramente no âmbito das famílias e sob a
responsabilidade destas, de maneira mais imediata a partir de condutas imputadas aos
pais. Como essas condutas só poderão ser realizadas através da convivência familiar,
esta será ainda, direito e dever fundamental de família, conforme já foi aqui, abordado.
O conflito mais presente nas relações parentais se dá entre o direito fundamental à
convivência familiar e o direito fundamental à liberdade. No Brasil, nos casos que
envolvem interesses de menores, não será difícil aplicar a técnica da ponderação. Como
mandamentos de otimização, deverão ser considerados três princípios constitucionais,
para que se aplique a prevalência dos direitos das crianças e dos adolescentes, são eles:
o princípio do melhor interesse, o direito (com conteúdo principiológico) fundamental à
proteção integral e o princípio da paternidade/maternidade responsável.
Ainda que na teoria, possa ressaltar a impertinência de considerar tal conflito, já
que não se pode falar, propriamente, de direito à liberdade quando se está submetido ao
dever de conduta, na prática, ainda é forte a cultura, sobretudo machista, que “autoriza”
a liberação, normalmente do homem, da execução de suas responsabilidades paternas,
principalmente, quando os filhos não são frutos de relação afetiva e atual entre seus
pais. A confusão entre responsabilidade, afetividade e sentimentos também ajuda a
fortalecer essa pseudoliberdade sob o argumento de que ninguém está obrigado a amar,
inserindo equivocadamente, todo o conteúdo existencial do poder familiar em um
sentimento involuntário.
Às vezes, o direito fundamental à convivência familiar vai ceder, não porque deva
prevalecer a liberdade dos pais, mas, pela constatação de que o convívio possa ferir, no
caso concreto, os princípios balizadores do melhor interesse e da proteção integral das
238
BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In:
BARROSO, Luis Roberto (org.) A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos
Fundamentais e Relações Privadas. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. (p. 49-118), p. 109.
136
crianças e adolescentes. A impossibilidade de convivência imputada a um dos genitores,
ainda assim, não desobrigará da responsabilidade que é, também, do Estado e de toda a
sociedade.
4.5 Guarda Compartilhada como Garantia de Convivência
Muitas vezes, a dificuldade de convívio entre pais e filhos tem origem na ruptura
da vivência afetiva do casal e na falta de discernimento quanto à percepção de que se
tratam de diferentes tipos de relações jurídicas. A confusão que se instala,
frequentemente, entre a relação de um genitor com o outro e dos genitores com os
filhos, dificulta o cumprimento dos deveres parentais e afasta a realização dos interesses
mais fundamentais dos filhos. Também, a rapidez dos encontros e a fluidez fática dos
vínculos, tão comuns nos dias de hoje, podem contribuir para que o contato entre pais e
filhos seja cada vez menor. Não é raro que encontros eventuais formem vínculos
permanentes de co-parentalidade, trazendo para os envolvidos, deveres que impõem
uma proximidade que não havia sido planejada, momento em que a responsabilidade
deve se sobrepor ao afeto, sentimento que poderia ter sido o nascedouro e o esteio de
todas as relações familiares que surgem quando um ser humano nasce. Nesses casos, o
exercício das funções parentais pode configurar mais um fardo do que um prazer, o que
explica muitos afastamentos.
Já foi dito aqui, que os direitos das crianças e adolescentes enquanto integrantes
de relações jurídicas do poder familiar são direitos humanos inicialmente realizados na
família e viabilizados pela família, nas figuras do pai e da mãe. Como esses direitos
comportam interesses de conteúdo econômico (patrimonial) e não econômico
(existencial), alguns serão alcançados exitosamente por meio do acesso às coisas e
outros, a maioria, apenas por meio da vivência. Assim, as obrigações de cunho
exclusivamente patrimonial prescindem da comunicação e da proximidade física, no
entanto, não há como cumprir com as obrigações existenciais em um distanciamento
absoluto ou com uma proximidade mínima.
Como reflexo dos anseios da sociedade e objetivando o equilíbrio relacional,
diante da constatação da possibilidade de existirem casais que não coabitem e que
estejam vinculados tão somente, pelos filhos em comum, o legislador encontrou
fórmulas que se adequaram a alguns momentos da experiência social e que, exatamente
137
pela experiência, como pelas mudanças no próprio ordenamento jurídico, a exemplo da
força e do atual papel dos princípios constitucionais, precisam ser revisados para que
possam garantir o melhor interesse dos menores.
Inicialmente, com a lei que autorizou o divórcio no Brasil, na década de 70,
entendeu-se que os filhos menores deveriam ficar sob a guarda unilateral da mãe,
quando sobre ela, não recaísse a culpa pela dissolução da estrutura matrimonial da
família. A preferência pela figura materna tem justificativas biológicas, sobretudo nas
primeiras idades dos filhos, dependentes do aleitamento para garantir um crescimento
mais saudável, bem como justificativas culturais, entendendo o papel feminino de
docilidade, ternura e inclinação ao cuidado, construído no cenário patriarcal já
comentado, e totalmente adequado à melhor companhia de seus filhos enquanto não
atingissem a idade adulta. A ideia de que a mulher teria uma natureza mais afetiva e
caseira, impõe a ela a responsabilidade emocional na criação de seus filhos, enquanto ao
homem, competia cumprir o seu papel de provedor, agora dos filhos e do lar dos filhos,
sendo um problema menor, a convivência limitada às visitas à prole, normalmente em
dias e horários determinados em decisão judicial.
Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, assumindo cargos e funções
relevantes de comando, como se constata atualmente, na própria presidência da
república, participando assim, ativamente, da vida extradoméstica, assim também, com
uma maior participação dos homens no cotidiano da família, poderia se esperar igual
divisão de tarefas e responsabilidades nos cuidados com a prole. No entanto, em nosso
país, apesar de uma democracia constituída em princípios que ressaltam a dignidade
humana, como a igualdade, continuam prevalecendo as decisões judiciais que concedem
a guarda unilateral às mães com visitações dos pais.
É possível, até, que o caso concreto, excepcionalmente, indique essa modalidade
de guarda como a ideal para garantir os interesses dos filhos menores, no entanto,
continuar a tomá-la por regra pode gerar o problema de repetir padrões de
comportamentos que se chocam com as conquistas principiológicas da constituição
vigente, como a perpetuação de uma cultura machista que agride hoje, tanto as mulheres
quanto os próprios homens, já que muitas vezes são afastados do direito/dever de
acompanhar emocionalmente e rotineiramente os seus filhos. Também é possível que,
para as crianças e adolescentes, a restrição do acesso aos pais, limitando-se às visitas em
dias e horas estabelecidos, seja uma decisão a lhes tolher direitos e subtrair
138
possibilidades de realização pessoal, contrariando assim, o principal objetivo do poder
familiar.
Os princípios constitucionais, como normas jurídicas que não são subsidiárias às
regras, apontam que o caminho do ordenamento brasileiro, em questão de parentalidade,
deve ser outro. Se não pode existir discriminação em razão de gênero, devendo-se
garantir a igualdade entre homens e mulheres enquanto sujeitos de direito, e assim,
também responsáveis material e existencialmente quanto às pessoas dos filhos, a rotina
de se manter o modelo de guarda unilateral e feminina, como padrão, e não por
fundamentação suficiente para considera-la a melhor opção, é preconceituosa, injusta e
inadequada.
Se do caso concreto, for concluído que a melhor opção será pela guarda
unilateral, devem ser levados em consideração, aspectos que transcendem o sexo,
verificados objetivamente como melhores condições para exercê-la, devendo ser
observados os seguintes critérios, inseridos em enunciados normativos do Código Civil
pela Lei 11.698/2008 e que são: “I – afeto com relação ao genitor e ao grupo familiar; II
– saúde e segurança; III – educação” (incisos do § 2º do art. 1.583 do Código Civil).
O ideal, no entanto, para a melhor concretização dos interesses dos filhos,
prevalecendo a dignidade humana e a igualdade entre pai e mãe, será o
compartilhamento das responsabilidades naquilo que o legislador chamou de guarda
compartilhada. A Lei 11.698/2008, que esclareceu os critérios objetivos para a guarda
unilateral e veio, na realidade, inserir a modalidade compartilhada no ordenamento
jurídico nacional, esclarece a diferença entre os dois tipos de guarda em texto
recepcionado no caput do art. 1.583 do Código Civil que dispõe:
Art. 1.583 (...)
§ 1º. Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a
alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por guarda compartilhada a
responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que
não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.
Sílvio Neves Baptista ajuda a compreender melhor o significado da guarda
compartilhada (ou conjunta), já que parece que o legislador se refere à segunda de
maneira a, aparentemente, confundi-la com o próprio instituto do poder familiar,
apontando dois diferentes tipos de guarda. Em suas palavras:
139
É importante estabelecer a distinção entre guarda jurídica, ou guarda propriamente, e
guarda física ou companhia. Enquanto a guarda jurídica consiste no dever de cuidar,
proteger, controlar e vigiar o menor, a guarda física é a custódia material ou fática do
filho, é, numa palavra, ter o filho em sua companhia 239.
Não se confundindo com outra modalidade de guarda, que seria a alternada (com
denominação autoexplicativa), que não é, na maioria das vezes, indicada por
profissionais de outras especialidades, como psicólogos e psicanalistas, a guarda
compartilhada não realça a posse, mas, a convivência compartilhada, viabilizada pelo
livre acesso dos filhos a seus pais, ainda que sua residência esteja fixada,
exclusivamente, no domicílio de apenas um deles.
Obviamente, para que a guarda seja compartilhada dessa maneira, é preciso que
exista a máxima cooperação entre os pais, portanto, maturidade e consciência de que se
trata de uma maneira mais adequada de viabilizar o crescimento saudável de seus filhos
em todos os níveis que se espera. Também é óbvio que nem sempre a relação pacífica
espontânea será possível, por isso alguns autores, a exemplo de Rolf Madaleno240
entenderem que a modalidade de guarda compartilhada não poderá ser forçada em
sentença judicial, ainda que não exista vedação legal para tanto.
O pensamento apresentado pelo autor gaúcho contraria a regra literalmente
expressa no Código Civil, com a redação da Lei 11.698/2008 que autoriza o juiz a
decretar a guarda compartilhada, para atender às necessidades específicas do filho ou
em decorrência da distribuição de tempo necessário para o convívio com seus pais (art.
1.584, II), assim como impõe que, sempre que for possível, seja aplicada a guarda
compartilhada, ainda que não exista acordo entre os pais no que pertine a guarda de seus
filhos (art. 1.584, § 2º).
Também é correto afirmar que a medida deve ser aplicada, quando não houver
oposição, ainda que inexista um acordo de compartilhamento e, sempre que necessário,
partir de uma percepção que não se limite ao campo do direito, devendo ser ouvidas as
opiniões de outros especialistas, como psicólogos e/ou assistentes sociais para que
aumente a probabilidade do acerto decisório na busca da proteção integral dos filhos.
239
BAPTISTA, Silvio Neves. Guarda Compartilhada: (breves comentários aos arts. 1.583 e 1.584 do
Código Civil, alterados pela lei nº 11.698 de 13 de Junho de 2008). Recife: Bagaço, 2008, p. 28.
240
MADALENO, Rolf Hanssen. Direito de Família em Pauta. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2004, p. 92
140
O rumo poderá ser outro, obviamente, quando se constatar a impossibilidade de
aplicação da guarda compartilhada pelos mais diversos motivos que podem variar do
aspecto geográfico, por exemplo, quando o pai ou mãe morar distante, em outra cidade,
estado ou até país, assim como a partir de aspectos emocionais, à existência de uma
relação turbulenta entre os pais, marcada por fortes e insuperáveis sentimentos
negativos. No entanto, isso não significa que na construção de uma decisão judicial,
face à ausência de espontaneidade entre os pais, não deva o juiz, primeiro, buscar
perceber as reais chances de manter intacto o direito fundamental à convivência
familiar, concretizando o interesse na guarda compartilhada.
Seguindo a orientação constitucional que no art. 227 imputa à família, à sociedade
e ao Estado, a responsabilidade de assegurar às crianças e aos adolescentes, entre outros,
o direito à convivência familiar, a finalidade da lei 11.698/2008 não se limita a inserir
no ordenamento jurídico brasileiro, a modalidade da guarda compartilhada, mas
também, impõe que seja ela, a regra praticada no melhor interesse dos filhos. Neste
sentido, a orientação de Belmiro Welter:
A regra geral será sempre a concessão da guarda compartilhada, independentemente
de haver acordo entre os pais, uma vez que está em jogo, em causa, em discussão, o
direito fundamental do filho à convivência integral e absoluta com ambos os pais, e
somente por exceção poderá ser deferida a guarda unilateral ou suspenso o direito de
convivência entre pais e filhos, mediante prévia comprovação de que essa decisão é
mais favorável à filiação241.
Também nesse sentido, Fabíola Albuquerque entende que a guarda compartilhada
deve ser a regra, independentemente de acordo entre os pais, já que a nova ordem
“impõe uma postura prospectiva do juiz, não condicionada a nenhuma situação prévia e
ideal acordada pelos pais. Afinal, não é a conveniência dos pais que deve orientar a
definição da guarda, mas, o interesse do filho.”242
241
WELTER, Belmiro Pedro. Teoria Tridimensional do Direito de Família. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009, p. 206.
242
ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. As Perspectivas e o Exercício da Guarda Compartilhada
Consensual e Litigiosa. In: Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM,
v. 07, n. 31, Ago/Set. 2005. (p. 19-30), p. 29.
141
4.6 Mediação. A Força do Diálogo
A atual complexidade das relações familiares, que gera as controvérsias que ainda
hoje levantam a necessidade de se compreender os limites e as possibilidades de
incidência das normas jurídicas, embasando as ações de seus integrantes e autorizando a
intervenção do Estado, também permite que os conflitos sejam trabalhados em outros
campos, às vezes mais aptos a aproximar do equilíbrio que tanto se almeja. Isto porque
existe uma pluralidade de elementos que compõem as relações familiares, não se
esgotando nos elementos jurídicos. Essa mesma razão que explica o surgimento e a
intensidade dos conflitos, pode também, apontar as maneiras de evitá-los, solucioná-los,
ou melhor, transformá-los. Diante da pluralidade de fatores que influenciam a vivência
familiar, a socióloga Maryvone David-Jougneau classifica a família em níveis que
podem ser assim apresentados:
Nível somático;
Nível psicológico e metapsicológico dos afetos, dos desejos, das motivações e
das funções - o nível do sujeito do desejo;
Nível psicossocial do exercício dos papéis;
Nível econômico;
Nível sociojurídico da repartição dos direitos e deveres – sujeito de Direito243.
Esta é, também, a razão pela qual persistem as dúvidas acerca de qual profissional
poderá conduzir a família ao equilíbrio, quando o conflito se instalar em suas relações.
Os variados elementos que embora diferentes, se entrelaçam na realização da
personalidade dos integrantes da família, como os afetos (sentimentos), a afetividade
(conduta), as responsabilidades, a culpa, a existencialidade, a patrimonialidade, entre
outros, traduzem interesses para diversas especialidades diferentes e instalam a
confusão que movimenta o debate, exigindo a sensibilidade e o conhecimento
profissional que aponta até onde cada um pode intervir.
É muito comum, alerta Giselle Groeninga, que as famílias levem seus impasses
“aos escritórios de advocacia, que tendem a lhes dar um tratamento de modo a
243
Apud GROENINGA, Giselle Câmara. Mediação Interdisciplinar – Um Novo Paradigma. In: Revista
Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v. 08, n. 40, Fev/Mar. 2007. (p. 152170), p. 162.
142
enquadrá-los na moldura legal, tentando transformar o subjetivo em objetivo, o que
pode acabar por mutilar ou dar um valor inadequado para os aspectos emocionais.”244
Não se devem subestimar os problemas decorrentes de um enquadramento
inadequado que termina, muitas vezes, por agravar o conflito ao contrário do equilíbrio
pretendido. Tal afirmação não é contraditória em relação aos objetivos desta tese, mas
antes, reconhece que, apesar de cabível e eficaz, o uso das regras de direito obrigacional
deve ser considerado medida extrema, aplicada quando não for possível realizar os
interesses dos filhos menores por outros modos mais espontâneos.
O que se busca ressaltar é a importância do bom senso do casal parental no
exercício de seus papéis jurídicos, uma vez que devem exercer funções compartilhadas
e que envolvem interesses com forte carga emocional, sendo ainda, essenciais para a
vida de seus filhos.
Conforme já foi dito, por envolver os mais diversos sentimentos, não são raros os
problemas de convivência que acompanham as famílias, se instalando, frequentemente,
o conflito. Em face disso, torna-se urgente que a sociedade retome a importância das
virtudes, combatendo os vícios e aprimorando as condutas. Na maioria dos conflitos
familiares, o equilíbrio é normalmente retomado, ao se restabelecer a comunicação entre
seus membros, sendo essa a principal função da mediação.
A mediação interdisciplinar, já que existem níveis diferentes nas relações de
família, busca atender o propósito de transformar o conflito, por meio da comunicação
viabilizada pelo mediador e através dela, pela liberdade dos mediandos decidirem no
diálogo, os rumos que irão tomar.
É importante que não se confunda mediação com conciliação. Existem dois
modelos de mediação, um europeu, francês e outro norte-americano. Águida Barbosa245
explica que o primeiro, francês, objetiva aprimorar a prestação jurisdicional, priorizando
o qualitativo, enquanto a vertente norte-americana objetiva desafogar o judiciário,
ressaltando o aspecto quantitativo. Assim, o modelo norte-americano privilegia a
244
GROENINGA, Giselle Câmara. Mediação Interdisciplinar – Um Novo Paradigma. In: Revista
Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v. 08, n. 40, Fev/Mar. 2007. (p. 152170), p. 161.
245
BARBOSA, Águida Arruda. Estado da Arte da Mediação Familiar Interdisciplinar no Brasil. In:
Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v. 08, n. 40, Fev/Mar. 2007.
(p. 140-151), p. 141-142.
143
negociação, no conceito de resolução de conflitos enquanto o modelo europeu conceitua
a mediação como instrumento de transformação do conflito.
Para os conflitos familiares, parece mais adequada a utilização de uma mediação
que siga os parâmetros europeus, sobretudo o francês, a fim de que o caminho
escolhido, parta do diálogo facilitado (e não imposto) por um terceiro, entre os sujeitos
envolvidos. É mais fácil cumprir aquilo que for determinado pelos próprios mediandos,
a partir da abertura do diálogo, do que os acordos que na maioria das vezes, são
firmados pela pressão externa de um conciliador ou de um juiz.
Quando se trata de problemas familiares, muitas vezes, acordos e decisões
judiciais terminam por agravar os conflitos e, talvez por isso, sejam frequentemente,
desobedecidos.
Para Gustavo Andrade, “a mediação promove uma reflexão sobre o valor positivo
do conflito, o que faz com que seus partícipes, sob a atitude equidistante do mediador,
libertem-se de sua carga destrutiva, que se lhes apresenta como uma situação
intransponível.”246
Assim, quando os conflitos atingirem interesses existenciais, parece mais
adequada, embora não obrigatória, a utilização da técnica da mediação, antecedendo
qualquer outra medida judicial. A mediação é a maneira mais apta a resgatar as
responsabilidades e a autoria das vidas dos envolvidos no conflito, para que não
deleguem mais “a uma instância que lhes imponha uma decisão judicial, distante das
características específicas daquele sistema familiar.”247
A mediação vai cumprir a sua finalidade quando a comunicação for restabelecida,
significando um passo importante no processo civilizatório das relações familiares, não
apenas por impedir que o conflito chegue ao judiciário, o que muitas vezes não será
possível, mas, por contribuir com a construção do verdadeiro sentido de sociedade que
se experimenta, em primeiro lugar, no âmbito doméstico.
É preciso estimular a cultura que dignifica aqueles que conseguem resolver seus
problemas, de maneira justa e lícita, sem precisar levá-los ao judiciário, considerando
246
ANDRADE, Gustavo. Mediação Familiar. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; OLIVEIRA,
Catarina; ERHRARDT, Marcos (orgs) Famílias no Direito Contemporâneo. Estudos em Homenagem a
Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: JusPodivm, 2010, (p. 491 a 509), p. 506.
247
DAHAN, Jocelyne, apud BARBOSA, Águida Arruda. História da Mediação. Resposta à Necessária
Abordagem Interdisciplinar do Direito de Família. In: Psicanálise e Direito. São Paulo: SBPSP, p. 25.
144
esta última, uma medida extrema que deve ser evitada, sobretudo para preservar o
máximo possível, a integridade de vulneráveis, como são as crianças e adolescentes.
145
CAPÍTULO V
INADIMPLEMENTO E RESPONSABILIDADE
5.1 Inadimplemento nas Obrigações Parentais; 5.1.1 Alienação Parental; 5.1.2
Multa Diária; 5.2 Pressupostos de Responsabilidade; 5.2.1 Dano Moral Indenizável;
5.2.2 Perda da Chance; 5.3 A Retórica no Superior Tribunal de Justiça.
5.1 Inadimplemento nas Obrigações Parentais
Tradicionalmente, as obrigações são classificadas em obrigações de dar (coisa
certa, coisa incerta), dar de volta (restituir coisa certa), fazer e não fazer. O objeto da
relação obrigacional é a conduta do devedor e é sobre ela que repousa o direito
subjetivo do credor, mesmo na tendência atual de cooperação mútua que impõe
responsabilidades recíprocas para se chegar a um objetivo comum. Transcendendo a
conduta do devedor, realiza-se o interesse do credor, que anseia o resultado que poderá
ser o acesso à coisa, a concretização ou a não realização do fato.
Já se explicou no capítulo III, que é perfeitamente plausível, a presença de
interesses puramente morais (no sentido de serem “não econômicos”), movimentando as
relações obrigacionais e impulsionando, inclusive, prestações debitórias, também
puramente morais.
Normalmente, as prestações debitórias que se referem à entrega de coisas que
tenham valor econômico, também estarão motivadas por interesses econômicos; no
entanto, essas afirmações não podem servir como uma fórmula absoluta, tendo em vista
que é muito comum a obrigação de indenizar pecuniariamente, prejuízos
exclusivamente morais, entre outras possibilidades.
No que diz respeito às obrigações de fazer e não fazer, interesses e prestações
puramente morais são frequentes, já que dizem respeito a fatos e não coisas. É sobre
elas que se encontra o centro de interesse desta tese, já que nas relações parentais do
poder familiar, a maior parte dos direitos subjetivos ali presentes, se referem a
pretensões dos filhos menores, voltadas ao fazer ou não fazer de seus pais, tendo por
objetivo prioritário, a construção de suas personalidades, com o equilíbrio necessário
para que possam atuar de maneira autônoma e sadia na sociedade, interessando, por
isso, não somente a cada indivíduo isoladamente, mas também, à própria sociedade.
146
No enquadramento das relações obrigacionais parentais, com todos os elementos
constitutivos presentes (sujeito ativo e sujeito passivo, vínculo jurídico e conduta
obrigada (prestação), com ou sem valor econômico correspondente), não seria possível
afastar as normas jurídicas que regulam o inadimplemento das obrigações sob o
argumento de que se trata de relações familiares, por uma questão de incoerência com o
atual cenário que ressalta a importância dos direitos humanos e a necessidade imperiosa
de vê-los tutelados.
Inadimplemento, em linhas gerais, se trata do descumprimento da prestação a que
se estava obrigado, permanecendo o devedor, comprometido em suportar as
consequências negativas de sua omissão, tal qual a obrigação de pagar perdas e danos,
juros, correção monetária e honorários advocatícios, conforme a regra do art. 389 do
Código Civil248.
Também será equiparado ao inadimplemento, embora se trate de coisa diferente, a
mora, ou seja, o atraso no cumprimento da prestação devida. Diante da mora do
devedor, também lhe será exigido o pagamento das perdas e danos, juros, atualização
monetária e honorários advocatícios (art. 395 do Código Civil249), contudo, como ainda
há possibilidade e interesse na prestação, continuará o devedor, obrigado a cumpri-la, ao
mesmo tempo em que suporta as consequências de sua mora.
Logicamente, a abrangência das consequências negativas no descumprimento das
obrigações, sejam elas de dar, fazer ou não fazer, dependerão das circunstâncias
consideradas em cada caso concreto.
Assim, haverá obrigação de pagar perdas e danos quando, do inadimplemento,
resultar prejuízo ao credor, material e/ou moral. Os prejuízos deverão ser comprovados,
cabendo a presunção, quando se tratarem de danos morais, a partir da verificação do
suporte fático, conforme se explicará mais adiante, bem como na existência de cláusula
penal para as obrigações negociais. Essa última não interessa à abordagem deste
trabalho.
Da mesma maneira, juros e correção monetária serão aplicados nas obrigações
econômicas, quando forem elas principais e à prestação descumprida corresponder um
248
“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”
249
“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos
valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”
147
preço, bem como na prestação secundária, de responsabilidade civil, sendo a
indenização, pecuniária. Da mesma maneira, honorários de advogados serão exigidos a
partir do momento em que a tutela dos interesses violados for defendida por este tipo de
profissional.
Conclui-se com isto, que nem todas as consequências do inadimplemento, seja ele
absoluto ou relativo, deverão ser aplicadas concomitantemente se não houver
justificativas plausíveis, que não se resumem ao fato de ter ocorrido o descumprimento
da prestação.
As consequências do inadimplemento serão mais graves do que as da mora, isso
porque, diante do atraso no cumprimento da prestação, ainda existirá para o credor, a
possibilidade de ver seu interesse realizado, o que não acontece no inadimplemento, que
pressupõe a impossibilidade de cumprimento da prestação, ou a falta de interesse do
credor, para quem a prestação, caso seja cumprida posteriormente, não teria mais
utilidade.
Com relação à impossibilidade, Orlando Gomes250 afirma a importância de
considerá-la em seu conceito jurídico e não, lógico. Para o autor, no conceito lógico, a
impossibilidade deve ser avaliada em termos absolutos e assim, a prestação não será
cumprida quando não puder ser realizada de maneira nenhuma. Considerar a
impossibilidade,
apenas
nesses
casos,
traria
inconvenientes
muitas
vezes
intransponíveis, pois, o dever de prestar não deverá obrigar o devedor para além do
razoável.
Orlando Gomes ressalta a preferência do ordenamento, no sentido de considerar a
impossibilidade pelo conceito jurídico e não, lógico, assim, “também se deve admitir
como impossível, a prestação cujo cumprimento exija do devedor esforço extraordinário
e injustificável.”251
Apesar dessa preferência, Orlando Gomes alerta da insegurança que a
flexibilidade do conceito jurídico pode trazer e, assim, justifica o elenco pelo qual o
conceito jurídico deverá ser considerado. Assim, “conforme o ensinamento de
Hedemann, compreendem-se no conceito jurídico de impossibilidade: a) a
250
GOMES, Orlando. Obrigações. Atualização: Edvaldo Brito. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.
176.
251
GOMES, Orlando. Obrigações. Atualização: Edvaldo Brito. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p.
176.
148
impossibilidade jurídica stricto sensu; b) a inexibilidade econômica; c) a inexibilidade
psíquica.”252 (grifos do autor).
No caso das obrigações decorrentes do poder familiar, torna-se mais rigorosa a
análise das impossibilidades, porque o esforço do devedor deverá ser maior, tendo em
vista se tratar de interesses diretamente voltados à vida e à dignidade de pessoas
vulneráveis.
Assim, sempre que houver descumprimento voluntário dos deveres inerentes ao
poder familiar, além de existir a possibilidade de suspensão e perda do poder familiar,
como consequência de direito de família, a concretização da dignidade humana, assim, a
tutela dos direitos fundamentais e o próprio sentido de permanência dos vínculos
parentais, também impõem a utilização de outros procedimentos jurídicos para
assegurar o cumprimento dos deveres que realizam os direitos mais essenciais, como
são aqueles que viabilizam a pessoa humana, e também, a permissão jurídica para que
prejuízos causados pela violação negativa de tais deveres sejam eles econômicos ou
existenciais, sejam reparados.
Como se percebe normalmente, a temática do inadimplemento transita com mais
ênfase pela abordagem das violações negativas, daí o questionamento se, no direito de
família, seria aplicável a modalidade de violação positiva das obrigações. De matriz
alemã, a violação positiva não trata, propriamente, de inadimplemento, mas, de
“adimplemento insatisfatório, ou seja, que ocorreu, mas, não satisfez o credor.”253
Não parece coerente aplicar, da mesma forma que se observa em relações
jurídicas obrigacionais de outros tipos, a teoria da violação positiva, nas relações de
família, sobretudo nas relações parentais, principalmente em nome da proteção dos
espaços onde a norma jurídica não incide e nem deve incidir. Conforme já trabalhado no
capítulo II as relações parentais se encontram em local intermediário, nem totalmente
dominado por normas jurídicas e nem, absolutamente, vazio delas. E na incidência de
normas originadoras de direitos subjetivos, pode-se estar diante daqueles que Hohfeld
classifica como privilégios, contrapondo-se aos não direitos do Estado. Ainda, os
deveres parentais são comandados por normas principiológicas que estabelecem metas a
serem alcançadas, não se especificando em detalhes, as condutas para se chegar a elas,
252
GOMES, Orlando. Obrigações. Atualização: Edvaldo Brito. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.
177.
253
LÔBO, Paulo. Direito Civil – Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 263.
149
deixando aberto, um espaço de liberdade comportamental, a critério dos atores da
relação, desde que alcancem os objetivos traçados pelo ordenamento.
Conforme já mencionado no capítulo II, os limites desses privilégios, estão
estabelecidos na própria necessidade jurídica de garantir, plenamente, a formação e a
realização dos direitos mais fundamentais das pessoas dos filhos, como também, na
própria Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil,
no Código Penal e nas demais normas nacionais e internacionais, que digam respeito às
crianças, adolescentes e direitos humanos.
5.1.1 Alienação Parental
Quando, nas relações parentais, se pensa em descumprimento dos deveres do
poder familiar, com mais frequência, se imagina a figura do abandono material e/ou
moral, este último conhecido pela denominação abandono afetivo. Ocorre que, nem
todo afastamento significa abandono e, muitas vezes, o genitor que está ausente é,
também, vítima de um comportamento moral e juridicamente reprovável, por parte do
outro genitor ou de pessoas diversas. A utilização de algumas normas de direito material
e processual, próprias do direito obrigacional, podem perfeitamente resolver conflitos
deste tipo, evitando a majoração dos prejuízos, muitas vezes irreparáveis, sobretudo
quando existenciais. Não sendo mais possível afirmar que as normas de direito das
obrigações só se aplicam para questões patrimoniais, ainda assim, na prática, é como
mais se observam. No entanto, o ânimo do ordenamento brasileiro que antes era,
principalmente, patrimonialista, agora é humanista e, assim, a interpretação de seus
comandos não pode mais ser conduzida por uma lógica que não se adequa à atual
realidade.
Como já se disse, nem sempre o afastamento entre pais e filhos decorre de uma
omissão voluntária por parte daquele(s) que estão distantes, mas, de um odioso
comportamento pouco racional e mais motivado por impulsos vingativos, normalmente
(mas, não exclusivamente) por parte de um dos genitores, transformando os filhos em
instrumentos de agressão contra o outro, numa clara confusão entre o relacionamento do
casal e o relacionamento parental.
150
Acontecimentos como esses, que poderiam se limitar a problemas íntimos
familiares, vão despertar o interesse de profissionais e acadêmicos desde meados dos
anos 80, a partir dos estudos do psiquiatra americano Richard Gardner e a sua descrição
do que vem a ser a síndrome da alienação parental (parental alienation syndrom),
doença decorrente da programação de uma criança para rejeitar e odiar o seu genitor.
Desta forma, verificam-se problemas distintos: a alienação propriamente, e a síndrome
que dela decorre.
Para Gardner, a síndrome decorre de dois fatores: (1) pela programação (lavagem
cerebral) da criança por um dos genitores para denegrir a imagem do outro e (2) pela
contribuição do próprio filho, no sentido de apoiar a campanha do genitor alienador, de
difamação do genitor alienado,254 no entanto, não é tão simples identificá-la. Na prática,
a alienação parental é mais frequente quando acontece o divórcio, mas, nada impede
que seja exercitada durante a relação conjugal ou ainda, quando os pais mantenham
outros tipos de vínculos.
Quando se está diante de relacionamentos imbuídos de fortes emoções negativas
(sobretudo
frustração
e
ciúmes),
salientam-se
mecanismos
de
defesa
que,
frequentemente, direcionam pessoas ao conflito, muitas vezes, de forma mais instintiva
do que racional. Se a emoção embota a razão, na maioria das vezes, nem os próprios
envolvidos estarão conscientes do uso que fazem de suas crianças para atingir o outro e
assim, na confusão entre alienação e abandono, será comum a alegação de um dos pais,
de que foi alienado, contraposta pela alegação contrária, fundada em abuso e
negligência.
Em meio a tudo isso, ficam os filhos carentes de convivência e cuidados e,
também, vulneráveis a problemas psicológicos irreversíveis, já que não há retorno ao
tempo em que deveria ter sido diferente e, também, pela dificílima reconstrução
posterior, de uma figura parental, sem a vivência da parentalidade no tempo em que ela
mais se evidencia e se faz necessária que é na infância e na juventude.
É preciso muita prudência do aplicador do direito, ao lidar com temas delicados
como abandono e alienação, pois uma decisão equivocada pode agravar o que já era
254
“(1) programming ("brainwashing") of the child by one parent to denigrate the other parent, and (2)
self-created contributions by the child in support of the alienating parent's campaign of denigration
against
the
alienated
parent”.
CARLSON,
Steven.
Disponível
em:
http://www.childcustodycoach.com/pas.html. Acesso em 11 de Março de 2012.
151
trágico, tratando a vítima como agressor e, ao puni-lo, aumentar os prejuízos, tanto do
genitor como (e principalmente), dos filhos alienados.
Gardner oferece critérios de distinção entre o que ele chama de abuse-neglect
(abuso-negligência) e que abrange abusos físicos, abusos sexuais e negligência e a
alienação parental, que também é um tipo de abuso emocional mais permanente e
principalmente, infundada. Para o psiquiatra norte-americano, devem ser observados os
sintomas apresentados pela criança para buscar a diferença entre a alienação e o justo
afastamento em razão de abuso-negligência. Nos casos em que realmente, está
acontecendo a alienação parental, devem ser observadas as oito manifestações que
seguem: (1) campanha de difamação; (2) razões fracas, frívolas ou absurdas de
reprovação; (3) falta de ambivalência; (4) fenômeno do “pensador independente”; (5)
apoio reflexivo ao genitor alienador no conflito parental; (6) ausência de culpa a
respeito da crueldade e/ou exploração do genitor alienado; (7) presença de cenários
emprestados e (8) extensão da animosidade aos amigos e/ou família estendida do
genitor alienado255.
No que tange aos sintomas primários de uma desordem decorrente de stress póstraumático, que pode ser o caso de abusos físicos e sexuais, seriam principalmente, os
seguintes: (1) preocupação com o trauma; (2) revivências episódicas e flashbacks; (3)
dissociação; (4) despersonalização; (5) fuga da realidade e entorpecimento psíquico; (6)
dessensibilização para recreações e jogos de fantasia; (7) sonhos traumático-específicos;
(8) medo de pessoas que lembram o abusador; (9) hipervigilância e/ou frequentes
reações de sobressalto; (10) fuga de casa ou do local do abuso; (11) visão pessimista do
futuro256.
255
Tradução livre para “(1) Campaign of denigration; (2) Weak, frivolous, or absurd rationalizations for
the deprecation; (3) Lack of ambivalence; (4) The "independent thinker" phenomenon; (5) Reflexive
support of the alienating parent in the parental conflict; (6) Absence of guilt over cruelty to and/or
exploitation of the alienated parent; (7) Presence of borrowed scenarios; (8) Spread of the animosity to
the friends and/or extended family of the alienated parent”. GARDNER, Richard A. Differentiating
Between Parental Alienation Syndrome and Bona Fide Abuse-Neglect. Disponível em:
http://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr99.htm. Acesso em 11 de Março de 2012.
256
Tradução livre para “(1) Preoccupation with the trauma; (2) Episodic reliving and flashbacks; (3)
Dissociation; (4) Depersonalization; (5) Derealization and psychic numbing; (6) Recreational
desensitization and fantasy play; (7) Trauma-specific dreams; (8) Fear of people who resemble the alleged
abuser; (9) Hypervigilance and/or frequent startle reactions; (10) Running away from home or the site of
the abuse; (11) Pessimism about the future”. GARDNER, Richard A. Differentiating Between Parental
Alienation
Syndrome
and
Bona
Fide
Abuse-Neglect.
Disponível
em:
http://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr99.htm. Acesso em 11 de Março de 2012.
152
Graciela Medina257 salienta que, na avaliação das situações vivenciadas, sempre
deve ser considerado os interesses superiores das crianças, de maneira tal que, caso
realmente, se verifique que o exercício da parentalidade, acarreta riscos à integridade, à
saúde psicofísica ou moral do menor, deve ser interrompida a comunicação. Do
contrário, deve se buscar minimizar os danos, pela viabilização da convivência com o
genitor alienado e pela responsabilização do genitor alienante.
Para o direito, a alienação parental, por si só, ainda que não resulte em sua
síndrome, já é ato ilícito violador de direitos fundamentais, pois não é necessário que se
chegue a uma desordem psíquica, para seja considerado o dano. Este já está presente
pela privação do convívio que é direito fundamental. Mas, ainda assim, será necessária a
participação técnica de outros profissionais, sobretudo psicólogos e psiquiatras, ainda
que não seja para constatar a instalação da síndrome, mas, para auxiliar na observação
do comportamento dos pais, que também irão revelar se existe alienação parental ou
justo afastamento em razão de abusos. Um comportamento frequente de pais culpados,
seja por serem alienadores ou abusadores, é a falta de cooperação quanto aos exames
que devem ser realizados por profissionais imparciais. Normalmente, os pais que são,
também, vítimas, são mais cooperativos quanto à apuração das verdades, pois buscam
afastar a violência e imputar responsabilidades a quem caiba, no interesse de seus filhos
menores258.
Outro critério de verificação, apenas para exemplificar, é a credibilidade dos pais.
Tanto os alienadores, como os abusadores-negligenciadores, tendem, por suas culpas
(ainda que achem que estão agindo corretamente) a cometer enganos, seja por
apresentar contradições, bem como por apresentar argumentações fracas e
insustentáveis259.
257
“Sin embargo, no es un derecho absoluto, pues – en la materia prima – el interés superior del niño, de
manera tal que si su ejercicio pone en riesgo la integridad o salud psicofísica o moral del menor, la
comunicación deberá ser interrumpida. Y es que aquí el bien jurídico protegido es la salud psicofísica de
los hijos menores, aspecto que debe ser evaluado tanto para fomentar el ejercicio del derecho de visitas
del padre no conviviente como para impedirlo.” MEDINA, Graciela. Daños em el Derecho de Familia.
2 ed. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2008 , p. 594.
258
GARDNER, Richard A. Differentiating Between Parental Alienation Syndrome and Bona Fide
Abuse-Neglect. Disponível em: http://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr99.htm. Acesso em 11 de Março de
2012.
259
GARDNER, Richard A. Differentiating Between Parental Alienation Syndrome and Bona Fide
Abuse-Neglect. Disponível em: http://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr99.htm. Acesso em 11 de Março de
2012.
153
Nos casos de alienação parental, os danos serão suportados pelos filhos e pelos
familiares alienados, seja o genitor ou outros parentes de sua família estendida; como se
tratam de graves prejuízos existenciais, toda cautela será pouca, pois, apesar de difícil
reparação, isto não deve significar exclusão de responsabilidades, pois, a compensação
poderá e deverá vir de alguma forma sob pena de se cometer mais omissões sobre fatos
tão graves, estimulando o comportamento odioso e ferindo o mais importante princípio
constitucional, que é a dignidade humana.
No Brasil, a alienação parental é regulada pela Lei nº 12.318/2010 e seu conceito
apresentado em seu art. 2º, assim como, o elenco exemplificativo das principais ações
produtoras de alienação.
Art. 2o Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos
genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua
autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos
assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou
com auxílio de terceiros:
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da
paternidade ou maternidade;
II - dificultar o exercício da autoridade parental;
III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;
V - omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a
criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;
VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós,
para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente;
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a
convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou
com avós.
O art. 3º da mesma lei260 indica uma posição que autoriza tudo o que já foi
exposto neste trabalho. A alienação parental é ato ilícito, praticado através do
descumprimento de obrigações do poder familiar, consistentes em fazer e não fazer,
violando o direito fundamental de convivência familiar de crianças e adolescentes, que
deveria ser viabilizada, primeiro, por seus pais, não apenas para que eles realizem tal
direito fundamental, mas também, outros que só se concretizarão por este meio.
260
“Art. 3o A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de
convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo
familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes
à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda.”
154
O abuso moral cometido contra as crianças e adolescentes, vítimas de alienação
parental, agride diretamente os direitos existenciais vinculados às suas personalidades,
até porque se trata de afastar deles, o direito a ter essa personalidade bem formada,
função que compete a ambos os pais e que só pode ser cumprida através da convivência.
Quanto ao genitor alienado, também é clara a sua condição de vítima, atingida em
seus direitos de personalidade. Além da violação à integridade psíquica, à dignidade, à
liberdade, muitos outros direitos podem ser atingidos. Sendo a família, local de
realização da personalidade, a partir do momento em que, pela alienação, o genitor se vê
impedido de vivenciar sua família, na relação com seus filhos, sua personalidade em
todos os seus interesses a ela inerentes, estará suscetível a danos muitas vezes,
irreversíveis.
Durante a prática da alienação parental, o genitor alienado fica impedido de
cumprir com as suas obrigações parentais, sendo por isso, também prejudicado, de
maneira semelhante ao que acontece em outras relações obrigacionais onde o devedor
encontra obstáculos ao seu adimplemento por causa de condutas injustas do credor
(mora credendi261.). Nestes casos, ainda que a síndrome da alienação parental já tenha
se instalado e o próprio filho passe a rejeitar a convivência com seu pai (ou mãe), a
conduta obstativa do cumprimento dos deveres parentais por parte do genitor alienado,
ainda seria imputada ao genitor guardião que é também, representante legal do titular do
direito subjetivo agredido.
5.1.2 Multa Cominatória
No direito creditório, para as obrigações de fazer e não fazer é comum ver
aplicada, juntamente ao comando que impõe a execução de tais obrigações, uma multa
cominatória262, também chamada de astreintes, que tem por finalidade conferir força à
261
Mora Accipiendi ou Credendi “O embaraço que o credor opõe à solutio da outra parte compara-se ao
retardamento do devedor, e a mora de um equipara-se à do outro. A recusa do credor é requisito
conceitual dela. O retardamento injustificado no recebimento equivale à recusa, não podendo o devedor
que quer solver o débito suportar-lhe as consequências.” PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de
Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações. 22 ed. Atualização: Guilherme Calmon Nogueira de Gama.
Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. 2, p. 298.
262
Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz
concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento (...) § 4o O juiz poderá, na hipótese do
parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se
for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do
155
ordem, já que existem liberdades individuais asseguradas pela Constituição Federal, que
impedem qualquer outro tipo de constrangimento que interfira na integridade psicofísica
do devedor.
A multa cominatória tem a finalidade de exercer uma pressão no devedor no
sentido de fazê-lo obedecer ao comando, cumprindo sua obrigação e inibindo a conduta
ilícita, evitando o quanto antes, suportar o ônus financeiro da aplicação das astreintes.
Apesar de ser um encargo financeiro, a multa cominatória não se confunde com a
reparação dos prejuízos que ainda poderá ser suportada pelo devedor em atraso. Ela
exerce um papel fundamental para que a prestação seja cumprida e, com isso, os
interesses que a animam, sejam realizados.
Na explicação de Rolf Madaleno, acerca da tutela antecipada (art. 273) e inibitória
(art. 461, §§ 1º ao 5º), estas “são tutelas objetivando garantir ou apressar o cumprimento
de direito substancial, em que a tutela inibitória tem por finalidade impedir a prática, a
continuação ou a repetição do ilícito.”263 Tais medidas podem consistir em mecanismos
ideais para inibir, conter e afastar conflitos de família, tendo em vista que o forte teor
emocional, normalmente presente, impede, muitas vezes, que posturas mais racionais
sejam tomadas, inclusive as que dizem respeito à obediência da ordem judicial.
No amplo raio de ação da jurisdição familista, de mouro ouvidos tomam o lugar da
razão; prevalece a insana vingança que caça amores já não mais acessíveis; seus
personagens estão psicologicamente desassociados da logica compreensão, que
compele as pessoas a atenderem ao comando judicial, e nesse quadro dos fatos a
ordem judicial vira mero conselho, quase sempre ignorado. Resistências geram
tumulto afetivo, e a reiterada desobediência agride o senso comum, apontando assim
para as astreintes, que talvez carreguem em sua gênese a força mandamental capaz
de reorientar os rumos dos processos e de restabelecer uma razoável pacificação
familiar.264
Os interesses vivenciados na família, sobretudo para as crianças e adolescentes,
via de regra, são aqueles mais superiores, como a vida digna e tudo o que melhor a
fundamente. E esses interesses que devem ser prioritários, são realizados,
primeiramente, a partir de comportamentos obrigatórios imputados ao pai e à mãe do
menor, possuindo mesmo, caráter de munus. Assim, quando aqueles deveres parentais
forem voluntariamente, descumpridos, seja por negligência e abusos, seja pela
preceito.
BRASIL,
Código
de
Processo
Civil.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm. Acesso em: 20 de Março de 2012.
263
MADALENO, Rolf. Direito de Família em Pauta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 32.
264
MADALENO, Rolf. Direito de Família em Pauta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 46.
156
colocação de obstáculos à convivência dos filhos com seu outro genitor e familiares, se
ainda existir a possibilidade de reversão do quadro para que os interesses dos filhos
sejam realizados, a partir do resgate das condutas devidas, é totalmente adequada, a
utilização desta técnica processual de tutela inibitória.
E ainda que persistam os argumentos contrários à aplicação das regras de direito
das obrigações nas relações de família, sustentados em certo apego à tradição, ainda
assim, são seriam suficientes para afastar a utilização da multa cominatória, tendo em
vista que estas se aplicam a todos os deveres jurídicos, com ênfase nas prestações de
fato. A tutela inibitória integra, inclusive, a parte geral do Código de Processo Civil, o
que já aponta a sua aplicação nos deveres jurídicos em geral, incluindo as causas de
família265. No mesmo sentido, Eduardo Talamini afirma que “o sistema de tutelas,
estabelecido a partir do art. 461, não se limita às obrigações propriamente ditas.
Estende-se a todos os deveres jurídicos cujo objeto seja um fazer ou um não fazer.”266
Especificamente, quanto aos direitos da criança e adolescente, as astreintes são
previstas e reguladas em legislação própria, que é a Lei 8.069/90 – ECA, o que fortalece
a ideia de que a interpretação que autoriza a multa cominatória nas relações de família,
incluindo as relações parentais, merece respeito. Assim dispõe o art. 213:
Art. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências
que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento.
§ 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou
após justificação prévia, citando o réu.
§ 2º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa
diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível
com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.
§ 3º A multa só será exigível do réu após trânsito em julgado da sentença favorável
ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o
descumprimento.
Rolf Madaleno ressalta que a importância da multa cominatória nas relações
parentais, vai além de suas finalidades imediatas, servindo ainda, para evitar que outras
medidas judiciais mais traumáticas, sejam tomadas, como por exemplo, a busca e
apreensão de menor.
265
MIGUEL FILHO, Raduan. O Direito/Dever de Visitas, Convivência Familiar e Multas Cominatórias.
In: Família e Dignidade Humana – Anais V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo
Horizonte: IBDFAM, 2006, (p. 811-818). p. 815.
266
Apud MADALENO, Rolf. Direito de Família em Pauta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004,
p. 36.
157
(...)
palco de inesgotáveis traumas contra indefesas e desprotegidas crianças – subtraídas
a fórceps por uma ordem judicial do convívio afetivo do genitor não guardião, que
se descurou do tempo de permanência permitida ao salutar exercício do seu amor
parental, tisnado por cenas dantescas e traumáticas de indescritível e dispensável
violência processual.267
Para Raduan Filho, a multa cominatória ainda vai apresentar um caráter ético, por
“romper a resistência insana e ímproba do devedor, que além de causar, com seu ato,
prejuízo ao credor, desrespeita o Estado-Juiz ao querer impor a perpetuação de sua
inadimplência.” 268
Outro aspecto importante na aplicação da tutela inibitória nas relações de família
consiste em evitar que as obrigações descumpridas sejam convertidas, de logo, em
perdas e danos, já que mais traumáticas. Assim, também, valem por viabilizar o
adimplemento das prestações que são, principalmente em família, mais importantes do
que a indenização269.
5.2 Responsabilidade Civil nas Relações Parentais
Muito tem sido publicado, nos últimos anos, acerca da pertinência em se aplicar as
regras de responsabilidade civil nas relações de família e as opiniões a respeito, não são
uniformes, embora já se perceba uma tendência para aceitá-la sem maiores problemas,
desde que não se trate de violação ao direito de afeto, tendo em vista a frequente
confusão entre sentimento e conduta, conforme abordado no capítulo II.
A família, em suas acepções amplas e restritas, abarca um considerável número de
relações existenciais que, por suas peculiaridades, vão conduzindo os valores sociais no
267
MADALENO, Rolf. Direito de Família em Pauta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 47.
MIGUEL FILHO, Raduan. “O Direito/Dever de Visitas, Convivência Familiar e Multas Cominatórias”
in Família e Dignidade Humana – Anais V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo
Horizonte: Ibdfam, 2006, (pp. 811-818). p. 817.
269
“No âmbito do Direito de Família, donde pela própria peculiaridade do litígio e da causa em disputa,
confrontamos com querelas em que a indenização em pecúnia tem menos importância do que o
adimplemento da obrigação assumida. A aplicação do disposto nos arts. 461 e 461-A representam de certa
forma, se não a solução, pelo menos grande ajuda par a solução dos conflitos familiares.” MIGUEL
FILHO, Raduan. O Direito/Dever de Visitas, Convivência Familiar e Multas Cominatórias. In: Família e
Dignidade Humana – Anais V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: IBDFAM,
2006, (p. 811-818). p. 814-815.
268
158
sentido de aceitar ou não, a aplicação de regras que, por muito tempo, eram exclusivas
de relações jurídicas puramente econômicas.
Sobre o tema, embora um sem número de circunstâncias possa ser analisado, não
se vai aqui, perquirir a responsabilidade civil entre casais, a menos que seja o casal
parental, pois no momento, interessa apenas, a responsabilidade civil entre aqueles que
estejam vinculados pelas normas do poder familiar, naquilo que autoriza e baliza a
aplicação desta medida extrema.
Roberto Paulino270 pondera que, para considerar a responsabilidade civil nas
relações de família (e então, nas relações parentais), a primeira coisa que se faz
necessária, é a refletir a compatibilidade entre a aplicação da teoria de reparação de
danos e a repersonalização, enquanto uma das características mais marcantes do direito
de família contemporâneo.
A afirmação é coerente porque, sendo a pessoa, o centro principal de interesse do
ordenamento jurídico brasileiro e sendo a família, o local onde mais se experimenta a
personalidade, antes de se tomar qualquer medida negativa contra seus integrantes,
deve-se buscar preservar a dignidade de cada um dos envolvidos e a manutenção dos
laços de afeto, mesmo que os acontecimentos, facilmente possam ser enquadrados nas
hipóteses previstas pela norma jurídica, para originar os deveres de reparação.
Na verdade, alerta Roberto Paulino, o grande desafio é “evitar que o interesse
econômico se infiltre em situações existenciais, como outrora.”271
Por outro lado, não se pode pensar em preservar o existencial, negando a tutela de
direitos violados, apenas se tratam de causas familiares ou, ainda, porque são danos sem
correspondência econômica. Isso significaria, perigosamente, um retorno ao tempo em
que eram negadas indenizações por dano moral, sob o argumento ultrapassado de que a
“dor não teria preço”, que poderia ser substituído aqui, por “o amor não tem preço.”
Outro argumento muito utilizado por aqueles que defendem a incompatibilidade
entre direito de família e responsabilidade civil, é o da preservação da unidade familiar.
270
ALBUQUERQUE JUNIOR, Roberto Paulino. Ensaio Introdutório sobre a teoria da Responsabilidade
Civil Familiar. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; OLIVEIRA, Catarina; ERHRARDT, Marcos
(orgs.) Famílias no Direito Contemporâneo. Estudos em Homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo.
Salvador: JusPodivm, 2010, (p. 397-428), p. 398.
271
ALBUQUERQUE JUNIOR, Roberto Paulino. Ensaio Introdutório sobre a teoria da Responsabilidade
Civil Familiar. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; OLIVEIRA, Catarina; ERHRARDT, Marcos
(orgs.) Famílias no Direito Contemporâneo. Estudos em Homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo.
Salvador: JusPodivm, 2010, (p. 397-428), p. 398.
159
Assim, por exemplo, um filho que processe seu pai para que lhe indenize a privação da
convivência e dos cuidados que deveria ter recebido, estaria terminando de vez, com
qualquer hipótese remota de reaproximação e assim, com qualquer chance de uma
convivência sadia com seu genitor(a).
Diante de tais argumentos, Graciela Medina272 questiona que tipo de unidade
familiar seria essa, quando um filho tem de procurar a justiça para ser assim
considerado? Ou, ainda, que unidade familiar seria essa, quando os danos sofridos pelo
filho sejam decorrentes da negligência ou do dolo de seu genitor?
Na verdade, ainda existe uma forte interferência da cultura patriarcal,
hierarquizada e institucionalizada nas famílias contemporâneas e, sob a justificativa da
proteção da unidade familiar, as pessoas terminam por servir mais àqueles valores
ultrapassados do que à dignidade de seus membros.
Sabe-se que aquilo que para o Direito comum, é uma regra geral, isto é, de que todo
dano gera um interesse legítimo que tem por meta principal, seu ressarcimento, no
Direito de Família, parece temperado, diminuído por um desejo tácito, que ronda
todo o sistema, de que esse ressarcimento seja afastado com o fim de favorecer a
unidade familiar273.
Para Maria Celina Moraes274, a dificuldade existente em se admitir ações de
reparação de danos entre pessoas de uma mesma família se dá porque, normalmente, os
conflitos chegam ao judiciário, quando os laços que justificam essas relações se
rompem e em uma sociedade que teve durante muito tempo, um casamento indissolúvel
em uma base machista e onde os filhos costumavam reverenciar e respeitar seus pais,
mesmo depois de atingirem a maioridade, provocar o judiciário para buscar
compensação de prejuízos contra seus familiares, sobretudo pai ou cônjuge, seria
impensável. Seria quase herético.
272
“de qué unidad familiar estamos hablando cuando fue el hijo quien debió concurrir ante la justicia a
efectos de quedar emplazado como tal, o cuando fue el hijo el que sufrió el daño por el accionar ya sea
negligente o doloso de los padres”. MEDINA, Graciela. Daños em el Derecho de Familia. 2 ed. Santa
Fe: Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 524.
273
Tradução livre para “Así se há dicho que lo que en el Derecho común resulta regla general, esto es, que
todo daño genera un interés legítimo que procura como meta principal su ressarcimento, en el Derecho de
Familia aparece atemperado, minorado por un deseo tácito, que ronda todo el sistema, de que ese
ressarcimento sea postergado en aras de favorecer la unidad familiar.” MEDINA, Graciela. Daños em el
Derecho de Familia. 2 ed. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 524
274
MORAES, Maria Celina Bodin de. Deveres Parentais e Responsabilidade Civil. In: Revista Brasileira
de Direito de Família. v. 7. n. 31. Ago-set. Porto Alegre: Síntese. 2005 (p. 39-74), p 46.
160
Depois da entrada do divórcio no ordenamento pátrio, os membros de uma família
passaram a se relacionar de maneira mais igualitária e livre e “o rompimento ou o
afastamento acentuado nas relações familiares gera a distância imprescindível e o
ambiente necessário para a propositura de ações reparatórias”275.
Graciela Medina276 ressalta ainda, a incoerente contradição, no estado de Oregon,
Estados Unidos, por admitir o abandono como delito, ao mesmo tempo em que se afasta
a tutela dos interesses reparatórios civis pelo mesmo motivo. No Brasil, acontece da
mesma maneira. Existem os crimes de abandono material e intelectual de filho menor,
previstos no Código Penal Brasileiro, (arts. 244-247) e ao mesmo tempo, são frequentes
as negativas de responsabilidade civil por abandono moral, ainda que diante de tais
hipóteses.
Admitindo a responsabilidade civil nas relações de família, Roberto Paulino
sugere que seja feito um enquadramento quanto ao tipo de responsabilidade a ser
aplicada. Considerando que a responsabilidade civil pode ser classificada em negocial e
extra negocial e não sendo, nenhuma das duas, apropriada para reparar danos
produzidos na família, deve ser criada uma terceira modalidade de responsabilidade
civil, que leve em consideração as peculiaridades dos casos, bem como os princípios de
direito de família. 277
Na verdade, o que o autor sugere é que, nos conflitos de família, seja alterado o
eixo norteador da técnica de reparação de danos, para que exista uma preocupação
maior com a proteção da vítima do que com a punição do ofensor. Ainda, apresenta a
inadequação da técnica de subsunção, tradicionalmente utilizada pelos positivistas e que
justificou, em nome de uma almejada precisão, o máximo detalhamento dos elementos
de responsabilidade que deveriam estar contidos no suporte fático. Não obstante, a
subsunção continuar apropriada para os casos mais simples, são os hard cases que
movimentam os conflitos familiares, sobretudo quando envolvem crianças e
adolescentes. Nestes casos mais difíceis, é necessário que se utilize a técnica da
275
MORAES, Maria Celina Bodin de. Deveres Parentais e Responsabilidade Civil. In: Revista Brasileira
de Direito de Família. v. 7. n. 31. Ago-set. Porto Alegre: Síntese. 2005 (p. 39-74), p 47.
276
MEDINA, Graciela. Daños em el Derecho de Familia. 2 ed. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2008, p.
528.
277
ALBUQUERQUE JUNIOR, Roberto Paulino. Ensaio Introdutório sobre a teoria da Responsabilidade
Civil Familiar. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; OLIVEIRA, Catarina; ERHRARDT, Marcos
(orgs.) Famílias no Direito Contemporâneo. Estudos em Homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo.
Salvador: JusPodivm, 2010, (p. 397-428), p. 403.
161
ponderação, com a aplicação direta dos princípios e considerando as peculiaridades de
cada caso278.
5.2.1 Alguns Pressupostos de Responsabilidade
Ainda que a tendência contemporânea seja a de mitigar os filtros de reparação,
denominação utilizada por Anderson Schreiber279 para os elementos que deveriam estar
presentes no suporte fático da responsabilidade civil e, ainda que se considere admitir
uma cláusula geral de responsabilidade civil, a utilização da técnica da ponderação
precisará ser casuística, o que torna impossível e perigoso lançar mão, apenas, de um
valor de responsabilidade e assim, continuará sendo necessário apontar alguns
pressupostos, não para exigir da vítima que os prove, pois na maioria dos casos, estarão
presumidos na própria lógica dos fatos, mas, para servirem de base na análise da
prevalência (ponderação) entre interesses lesados e interesses lesivos.
O primeiro pressuposto seria a conduta lesiva antijurídica, que será demonstrada
pelo descumprimento voluntário dos deveres parentais. O negligente afastamento de
seus filhos enquanto crianças ou adolescentes, privando-os da convivência e de todos os
cuidados, que são frutos do exercício da parentalidade seria o primeiro exemplo de
conduta ilícita a ilustrar o tópico. Mas, o elenco exemplificativo pode se estender por
outras práticas, a exemplo da alienação parental, já abordada neste capítulo; também a
prática de abusos físicos, emocionais e sexuais, entre outros.
A falta de reconhecimento também pode ser considerada um ilícito originador do
dever de reparar prejuízos e isso porque o primeiro direito a se considerar nas relações
entre pais e filhos é o próprio direito de ‘ser filho’ e a partir dele, experimentar todos os
demais direitos a essa condição inerentes. Obviamente, como já foi mencionada, a falta
de reconhecimento, como as demais condutas lesivas, deve ter sido voluntária. Graciela
Medina lembra que:
(...)
o filho tem um direito constitucional e supranacional, que lhe é outorgado pela
convenção de Direitos da Criança, a conhecer sua realidade biológica, a ter uma
278
ALBUQUERQUE JUNIOR, Roberto Paulino. Ensaio Introdutório sobre a teoria da Responsabilidade
Civil Familiar. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; OLIVEIRA, Catarina; ERHRARDT, Marcos
(orgs.) Famílias no Direito Contemporâneo. Estudos em Homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo.
Salvador: JusPodivm, 2010, (p. 397-428), p. 415- 423.
279
SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas de Responsabilidade Civil: da erosão dos filtros de
reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007. Passim.
162
filiação, e para ter uma filiação paterna extramatrimonial, precisa do reconhecimento
do progenitor varão, já que a mãe não pode atribuir-lhe a paternidade.280
Outro pressuposto, muito comum na responsabilidade civil clássica, recaía na
figura da culpa, assim considerada, de maneira ampla, contendo o dolo e a culpa em
sentido estrito. Enfraquecida na técnica contemporânea de reparação de danos, este fator
de atribuição, nas relações parentais, não precisa de comprovação, restando
demonstrada pela voluntariedade da conduta reprovável. Neste sentido, Orlando Gomes
ensina que “não pode haver dúvida quanto ao caráter culposo de todo inadimplemento
voluntário.”281
A técnica da responsabilidade civil contemporânea em sua finalidade de reparar
prejuízos, focando a atenção na vítima e não, no ofensor, se revela mais objetiva,
afastando o elemento moral ou psicológico que consiste na culpa. No entanto, não se
pode esquecer que em relações parentais, o pleno discernimento é necessário para o
cumprimento dos deveres impostos pelo poder familiar, de tal maneira que, em sua
falta, deve ser nomeado um tutor que assegure os interesses e a proteção integral das
crianças e adolescentes. Excepcionalmente e, por isso, não contrariando a técnica mais
atual de responsabilidade civil, havendo descumprimento de deveres parentais, para
suportar a responsabilidade, o autor dos danos deve ser capaz de discernir as
consequências negativas de seus atos. Assim, ainda que não deva recair sobre as
vítimas de abandono, o ônus de provar a consciência da conduta lesiva de seus pais, a
tese da não culpa, poderá ser utilizada para afastar a responsabilidade, em casos como,
por exemplo, o de desconhecimento da existência do vínculo paterno-filial, justificando
o não reconhecimento, a doença mental, a alienação parental, etc.
Outro pressuposto de responsabilidade corresponde ao nexo de causalidade, como
a relação de causa e efeito, que deve existir entre a conduta ilícita e o dano indenizável.
Nos exemplos que acabaram de ilustrar as hipóteses de ausência de culpa, também estão
contidas justificativas para a alteração do nexo causal, possibilitando que se reconheça a
autoria das ofensas, naquele genitor que aliena, assim também naquele que omite ou
280
Tradução livre para “Es que el hijo tiene un derecho constitucional y supra nacional, otorgado por la
convención sobre los Derechos del Niño, a conocer su realidad biológica, a tener una filiación, y para
tener una filiación paterna extramatrimonial requiere del reconocimiento del progenitor varón, ya que la
madre no puede atribuirle la paternidad” MEDINA, Graciela. Daños em el Derecho de Familia. 2 ed.
Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 151.
281
GOMES, Orlando. Obrigações. Atualização: Edvaldo Brito. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.
173.
163
distorce verdades para evitar que seja descoberta a verdadeira paternidade de seu filho.
No caso do abandono é preciso considerar o seu caráter patrimonial e existencial, não
afastando a postura que fere o ordenamento jurídico, lesando bens jurídicos tuteláveis e
não econômicos, apenas porque se continua a pagar os alimentos.
Assim como orientam as regras do direito das obrigações, será possível afastar a
responsabilidade civil quando se estiver diante de motivo de força maior ou caso
fortuito, mesmo porque rompe o nexo de causalidade entre o dano e uma ação ou
omissão daquele que se pretende responsabilizar.
5.2.2 Dano Moral Indenizável
A responsabilidade civil nas relações parentais, por decorrerem de violações a
direitos que se dirigem, principalmente, à formação e realização da personalidade de
crianças e adolescentes, por isso, vulneráveis, frequentemente vai dizer respeito à
reparação de danos morais e, por mais que se admita a reparação desses tipos de danos
no Brasil, inclusive considerando o seu caráter substancial de lesão a direitos
fundamentais não econômicos,282diante de algumas circunstâncias, o tema ainda sofrerá
o preconceito originado pela sombra de uma cultura patrimonialista que insiste em
pairar sobre o ordenamento jurídico nacional. Mas, não sendo um privilégio cultural do
Brasil, danos morais também sofrem hostilidade por parte da doutrina, em países de
forte tradição na matéria, como é o caso da França, e o receio será, eminentemente, o
mesmo: o perigo da banalização dos prejuízos não econômicos283.
O medo de tornar a reparabilidade dos danos morais, algo desimportante, parece
advir mais da falta de conhecimento sobre o tema do que mesmo, do perigo de sua
proliferação. Ainda é muito comum confundir sentimentos negativos com a lesão não
282
Constituição Federal de 1988. “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;
(...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”
283
“La réparation du préjudice moral ne cesse de se heurter à l'hostilité d'une partie de la doctrine.
L'admission par la jurisprudence du principe selon lequel tout préjudice mérite réparation, quelle que soit
sa nature, devait nécessairement aboutir à une prolifération des prejudices moraux réparables”.
BACACHE-GIBEILI, Mireille. Droit Civil. Les Obligations, La Responsabilité Civile
Extracontractuelle. Paris: Economica, 2007, t. 5, p. 378.
164
econômica, talvez pela ausência de materialidade, na maioria dos casos, que induz a
misturar a ofensa com suas consequências. Ora, a subtração de valores econômicos do
patrimônio de pessoas físicas, vai originar para elas, sentimentos negativos como raiva,
angústia, tristeza, vergonha, etc., mas, estes sentimentos serão decorrências do dano e
não se confundem com ele. Da mesma, maneira, para as pessoas físicas que sofrem
lesões em bens jurídicos não passíveis de serem medidos em dinheiro, como por
exemplo, direitos de personalidade, o sofrimento emocional vai ser uma consequência
natural, mas, também não deve ser tomado o efeito, pela lesão.
No passado, era muito comum o uso de argumentos que advogavam pela
impossibilidade de indenizar danos morais, principalmente na consideração de ser
indecente a ideia de se conferir preço à dor. Hoje, exatamente por saber não ser a dor, o
dano, não se admite mais esse tipo de raciocínio. Inclusive, já é pacífico o entendimento
de que pessoas jurídicas podem sofrer danos morais284 e, por serem abstrações,
obviamente não se encontrarão nelas, quaisquer tipos de sentimentos, positivos ou
negativos. Dano moral é prejuízo não econômico, decorrente de agressão a bens
jurídicos relevantes, sérios, úteis, mas, sem correspondência monetária.
A difícil, às vezes impossível reparação do bem jurídico ferido, não pode ser o
motivo que justifique a ausência de uma resposta para a vítima. Essa abordagem já foi
amplamente debatida e afastada pela doutrina, não servindo mais, nos dias atuais, como
argumentação plausível em sede de responsabilidade civil por dano moral. Assim, existe
direito à reparação dos prejuízos não econômicos, expressamente reconhecido na
Constituição Federal, bem como no Código Civil285 e, nesses casos, a indenização não
precisará, necessariamente, ser pecuniária, podendo ser oferecida in natura quando o
tipo de prejuízo comportar. De outro modo, quando for impossível desfazer o dano,
voltando ou aproximando-se do estado anterior, a indenização pecuniária ganhará
sentido por não deixar a vítima sem resposta, numa espécie de compensação pela sanção
que o ofensor suporte, que se não serve para recompor o patrimônio lesado, serve para
284
STJ – “Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
Código Civil. “Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e
reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei; (...) Art. 186. Aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito; Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes. (...) Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.”
285
165
desestimular uma nova conduta semelhante, tanto por parte de quem estiver sendo
responsabilizado, assim como por toda a sociedade.
Também não deve ser obstáculo à reparabilidade dos danos morais, a dificuldade
de apresentar provas concretas de sua existência, pois esses prejuízos se provam in re
ipsa loquitur ou em inglês the thing speaks for itself, significando que os fatos
demonstrados irão apresentar os danos que deles decorram.
O art. 227 da Constituição Federal elenca alguns dos direitos subjetivos que
compõem o patrimônio jurídico de todas as crianças e adolescentes e que estarão
vulneráveis à lesão, quando houver descumprimento dos deveres parentais durante a
vigência do poder familiar, exatamente pelo fato de tais deveres se voltarem à realização
desses interesses. São eles, os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária. Também o direito de não ser negligenciado,
discriminado, explorado ou tratado com violência, crueldade e opressão.
Nenhum desses interesses possui valor econômico correspondente e todos eles,
quando feridos, merecerão uma reparação que lhes seja compatível, se não in natura, ao
menos pecuniária pelos motivos já expostos. Negar a reparação dos danos morais
causados pelos pais a seus filhos é contrariar, injustificadamente, todo o ordenamento
brasileiro, em suas regras e princípios.
5.2.3 Perda de uma Chance como Dano Indenizável
Outra categoria de dano que tem sido considerada, tanto pela doutrina como pela
jurisprudência, é a chamada “perda de uma chance.” A discussão ganhou corpo a partir
de uma decisão do STJ286, referente a um conflito iniciado no programa de perguntas e
respostas veiculado pelo SBT – Sistema Brasileiro de Telecomunicação, chamado Show
do Milhão. A ação foi movida por uma participante do programa, que pleiteava
indenização por danos materiais e morais em decorrência de ter desistido de responder a
última pergunta que valia R$ 500.000,00. A questão consistia em informar, a partir da
constituição vigente, em quanto do território brasileiro recaíam os direitos dos índios;
ocorre que a constituição do país não apresenta a resposta, o que justificou a desistência
286
STJ, Ac.unân.4aT., REsp.788.459/BA, rel. Min. Fernando. Gonçalves, j.8.11.05, DJU 13.3.06, p.334
166
da participante, assim como o erro da empresa responsável pelo programa, que se
baseou na Enciclopédia Barsa para formular a pergunta. Na decisão, a empresa foi
condenada a pagar R$ 125.000,00 à participante do programa, quantia correspondente a
1/4 da chance que ela teria de acertar, considerando a existência de quatro respostas
alternativas na pergunta de meio milhão. Assim, a decisão nem se arrimou em danos
materiais, pois a chance de oferecer uma resposta errada, caso tivesse tentado, também
existia; nem em danos morais, pela dificuldade de identificar bens jurídicos não
econômicos agredidos.
Para Cristiano Chaves287, trata-se mesmo, do surgimento de uma nova modalidade
de dano no cenário jurídico, o que, conforme ele, não o surpreende, principalmente
porque o Direito de Responsabilidade Civil, submetido ao garantismo constitucional,
reflete no reconhecimento de novas situações como merecedoras de tutela jurídica
especial, fazendo aparecer novos institutos e categorias e conforme seu conceito, “tratase de uma modalidade autônoma e específica de dano, caracterizada pela
indenizabilidade decorrente da subtração da oportunidade futura de obtenção de um
benefício ou de evitar um prejuízo.”288
Algumas situações próprias das relações parentais podem apontar para essa
categoria de dano, inclusive podendo-se refletir, a partir dele, em prejuízos materiais
e/ou morais. Exemplificando, Graciela Medina289 ressalta a perda material que decorre
da falta de reconhecimento da paternidade, que priva o filho do aporte financeiro por
parte do genitor omisso, subtraindo-lhe a chance de ter uma vida financeiramente menos
limitada.
As obrigações próprias do poder familiar competem ao pai e à mãe, não estando
nenhum deles, liberado de seu dever de assistência material, pelo fato do outro cobrir
sozinho, as necessidades dos filhos. É claro que, existindo a vinculação jurídica de
parentalidade, a situação financeira de cada um dos genitores pode definir as suas
287
FARIAS, Cristiano Chaves de. A Teoria da Perda de uma Chance Aplicada ao Direito de Família:
Utilizar com Moderação. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.) Família e Solidariedade – Teoria e
Prática do Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. (p. 67-84), p. 68.
288
FARIAS, Cristiano Chaves de. A Teoria da Perda de uma Chance Aplicada ao Direito de Família:
Utilizar com Moderação. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.) Família e Solidariedade – Teoria e
Prática do Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. (p. 67-84), p. 70.
289
“ Dentro del daño material tambíén se ubica la perdida de chance que se da por ejemplo cuando el
menor por esfuerzo materno cubra sus necessidades mínimas, pero la falta de reconocimiento le priva del
aporte paterno que le hubiese dado la “chance” cierta de lograr una mejor asistencia, una vida sujeta a
menos restricciones y un mayor desarrollo en todos sus aspectos”. MEDINA, Graciela. Daños em el
Derecho de Familia. 2 ed. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 154.
167
contribuições, mas, o não reconhecimento voluntário não deve servir de alforria para o
genitor que se omite, fundamentando-se a partir da ausência de vínculo jurídico somado
à cobertura material por parte do genitor que cuida ou por parte de outro familiar. Em
casos como estes, a perda de uma chance como dano, poderia bem ser aplicado. A
chance de ter ou não mais tranquilidade material.
Por outro lado, muitas vezes não há reconhecimento de filhos exatamente porque
suas existências são desconhecidas. Não é incomum encontrar mulheres que escondem
por anos, às vezes por toda a vida, a paternidade de seus filhos, privando-os de conhecer
e conviver com seus pais e demais parentes a eles relativos. Cristiano Chaves identifica,
em casos como esses, a possibilidade de admitir como perda de uma chance, o dano
injusto causado pela privação da convivência paterno/filial com todas as consequências
psicológicas que ela implica.290Em hipóteses como essas, perde o filho, a chance de ter
um pai e perde o pai, a chance de ter um filho.
Muitas outras circunstâncias poderão ser consideradas geradoras de danos por
perda de chances, como por exemplo, a alienação parental e o abandono voluntário, no
entanto, é preciso ter muita cautela na manipulação de algumas figuras jurídicas,
principalmente quando a temática, apesar de aceita, ainda não foi amplamente discutida
doutrinariamente.
Muito ainda há o que avançar, mas, considerar os deveres parentais como
obrigações em seu sentido mais técnico e a possibilidade de aplicar a responsabilidade
civil por descumprimento dessas obrigações, já é um grande e importante primeiro
passo.
5.3 A Retórica no Superior Tribunal de Justiça
É possível refletir sobre a capacidade do direito produzir verdades. Se o principal
instrumento de trabalho do operador do direito seja ele advogado, juiz, professor,
promotor, etc., é a capacidade argumentativa, as verdades passam a ser tudo aquilo que
os argumentos mais fortes provocarem em efeitos persuasivos no maior número de
pessoas.
290
FARIAS, Cristiano Chaves de. A Teoria da Perda de uma Chance Aplicada ao Direito de Família:
Utilizar com Moderação. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.) Família e Solidariedade – Teoria e
Prática do Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. (p. 67-84), p. 73.
168
Muito já se avançou em termos de conquistas jurídicas para um Estado
Democrático de Direito, fundamentado na dignidade da pessoa humana, no entanto,
ainda é preciso sedimentar o conhecimento acerca da importância dos direitos
existenciais, bem como defini-los na medida do possível, evitando que argumentos
fracos, esvaziem interesses fortes, como tem acontecido na prática de alguns tribunais.
A entrada do abandono afetivo no cenário jurídico, tanto por causa de sua
denominação emocional, como também, por sua abrangência que implica em
rompimentos de alguns paradigmas centenários e outros milenares, provocou uma
inquietação em toda a comunidade jurídica que, confusa, algumas vezes não sabe pedir,
outras vezes, não consegue decidir.
A ênfase na temática do abandono afetivo, quando se sabe que existem outras
possibilidades de violação de direitos existenciais nas relações parentais, deve-se ao fato
de que foi essa a mais polêmica discussão a despertar o interesse das pessoas quanto aos
direitos existenciais nas relações jurídicas entre pais e filhos.
Toda a discussão tem início em 2004, quando a mídia veiculou três casos de
pessoas que, sentindo-se abandonadas por seus pais, buscaram amparo jurídico,
resultando em decisões polêmicas acerca da reparabilidade de prejuízos advindos da
falta de afeto.291 Não somente nos meios jurídicos e acadêmicos, mas, em todas as
esquinas, indagações acerca da “moralidade” dos pedidos eram feitas, uma vez que o
pagamento do afeto não dado, ou seja, a mercantilização do afeto seria contrária ao que
se espera, natural e culturalmente, das relações entre pais e filhos. Mais ainda, a
negligência paterna ou materna, teria relevância em outro plano (moral, religioso, etc.)
que não, o jurídico.
Um desses casos, o de Minas Gerais, chegou ao Superior Tribunal de Justiça e a
decisão foi no sentido de não conhecer o direito a uma reparação pecuniária, por não
identificar no caso, o ato ilícito que origina a responsabilidade civil292. O Ministro
Fernando Gonçalves, autor do voto vitorioso, foi seguido por mais três ministros que
compõem a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que entenderam corretas as razões
291
Ago/2003 – Comarca de Capão da Canoa; Abril/2004 – 7ª Câmara Cível do TAMG e Jun/2004 – 31ª
Vara Cível da Comarca de São Paulo.
292
Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. Recurso Especial nº 757411-MG. Relator: Ministro Fernando
Gonçalves. Decisão por maioria. Brasília, 29/11/2005. DJ de 27/03/2006, p. 299.
169
ali apontadas. Apenas o Ministro Barros Monteiro apresentou posicionamento
diferente.293.
Com o objetivo de mostrar como o desconhecimento da matéria e a interferência
de outros fatores, como a cultura e a religião, podem ser obstáculos ao fortalecimento
dos direitos mais fundamentais que as crianças e adolescentes possuem, será analisado
retoricamente, o voto do Ministro Fernando Gonçalves. A abordagem não será
defensiva, assim, não se espera refutar os argumentos ali expostos, mas, apenas
descobrir e ressaltar os elementos persuasivos ali presentes e que vem sendo replicados
em outras decisões.
A pertinência do trabalho justifica-se, no entendimento de que a retórica não está
resumida à arte (tekhné) do discurso persuasivo, ao saber escolher, dispor e apresentar
argumentos aptos a levar o auditório a aderir à ideia do escritor/orador (retórica
estratégica). Reboul294 aponta que, ao lado da função persuasiva, também temos as
funções heurísticas, pedagógicas e hermenêutica, o que também não é suficiente para
esgotar todo o conteúdo e fins da retórica295.
Para facilitar a identificação dos elementos persuasivos no voto do ministro
Fernando Gonçalves, os parágrafos estão analisados um a um, apresentando-se
destacados pelo itálico e por parênteses. Assim, logo após a transcrição de cada trecho
293
Observe trecho do voto vencido: “Como se sabe, na norma do art. 159 do Código Civil de 1916, está
subentendido o prejuízo de cunho moral, que agora está explícito no Código novo. Leio o art. 186: "Aquele
que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.Ministro Barros Monteiro (Superior Tribunal de
Justiça. 4ª Turma. Recurso Especial nº 757411-MG. Relator: Ministro Fernando Gonçalves. Decisão por
maioria. Brasília, 29/11/2005. DJ de 27/03/2006, p. 299).
294
REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. XVII –XXII.
295
Ballweg ensina, a partir de Nietzche, que a retórica apresenta um significado multifacetado. Apresenta
ao leitor, as retóricas material, prática e analítica ampliando seu conteúdo, e assim, justificando a primeira
frase de seu trabalho: “Da retórica nenhum direito escapa.” BALLWEG, Ottmar. Retórica Analítica e
Direito. In: Revista Brasileira de Filosofia. Instituto Brasileiro de Filosofia. v XXXIX, fasc 163. SP, jul/
Ago/ Set. 1991, p.175-184. Com relação a esses conteúdos, Adeodato expõe de forma bastante didática:
“Com olhos modernos, pode-se perceber o emprego do termo “retórica” em três sentidos básicos. 1. As
retóricas materiais consistem na própria linguagem, o meio de significações, contextual em que vivem as
sociedades humanas; a retórica material é o “fato lingüístico”, a experiência e a descrição compreensível
dos eventos, a própria condição humana de significar por intermédio do discurso. Essa retórica material é
a realidade mesma, as “realidades que vivemos”, constituindo o campo de estudo da retórica prática e da
retórica analítica. 2. As retóricas práticas ensinam como proceder diante da retórica material, as técnicas
e experiências eficientes para agir – ou seja: compreender, argumentar, persuadir, decidir, em suma, viver
no mundo e nele influir estrategicamente -, englobando, por exemplo, a retórica como oratória. 3. A
retórica analítica é o estudo dos outros dois níveis, em uma dupla abstração, buscando sistematizar e
compreender as relações entre as retóricas materiais e práticas, sob uma perspectiva epistemológica.”
ADEODATO, João Maurício. O Silogismo Retórico (Entimema) na Argumentação Judicial. In: Ética e
Retórica. Para uma teoria da dogmática jurídica. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p 332.
170
do discurso, estarão indicados os principais argumentos, entimemas e exemplos que
alcançaram sucesso ao persuadir a maioria dos julgadores da 4ª Turma, em 2005.
Não se pode deixar de afirmar que, esse tipo de estudo também cumpre uma
função heurística, uma vez que, através dele, se constata a realidade que Sobota expõe,
de que “a prática jurídica não é governada nem pelas premissas maiores nem por
normas instrumentais”, mas antes, pelo que chamou de ‘regularidades’ que consistem
em ‘padrões’, o que difere de ‘estruturas’ ou ‘regras’296. Para Adeodato, o estudo do
entimema ajuda a verificar que a decisão jurídica não é produzida por normas gerais.
Antes, estas servem de justificativa para aquilo que já foi escolhido pelo julgador, diante
do caso concreto, como o mais próximo do justo297.
No entanto, para compreender o que está exposto até então, é necessário tecer
breves comentários, retomando algumas considerações acerca da responsabilidade civil,
sobretudo do entendimento atual do que vem a ser dano moral e o que significa
abandono afetivo.
A denominação abandono afetivo é, atualmente, responsável pelas diversas
opiniões que divergem quanto à possibilidade jurídica (ou possibilidade moral) de
reparação dos danos daí advindos, bem como quanto à possibilidade jurídica (ou
possibilidade moral) da interferência do Estado na intimidade do ambiente familiar,
ditando regras acerca de como agir naquela esfera incontrolável das emoções (ou da
falta delas).
A polêmica gira em torno do termo afetivo, sugerindo algo que pertence ao mundo
das emoções do qual o jurista não faz parte. Ocorre que, quando se fala em abandono
afetivo, na realidade quer se mostrar, na relação pai/mãe-filho, o descumprimento de
deveres imateriais apontados, tanto na Constituição como no Código Civil, como
conteúdo do Poder Familiar. Assim, o abandono afetivo consistiria na omissão em agir
como pai e mãe, cujas condutas normalmente, vêm acompanhadas de forte carga
emocional. Na verdade, como já restou explicado anteriormente, o termo mais adequado
296
SOBOTA,
Katharina.
Não
Mencione
a
Norma.
Disponível
em:
http://www.esmape.com.br/esmape/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=137&Itemid
=99999999. Acesso em: 12 de Agosto de 2008.
297
ADEODATO, João Maurício. O Silogismo Retórico (Entimema) na Argumentação Judicial. In: Ética e
Retórica. Para uma teoria da dogmática jurídica. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p 342.
171
seria abandono moral, causador de dano moral, assim, prejuízos existenciais e não
econômicos.
Danos morais não são mais novidades no ordenamento jurídico brasileiro. Embora
durante muito tempo, tenha sido discutida a sua pertinência. Conforme já apresentado
neste capítulo, as razões contrárias à sua indenizabilidade voltavam-se, sobretudo, para
as suas naturais consequências: dor, vergonha, angústia, frustração. Como não se admite
conferir preço à dor, não seria aceitável qualquer reparação pecuniária, por ser
incompatível com o prejuízo.
Não cabe, agora, discorrer sobre o caminho percorrido até chegar ao
reconhecimento jurídico do conceito, da importância e da aplicabilidade das regras de
responsabilidade civil aos prejuízos não materiais. Mas, para melhor entender o
documento (voto do ministro), objeto da análise retórica, é prudente repetir, para
lembrar, ainda que brevemente, do que se tratam tais prejuízos.
Dano moral, sendo o prejuízo sofrido pela pessoa natural ou jurídica em sua esfera
de interesses imateriais, conduz à identificação entre o patrimônio lesado e os direitos
de personalidade.298
Tomando como ponto de partida, os princípios constitucionais da dignidade, da
solidariedade, da igualdade e o princípio implícito da afetividade299, bem como o que
dispõem os artigos constitucionais: 5º, V e X300 e 227, caput301; e ainda os artigos 186302
298
LÔBO,
Paulo.
Dano
Moral
e
Direitos
da
Personalidade.
Disponível
em:
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445. Acesso em: 09 ago. 2004.
299
A afetividade nem é fato exclusivamente sociológico ou psicológico, nem é petição de princípio, mas,
princípio mesmo, com fundamento constitucional, conforme anteriormente mencionado, que especializa
os princípios da dignidade e da solidariedade. LÔBO, Paulo Luiz Netto. O Princípio Jurídico da
Afetividade na Filiação. Disponível em: http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=130. Acesso em: 10
de Maio de 2008.
300
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)V - é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (...)X - são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”
301
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
302
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
172
e 927, caput303, do Código Civil, torna fácil a percepção quanto à relação entre a
conduta ilícita do abandono afetivo (ou abandono moral) e o dano moral indenizável.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em 2005 pensava diferente. E por
maioria. Não menos pelo mérito do poder de persuasão do documento que agora, passa
a ser analisado.
O autor do texto analisado é o Ministro Fernando Gonçalves que atuou como
relator do Recurso Especial nº 757411-MG em 29 de novembro de 2005. O colegiado
reuniu-se na 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e era composto pelos Ministros
Aldir Passarinho Junior, Jorge Scartezzini e César Asfor Rocha, que acompanharam o
voto do relator. O voto vencido coube ao Ministro Barros Monteiro.
O discurso pertence ao gênero judiciário e por se dirigir a um auditório
especializado, utiliza, preferencialmente, raciocínios silogísticos (entimemas). A maior
parte dos argumentos baseia-se no logos, no entanto, percebe-se o recurso eventual ao
pathos.
A análise restringe-se ao voto do ministro por entender ser o local onde está
presente o maior número de elementos persuasivos do trabalho jurídico de decidir e
partirá de cada parágrafo, apresentados em itálico e entre parênteses, para poder
destacar do estilo dos comentários.
Segue-se a análise retórica do primeiro voto vencedor no Superior Tribunal de
Justiça acerca do abandono afetivo:
(A questão da indenização por abandono moral é nova no Direito Brasileiro. Há
notícia de três ações envolvendo o tema, uma do Rio Grande do Sul, outra de São Paulo
e a presente, oriunda de Minas Gerais, a primeira a chegar ao conhecimento desta
Corte. A demanda processada na Comarca de Capão da Canoa-RS foi julgada
procedente, tendo sido o pai condenado, por abandono moral e afetivo da filha de nove
anos, ao pagamento de indenização no valor correspondente a duzentos salários
mínimos. A sentença, proferida em agosto de 2003, teve trânsito em julgado, vez que
não houve recurso do réu, revel na ação. Cumpre ressaltar que a representante do
Ministério Público que teve atuação no caso entendeu que "não cabe ao Judiciário
303
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a reparálo.”
173
condenar alguém ao pagamento de indenização por desamor", salientando não poder ser
a questão resolvida com base na reparação financeira).
Neste primeiro parágrafo do acórdão, percebe-se, logo no início, um argumento
dissociativo. Como visto na introdução desse trabalho, o dano moral não tem em sua
substância, a dor, mas, a violação de interesses imateriais, sobretudo dos direitos
correspondentes à condição de pessoa. O que a doutrina tem chamado de abandono
afetivo é a abstenção de cumprimento, por parte do pai ou da mãe, dos deveres que
decorrem do poder familiar e se referem aos direitos existenciais do filho. Assim,
frustrando-se tais interesses, tratando-se de filho menor, é provável que alguns direitos
da personalidade sejam atingidos, como a integridade psíquica, por exemplo, ou até
mesmo a reputação (honra objetiva, imagem atributo), perante as outras crianças da
escola. Quando o Ministro, em seu voto, inicia argumentando ser o abandono afetivo,
novo no Direito Brasileiro, busca dissociar as conseqüências deste ato, dos danos
morais. Desta forma, desviando, o discurso, do tema que já está sedimentado no Direito
Pátrio, abre-se o espaço necessário para que o logos e o pathos, sobretudo, cumpram seu
papel de alicerçar a persuasão.
No texto, há ainda, o uso, embora discreto, da metonímia, método que evita
aborrecer o auditório com um discurso técnico enfadonho. Quando diz “...a primeira a
chegar ao conhecimento da Corte...”, na realidade, não é a Corte que conhece o caso,
mas os Julgadores da Corte, no entanto, a construção utilizada, garante a elegância da
exposição, como parte da eloqüência.304
Neste momento, o Ministro utiliza um elemento intratextual que serve de apoio
como “argumento de autoridade”305, assim, prova pelo ethos, que se trata da citação do
representante do Ministério Público, aquilo que vai ser a conclusão deste voto.
(O Juízo da 31ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo-SP, a seu turno,
condenou um pai a indenizar sua filha, reconhecendo que, conquanto fuja à
razoabilidade que um filho ingresse com ação contra seu pai, por não ter dele recebido
afeto, "a paternidade não gera apenas deveres de assistência material, e que além da
guarda, portanto independentemente dela, existe um dever, a cargo do pai, de ter o filho
em sua companhia".)
304
A elocução, no sistema retórico de matriz aristotélica, consiste na “parte do discurso, que trata do bom
estilo”. IORIO FILHO, Rafael Mário. Retórica. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (coord.) Dicionário
de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar, 2006. (p. 723-726), p. 724.
305
REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 157.
174
O segundo parágrafo do voto analisado apóia-se no exemplo ocorrido em São
Paulo, a partir da utilização, mais uma vez, do recurso intratextual da citação. Desta vez,
com a finalidade de enfraquecer o argumento contrário à sua tese. Ao indicar que não é
razoável pedir indenização por abandono afetivo contra um pai, é razoável reconhecer
que o direito de pedir, existe. Ou seja, a ratio legis, na qual se apóia um entendimento
contrário à negação da pretensão do filho, não seria razoável nesse caso.
Para Reboul306, a contradição (no caso, não é razoável / é razoável) é rara na
argumentação por impossibilitar a prova, vez que toca o absurdo. No entanto, no
presente discurso, incita-se a confusão entre razoabilidade e racionalidade, apontando
um valor diferente para a regra que impõe a obrigação dos pais assistirem os filhos, para
além de suas necessidades materiais.307
(A matéria é polêmica e alcançar-se uma solução não prescinde do enfrentamento
de um dos problemas mais instigantes da responsabilidade civil, qual seja, determinar
quais danos extrapatrimoniais, dentre aqueles que ocorrem ordinariamente, são
passíveis de reparação pecuniária. Isso porque a noção do que seja dano se altera com
a dinâmica social, sendo ampliado a cada dia o conjunto dos eventos cuja repercussão
é tirada daquilo que se considera inerente à existência humana e transferida ao autor
do fato. Assim situações anteriormente tidas como "fatos da vida", hoje são tratadas
como danos que merecem a atenção do Poder Judiciário, a exemplo do dano à imagem
e à intimidade da pessoa.)
Ao enfatizar o caráter polêmico da matéria, apontando uma solução complexa, a
partir do enfrentamento de um dos problemas mais instigantes, o escritor/orador
exagera por meio do uso do advérbio superlativo relativo de superioridade, com a
finalidade de expor sua razão, todavia provando a partir do pathos. Sendo o tema
instigante, o auditório se vê envolvido, emocionalmente, para resolver o conflito.
Apesar de o discurso judiciário fundar-se principalmente, no logos, a emoção lançada
para quem se pretende persuadir, embota a razão naquilo que se pretende ocultar.
306
REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 168.
“Ambas as palavras, racional e razoável, derivam do mesmo substantivo. Ambas significam uma
conformidade com a razão, mas, raramente interagem; uma sugere uma dedução em conformidade com as
regras da racionalidade lógica, mas não necessariamente razoável. Todavia, uma concessão pode ser
denominada razoável. Não podemos nos esquecer: uma decisão racional pode não ser razoável e viceversa.” MANELI, Mieczyslaw. A Nova Retórica de Perelman. Filosofia e Metodologia para o século
XXI. São Paulo: Manole, 2004, p. 28.
307
175
Outro elemento persuasivo que se destaca no parágrafo analisado é o paradigma,
ou melhor, a mudança de paradigma no que diz respeito àquilo que determina o que seja
dano indenizável ou, simplesmente, fatos da vida. Ao exemplificar pela violação à
imagem ou à intimidade, o ministro enfatiza que fatos da vida variam de importância, de
acordo com a dinâmica social.
Por outro lado, de forma oculta, entimemática, conduz à possibilidade de,
imprudentemente, incluir outros fatos da vida, que não foram alçados, ainda, ao patamar
valorativo de interesse juridicamente tutelável308. Por esta afirmação, seria a premissa
maior: O conceito de dano varia com a dinâmica social que inclui ou exclui fatos da
vida de seu contexto. Premissa menor: abandono afetivo é fato da vida. Conclusão:
logo, abandono afetivo pode ou não ser dano indenizável.
Concluindo pela possibilidade, de maneira reticente, o ministro lança para o
auditório a responsabilidade de resolver a questão da pertinência ou impertinência de se
incluir o abandono afetivo, como fonte de obrigação. A técnica de uma conclusão
reticente procura aflorar, naqueles que recebem a mensagem, a busca dos lugarescomum (topoi) em relação ao tema, que vão confirmar a verossimilhança daquilo que
vai se decidir. Assim, sedimenta-se a cumplicidade entre o autor do discurso e o
auditório que o apóia.
(Os que defendem a inclusão do abandono moral como dano indenizável
reconhecem ser impossível compelir alguém a amar, mas afirmam que "a indenização
conferida nesse contexto não tem a finalidade de compelir o pai ao cumprimento de
seus deveres, mas atende duas relevantes funções, além da compensatória: a punitiva e
a dissuasória. (Indenização por Abandono Afetivo, Luiz Felipe Brasil Santos, in ADV Seleções Jurídicas, fevereiro de 2005).
Nesse sentido, também as palavras da advogada Cláudia Maria da Silva: "Não se
trata, pois, de "dar preço ao amor"– como defendem os que resistem ao tema em foco 308
“Assim, propugna-se o uso da tópica, mas sem olvidar da dogmática, posto que o uso exclusivo
daquela techné poderia conduzir a uma problematização excessiva, de modo que não se alcançaria uma
resposta aos problemas submetidos ao crivo dos juristas”. COSTA FILHO, Venceslau Tavares. Tópicos
de Direito Civil. Recife: Nossa Livraria, 2007, p 60. “O termo tópica tem a sua origem na expressão
grega topos, que corresponde ao lócus latino e ao lugar comum em língua portuguesa. A tópica se associa
a uma retomada do pensamento da Antiguidade, sobretudo aristotélico, que propunha a adoção de um
raciocínio fundado na solução de problemas. Em seus Tópicos, Aristóteles discute a arte da disputa, que
se insere no contexto dos raciocínios dialéticos, que são resultado de proposições formadas por opiniões
aceitas, a partir da contraposição de argumentos”. MENDONÇA, Paulo Roberto S. Tópica. In:
BARRETTO, Vicente de Paulo (coord.) Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos;
Rio de Janeiro: Renovar, 2006. (p. 826-829), p. 828.
176
tampouco de "compensar a dor"propriamente dita. Talvez o aspecto mais relevante seja
alcançar a função punitiva e dissuasória da reparação dos danos, conscientizando o
pai do gravame causado ao filho e sinalizando para ele, e outros que sua conduta deve
ser cessada e evitada, por reprovável e grave.” (Descumprimento do Dever de
Convivência Familiar e Indenização por Danos à Personalidade do Filho, in Revista
Brasileira de Direito de Família, Ano VI, n° 25 – Ago-Set 2004))
Esses dois parágrafos guardam identidade ao apresentarem duas citações com o
mesmo objetivo: antecipar os argumentos contrários, a fim de viabilizar que o autor,
posteriormente, volte-se contra eles. É muito comum, quando se pretende proceder por
esse método estratégico, se recorrer a uma figura de argumento, prolepse, de difícil
definição, por confundir-se com a própria noção de argumento309.
A escolha de trazer dois discursos externos confere maior credibilidade à idéia de
que esses são, realmente, os contra-argumentos de sua tese. Assim, fica mais fácil
destruí-los.
Em ambas as citações, os autores admitem que a indenização não seria o
instrumento pelo qual a relação pai-filho seria resgatada. Seguem afirmando que uma
condenação pecuniária não compensaria a dor do abandono, nem se adequaria a
recompor patrimônio lesado, uma vez que o amor não tem preço. Pode-se dizer, então,
que correspondem a argumentos do desperdício às avessas310. A intenção será persuadir
que devem ser evitadas as decisões que originem condutas que não resultam em nenhum
benefício para qualquer das partes.
Posteriormente, apontam as reais funções da indenização nos casos em que os pais
descumprem os deveres de guarda e educação, decorrentes do poder familiar: a função
punitiva e a pedagógica.
309
Para Reboul, seriam exemplos de prolepse: Dizer-nos que... Objetar-se-á que... REBOUL, Olivier.
Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, p. 135. Já Perelman, classifica a prolepse (ou
antecipação – praesumptio) como figura de escolha “quando visa insinuar que há motivo de substituir
uma qualificação que poderia ter levantado objeções por outra” – PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTSTYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação: A Nova Retórica. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005,
p. 197.
310
O verdadeiro sentido do argumento do desperdício “consiste em dizer que, uma vez que já se começou
uma obra, que já se aceitaram sacrifícios que se perderiam em caso de renúncia à empreitada, cumpre
prosseguir na mesma direção. Essa é a justificação fornecida pelo banqueiro que continua a emprestar ao
seu devedor insolvente, esperando, no final das contas, ajudá-lo a sair do aperto”. PERELMAN, Chaïm;
OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação: A Nova Retórica. 2. ed. São Paulo:
Martins Fontes, p. 317-318.
177
De maneira a afastar a idéia de um conceito maior de norma jurídica e, ainda,
limitando-se a uma das várias regras que podem incidir sobre o caso, segue o discurso
do ministro311.
(No caso de abandono ou do descumprimento injustificado do dever de sustento,
guarda e educação dos filhos, porém, a legislação prevê como punição a perda do
poder familiar, antigo pátrio-poder, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, art.
24, quanto no Código Civil, art. 1638, inciso II. Assim, o ordenamento jurídico, com a
determinação da perda do poder familiar, a mais grave pena civil a ser imputada a um
pai, já se encarrega da função punitiva e, principalmente, dissuasória, mostrando
eficientemente aos indivíduos que o Direito e a sociedade não se compadecem com a
conduta do abandono, com o que cai por terra a justificativa mais pungente dos que
defendem a indenização pelo abandono moral.)
Aqui, novamente, o ministro recorre ao exagero para persuadir que a perda do
poder familiar, por ser a mais grave pena civil a ser imputada a um pai é o bastante par
atingir toda e qualquer finalidade pedagógica. Este tipo de argumento, conforme
Reboul,312 seria daqueles classificados como de terceiro tipo (argumentos que
fundamentam a estrutura do real), tendo em vista que só se afirma que algo é mais, em
relação à outra coisa com que se compare, no caso, outras possíveis punições
imputáveis a um pai, como por exemplo, o dever de indenizar os prejuízos causados na
esfera imaterial. Exatamente o argumento fraco dos dois parágrafos antecedentes do
acórdão.
No entanto, encontra-se escondido o real papel do poder familiar no atual
contexto. Com os princípios constitucionais do direito de família, que tendem a resgatar
a importância das pessoas que integram tais unidades de vivência, conferindo-lhes,
sobretudo dignidade e igualdade, o conteúdo daquilo que, antes, era chamado de pátrio
poder, deixa de ser voltado para o pai, senhor das decisões, direitos e autoridade e voltase para o filho, pessoa em formação e vulnerável. Assim, o hoje chamado poder
familiar, é constituído de regras que sujeitam os pais nos deveres de proteção,
311
“Para que o adversário aceite uma tese, devemos apresentar-lhe também a contrária e deixar que ele
escolha, ressaltando essa oposição com estridência, de modo que ele, se não quiser ser contraditório,
tenha de se decidir pela nossa tese que, em comparação à outra, se mostra muito mais provável (...)”
Estratagema 13 – Alternativa Forçada. SHOPENHAUER, Artur. Como Vencer um Debate sem Precisar
ter Razão. Tradução: Daniela Caldas e Olavo de Carvalho. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003, p. 145.
312
REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, p. 183.
178
manutenção, educação, convívio, etc. com o objetivo de moldar o ser social saudável
que vai conviver, por si só, com os demais.
Certamente, o autor do discurso conhece o conteúdo das regras e princípios de
direito de família que estão em vigor atualmente, no entanto, toca no pathos do
auditório que, possivelmente, é composto por pais ou avôs, para quem, a perda de
qualquer vinculação jurídica com seus filhos, pareceria antes, uma tragédia.
No entanto, com base em uma reflexão mais racional que emocional, conclui-se
que, para aquele que abandona voluntariamente, seu filho, a perda do poder familiar
será como uma remissão de dívidas.
Mais uma vez, prova-se que a estrutura do entimema viabiliza as omissões
necessárias para, estrategicamente, levar o auditório a concluir pelo razoável nas
situações gerais.
(Por outro lado, é preciso levar em conta que, muitas vezes, aquele que fica com a
guarda isolada da criança transfere a ela os sentimentos de ódio e vingança nutridos
contra o ex-companheiro, sem olvidar ainda a questão de que a indenização pode não
atender exatamente o sofrimento do menor, mas também a ambição financeira daquele
que foi preterido no relacionamento amoroso.)
Nesse trecho do discurso, transmite-se a ideia de incompatibilidade entre o que
está apresentado como causa de pedir e a real intenção do autor da ação. O topos que
aceita o natural e consequente sentimento que inclina para a vingança diante de uma
injustiça, evidencia a dualidade aparência/realidade, para concluir que a ambição ou a
raiva e não, a carência existencial, motivaram o pedido313.
(No caso em análise, o magistrado de primeira instância alerta, "De sua vez,
indica o estudo social o sentimento de indignação do autor ante o tentame paterno de
redução do pensionamento alimentício, estando a refletir, tal quadro circunstancial,
propósito pecuniário incompatível às motivações psíquicas noticiadas na Inicial (fls.
74) (...) Tais elementos fático-probatórios conduzem à ilação pela qual o tormento
experimentado pelo autor tem por nascedouro e vertedouro o traumático processo de
separação judicial vivenciado por seus pais, inscrevendo-se o sentimento de angústia
dentre os consectários de tal embate emocional, donde inviável inculpar-se
313
Reboul explicita o esquema dissociativo do par aparência/realidade, da seguinte forma: “Termo 1: Ser
aparente, imediato, conhecido diretamente./Termo 2: Ser real, critério de valor e de verdade do termo 1” –
REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, p. 190.
179
exclusivamente o réu por todas as idiossincrasias pessoais supervenientes ao
crepúsculo da paixão."(fls. 83)).
Novamente, recorre a um suporte externo, que sugere concluir pelo método post
hoc, propter hoc.314 Assim, deduz-se que depois do pai pedir redução da pensão
alimentícia que vinha pagando ao filho e por causa disso, este pleiteia em juízo,
indenização por abandono afetivo. A finalidade, portanto, seria vingar-se do pai,
reagindo ao intento paterno.
O argumento, além de provar pelo logos, ainda apela ao pathos, pois sabe-se que a
vingança é odiosa.
O texto do magistrado citado encontra-se recheado de figuras de sentido
metafórico (nascedouro, vertedouro, crepúsculo), que não serão analisadas nesse
trabalho, uma vez que se pretende manter a atenção voltada para a redação desenvolvida
pelo ministro Fernando Gonçalves.
(Ainda outro questionamento deve ser enfrentado. O pai, após condenado a
indenizar o filho por não lhe ter atendido às necessidades de afeto, encontrará
ambiente para reconstruir o relacionamento ou, ao contrário, se verá definitivamente
afastado daquele pela barreira erguida durante o processo litigioso?
Quem sabe admitindo a indenização por abandono moral não estaremos
enterrando em definitivo a possibilidade de um pai, seja no presente, seja perto da
velhice, buscar o amparo do amor dos filhos (...)
Os parágrafos 9º e 10º da decisão sugerem o dilema: caso o pai seja condenado a
indenizar seu filho, isso resolveria ou agravaria o problema?
Trata-se aqui, de um argumento de direção que, mais uma vez, utiliza o recurso do
exagero, para concluir que o afeto do pai, carência que justifica o pedido de reparação
por parte do filho, seria totalmente afastado em caso de condenação. A vitória do filho
apagaria a mínima centelha de possibilidade de poder conquistá-lo. E o termo utilizado
314
Para os filósofos/humoristas Tom Cathcart e Dan Klein, “o livro Freakonomics aponta montes dessas
falácias, principalmente no âmbito da paternidade. Um pai diz: ‘meu filho é inteligente porque eu tocava
Mozart para ele quando ele estava no útero’ quando, na verdade, não existe nenhuma correlação entre as
duas coisas. O mais provável é que o moleque seja esperto porque tem pais que ouviam Mozart (isto é,
eram cultos e, portanto, provavelmente inteligentes). CATHCART, Tom; KLEIN, Dan. Platão e um
Ornitorrinco entram num Bar...A Filosofia explicada com Senso de Humor. Rio de Janeiro: Objetiva,
2008, p. 226-227.
180
no parágrafo 10º, em definitivo, exclui por completo, a hipótese de que o resultado
pudesse ser diferente.
O Ministro Fernando Gonçalves utiliza a metáfora: como se fosse “uma barreira
erguida durante o processo litigioso” e a hipérbole “enterrando em definitivo”, para
reforçar a ideia do preferível (é preferível evitar a ruptura dos possíveis afetos,
afastando a decisão que manda o pai entregar ao filho, uma soma em dinheiro, a título
de compensação). O argumento do preferível é um dos elementos necessários ao acordo
firmado com os seus interlocutores.315
Apela ao pathos ao remeter o tema ao futuro, na ideia de uma velhice frágil do
pai, invertendo os papéis, colocando o pai em uma situação de necessidade no que tange
ao amparo do filho.
Agora, convenientemente, distrai o auditório, desviando a sua atenção para que a
prova que pretenda fixar (no momento, conforme acabamos de ver, aproximando-se
mais do pathos) – é esse o papel da digressão316 na construção do discurso persuasivo.
Para tanto, o ministro insere no texto, uma parte do conto "Para o aniversário de um pai
muito ausente", de Jayme Vita Roso, que mostra o drama de uma mulher que foi
abandonada afetivamente pelo pai e, no entanto, não se mostra vingativa. Antes,
expressa a paciência que ainda lhe cabe da espera desse pai “não aproveitado”.317
(Por certo um litígio entre as partes reduziria drasticamente a esperança do filho
de se ver acolhido, ainda que tardiamente, pelo amor paterno. O deferimento do
pedido, não atenderia, ainda, o objetivo de reparação financeira, porquanto o amparo
315
“A fim de atingir tal “adesão” do público, devemos levar em consideração não somente o “espírito” ou
a “atitude” geral de um determinado país, sociedade ou qualquer outra audiência limitada, mas também
seus sentimentos complexos, combinados e até contraditórios.” MANELI, Mieczyslaw. A Nova Retórica
de Perelman. Filosofia e Metodologia para o século XXI. São Paulo: Manole, 2004, p. 80.
316
Digressão (parekbasis), “momento de ‘relaxamento’, trecho móvel, ‘destacável’, como diz Roland
Barthes, que se pode colocar em qualquer momento do discurso, mas de preferência entre a confirmação e
a peroração”. REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, p. 59.
317
"O Corriere della Sera, famoso matutino italiano, na coluna de Paolo Mieli, que estampa cartas
selecionadas dos leitores, de tempos em tempos alguma respondida por ele, no dia 15 dejunho de 2002,
publicou uma, escrita por uma senhora da cidade de Bari, com o título "Votos da filha, pelo aniversário do
pai". Narra Glória Smaldini, como se apresentou a remetente, e escreve: "Caro Mieli, hoje meu pai faz 67
anos. Separou-nos a vida e, no meu coração, vivo uma relação conflitual, porque me considero sua filha
´não aproveitada´. Aos três anos fui levada a um colégio interno, onde permaneci até a maioridade. Meu
pai deixara minha mãe para tornar a se casar com uma senhora. Não conheço seus dois outros filhos,
porque, no dizer dele, a segunda mulher ´não quer misturar as famílias´. Faz 30 anos que nos
relacionamos à distância, vemo-nos esporadicamente e presumo que isso ocorra sem que saiba a segunda
mulher. Esperava que a velhice lhe trouxesse sabedoria e bom senso, dissipando antigos rancores. Hoje,
aos 39 anos, encontro-me ainda a esperar. Como meu pai é leitor do Corriere, peço-lhe abrigar em suas
páginas meus cumprimentos para meu pai que não aproveitei."
181
nesse sentido já é providenciado com a pensão alimentícia, nem mesmo alcançaria
efeito punitivo e dissuasório, porquanto já obtidos com outros meios previstos na
legislação civil, conforme acima esclarecido.)
Chega-se, agora, ao ponto que, no sistema retórico, é conhecido por peroração.
Agora, o autor do discurso, após utilizar de vários argumentos, busca despertar a
indignação do auditório, confundindo os interlocutores acerca do que se trata a
pretensão do autor. Enfatiza, alicerçado no pathos e, novamente, recorrendo ao exagero,
a preocupação em manter ou viabilizar o vínculo afetivo-familiar entre pai e filho,
quando não é disso que se trata o interesse exposto pelo autor da ação. Amplia o
argumento da finalidade da reparação, para desviá-la, mais uma vez, da pretensão do
filho. Inclusive, tal recurso é apontado no primeiro estratagema da dialética erística de
Schopenhouer318.
(Nesse contexto, inexistindo a possibilidade de reparação a que alude o art. 159
do Código Civil de 1916, não há como reconhecer o abandono afetivo como dano
passível de indenização.)
(Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para afastar a
possibilidade de indenização nos casos de abandono moral).
Diante do exposto, pode-se afirmar que a dogmática não é o único recurso
utilizado pelo julgador para construir sua decisão. Como se percebe, o uso dos
entimemas permite concluir que a tópica exerce um papel relevante no trabalho do
julgador. O que pode, inclusive, não significar segurança jurídica, vez que, se os
argumentos se baseiam em cláusulas abertas, a serem preenchidas pelos topoi, ainda que
reclamem valores sociais sedimentados, podem servir para lastrear uma decisão
arbitrária que, ao incidir casuisticamente, não garante a estreita aproximação da justiça.
Até porque, é possível questionar o que vem a ser justiça. E a resposta, vai depender dos
argumentos.
318
SHOPENHAUER, Artur. Como Vencer um Debate sem Precisar ter Razão. Tradução: Daniela
Caldas e Olavo de Carvalho. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003. p. 124.
182
5.4 Amar é Faculdade, Cuidar é Dever. O Reconhecimento do Abandono Afetivo no
Superior Tribunal de Justiça
Depois de sete anos do primeiro julgamento sobre a matéria, no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, o abandono afetivo, como dano moral indenizável, tem o
seu reconhecimento no âmbito daquela corte. A frase que intitula esta abordagem, “amar
é faculdade, cuidar é dever”, integra o voto da Ministra Nancy Andrighi, que, em 24
Abril de 2012, resultou vitorioso no julgamento do REsp. nº 1159242/SP, pela 3ª
Câmara do STJ. A decisão foi no sentido de obrigar um pai ao pagamento de
indenização no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à sua filha, em decorrência
do abandono afetivo sofrido por ela, ao longo de sua infância e adolescência.
Contra os argumentos apresentados pela ministra Andrighi, foi apresentado,
apenas, um voto divergente, o do ministro Massami Uyeda, que restou vencido319. Não
obstante o histórico do STJ, em decisões contrárias à tese da indenizabilidade do
abandono afetivo, com base em argumentos semelhantes aos que foram retoricamente
analisados nesta tese, constantes do voto do ministro Fernando Gonçalves, já que serviu
de paradigma para o julgamento, pela mesma 4ª Turma daquela Corte, em 2009, do
REsp 514350 / SP320, tendo, dessa vez, por relator, o ministro Aldir Passarinho que em
seu voto, também considerou o abandono afetivo, incapaz de gerar reparação
pecuniária. Naturalmente, a argumentação foi seguida pelos demais ministros
integrantes daquela turma, incluindo o ministro Fernando Gonçalves, autor do voto
pioneiro no STJ.
No caso que originou o mais recente julgado, a autora, inicialmente, processou o
pai que a tinha reconhecido como filha, de maneira forçada e tardiamente, alegando
abandono material e afetivo. Não obtendo êxito em primeira instância, recorreu ao
TJSP que por sua vez, reformou a decisão de primeiro grau, para condenar o pai a
indenizar sua filha, no montante de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais).
Em sede de Recurso Especial, no STJ, o pai se muniu dos paradigmas decisórios
anteriores, ressaltando o argumento de que a única consequência cabível, para os casos
de reconhecimento do abandono afetivo, com previsão na legislação civil brasileira,
319
Disponível em:
http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=105567. Acesso em 02
de maio de 2012.
320
Disponível em: http://www.stj.gov.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=abandono afetivo. Acesso
em 02 de maio de 2012.
183
seria a perda do poder familiar.
Como relatora no julgamento do referido recurso, o voto da ministra Andrighi,
modificou a orientação anterior do STJ, para entender, finalmente, que o abandono
afetivo gera, sim, obrigação de indenizar, por se tratar de claro e grave dano moral
causado por omissão no cumprimento dos deveres parentais. Percebe-se que agora, em
meados de 2012, ganha força, a plausibilidade dos argumentos centrais desta tese, que
são, em sua maioria, coincidentes com a base fundante do voto da ministra.
O voto apresentado pela ministra Nancy Andrighi segue um modelo de
organização que divide suas principais ideias em três partes. Na primeira, a ministra
apresenta o seu posicionamento no sentido de reconhecer a existência de dano moral nas
relações familiares, a despeito de toda uma cultura que insiste em blindar as famílias
contra a interferência do Estado, assim como, pela mistura de elementos subjetivos e
objetivos que insistem em negar interesses legítimos, pela dificuldade de separar a ideia
de danos concretos dos sentimentos peculiares às relações de família, na frágil
argumentação que nem mais serve à teoria do dano, de que haveria imoralidade em se
conferir preço aos sentimentos. Até porque não se tratam de sentimentos, mas, de
condutas devidas.
(...)
Muitos, calcados em axiomas que se focam na existência de singularidades na
relação familiar – sentimentos e emoções –, negam a possibilidade de se indenizar
ou compensar os danos decorrentes do descumprimento das obrigações parentais a
que estão sujeitos os genitores.
Contudo, não existem restrições legais à aplicação das regras relativas à
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar, no Direito de
Família. Ao revés, os textos legais que regulam a matéria (art. 5º, V e X da CF e
arts. 186 e 927 do CC-02) tratam do tema de maneira ampla e irrestrita, de onde é
possível se inferir que regulam, inclusive, as relações nascidas dentro de um núcleo
familiar, em suas diversas formas.321
Na segunda parte, a ministra apresenta os elementos de responsabilidade civil, que
justificam a imputação do dever de reparar os danos, ao recorrente, mas, antes de entrar
na fundamentação jurídica adotada, mais uma vez, busca afastar os elementos
intangíveis que naturalmente integram as relações familiares, como os sentimentos e
emoções, viabilizando uma análise mais técnica das relações jurídicas. Por isso, devem
321
Disponível em:
http://www.flaviotartuce.adv.br/jurisprudencias/201205021525150.votonancy_abandonoafetivo.pdf.
Acesso em: 02 de maio de 2012.
184
ser considerados critérios objetivos de verificação daqueles vínculos para que se tenha
mais claro, o conjunto de direitos e deveres que a eles correspondam.
(...)
No entanto, a par desses elementos intangíveis, é possível se visualizar, na relação
entre pais e filhos, liame objetivo e subjacente, calcado no vínculo biológico ou
mesmo autoimposto – casos de adoção – para os quais há preconização
constitucional e legal de obrigações mínimas.
(...)
Sob esse aspecto, indiscutível o vínculo não apenas afetivo, mas também legal que
une pais e filhos, sendo monótono o entendimento doutrinário, de que entre os
deveres inerentes ao poder familiar, destacam-se o dever de convívio, de cuidado, de
criação e educação dos filhos, vetores que, por óbvio, envolvem a necessária
transmissão de atenção e o acompanhamento do desenvolvimento sócio-psicológico
da criança.322
Percebe-se que a ministra, neste momento, já utiliza a palavra obrigação,
remetendo à sua categoria mais estrita e técnica, para se referir àquilo que a doutrina e a
jurisprudência ainda insistem em chamar de deveres jurídicos, permitindo, assim, à sua
conveniência, conduzir os efeitos de muitos fatos jurídicos, ora às consequências do
inadimplemento, enquanto descumprimento de condutas exigíveis e, portanto,
obrigadas; ora às consequências específicas de outras modalidades de deveres,
excluindo a utilização dos instrumentos próprios do direito obrigacional, como tinha
acontecido até então, com certa frequência com relação aos deveres jurídicos parentais.
No que pertine aos elementos de responsabilidade civil, com ênfase na ilicitude do
ato (nos casos de abandono, a conduta negativa) e na culpa, na sua modalidade principal
de negligência, a ministra reconhece o dever de cuidado, que não precisa estar
acompanhado do sentimento de cuidado, próprio de quem ama. Inclusive, o
reconhecimento do valor jurídico do cuidado impõe que o desvelo com a prole não pode
mais ser secundário na criação dos filhos, sendo, não apenas importante, mas, essencial
à formação da personalidade das crianças e adolescentes. Neste sentido:
Vê-se hoje, nas normas constitucionais, a máxima amplitude possível e, em paralelo,
a cristalização do entendimento, no âmbito científico, do que já era empiricamente
percebido: o cuidado é fundamental para a formação do menor e do adolescente;
ganha o debate contornos mais técnicos, pois não se discute mais a mensuração do
intangível – o amor – mas, sim, a verificação do cumprimento, descumprimento ou
parcial cumprimento de uma obrigação legal: cuidar. 323
322
Disponível em:
http://www.flaviotartuce.adv.br/jurisprudencias/201205021525150.votonancy_abandonoafetivo.pdf.
Acesso em: 02 de maio de 2012.
323
Disponível em:http://www.flaviotartuce.adv.br/jurisprudencias/201205021525150.votonancy_abandonoafetivo.pdf.
Acesso em: 02 de maio de 2012.
185
Ainda na segunda parte de seu voto, ainda que a ministra Andrighi, ressalte os
sentimentos negativos resultantes da conduta de abandono afetivo, fica clara a sua
interpretação no sentido de considerá-los, não apenas, meras consequências de um dano,
mas, o próprio dano, configurado na lesão ao direito à integridade psíquica, de maneira
grave, injusta e irreversível. Quanto à necessidade de se provar o dano moral, a ministra
também reconhece que os fatos já são suficientes para provar a lesão, restando para tais
categorias de prejuízos não econômicos, a característica de serem verificados in re ipsa.
Esse sentimento íntimo que a recorrida levará, ad perpetuam, é perfeitamente
apreensível e exsurge, inexoravelmente, das omissões do recorrente no exercício de
seu dever de cuidado em relação à recorrida e também, de suas ações que
privilegiaram parte de sua prole em detrimento dela, caracterizando o dano in re ipsa
e traduzindo-se, assim, em causa eficiente à compensação.324
A terceira e última parte do voto vencedor da ministra Nancy Andrighi, foi apenas
no sentido de considerar exagerado o valor da condenação atribuída pelo TJSP, no
montante de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), reduzindo a indenização
para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); Todavia, para tanto, não expôs nenhum
critério objetivo que justificasse o arbitramento do atual valor, como compensação do
dano moral sofrido. No entanto, muito se avançou no caminho que conduz à
concretização dos objetivos humanistas mais nobres almejados pelo modelo jurídico
nacional atual.
324
Disponível em:http://www.flaviotartuce.adv.br/jurisprudencias/201205021525150.votonancy_abandonoafetivo.pdf.
Acesso em: 02 de maio de 2012.
186
CONCLUSÃO
A palavra que melhor define a temática desta tese é responsabilidade. Em um
sentido mais amplo do que o dever de reparar danos. Por responsabilidade se entende a
aptidão para responder pelas obrigações, através do cumprimento dos deveres da
maneira como se espera que estes sejam cumpridos, não se limitando apenas, à conduta
espontânea porque ela, antes, poderá ser judicialmente exigida.
A responsabilidade parental, partindo da observação de uma natural postura de
cuidado que se espera dos pais em relação a seus filhos, tendo em vista que também
sustenta essas relações de família, uma forte base cultural, natural e religiosa, se
confunde em alguns momentos, com o sentimento de afeto tão comum entre pessoas
que integram uma mesma família. No entanto, para o direito, continua ressaltado o
caráter mais objetivo da relação, para salientar a conduta afetiva independentemente do
sentimento de afeto que a revista.
Durante muito tempo, a função de cuidar ficou ao encargo quase exclusivo das
mulheres, pelo perfil desenhado pela história que as definiu como pessoas mais
capacitadas aos assuntos domésticos. À mulher, competia garantir o conforto espiritual
doméstico em seu papel de cuidar da casa, do marido e dos filhos. O modelo patriarcal
reservou aos homens, o ambiente externo, na função de prover o lar e a prole,
garantindo o conforto material necessário a uma vida digna.
Esse modelo patriarcal, que marcou quase toda a história da humanidade e
perdurou até recentemente, inicia sua decadência muito antes das revoluções francesa e
industrial. No entanto, foi a partir delas que se acelera o processo de inserção da mulher,
não apenas no mercado de trabalho, mas, também, na vida autônoma que redesenha aos
poucos, seu papel em casa e fora dela.
No Brasil, a inserção na Constituição Federal, dos princípios da dignidade
humana, da solidariedade e da igualdade, entre outros de matiz, também, humanista e
democrático, com a importância conferida pelo constituinte, impõe que se redesenhem
alguns modelos jurídicos para que o espírito constitucional anime suas relações. Tal foi
o caso do pátrio poder que transitou para o atual modelo denominado poder familiar,
marcado pela igual responsabilidade do pai e da mãe, na construção e realização da
personalidade de seus filhos, enquanto viverem o momento que o ordenamento jurídico
187
reservou como de especial e prioritária atenção, enquanto reconhecida a importância
existencial dos futuros atores sociais, na vulnerabilidade de sua infância e de sua
adolescência.
A afetividade, enquanto conduta imposta pelas normas do poder familiar é
definida pelos deveres jurídicos dos pais, objetivando satisfazer os interesses
existenciais dos filhos que, hoje, vêm recebendo uma atenção pioneira na história do
ordenamento jurídico brasileiro. A autoridade parental que, no modelo anterior,
ressaltava a sujeição dos filhos ao poder dos pais, em uma relação mais verticalizada,
hoje se apresenta como um munus para a concretização de interesses que transcendem o
caráter particular das relações domésticas, considerando os interesses dos filhos,
enquanto crianças e adolescentes, verdadeiros direitos humanos, primeiramente
experimentados na família, mas, de responsabilidade desta, da sociedade e do Estado.
Considerando o elenco dos deveres jurídicos dos pais, que corresponde aos
direitos subjetivos dos filhos, na modalidade de pretensões, percebe-se que os interesses
centrais a serem realizados, se voltam para a personalidade dos filhos, para que
existencialmente, se cumpra o objetivo de dignidade humana, de onde se desdobram
outros objetivos humanistas, também superiores. Os direitos patrimoniais, constantes
das relações do poder familiar, também se voltam para a construção e realização da
personalidade das crianças e adolescentes, tendo assim e também, uma base mais
existencial do que econômica.
A base para o exercício do poder familiar é a convivência familiar. Além de
direito fundamental, de titularidade de todos os integrantes da família, é através dela que
se possibilita o cuidado necessário à formação da pessoa. O pagamento de alimentos
não exime o pai ou a mãe do dever de conviver, assim como a convivência não exime
do dever de prover o sustento material. São deveres que se complementam para a
satisfação de interesses essenciais e, por isso, superiores.
Não obstante inexistir conteúdo econômico na maior parte dos direitos subjetivos
que integram as relações jurídicas parentais, a relevância dos interesses que abrigam,
justifica a tutela do Estado para a garantia de se verem realizados, até porque, os direitos
existenciais das crianças e adolescentes são também, de responsabilidade do Estado,
conforme normativa constitucional.
188
As regras do direito das obrigações, apesar de se voltarem com mais frequência, à
satisfação de interesses econômicos, não excluem a possibilidade de abrigarem, tanto
alguns interesses puramente morais, como também, prestações debitórias sem nenhum
conteúdo econômico, desde que sérias e úteis, justificando a conduta exigível. Ainda
assim, a garantia dos titulares das pretensões, continua a recair sobre o patrimônio
econômico do devedor, tendo em vista que o ordenamento pátrio não autoriza as
garantias que recaiam sobre a pessoa do devedor, para não ferir também, seus direitos
mais fundamentais.
O desdobramento patrimonial que pode tomar a responsabilidade parental, quando
do descumprimento dos deveres parentais, tem por meta, primeiro, conferir eficácia às
normas que regem o poder familiar, a partir da utilização da tutela inibitória. Depois, em
sede de responsabilidade civil, diante da impossibilidade de cumprimento dos deveres
parentais, por fatos imputados aos pais que irão suportar a indenização, a medida
extrema tem um caráter pedagógico e, ainda, compensatório. Não para que se
recomponha o patrimônio jurídico lesado, tendo em vista que os interesses existenciais
atingidos não se recompõem, mas, para que a conduta ilícita não seja premiada pela
ausência de uma resposta mais enérgica do que apenas, a perda do poder familiar, que
pode, por sua vez, soar em um tom libertador, penalizando exclusivamente, a vítima, em
seu momento de vida mais vulnerável.
Apesar de ser um tema ainda controvertido, com decisões contrárias, inclusive no
STJ, a tendência deverá ser de conferir a devida importância à responsabilidade
parental. O recentíssimo voto da ministra Nancy Andrighi vem provar que o objeto de
estudo desta tese não se trata de um floreio intelectual, mas, antes, de uma abordagem
coerente acerca de um tema sério e útil o bastante para merecer especial atenção do
Direito.
189
REFERÊNCIAS
ADEODATO, João Maurício. O Silogismo Retórico (Entimema) na Argumentação
Judicial. In: Ética e Retórica. Para uma teoria da dogmática jurídica. 3 ed. São Paulo:
Saraiva, 2007.
AGRA, Walber de Moura. Manual de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002.
ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Poder Familiar nas Famílias Recompostas e o art.
1.636 de CC/2002. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (org.) Afeto, Ética, Família e o
Novo Código Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 161-179.
______ As Perspectivas e o Exercício da Guarda Compartilhada Consensual e Litigiosa.
In: Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v. 7, n.
31, ago/set 2005, p. 19-30.
ALBUQUERQUE JUNIOR, Roberto Paulino. Ensaio Introdutório sobre a teoria da
Responsabilidade Civil Familiar. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; OLIVEIRA,
Catarina; ERHRARDT, Marcos (orgs.) Famílias no Direito Contemporâneo. Estudos
em Homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 397-428.
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da
Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.
AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
ANDRADE, Gustavo. Mediação Familiar. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos;
OLIVEIRA, Catarina; ERHRARDT, Marcos (orgs.) Famílias no Direito
Contemporâneo. Estudos em Homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador:
JusPodivm, 2010, p. 491-509.
ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. In: BARRETO, Vicente de Paulo (coord.)
Dicionário de Filosofia do Direito. Rio Grande do Sul: Unisinos; Rio de Janeiro:
Renovar. 2006.
BACACHE-GIBEILI, Mireille. Droit Civil. Les obligations, La Responsabilité Civile
Extracontractuelle. Paris: Economica, 2007. t. 5.
BALLWEG, Ottmar. Retórica Analítica e Direito. In: Revista Brasileira de Filosofia.
Instituto Brasileiro de Filosofia. v XXXIX, fasc 163. SP, jul/ Ago/ Set. 1991, p. 175184.
BAPTISTA, Silvio Neves. Guarda Compartilhada: (breves comentários aos arts.
1.583 e 1.584 do Código Civil, alterados pela lei nº 11.698 de 13 de Junho de 2008).
Recife: Bagaço, 2008.
190
BARBOSA, Águida Arruda. Estado da Arte da Mediação Familiar Interdisciplinar no
Brasil. In: Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM,
v. 08, n. 40, Fev/Mar. 2007. p. 140-151.
BARBOSA, Águida Arruda. História da Mediação. Resposta à Necessária Abordagem
Interdisciplinar do Direito de Família. In: Psicanálise e Direito. São Paulo: SBPSP.
BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação
Constitucional. In: BARROSO, Luis Roberto (org.) A Nova Interpretação
Constitucional: Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 3 ed. Rio
de Janeiro: Renovar, 2008. p. 49-118.
BARROS, Sérgio Resende de. Direitos Humanos da Família: dos Fundamentais aos
Operacionais. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.) Afeto, Ética, Família e o
Novo Código Civil. Belo Horizonte: Del Rey, IBDFAM, 2004, p. 607-620.
BARROSO, Luis Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito
Constitucional Brasileiro (Pós-modernidade, Teoria Crítica e Pós-positivismo). In:
BARROSO, Luis Roberto (org.) A Nova Interpretação Constitucional. Ponderação,
Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 3ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p 148.
______. A Constitucionalização do Direito e o Direito Civil. In: TEPEDINO, Gustavo.
(org.) Direito Civil Contemporâneo. Novos problemas à luz da legalidade
constitucional. São Paulo: Atlas, 2008 (p. 238-261).
BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido. Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil. 26 ed. 34 reimp. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010.
CARLSON, Steven. Disponível em: http://www.childcustodycoach.com/pas.html.
Acesso em: 11 de Março de 2012.
CASTRO, Torquato. Teoria da Situação Jurídica em Direito Privado Nacional. São
Paulo: Saraiva, 1985.
COSTA FILHO, Venceslau Tavares. Tópicos de Direito Civil. Recife: Nossa Livraria,
2007.
COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Estudos sobre o culto, o direito e as
instituições da Grécia e de Roma. Tradução: Edson Bini. 4 ed. São Paulo: Edipro, 2009.
CANOTILHO, J.J. Gomes. In COUTINHO, Nelson de Miranda (org.) Canotilho e a
Constituição Dirigente. 2 ed. São Paulo: Renovar, 2005.
191
CATÃO, Adrualdo de Lima. Considerações acerca dos Conceitos Fundamentais da
Teoria Geral do Processo: direito subjetivo, pretensão, ação material, pretensão à
tutela
jurídica
e
remédio
jurídico
processual.
Disponível
em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3483. Acesso em: 11 de Janeiro de 2010.
CATHCART, Tom; KLEIN, Dan. Platão e um Ornitorrinco entram num Bar...A
Filosofia explicada com Senso de Humor. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.
COMTE-SPONVILLE, André. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Tradução:
Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 4. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris 2007.
FARIAS, Cristiano Chaves de. A Teoria da Perda de uma Chance Aplicada ao Direito de
Família: Utilizar com Moderação. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.) Família e
Solidariedade – Teoria e Prática do Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2008. p. 67-84.
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica,
Decisão, Dominação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1994.
FRANCE, Code Civil. Paris: Litec, 2009.
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. Formação da família brasileira sob o
regime da economia patriarcal. São Paulo: Círculo do Livro, 1980.
FROMM, Erich. A Arte de Amar. Tradução: Milton Amado. Belo Horizonte: Itatiaia,
1960.
GALIZA, Andrea Karla Amaral de. Direitos Fundamentais nas Relações entre
Particulares. Teoria e Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Belo Horizonte:
Fórum, 2011.
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios Constitucionais de Direito de
Família: Guarda Compartilhada à Luz da Lei nº 11.698/08: Família, Criança,
Adolescente e Idoso. São Paulo: Atlas, 2008.
GARDNER, Richard A. Differentiating Between Parental Alienation Syndrome and
Bona
Fide
Abuse-Neglect.
Disponível
em:
http://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr99.htm: Acesso em: 11 de Março de 2012.
GOMES, Orlando. Obrigações. 17 ed. Atualização: Edvaldo Brito. Rio de Janeiro:
Forense, 2007.
GROENINGA, Giselle Câmara. Mediação Interdisciplinar – Um Novo Paradigma. In:
Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v. 08, n. 40,
Fev/Mar. 2007. p. 152-170.
192
HOHFELD, Wesley Newcomb. Fundamental Legal Conceptions as apllied to Legal
Reasoning-I. New Haven: Yale University Press, 1918.
IHERING. Rudolf Von. Teoria Simplificada da Posse. Belo Horizonte: Líder, 2002.
ITÁLIA.
Il
Codice
Civile.
Disponível
em:
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib4.htm. Acesso em: 18 de julho
de 2011.
IORIO FILHO, Rafael Mário. Retórica. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (coord.)
Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar,
2006, p. 723-726.
JULIEN, Philippe. Abandonarás teu Pai e tua Mãe. Tradução: Procópio Abreu. Rio de
Janeiro: Companhia de Freud, 2000.
LELOUP, Jean-Yves. O Corpo e seus Símbolos. Uma Antropologia Essencial. 15 ed.
Petrópolis: Vozes, 2008.
LIMA, Geraldo de Araújo. Amor – Um Presente de Grego. In A Partilha. Jornal da
Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus do Espinheiro. Ano 09, n 94, fev. Recife:
Nagrafil, 2009.
LINS, Regina Navarro. A Cama na Varanda: Arejando nossas idéias a respeito de
amor e sexo. 3 ed. Rio de Janeiro: BestSeller, 2008.
LÔBO, Paulo. Famílias. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
______. Entidades Familiares Constitucionalizadas: Para além do Numerus Clausus.
Disponível
em:
http://jus.uol.com.br/revista/texto/2552/entidades-familiaresconstitucionalizadas, Acesso em: 08 de Março de 2011.
______. Direito Civil: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2009.
______. A Constitucionalização do Direito Civil Brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo
(org). Direito Civil Contemporâneo. Novos problemas à luz da legalidade
constitucional. São Paulo: Atlas, 2008.
______. Direito das Obrigações. Brasília: Brasília Jurídica, 1999.
______. Direito Civil. Obrigações. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
______. Dano Moral e Direitos da Personalidade. Disponível
http://jus.uol.com.br/revista/texto/4445/danos-morais-e-direitos-da-personalidade.
Acesso em: 21 de Julho de 2011.
em:
______. O Princípio Jurídico da Afetividade na filiação. Disponível em:
http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=130, p. 03. Acesso em: 10 de Maio de 2008.
193
MADALENO, Rolf. Direito de Família em Pauta. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2004.
MANELI, Mieczyslaw. A Nova Retórica de Perelman. Filosofia e Metodologia para o
século XXI. São Paulo: Manole, 2004.
MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 2 ed. São Paulo: Atlas,
2009.
McKENZIE, John L. Amor. In: Dicionário Bíblico. 5 ed. São Paulo: Paulus, 1984.
MEDINA, Graciela. Daños em el Derecho de Familia. 2 ed. Santa Fé: RubinzalCulzoni, 2008.
MENDONÇA, Paulo Roberto S. Tópica. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (coord.)
Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar,
2006, p. 826-827.
MEIRELLES, Rose Melo Vencelau. O Princípio do Melhor Interesse da Criança. In:
MORAES, Maria Celina Bodin de. (coord.) Princípios do Direito CivilContemporâneo. Rio de janeiro: Renovar, 2006, p. 459-493.
MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Eficácia 1ª parte. 4
ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
MIGUEL FILHO, Raduan. O Direito/Dever de Visitas, Convivência Familiar e Multas
Cominatórias. In: Família e Dignidade Humana – Anais V Congresso Brasileiro de
Direito de Família. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006, p. 811-818.
MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Dignidade Humana. In: MORAES,
Maria Celina Bodin de. (coord.) Princípios do Direito Civil Contemporâneo. Rio de
Janeiro: Renovar, 2006.
______. Deveres Parentais e Responsabilidade Civil. In: Revista Brasileira de Direito
de Família. v. 7. n. 31. Ago-set. Porto Alegre: Síntese. 2005, p. 39-74.
NIETZSCHE, Friedrich. Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extra-moral. In: Obras
Incompletas – Coleção Os Pensadores. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
OLIVEIRA, Catarina Almeida de; OLIVEIRA, Maria Rita de Holanda. O Novo
Divórcio e seus Reflexos na Guarda e nas Visitas aos Filhos Menores do Casal. In:
FERRAZ, Carolina Valença; LEITE, George Salomão; LEITE, Glauber Salomão
(orgs.) O Novo Divórcio no Brasil. De acordo com a EC nº 66/2010. Salvador:
JusPodivm, 2011, p. 253-280.
OLIVEIRA, Catarina Almeida de. Refletindo o Afeto nas Relações de Família. Pode o
Direito impor Amor? In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; OLIVEIRA, Catarina;
194
ERHRARDT, Marcos (orgs) Famílias no Direito Contemporâneo. Estudos em
Homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 47- 67.
ORTEGA, Francisco. Amizade. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (coord.) Dicionário
de Filosofia do Direito. Rio Grande do Sul: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar. 2006.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Atualização: Guilherme
Calmon. 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente. Uma Proposta
Interdisciplinar. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
PEREIRA, Tania da Silva; OLIVEIRA, Guilherme de. Cuidado & Vulnerabilidade.
São Paulo: Atlas, 2009.
PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil
Constitucional. Tradução: Maria Cristina De Cicco. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2002.
______. Il Diritto Civile nella Legalità Constituzionale. Napoli: Edizioni Scientifiche
Italiane, 1991.
PERROT, Michelle. Funções da Família. In: PERROT, Michelle (org.) História da
Vida Privada. Da Revolução Francesa à Primeira Guerra. Tradução: Denise Bottmann.
São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 91-106.
PLATÃO. O Banquete. Tradução: Maria Teresa Schiappa de Azevedo. Lisboa:
Edições 70, 1991.
PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Rio de
Janeiro: Borsoi, 1954, t. I.
______. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, t. I.
______. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, t.
XXII.
PORTUGAL.
Código
Civil.
Disponível
http://www.portolegal.com/CodigoCivil.html. Acesso em: 18 de julho de 2011.
em:
QUINTAS, Fátima. A Família Patriarcal. In: QUINTAS, Fátima (org.) A Civilização
do Açúcar. Recife: Sebrae, Fundação Gilberto Freyre, 2007, p. 85-123.
RABENHORST, Eduardo R. Dignidade Humana e Moralidade Democrática.
Brasília: Brasília Jurídica, 2001.
REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1978.
REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
195
REZENDE, Astolpho. A Posse e sua Proteção. 2 ed. São Paulo: Lejus, 2000.
RODRIGUES, Hugo Manuel Leite. Questões de Particular Importância no Exercício
das Responsabilidades Parentais. Coimbra: Coimbra, 2011.
ROSS, Alf. Tû-Tû. São Paulo: Quartier Latin, 2004.
RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil. Tradução: Paulo Bernasse. 6
ed. Campinas: Bookseller, 1999.
SARLET, Ingo W. Dignidade da Pessoa Humana. In: BARRETTO, Vicente de Paulo
(coord.) Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro:
Renovar, 2006.
SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2 ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris. 2006.
SCHWANITZ, Dietrich. Cultura. Tudo o que é preciso saber. Lisboa: Dom Quixote,
2004.
SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas de Responsabilidade Civil: da erosão
dos filtros de reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007.
SGARBI, Adrian. HOHFELD, Wesley Newcomb, 1879-1918. In: BARRETTO, Vicente
de Paulo (coord.) Dicionário de Filosofia do Direito. Rio Grande do Sul: Unisinos; Rio
de Janeiro: Renovar. 2006, p. 443-448.
SHAKESPEARE, William. The Merchant of Venice. In: The Complete Works of
William Shakespeare. New York: Gramercy Books, 1990, p. 203-228.
SHOPENHAUER, Artur. Como Vencer um Debate sem Precisar ter Razão.
Tradução: Daniela Caldas e Olavo de Carvalho. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 13 ed. São Paulo:
Malheiros, 1997.
SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais. Conteúdo Essencial, Restrições e
Eficácia. São Paulo: Malheiros, 2009.
SOBOTA,
Katharina.
Não
Mencione
a
Norma.
Disponível
em:
http://www.esmape.com.br/esmape/index2.php?option=com_docman&task=doc_view
&gid=137&Itemid=99999999. Acesso em: 12 de Agosto de 2008.
STEINMETZ, Wilson. Princípio da Proporcionalidade e Atos de Autonomia Privada
Restritivos e Direitos Fundamentais. In: SILVA, Virgílio Afonso da. (org.)
Interpretação Constitucional. 1 ed. 2 tiragem. São Paulo: Malheiros, 2007.
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, Guarda e Autoridade Parental. 2 ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2009.
196
VEYNE, Paul. O Império Romano. In: ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges (coords.)
História da Vida Privada. Do Império Romano ao Ano Mil. Tradução: Hildegard
Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. v 1, p. 17-211.
WELTER, Belmiro Pedro. Teoria Tridimensional do Direito de Família. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
ZOJA, Luigi. O Pai. História e Psicologia de uma espécie em Extinção. Tradução:
Péricles Machado Jr. São Paulo: Axis Mvndi, 2005.
Download