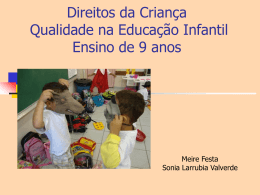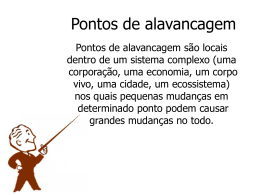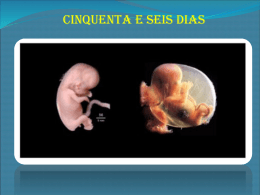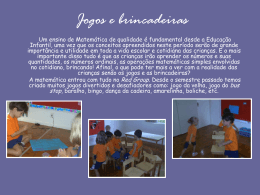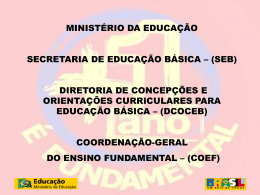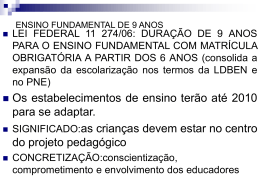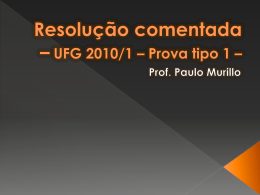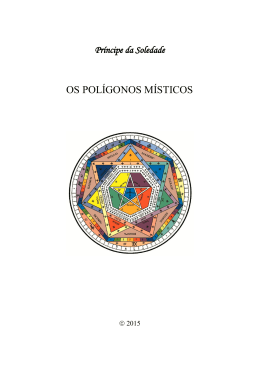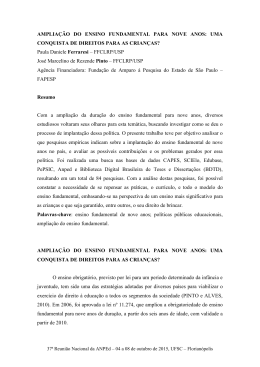UM OLHAR INVESTIGATIVO SOBRE A CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS. LUGLE, Andreia Maria Cavaminami – UEL [email protected] AGUIAR, Beatriz Carmo Lima de – UEL [email protected] Eixo temático: Formação de professores e Profissionalização Docente Agência Financiadora: Não contou com financiamento Resumo Este trabalho tem como objetivo investigar e analisar a concepção de infância dos docentes regentes do primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos e as experiências infantis que são oportunizadas nestas turmas. Partimos da seguinte problemática: Qual a concepção de infância dos docentes regentes do primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos? Como está sendo a experiência da infância nestas turmas? A proposta teve origem a partir do GEPEI (grupo de estudos de Pesquisa em Educação e Infância). Motivadas pelos estudos sobre a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, nos propomos a investigar junto aos docentes a temática subsidiando assim a compreensão sobre quem é esta criança que está sendo inserida nesse contexto. Iniciamos a coleta de dados através de um questionário semiaberto, junto a cinco professores de duas escolas públicas e três professores que atuam em duas escolas da rede privada, sendo as instituições localizadas no município de CambéParaná. As questões foram analisadas à luz da teoria e serão o eixo norteador para a segunda etapa da pesquisa, uma observação in-locus. Ressaltamos que este trabalho está em andamento, com análises preliminares. Com os dados já obtidos podemos constatar que há ainda um longo caminho a percorrer nos estudos sobre a temática apresentada, e sobretudo, precisamos respeitar a singularidade da infância no âmbito escolar. Palavras-chave: Infância. Docência. Ensino Fundamental de nove anos. Introdução Desde a aprovação da Lei n°11.274/2006 que retrata a inclusão da criança com seis anos de idade no ensino fundamental, muito se tem discutido sobre o assunto em questão. Professores, pedagogos e demais profissionais da educação procuram sociabilizar 6439 informações e conhecimentos a respeito da inclusão da criança de seis anos de idade nesta nova modalidade. Em janeiro do presente ano, tivemos a oportunidade de dialogar com estudantes, docentes e pedagogos da rede municipal e privada sobre as orientações pedagógicas do Ensino Fundamental de Nove anos. Muitas indagações, angústias e desejo de desenvolver um trabalho pedagógico condizente com a proposta da nova lei permearam as discussões destes encontros. Entre tantas discussões e indagações, percebemos que poderíamos colaborar com a formação de professores neste novo processo de ensino. A idéia desta pesquisa surgiu no GEPEI (Grupo De Estudos De Estudos e Pesquisa em Educação e Infância) por meio das discussões sobre a infância e a infantilização do trabalho docente. Neste contexto, nos propomos a investigar a concepção de infância dos docentes regentes do primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos e as experiências da infância que são oportunizadas nestas turmas. Elaboramos como metodologia de trabalho uma pesquisa qualitativa utilizando como um dos instrumentos a aplicação de um questionário semi-aberto com questões que permitam ao educador refletir sobre a sua concepção de infância e qual o seu olhar sobre a presença da infância no âmbito escolar. Escolhemos como sujeitos co-participantes deste processo cinco professores da rede municipal e três professores da escola privada da cidade de CambéParaná. Acreditamos que com estes dados, discutidos teoricamente, teremos um suporte para a segunda etapa da pesquisa. A segunda etapa desta pesquisa será realizada no segundo semestre de 2009. Consistirá em um contato mais próximo com os professores e a sala de aula, durante três dias de observação. O referencial teórico e a análise dos dados têm como referência autores como Arroyo (2004), Benjamin (2002), Friedmann (2005), Postman (1999), Rousseau (1968) dentre outros e os documentos disponíveis pelo Ministério da Educação sobre o Ensino Fundamental de nove anos. No primeiro momento realizamos um breve relato sobre a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos e algumas orientações pedagógicas que permeiam o novo ensino e posteriormente construímos um “Olhar reflexivo sobre a Infância”. Esta primeira discussão acerca do questionário aplicado aos docentes regentes do primeiro ano foi muito importante, 6440 pois possibilitou-nos uma visão sobre a concepção de infância deste docente que foi nomeado para reger a turma do primeiro ano. Ensino Fundamental De Nove Anos: Novas Perspectivas E Novos Olhares Muito se tem discutido sobre o Ensino Fundamental de nove anos: polêmicas, dúvidas, incertezas, regram a atuação docente do professor dos anos iniciais deste novo ensino. A implantação da Lei n° 11.274/2006 instituiu o Ensino Fundamental de nove anos com a inclusão da criança com seis anos de idade. Desta forma o Ensino Fundamental será organizado em 2 etapas: cinco anos iniciais (faixa etária de 6 a 10 anos) e 4 anos finais (faixa etária de 11 a 14 anos) (BRASIL, 2006). Esta nova lei tem como objetivos: “oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade” (BRASIL,2004, p.14). De acordo com o documento “Ensino Fundamental de Nove anos: Orientações pedagógicas para a inclusão da criança de seis anos de idade” (BRASIL, 2006), a inclusão da criança com seis anos de idade beneficiará, em especial, a criança pertencente à classe popular. A idéia é possibilitar a esta criança o ensino obrigatório aos seis anos de idade, retirando-a das ruas ou de outros afazeres que não condizem com sua responsabilidade. E mais, ingressando mais cedo no sistema de ensino a criança terá a oportunidade de desenvolver e trabalhar alguns pré-requisitos necessários e importantes para a construção do conhecimento futuro. Pesquisas apontam que alunos que ingressaram antes dos sete anos em instituições escolares apresentaram maiores resultados e prosseguiram nos estudos (BRASIL, 2006). Isso significa que o ingresso desta criança no ensino fundamental não é uma medida meramente administrativa – como alerta Brasil (2004) - torna-se necessário um estudo e um (re)planejar das ações institucionais, de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem destes alunos. Um (re)planejar que envolve um trabalho coletivo na elaboração das propostas pedagógicas, rever os ambientes, os espaços, tempos, materiais, conteúdos, avaliação e reformulações metodológicas para receber esta “nova criança”. De acordo com Brasil (2004, p.17): 6441 [...] Isto porque a adoção de um ensino obrigatório de nove anos iniciando aos seis anos de idade pode contribuir para uma mudança na estrutura e na cultura escolar. No entanto, não se trata de transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e atividades da tradicional primeira série, mas de conceber uma nova estrutura de organização dos conteúdos em um Ensino Fundamental de nove anos, considerando o perfil de seus alunos. Este novo acolhimento da criança de seis anos de idade no ensino fundamental, nos remete a um novo olhar pedagógico. Conciliar atividades escolares respeitando o desenvolvimento social, cognitivo, motor e afetivo destas crianças são os pressupostos deste processo de inclusão. Para isso torna-se necessário discutir e conhecer “quem são estas crianças? Quais seus interesses e necessidades?” Segundo Brasil (2004, p.19): A idade cronológica não é, essencialmente, o aspecto definidor da maneira de ser da criança e de sua entrada no Ensino Fundamental. Com base em pesquisas e experiências práticas, construiu-se uma representação envolvendo algumas das características das crianças de seis anos que as distinguem das de outras faixas etárias, sobretudo pela imaginação, a curiosidade, o movimento e o desejo de aprender aliados à sua forma privilegiada de conhecer o mundo por meio do brincar. Nessa faixa etária a criança já apresenta grandes possibilidades de simbolizar e compreender o mundo, estruturando seu pensamento e fazendo uso de múltiplas linguagens. Esse desenvolvimento possibilita a elas participar de jogos que envolvem regras e se apropriar de conhecimentos, valores e práticas sociais construídos na cultura. Nessa fase, vivem um momento crucial de suas vidas no que se refere à construção de sua autonomia e de sua identidade. Olhar para o mundo com os olhos de criança pode nos revelar uma outra forma de perceber a realidade, aponta Kramer (2006). Desta forma, para elaborar uma proposta pedagógica nesta perspectiva de trabalho torna-se essencial considerar a infância como eixo primordial, como ressalta o documento sobre as orientações pedagógicas do Ensino Fundamental de nove anos (2006). O documento acima citado aponta alguns aspectos indispensáveis para prática pedagógica deste novo ensino fundamental destacando temas sobre a infância, o brincar, o desenvolvimento da criança de seis anos, as áreas do conhecimento, a questão da alfabetização, a organização do trabalho pedagógico e avaliação. Em todos os momentos de leitura destes artigos percebemos a preocupação dos autores em enfatizar o respeito pela infância desta criança. Infância caracterizada pela criação, imaginação, fantasia, brincadeiras, características específicas desta fase que contribuem para a compreensão de mundo e apropriação de conhecimentos específicos e científicos pela criança. 6442 Nas palavras de Nascimento (2006, p. 31): As crianças possuem modos próprios de compreender e interagir com o mundo. A nós, professores, cabe favorecer a criação de um ambiente escolar onde a infância possa ser vivida em toda a sua plenitude, um espaço e um tempo de encontro entre os seus próprios espaços e tempos de ser criança dentro e fora da escola. Na verdade, o grande desafio é “pensar sobre a infância na escola e na sala de aula [...]” (NASCIMENTO, 2006, p.30). Os reflexos desse olhar podem ser fatores primordiais para o desenvolvimento da criança de seis anos de idade que agora tem a possibilidade de um ano a mais no sistema de ensino. Precisamos olhar a criança e compreender sua infância. Um Olhar Reflexivo Sobre A Infância Ressaltamos que a discussão aqui proposta, está pautada na concepção de infância dos docentes. Mas por que este recorte? Porque esta é uma das primeiras preocupações apontadas no documento “Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade” (BRASIL, 2006). Neste contexto, torna-se necessário fazer uma breve explanação sobre o conceito de infância. É fato que nós, educadores, que convivemos com as crianças diariamente, já temos concepções construídas a seu respeito. Se fosse solicitado a nós caracterizar estas crianças, certamente usaríamos uma série de adjetivos para descrevê-las. Certamente, a maioria deles, faria “referência aos aspectos da inocência, fantasia ou espontaneidade, que segundo nossas visões, lhe são próprios” (AZEVEDO; SILVA, 1999, p. 34). Para muitos indivíduos, falar de infância tem um significado de saudades e lembranças. Na fase adulta, quando colocamos a estes indivíduos o exercício de se reportar a sua infância e relatar fatos marcantes, damos a eles um desafio. Desafio este que os leva a outra dimensão onde deverão buscar na memória acontecimentos, fatos, ações ocorridas no período da infância. Deste modo, [...] muitos de nós, de gerações passadas e de infância já longínqua, podemos falar de um tempo gostoso, em que brincávamos felizes, sob os olhares vigilantes de nossos pais. De um tempo em que subíamos nas árvores para colher jabuticabas, amoras, mangas, laranjas, pitangas, romãs, etc. em que andávamos a cavalo na roça; colhíamos ovos nos matos; brincávamos de roda, de pique, de chicotinho queimado, de boneca, de “farwest”, de médico, de papai e mamãe, bombeiro, professora... Em que rolávamos, felizes, pelas areias das praias e nos deslumbrávamos com o impacto das ondas do mar... Em que fazíamos “piqueniques”; nos banhávamos em cachoeiras 6443 e rios de águas límpidas; ouvíamos discos de estorinhas, com o papai fazendo suspense, diante de nossos olhos e ouvidos atentos: “Lá vem o lobo...”; em que fazíamos “comidinha” e costurávamos roupas de boneca, aos pés da mamãe, que batalhava na máquina de costura; em que saíamos, aos domingos, toda a turma, mamãe carregando a sacola do bebê e com um pela mão e papai com os mais novos no colo, para passarmos o dia na casa dos amigos, dos tios e dos compadres; em que esperávamos, ansiosos, pelo seriado da matinê dos domingos... (TELES, 1999, p.9). Neste momento de lembranças da infância vivida, aparecem comentários como: saudades daquele doce de abóbora da vovó; as artes realizadas às escondidas com o melhor amigo da escola; as brincadeiras na rua até tarde da noite; os jogos e brincadeiras realizados coletivamente; o brinquedo tão desejado que um dia recebeu; o doce simples comprado na mercearia da esquina, que parecia o melhor do mundo! Ao propor as educadoras que participaram desta etapa da pesquisa que escrevessem sobre as lembranças da infância, a educadora 1 destacou mais os aspectos das brincadeiras. 1E 1 – “eu me lembro das brincadeiras (casinha, bets, bola queimada, elástico, pega-pega) e da professora do pré”; E 2 – “lembro do meu colégio, dos sabores, dos cheiros e dos amigos que tinha”; E 3 – “das brincadeiras e brinquedos que eram bem diferentes”. Para muitas pessoas, há saudades desse período da vida e quando esta infância é relembrada, parece que foi um momento mágico. De acordo com Chalita, este de fato é: um tempo marcado pelo encantamento da atmosfera onírica que rege a primeira e mais importante fase de nossas vidas. Uma época singular, rica, pessoal e intransferível. Período que representa uma galáxia em meio a todos os outros milhões de sistemas estelares produzidos pela fértil imaginação infantil (CHALITA, 2003, p. 09). No entanto, será que a sociedade atualmente vê esta fase como sendo singular? Por que muitos pais desejam acelerar o processo de infância? Por que insistem em colocar os filhos no Ensino obrigatório com apenas cinco anos de idade? Por que a agenda de muitas crianças está superlotada? O que estamos fazendo com as nossas crianças? E ainda restam outras questões: Será que enquanto educadores respeitamos esta infância? Possibilitamos uma experiência da infância na instituição escolar? Criamos espaço 1 E 1- Para simplificar a palavra educadora, utilizaremos a letra E seguida de seu número de identificação. Esta estratégia garante que as educadoras participantes tenham a sua identidade preservada. 6444 para atividades lúdicas? Permitimos a criança rir, se expressar sem medos? As nossas ações são permeadas pelo respeito e pela afetividade? Temos a plena consciência de que são muitos os questionamentos levantados e de que não há ainda respostas para todos eles. No entanto, enquanto educadores, ou melhor, enquanto sociedade, devemos buscar estas respostas em respeito as nossas crianças, pois como nos afirma Arroyo (2004, p. 22) “esta responsabilidade é coletiva, é dos profissionais da educação, da sociedade e do governo.” De acordo com Batista (2009, p.19) deixamos de ser criança por um simples desejo da nossa sociedade. O ser adulto, na nossa sociedade é algo sério. É preciso “deixar certas “coisas” e “costumes” de criança de lado, para não sermos chamados de “infantis” ”. Na visão da autora este: tom pejorativo dado à palavra “criança” e à infância nos permite concluir equivocadamente que criança e infância significam algo ruim e que, em determinados momentos, devemos superar, esquecer, apagar de nossa mente. Vivemos uma infância de 12 anos. Boa ou ruim, devemos esquecê-la para nos tornar “adultos” (BATISTA, 2009, p. 19). Hoje, no século XXI, tratamos a criança, como criança? Está a infância desaparecendo como se questiona Postman (1999)? De acordo com o nosso olhar, com a nossa perspectiva de como a criança é tratada em nossa sociedade, às vezes acreditamos que sim, outras vezes observamos as crianças resistindo a esta “adultização” que queremos impor a elas e isto faz com que alguns admitam que a infância não está desaparecendo. Na perspectiva de Faria (2001, p.72), ao invés de falarmos em um desaparecimento da infância, poderemos falar em uma nova descoberta de infância. Entendemos deste modo que esta necessidade que há de compreender a criança, implica em caracterizá-la concreta e historicamente. Sendo fundamental para isso, desvendar as relações entre os condicionamentos sociais, políticos, econômicos e culturais, das quais emerge o conceito de criança. A idéia de que existe uma criança única, abstrata, desvinculada da realidade e da dinâmica da sociedade não pode ser sustentada (BATISTA, 2009, p. 20). Nesta mesma perspectiva, entendemos também que falar em infância, no singular, é uma prática que deve ser repensada, isto é, defendemos a idéia de que é preciso refletir sobre a pluralidade da infância. Sendo assim, 6445 Ao contribuir para desmistificar um conceito único de infância, chamando a atenção para o fato de que existem infâncias e não infância, pelos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos que envolvem essa fase da vida, os estudos de Ariés apontam a necessidade de se desconstruir padrões relativos à concepção burguesa de infância. Esse olhar para a infância possibilita ver as crianças pelo que são no presente, sem se valer de estereótipos, idéias pré-concebidas ou de práticas educativas que visam a moldá-las em função de visões ideológicas e rígidas de desenvolvimento e aprendizagem (NASCIMENTO, 2006, p. 27). Ao iniciarmos uma reflexão de como se constrói o sentimento de infância, notamos que nas sociedades antigas, a criança se desenvolvia em um meio amplo, junto aos parentes, vizinhos, etc e à “família não era atribuída uma função afetiva” (AZEVEDO; SILVA, 1999, p. 34). Na sociedade medieval o sentimento de infância não existia e esta “não reconhecia essa especificidade da vida da criança” (AZEVEDO; SILVA, 1999, p. 34). Vemos que a infância era uma fase bem reduzida, pois enquanto a criança fosse muito pequena e frágil, ela não podia ainda “misturar-se à vida dos adultos, mas tão logo começasse a andar sozinha e a desempenhar pequenas tarefas, a criança se confundia com os adultos” (AZEVEDO; SILVA, 1999, p. 35). Com o início da era moderna, com relação ao aspecto afetivo, algumas modificações marcam este período, sendo que hoje a família se coloca como a única estrutura onde se processam contatos afetivos. Deste modo, este “fechamento é também responsável pelo grau de ansiedade que a família concentra hoje em relação ao cuidado com suas crianças: o sentido de proteção. A criança passa nesse momento a absorver as cargas de frustração e cobrança dos pais” (AZEVEDO; SILVA, 1999, p. 37). Segundo Batista (2009) é exatamente na contemporaneidade que os pais ou responsáveis revelam insegurança e incertezas, cada vez maiores, do seu papel na orientação das crianças. Neste clima de dúvidas, os pais quando observam os seus filhos, passam a fazer comparações entre uma criança e outra e se preciso for, mentem a idade do seu filho caso ele ainda não consiga realizar uma proeza que o filho do vizinho já faz. Além disso, muitos acreditam que seu filho apresenta um “problema” de desenvolvimento. Observamos que esta ansiedade também é revelada quando o pai se pergunta: o que ele vai ser quando crescer? Na atualidade, esta pergunta é feita pelos pais cada vez mais cedo. Este fato fica evidente na fala da educadora dois ao analisar que as crianças ainda vivenciam a 6446 infância no âmbito escolar, “porém as cobranças nas crianças estão a cada dia iniciando precocemente, tendo assim, perdido um período muito importante na vida” (E 2). Diante disso, como fica a criança que não consegue corresponder a esta expectativa da família? Que implicações isto tem para a sua auto-imagem? Para a sua auto-estima? De acordo com Azevedo e Silva (1999, p.37), toda esta carga emocional se manifesta de alguma maneira na escola, que precisa e “deve pensar formas de considerá-las em suas propostas e currículos”. Entendemos que esta também pode ser uma oportunidade para que a escola dialogue com a família a respeito das expectativas desta referente ao 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos. O que estes sujeitos pensam deste novo processo? Quais são as cobranças que eles fazem aos filhos? Por que alguns pais optam por matricular a criança de 5 anos no Ensino Fundamental? Que compreensão estes sujeitos tem sobre a infância? Certamente este debate e estas reflexões não aconteceriam sem conflitos, pois o que está no cerne da questão são concepções a respeito da criança, da infância e de seu desenvolvimento. Mas mesmo diante de um possível conflito com a família, nós acreditamos no caminho de uma educação compartilhada. Entendemos que essa “pressa” em fazer com que a criança cresça, não é a melhor solução, pois essa ansiedade se “transforma em procedimentos imediatistas, que muitas vezes não consideram a infância” (BATISTA, 2009, p. 29). Torna-se nítido que a noção de infância como a compreendemos hoje ainda é um conceito relativamente novo. Segundo Postman (1999, p. 11) a “infância não tem mais do que cento e cinquenta anos”. De acordo com Batista (2009, p.24) é a partir de Rousseau que a “infância ganha valorização e reconhecimento como uma época peculiar da vida do ser humano”. Rousseau acredita que a: humanidade tem seu lugar na ordem das coisas; a infância tem o seu na ordem da vida humana; é preciso considerar o homem no homem e a criança na criança. Assinar a cada um seu lugar e nele fixá-lo, ordenar as paixões humanas segundo a constituição do homem é tudo o que podemos fazer para seu bem-estar (1968, p. 6162). 6447 Torna-se evidente nessas afirmações de Rousseau, que ele era contra a teoria do homúnculo, pela qual a criança era vista como um adulto em miniatura. Já Manacorda (1996, p. 240) afirma que Rousseau é considerado um dos pais da pedagogia moderna. Acreditamos que Rousseau revolucionou a abordagem da pedagogia, privilegiando a abordagem que Manacorda (1996) denomina de “antropológica”, isto é, tendo como foco, o sujeito, o homem, a criança, golpeando assim, a abordagem “epistemológica”, centrada na transmissão do “saber à criança como um todo já pronto. Pela primeira vez, ele enfrenta com clareza o problema, focalizando-o “do lado da criança”, considerada não somente como homem in fieri, mas propriamente como criança, ser perfeito em si” (MANACORDA, 1996, p. 242). Essas idéias colocadas por Manacorda (1996) ficam evidentes no seguinte trecho de O Emílio: Não se conhece a infância: com as falsas idéias que dela temos, quanto mais longe vamos mais nos extraviamos. Os mais sábios apegam-se ao que importa que saibam os homens, sem considerar que as crianças se acham em estado de aprender. Eles procuram sempre o homem na criança, sem pensar no que esta é antes de ser homem. Eis o estudo a que mais me dediquei a fim de que, ainda seja meu método quimérico e falso, possam aproveitar minhas observações [...]. Começai, portanto estudando melhor vossos alunos, pois muito certamente não os conheceis e se lerdes este livro tendo em vista esse estudo, acredito não ser ele sem utilidade para vós (ROUSSEAU, 1968, p. 6). Sabemos que muitas visões de infância podem existir e coexistir. Sendo assim, na contemporaneidade o que marca a infância? O documento “Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade” (BRASIL, 2006), aponta uma possível direção. A saber, ele apresenta a importância da ludicidade para a criança envolvida neste processo. Este posicionamento é bem claro em um dos artigos deste documento elaborado por Kramer (2006). A referida autora ainda defende a presença do lúdico, das brincadeiras, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Defendemos aqui o ponto de vista de que os direitos sociais precisam ser assegurados e que o trabalho pedagógico precisa levar em conta a singularidade das ações infantis e o direito à brincadeira, à produção cultural tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental (KRAMER, 2006, p. 20). 6448 Por entender que esta reflexão se torna enriquecida com as falas dos sujeitos, vale acrescentar a visão de duas educadoras a respeito da vivência da infância no âmbito escolar e também do lúdico nesta implantação do ensino fundamental de oito para nove anos de duração – E 1 -“na escola onde leciono, sim, todos os dias a proposta de ensino evidencia o lúdico como norteador da prática”. Por outro lado, a educadora três apresenta uma visão oposta deste processo. Afirmando que as crianças não vivenciam a infância no âmbito escolar, “principalmente agora, com o ensino fundamental de 9 anos, percebemos que a infância está ficando mais curta. Com o currículo escolar cada vez mais exigente, a criança não em muito tempo para brincar, pois muitas vezes, o professor se vê obrigado a cumprir o programa” (E 3). Neste contexto, certamente podemos afirmar que “o ser criança está aliado à presença do aspecto lúdico, não exatamente à sua quantidade ou ao tempo despendido para, mas à sua qualidade, entendendo-a como subjetividade” (BATISTA, 2009, p. 33). Sendo assim, que tendências na contemporaneidade direcionam o modo como enxergamos a criança? Atualmente uma das tendências é enxergá-la como “alguém que possui identidade, vivências e lógica de pensamentos próprios, e não como alguém apenas a ser preparado para a vida futura, antecipando-se a juventude e a vida adulta” (BATISTA, 2009, p. 34). No nosso entendimento, as brincadeiras fazem parte desta vivência. Mesmo que parte da sociedade atribua um baixo status social ao brincar, vendo-o muitas vezes como perda de tempo. Precisamos enquanto educadores, pesquisadores, defender o uso desta prática na instituição escolar. E mais do que isso, é preciso aprofundar o estudo sobre esta temática, pois se acreditarmos que a ludicidade é desnecessária tanto na educação infantil, quanto no Ensino Fundamental, certamente esta concepção trará implicações sobre a constituição da infância. Diante dessas reflexões, uma questão ainda persiste: será que estamos conseguindo olhar para nossas crianças como crianças? Existe de fato este esforço de nossa parte? Friedmann (2004/2005, p.13) apresenta um posicionamento preocupante a este respeito, isto é, “a nossa sociedade está abafando a alma, o ser das crianças, esta tirando-lhes a oportunidade de serem elas mesmas”. 6449 Consideramos que é inconcebível que nossa sociedade, nossa cultura esqueça que precisa de crianças. “Mas está a caminho de esquecer que as crianças precisam de infância. Aqueles que insistem em lembrar prestam um nobre serviço” (POSTMAN, 1999, p.167). Enquanto educadoras e pesquisadoras, nos colocamos em oposição a uma tendência que apressa a infância, que “abafa a infância”. Desejamos fazer parte do grupo que insiste em lembrar que criança é criança e precisa desfrutar plenamente de sua infância mesmo com sua inserção obrigatória no Ensino Fundamental. Ainda Concluindo... Inicialmente tivemos contato com a equipe pedagógica da Secretaria de Educação do Município de Cambé que demonstrou que esta proposta era bem vinda neste momento de tantas inquietações sobre a temática em questão. Posteriormente, propomos dialogar com os pedagogos, diretores e professores das escolas participantes da pesquisa com o objetivo de esclarecer a proposta de trabalho e convidá-los a serem colaboradores desta pesquisa. Pensamos que este diálogo permitiria uma maior abertura entre pesquisadores e sujeitos participantes da pesquisa, pois consideramos que este trabalho se pauta em uma metodologia dialética. Partimos de um contexto novo (Ensino Fundamental de nove anos), buscamos estudar e conhecer teoricamente sobre o assunto verificamos junto aos docentes indagações e voltamos a discutir a temática, almejando com este trabalho subsidiar futuramente a prática pedagógica destes profissionais. Alguns dados já foram levantados em um primeiro contato com os docentes e percebemos que há algumas indagações sobre a metodologia desenvolvida no primeiro ano. Em alguns momentos evidenciou-se uma preocupação em “dar conta” do conteúdo em si e não uma preocupação pautada em conciliar aprendizagem e necessidades específicas do desenvolvimento desta criança. A entrevistada E3 relata que no âmbito escolar “a infância está cada vez mais curta”. Essa afirmativa nos remete a uma indagação: será que está mais curta porque aceleramos o ritmo da criança e não permitimos que a mesma explore e experiencie seus conhecimentos? O que significaria dar conta do conteúdo? Que conteúdo é esse tão temido e que deve ser cumprido sem um olhar mais significativo sobre quem é essa criança? 6450 Em conversa informal com uma das educadoras, a mesma relatou que gosta muito de trabalhar com jogos e brincadeiras e que percebeu que as atividades lúdicas vivenciadas possibilitaram a compreensão de muitos conceitos e conhecimentos abstratos que eram trabalhados posteriormente. Porém a sua inquietação ainda era: “será que estou no caminho certo?” De acordo com nossos estudos realizados até o momento sobre a infância precisamos afirmar à esta educadora que a metodologia utilizada por ela até então, condiz com a necessidade destas crianças. Trabalhando desta forma possibilitamos aos alunos uma vivência concreta, uma construção de estratégias, hipóteses e argumentações que auxiliam a criança a compreender o mundo que a cerca. Segundo as concepções de infância das educadoras co-participantes desta pesquisa, a infância é um dos momentos inesquecíveis, gostosos de serem lembrados e degustados. Assim não são esquecidos os amigos, as travessuras, as “artes”, o bolo gostoso da vovó, o olhar atento da professora, as brincadeiras no parque com os amigos. Essas vivências são suportes para construções futuras. Deste modo nos permitimos refletir e olhar para infância com um gostinho de “quero mais”, de permitir que nossas crianças experimentem ser crianças, que não nos preocupamos em antecipar ações não pertinentes a esta infância, pois toda e qualquer experiência infantil será fruto de muitas compreensões de mundo. Aos docentes regentes do primeiro ano do ensino fundamental, fica o convite para olhar para estas crianças como crianças e que não se permita encurtar essa fase tão significativa de aprendizagens e descobertas. Ser professor desta fase é ver, considerar a infância e permitir que ela favoreça o processo de ensino e aprendizagem. REFERÊNCIAS ARROYO, Miguel, G. Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. AZEVEDO, Heloisa Helena; SILVA, Lúcia Isabel da C. Concepção de infância e o significado da educação infantil. Espaços da Escola. Unijuí, n.34, ano 9, p.33-40, out.dez. 1999. BATISTA, Cleide Vitor Mussini. Entre Fraldas, mamadeiras, risos e choros: por uma prática educativa com bebês. Londrina: Maxiprint, 2009. 6451 BRASIL. Ensino Fundamental de nove anos: orientações gerais. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: FNDE, 2004. BRASIL. Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Departamento de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: FNDE, Estação Gráfica, 2006. CHALITA, Gabriel. Pedagogia do amor: A contribuição das histórias universais para a formação de valores das novas gerações. 14. ed. São Paulo: Editora Gente, 2003. FARIA, Ana Lúcia Goulart de. O Espaço Físico como um dos Elementos Fundamentais para uma Pedagogia da Educação Infantil. In: FARIA, Ana Lúcia Goulart de; PALHARES, Marina Silveira (Orgs.). Educação Infantil Pós-LDB: rumos e desafios. 3.ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2001, p.67-97. FRIEDMANN, Adriana. O que é Infância? Alegre, n. 6, p. 10-13, dez. 2004/mar. 2005. Revista Pátio-Educação Infantil. Porto KRAMER, Sonia. A Infância e sua singularidade. In: BRASIL.Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Departamento de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: FNDE, Estação Gráfica, 2006. MANACORDA, M. A. A educação nos setecentos. In: ______. História da educação: da antiguidade aos nossos dias. 5.ed. SP: Cortez, 1996. p. 227-268. NASCIMENTO, Ana Elise Monteiro do. A Infância na escola e na vida: uma relação fundamental. In: BRASIL. Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Departamento de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: FNDE, Estação Gráfica, 2006. POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. RJ: Graphia, 1999. ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da educação. SP: DIFEL, 1968. TELES, Maria Luiza Silveira. Socorro! É proibido brincar! Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
Download