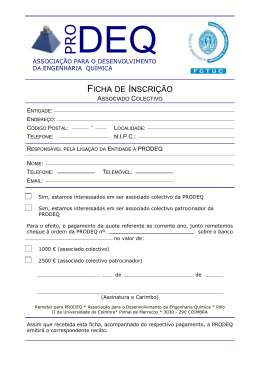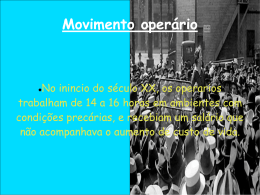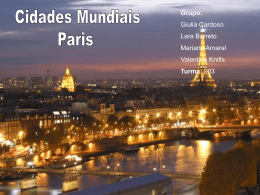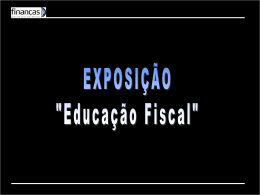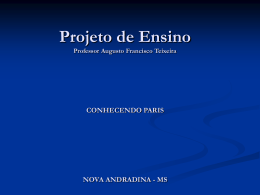A Política dos Muitos Povo, Classes e Multidão Coordenação Bruno Peixe Dias José Neves lisboa: tinta‑da‑ china MMX Índice Este livro foi publicado no âmbito da Exposi‑ ção Povo‑People, organizada pela Fundação EDP, no Museu da Electricidade, durante o Verão de 2010. © 2010, Fundação EDP e Edições tinta‑da‑china, Lda. Rua João de Freitas Branco, 35A, 1500‑ 627 Lisboa Tels: 21 726 90 28/9 | Fax: 21 726 90 30 E‑mail: [email protected] www.tintadachina.pt Título: A Política dos Muitos. Povo, Classes e Multidão Coordenação: Bruno Peixe Dias e José Neves Autores: AAVV Revisão: Tinta‑da‑china Composição: Tinta‑da‑china Capa: Vera Tavares 1.ª edição: Junho de 2010 isbn 978-989-671-041-5 Depósito Legal n.º 311976/10 7 Introdução Bruno Peixe Dias e José Neves 25 31 35 55 73 91 95 113 137 Povo, Popular e Populismo 167 173 197 233 Classes, Movimentos e Subalternidade O que é um povo? Giorgio Agamben Você disse «popular»? Pierre Bourdieu Populismo: o que há num nome? Ernesto Laclau Existirá uma «política popular»? Raymond Huard População, Governo e Soberania Formar pessoas Ian Hacking A «governamentalidade» Michel Foucault Prolegómenos à soberania Étienne Balibar O burguês e a burguesia: conceito e realidade Immanuel Wallerstein Planeta de bairros de lata: a involução urbana e o proletariado informal Mike Davis Multidão e comunidade. O levantamento social na Bolívia Álvaro García Linera 245 281 A Hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos e a classe trabalhadora atlântica no século xviii Peter Linebaugh e Marcus Rediker História subalterna como pensamento político Dipesh Chakrabarty 309 315 329 341 355 Migrantes, Trabalho e Identidade 375 379 393 407 419 425 Plebe, Multidão e Comunidade Direito de fuga Sandro Mezzadra Porque é que todos gostamos tanto de odiar Haider Slavoj žižek A política da identidade e a esquerda Eric Hobsbawm Black Power C.L.R. James A experiência da plebe Martin Breaugh Multidão e princípio de individuação Paolo Virno Para uma definição ontológica da multidão Toni Negri Do ser‑em‑comum Jean‑Luc Nancy A comunidade como dissentimento Jacques Rancière (com François Noudelman) 437 Notas Biográficas Introdução Bruno Peixe Dias e José Neves Este livro é parte de um debate sobre a questão do sujeito polí‑ tico colectivo. Durante muito tempo, o tema constituiu um objecto fundamental do pensamento político moderno. Tratou‑ se de pro‑ curar responder à pergunta quem faz a política? e, subsidiariamente, de formular uma outra pergunta: o que é a política? Nas últimas déca‑ das, todavia, a adequação dos principais nomes que tradicionalmen‑ te enformavam esse sujeito colectivo – os nomes de povo, classe ou massas – começou a ser questionada. Podemos mesmo dizer que se assistiu a uma crise conceptual. Esta crise veio favorecer a secundari‑ zação do princípio de que a política é uma questão colectiva e em seu detrimento ganhou terreno a ideia de que o indivíduo será o princípio e o fim do viver comum, o colectivo mais não sendo do que a soma de cada um dos elementos individuais. A crise, contudo, igualmente possibilitou outros caminhos, de certa maneira opostos àquela ideia. Com efeito, nos últimos anos têm sido procurados nomes que, numa realidade diferente do mundo que viu emergir conceitos como povo, classe ou massas, poderão novamente designar um sujeito colecti‑ vo de acção política. Trata‑se, nesta procura, de voltar a equacionar os modos de pensar a política num plural que é sempre diferente da mera soma dos individuais. Nas páginas deste livro o leitor encontrará alguns dos contributos mais importantes para este processo de reno‑ vação de nomes do sujeito político colectivo, um processo que é par‑ ticipado por diversos movimentos, correntes e autores do presente, mas que se dá em diálogo com outros tantos debates que se julgou pertencerem apenas ao passado. Ao longo do livro são abandona‑ dos, continuados, recuperados e reinventados os conceitos de plebe, de multidão, de povo, de massas e de classe – entre outros. [10] a política dos muitos Partimos da seguinte constatação: nos dois últimos séculos, a ideia de que o povo é o sujeito político colectivo por excelência solidificou ‑se. Um dos sinais mais evidentes desta consolidação é o facto de ter sido em nome do povo que se constituiu a grande maioria dos regimes políticos contemporâneos. Em geral, os princípios constitucionais destes regimes – entre si muito diversos, sublinhe‑se – apontam para a ideia de que o povo é em primeira e última instância o depositário do poder soberano: é do cumprimento da vontade popular que depende a legitimidade da autoridade de quem decide os destinos do corpo social da nação. De modo necessariamente genérico, a concepção que suporta estes princípios constitucionais é por nós aqui designada tri‑ plamente: uma concepção democrática, popular e nacional. Ela terá ganho a sua forma tripla no quadro da derrota dos fascismos, que teve o seu momento fulcral no desfecho da Segunda Guerra Mundial, e da queda dos imperialismos europeus, concretizada no âmbito da nova ordem mundial do segundo pós‑guerra. A partir dos anos 40 do século xx, tanto nos regimes liberais do Ocidente como nos regimes socia‑ listas de Leste, ou ainda nos novos regimes constituídos nos antigos territórios coloniais, desenvolveram‑se narrativas políticas em que os conceitos de democracia, povo e nação se entreteceram de maneira cada vez mais intensa, justamente em oposição aos discursos fascistas (no caso dos países ocidentais e de Leste) e aos discursos colonialistas (no caso de países do hemisfério sul). Às ideias de nação e de povo dos fascismos e à ideia de desenvolvimento dos colonialismos, o antifas‑ cismo e o anticolonialismo procuraram contrapor, antes mesmo de lograrem derrotar aqueles, usos alternativos de nação, de povo e de desenvolvimento1. A concepção democrática, popular e nacional da soberania, con‑ tudo, não se nutre simplesmente da vontade de negação dos fascismos e do colonialismo. Ao apoiar‑se nas revoluções liberais e nacionais de finais do século xviii e do século xix, chama à colação um período mais extenso, fundando‑se igualmente na vontade de negação das sociedades de Antigo Regime, em que sobre os muitos tenderia a vi‑ gorar o poder absoluto do um e dos poucos. Desenvolve‑se assim uma narrativa histórica que compreende todo o período contemporâneo, latamente balizado entre finais do século xviii e finais do século xx, e ao longo do qual o povo é afirmado como protagonista da negação e superação de formas políticas genericamente elitistas, autoritárias e imperiais. A um esquema vertical de exercício do poder político, e a introdução [11] uma configuração monista da soberania, que desta maneira não resi‑ diria no povo ou na totalidade dos indivíduos sobre os quais ela seria exercida, é contraposto o triunfo do povo, da democracia e da na‑ ção na época contemporânea. Trata‑se, na celebração deste triunfo, de festejar uma operação bem‑sucedida de resgate de soberania, que pertenceria naturalmente ao povo, mas que lhe teria sido confiscada por um ou por poucos situados acima desse mesmo povo. A concepção democrática, popular e nacional exprime‑se então através de uma narrativa histórica determinada, na qual se inscreve um sentido progressista da história que terá cabido ao povo revelar e que lhe caberá agora preservar. Note‑se que é ainda aos perigos de uma nova confiscação que se alude quando se dá conta da persistên‑ cia, ou até da sofisticação, de lógicas antidemocráticas e de domina‑ ção estrangeira. A motivação de muitos apelos à solidificação de uma concepção democrática, nacional e popular da soberania compreende‑se em parte à luz de tais alusões. Consumado o resgate, caber‑nos ‑ia a nós, o povo, defender o que fora tão arduamente recuperado por gerações predecessoras. A contraposição entre uma concepção monista da soberania e uma concepção pluralista, que seria própria do modo democrático, popu‑ lar e nacional da soberania, pode, no entanto, esconder tanto como aquilo que revela. Porque, além das diferenças que afastam ambas, a segunda igualmente prolonga elementos da primeira. O inquérito sociológico tem reunido indícios desta continuidade, ao apontar a capacidade de adaptação dos mecanismos de reprodução dos grupos dominantes aos diferentes regimes políticos. Se na lei o apuramento dos poucos que nos governam já não depende do nível do rendimen‑ to, da linhagem familiar, da pertença de classe ou do grau de instru‑ ção, mas sim de procedimentos eleitorais definidores do contrato de representação, todavia, entre a lei e o costume regista‑se considerá‑ vel distância. Mais: esta distância entre igualdade de lei e desigual‑ dade de facto acaba por naturalizar‑se, ao ser tantas vezes justificada como sendo o resultado não só de uma lei de ferro social, mas tam‑ bém de uma desigualdade de inteligências. De facto, hoje parece ser geralmente aceite a coexistência entre igualdade na lei e desigualda‑ de das inteligências. Se o nivelamento resultante da primeira é o que permite estabelecer a identidade e a comunidade de um colectivo [12] a política dos muitos nacional‑popular em que se diz residir a soberania, o desnivelamento suportado pela segunda, sendo considerado efeito do livre aperfeiçoamento do indivíduo, legitima que o governo de todos seja con‑ fiado aos poucos. Os muitos aparecem, assim, como uma espécie de moldura humana, um pano que serve de fundo à dramatização dos gestos dos poucos. Uma das formas privilegiadas de proceder a esta dramatização tem sido o culto da figura das elites. Ele tende a introduzir o princí‑ pio de verticalidade, que permite aos poucos elevarem‑se sobre os mui‑ tos, alegando uma superior inteligência. É certo, por isso, que existe uma tensão entre discursos que valorizam a figura do povo e outros que valorizam a figura das elites, os primeiros procedendo horizon‑ talmente, os segundos procedendo verticalmente; esta diferença, porém, não impede a possibilidade de coexistência de imaginários e até a sua complementaridade. Veja‑se o que tem sucedido a nível do debate historiográfico. Nos últimos anos, a partir das posições de alguns historiadores, mas com uma ressonância que coloca o deba‑ te além do âmbito estritamente historiográfico, tem sido feito apelo a uma revalorização do político, da acção, do individual e das elites. Esta revalorização tem sido reclamada de modo a contrariar um ale‑ gado excesso de atenção concedida ao económico e ao social – assim como às estruturas, ao colectivo e às massas – por parte de historia‑ dores influenciados quer pela escola dos Annales quer pelo marxismo. Do nosso ponto de vista, no entanto, os termos em que se anuncia este apelo à redescoberta da importância das elites e do indivíduo na história não apresentam nenhuma mudança significativa de pers‑ pectiva. Não se trata de optarmos entre uma de duas, não se trata de escolher entre história política ou história económica e social, entre a crítica aos historiadores das estruturas ou o elogio aos historiadores das estruturas, entre os que se interessam pelo individual ou os que se dedicam ao estudo dos colectivos, mas sim de recusar liminarmente o pressuposto de uma oposição entre individual e colectivo2. Trata‑se então, e em alternativa, de pensar a subjectivação polí‑ tica na relação entre individual e colectivo, e não fixando o sujeito a uma essência individual ou a uma identidade colectiva. Esta ruptura, com um entendimento do indivíduo enquanto unidade que em nome de um interesse próprio secundariza a comunidade, e com uma acep‑ ção do colectivo como uma unidade em que as subjectividades se anulam em prol de um todo, atravessa a generalidade dos textos que introdução [13] apresentamos neste livro, embora, nesta introdução, caiba sublinhar a importância do contributo de Michel Foucault, quando este alertou para a ingenuidade científica e política subjacente a contraposições entre socialismo e liberalismo, totalidade e individualidade, poder re‑ pressivo e sujeito reprimido, necessidade de constrangimento e von‑ tade de libertação. A obra de Foucault, discutindo, entre outros, con‑ ceitos como povo, população ou plebe, e investigando um vastíssimo campo de temas, da sexualidade ao pensamento económico, permite clarificar melhor a condição do povo na modernidade política: um sujeito político nos dois sentidos em que é possível, na língua portu‑ guesa, falarmos de sujeito – o responsável por uma acção e aquele que se submete a uma acção3. À luz da concepção democrática, popular e nacional da soberania, aquela dupla dimensão – um povo simultaneamente activo e passivo – tem sido pouco atendida. Como vimos, uma tal concepção afirma o lado activo do povo e tende a menorizar o tema da passividade. Esta disparidade repercutirá o efeito exaltante de uma narrativa nacional que contrapõe a figura do povo às figuras do um e dos poucos. A narra‑ tiva consegue este efeito de sobrevalorização do lado activo do sujeito povo e de desvalorização do lado passivo, não apenas devido ao conte‑ údo democrático e popular que exprime, note‑se, mas também à pró‑ pria forma nacional que essa expressão assume. A aspiração à autode‑ terminação nacional orienta‑se pelo princípio de que um povo deve ser dono de si mesmo, correspondência conseguida por via de meca‑ nismos democráticos que tendem a exigir a coincidência de um povo, de um território, de uma nação e de um Estado. No quadro da moder‑ nidade política, o próprio desejo de uma política emancipadora ou libertadora, que vença a alienação, tem‑se muitas vezes enleado com a aspiração à autonomia nacional. A pretensão a esta autonomia moti‑ vou, nomeadamente, as chamadas lutas de libertação nacional, tanto no século xix como no século xx, combinando aspirações de justiça de classe, inspiradas nas tradições socialistas e comunistas, com uma dimensão nacionalista. Enformaram‑se nacionalmente as aspirações igualitárias, e os efeitos mobilizadores desta subjectivação nacional, do modo como de um colectivo se faz um povo, tiveram e têm efei‑ tos bastante poderosos. O colectivo nacional apareceu como efeito e causa de um sujeito colectivo autónomo – no sentido kantiano de que [14] a política dos muitos se dá a si próprio a sua lei – que forja o seu destino em resultado de um esforço comum, de índole militar, fiscal, laboral, etc.4 Ao projectar uma política dos muitos, houve, porém, quem criti‑ casse este efeito de nacionalização do sujeito colectivo. A crítica mais elaborada a este respeito foi a crítica marxista. Não apenas de Marx, mas de toda uma tradição que apontou os limites de uma política de unidade popular nacional. Estes limites, que são variados, podem ser resumidos em dois tópicos. Em primeiro lugar, a prevalência daquela concepção reduziu as possibilidades da análise social situar as divisões de classe e o fenómeno da exploração na base desta divisão de classes, tanto no interior da nação como através do mundo, uma vez que ao facto de o povo ser uma entidade supraclassista justapõe‑se o facto de a classe ser, pelo menos potencialmente, supranacional. Em segundo lu‑ gar, e mais importante, a ideia de uma unidade popular nacional acres‑ centou novos obstáculos à constituição de um sujeito político de classe que se pretendeu agente de uma luta pela abolição do próprio quadro político, económico e social que alimentava a sua identidade classista: a sociedade capitalista. Com efeito, o desafio lançado pela ideia mar‑ xista de luta de classes foi e é um desafio universalista, não apenas na medida em que os operários não tenham pátria, como afirmaram Marx e Engels no Manifesto Comunista, mas sobretudo porque não predica a divisão fundamental do corpo social numa condição essencial do sujei‑ to, o ser proletário, e sim no próprio derrube da sociedade que perpe‑ tua tal condição. É isso que distingue a condição proletária de outras formas de identidade social entendidas como atributos e propriedades dos indivíduos, tais como nação, etnia e «raça», categorias que, é certo, se desenvolvem de modos bastante díspares. Na verdade, com Marx, poderíamos dizer que o sujeito da luta de classes, ao contrário do que é muitas vezes assumido, não tem de pertencer a uma determinada classe. O sujeito da luta de classes será político ou não será e só ganha sentido nesse movimento da política que é a luta de classes. Este entendimento político da questão classista, todavia, foi não raras vezes submergido por um outro entendimento, em que classe é algo que conhece uma existência social e histórica independente da luta política, algo que vive no processo histórico e no tecido social e cuja existência decorre do capitalismo e do seu desenvolvimento histórico. Tratar‑se‑ia, à luz deste outro entendimento, de aferir uma introdução [15] identidade de classe, de narrar a sua origem e o seu fim, sendo neste sentido que classe e povo tantas vezes acabaram por se assemelhar, ambos os nomes particularizando identitariamente – seja sob a forma de objectos que são vítima da exploração, seja sob a forma de sujeitos heróicos autodeterminados – o que começou por fazer referência a um processo universal de subjectivação política5. Assente ele numa concepção economicista de classe ou numa concepção romântica, o entendimento identitário é o que tem permitido a sociólogos fala‑ rem de classes do mesmo modo que antropólogos falaram de povos, nações ou etnias, e é o que hoje encontramos em muitos usos corren‑ tes do conceito, que por classe tendem a presumir simplesmente gru‑ pos profissionais ou escalões de rendimento – de tal maneira que, se hoje o conceito de classe é ainda utilizado na academia ou nos media, o conceito de luta de classes, porém, tende a ser simplesmente arqui‑ vado como testemunho de um tempo que se julga ultrapassado. Para a consolidação deste entendimento identitário das classes, em muito contribuiu, mesmo se contra a sua intenção, a história do próprio movimento dos trabalhadores, nomeadamente com o cons‑ trangimento da sua acção política ao espaço da nação6. Tal constran‑ gimento fez com que as classes adquirissem atributos populares, sendo firmadas como esteio da identidade nacional, na medida em que o seu esforço produtivo foi considerado elemento dinamizador da economia nacional. Em sentido contrário, mas complementar, os povos adquiriram características classistas. Assumiram uma vocação internacionalista, sendo através da sua representação que as classes entretanto nacionalizadas passaram a afirmar‑ se no mundo, e de‑ sempenharam uma função anticapitalista no quadro da luta contra o imperialismo. Este entendimento identitário, todavia, acabou por ser sujeito a duras críticas, vindas do interior do próprio movimento dos trabalhadores e de outros movimentos sociais igualmente empe‑ nhados na luta de classes. Essas críticas caracterizam‑se diversamen‑ te, mas, em todo o caso, tiveram como alvo os próprios fundamentos sociológicos e económicos em que partidos e sindicatos socialistas assentavam a reivindicação da sua identidade de classe. Desde logo, a um nível estritamente sociológico, foi criticado o facto de, nessa reivindicação, ser atribuída uma função de vanguarda ao operariado industrial e daí resultar uma secundarização da figura do camponês. [16] a política dos muitos Num plano mais geral, porém, foram os próprios limites das concepções de produção, trabalho e exploração subjacentes àque‑ la centralidade do operário industrial que acabaram por ser ques‑ tionados, sugerindo‑se que aquelas concepções deveriam deixar de ser necessariamente territorializadas no espaço da fábrica e reclamando‑se, ao invés, a valorização de formas de trabalho mar‑ ginais ao formato clássico do assalariado e especialmente do assala‑ riado industrial. Um exemplo importante destas formas que eram marginais, e que deveriam deixar de o ser, era o trabalho doméstico, essencialmente feminino: situando‑se na esfera da reprodução fa‑ miliar e do tempo extralaboral, ele seria, porém, condição sine qua non da actividade produtiva e da melhoria da produtividade. Ou‑ tros exemplos, embora todos eles com variações importantes, que não tem cabimento desenvolvermos nesta introdução, emergiram na cena política e nos debates teóricos ao longo da época contem‑ porânea e com particular visibilidade na segunda metade do século xx, no quadro de novas abordagens da condição do desempregado, do precário, do migrante ou, até, do marginal, do louco e do crimi‑ noso. E em muitas destas circunstâncias, de que Maio de 68 pode ser considerado uma constelação, ganhou inclusivamente fôlego uma leitura mais crítica das relações de poder, em que o económico (por mais lato que seja o uso de termo) deixou de poder ser conside‑ rado o eixo primordial de toda a política e de toda a problematiza‑ ção, como veremos mais adiante. O impacto desta transformação ainda hoje está por determinar e o debate continuará. O que, porém, importa desde já afirmar é que ela não implicou necessariamente, e ao contrário do que foi e é frequen‑ temente dito, o abandono da problematização económica e classis‑ ta7. Tal presunção esquece, desde logo, que Maio de 68 foi o tempo de uma das maiores greves gerais de todo o sempre e que os anos 60 e 70 assistiram, em vários países, a uma renovação das próprias lutas ope‑ rárias, muitas delas desenvolvidas fora do quadro identitário da clas‑ se e reafirmando como objectivo da luta do proletariado a extinção da própria condição proletária, conforme testemunham as experiên‑ cias de movimentos que fizeram as suas palavras de ordem a partir da recusa do trabalho e da crítica à hierarquia disciplinar da fábrica. O que a mudança seguramente implicou, isso sim, foi a necessidade de articular a problematização económica com dimensões políticas e culturais menos valorizadas por concepções identitárias8. introdução [17] O caso dos movimentos anticoloniais, cuja importância a nível das transformações políticas da segunda metade do século xx con‑ tinua a ser pouco valorizada, mostra bem que não se tratou propria‑ mente de abandonar o terreno económico em nome de um novo hori‑ zonte cultural de lutas, mas de colocar em causa a hegemonia estatal, as suas lógicas constitucionais, os seus mecanismos de representação e as suas instituições culturais, assim como alguns princípios centrais à organização da economia e do trabalho. Deste ponto de vista, pode ‑se mesmo dizer que os movimentos anticoloniais começaram por representar, mais do que uma negação, um prolongamento da luta de classes e da sua lógica universalista. Em relação à estratégia dominan‑ te nos partidos socialistas e comunistas ocidentais, criticaram uma política identitária de classe que restringia o sujeito político colecti‑ vo ao operariado industrial dos países colonizadores e exigiram que à luta anticolonial fosse atribuída a mesma importância estratégica tributada à luta operária. Contra leituras em que o poder da classe era aferido como derivação directa do desenvolvimento capitalista, e daí que a classe considerada como a mais potente fosse a que se encon‑ trasse no local tido como o centro do desenvolvimento capitalista, apelaram à valorização das dinâmicas políticas engendradas pela luta anticolonial, nomeadamente a capacidade de, a partir da margem, enfraquecer o poder do próprio centro. Em resumo, protagonizaram uma dupla recusa identitária: recusa de uma política de identidades de classe centrada na figura do operário industrial e de uma política colonial de fixação identitária que constituía um dos eixos da domi‑ nação imperial europeia9. Hoje, todavia, é necessário relativizar a ruptura protagonizada pelos movimentos anticoloniais. Se eles constituíram uma das críti‑ cas mais acutilantes às políticas de identidade – de classe e nacionais –, também é verdade que o seu desejo de libertação acabou, não raras vezes, por se enquadrar em novas políticas de identidade, construin‑ do novos povos, estados e nações. Não surpreende, por isso, que as suas políticas estatais tenham acabado por desenvolver uma narrati‑ va da nação e do povo semelhante à que se estruturara na Europa10. Este problema tem sido particularmente discutido no seio dos cha‑ mados estudos subalternos, movimento de renovação a um tempo historiográfico e político. Herdeiros da crítica anticolonial ao euro‑ centrismo, não deixaram de submeter o próprio anticolonialismo a um questionamento. Paralelamente às críticas mais radicais que nos [18] a política dos muitos países desenvolvidos iam sendo feitas em relação aos movimentos e partidos associados à Segunda ou à Terceira Internacional, vários autores filiados na tradição dos estudos subalternos apontaram as ex‑ cepções que acompanharam a constituição do sujeito povo por parte dos nacionalismos anticoloniais; e, tal como aquelas críticas, questio‑ naram a exclusão, não apenas ao retirarem da sombra os rostos dos excluídos, mas igualmente ao problematizarem os mecanismos de exclusão e as lógicas de identificação – discutindo quem faz a política? mas também o que é a política?11 Trata‑se de uma problematização que ancorou em debates polí‑ ticos e teóricos muito importantes, mas que não pode ser compreendida separadamente das próprias circunstâncias históricas em que certos movimentos sociais procuraram superar politicamente a ten‑ dência de encerramento da luta de classes no espaço político, insti‑ tucional e cultural dos Estados nacionais, espaço a que os partidos e os sindicatos tradicionais se tinham vindo a habituar ao longo da se‑ gunda metade do século xx e a que os movimentos anticoloniais, uma vez vitoriosos e transformados em partidos de Estado, igualmente se conformaram. No seio destes últimos, por exemplo, surgiram vozes críticas do destino operário que uma concepção de desenvolvimen‑ to dependente do progresso industrial, em grande medida devedora ainda das concepções dominantes no Ocidente, reservaria à genera‑ lidade das populações do hemisfério sul12. Essas vozes críticas, que se levantaram no quadro da persistência da luta de classes em contexto pós‑colonial, e é certo que por vias muito diferentes, não deixaram de se assemelhar aos sectores mais radicais do movimento operário europeu e a novos movimentos sociais igualmente contestatários de regimes quotidianos de trabalho destinados a consolidar economias privadas ou estatizadas. Do interior do movimento operário, mas também do seu exte‑ rior, assim como do interior do movimento anticolonial, colocaram ‑se então em causa as formas políticas organizativas dominantes a nível do Estado e da empresa, mas também dos próprios movimentos que lutavam contra a hegemonia do Estado e da empresa. Criadas e desenvolvidas em períodos conturbados e marcados por lutas inten‑ sas, sob ditadura ou em contexto de guerra, e não raras vezes alvo de perseguição por parte dos aparelhos de Estado, esses movimen‑ tos haviam adoptado, amiúde, formas organizativas centralizadas, assentes em relações verticais e na unidade de comando; e esta es‑ introdução [19] truturação militarizada e hierarquizada prolongou‑se muitas vezes, embora com alterações importantes, além do contexto da sua for‑ mação inicial, acabando por espelhar, mesmo se com pressupostos diferentes, os mecanismos de representação e divisão dos próprios estados e empresas que visavam combater. Face a estas continuida‑ des, questionou‑se a figura de autoridade do chefe de Estado e do patrão, mas também do líder do partido e do dirigente sindical. Tanto no seio do movimento operário e do movimento anticolonial, como nos debates entre estes e outros movimentos sociais, tornou‑se, por isso, incontornável a interrogação: pode uma luta ser igualitária se for orientada por princípios organizativos que dividem o trabalho políti‑ co entre dirigentes e dirigidos? À luz desta interrogação, e com particular urgência a partir do des‑ moronamento dos estados socialistas da Europa do Leste, a questão do sujeito político colectivo tem suscitado a procura de novas res‑ postas entre os que não a abandonaram em favor de uma concepção individualista da política. Correndo o risco de uma excessiva simpli‑ ficação, situamos dois tipos de respostas, que podem ser aqui esque‑ maticamente dissociadas, embora, ao analisarmos a prática dos movi‑ mentos e das lutas sociais, a oposição que estabelecemos não possa ser univocamente situada, como se determinadas respostas fossem atributo de um grupo de movimentos e lutas e outras identificassem um outro grupo de movimentos e lutas. Um tipo de respostas passa pelo abandono de qualquer tentati‑ va de encontrar um sujeito universal da política, antes procurando a valorização identitária e particularista dos excluídos – categorizando minorias sexuais, de género, raciais ou culturais, ou reduzindo a clas‑ se aos limites de um corpo sectorial. Partindo de uma análise histó‑ rica do movimento operário ocidental que, se bem que valorizadora das suas dimensões emancipadoras, acaba por sublinhar, sobretudo, o seu efeito de secundarização de outros sujeitos colectivos, tendem a estabelecer uma demarcação clara face aos movimentos dos traba‑ lhadores e a outros movimentos sociais. Um segundo tipo de respostas, em oposição ao que poderíamos chamar de políticas de identidade, tem procurado reactualizar o princípio do universalismo da luta de classes nos tempos que correm, seja através de uma política de inclusão dos sujeitos anteriormente [20] a política dos muitos excluídos da luta de classes, seja pela procura teórica e prática de novas lógicas de subjectivação política. Neste segundo tipo de res‑ postas, cumpre destacar as reflexões – muito diferentes entre si – de Ernesto Laclau e da dupla Hardt e Negri. No caso de Ernesto Laclau, os seus escritos em torno do popu‑ lismo vêm resgatar esse nome do sentido pejorativo com que é re‑ correntemente conotado. A sua problematização do populismo tem sido, de certa forma, associada às recentes transformações políticas na América Latina, mas insere‑se num esforço mais amplo de com‑ preensão dos movimentos sociais pós‑classistas, que não tem por que ser limitado a um continente, mas que representa uma tentativa ge‑ nérica de compreensão dos mecanismos pelos quais se formam os su‑ jeitos políticos colectivos num cenário político de hegemonia do ca‑ pitalismo e de democracia parlamentar. O universalismo da reflexão de Laclau reside, com efeito, na sua tentativa de abandonar um certo essencialismo presente na maior parte das reflexões em torno do su‑ jeito colectivo da política, essencialismo que de certa forma fixava esse sujeito, mesmo se essa fixação era historicamente determinada, ou seja, mesmo se correspondesse ao momento de uma determinada configuração social ou modo de produção. A lógica do populismo, se‑ gundo Laclau, é uma lógica formal, em que o sujeito resulta sempre de uma articulação contingente de exigências e em que o conteúdo varia necessariamente com a circunstância. Trata‑se de uma concep‑ ção pós‑classista no sentido identitário que a classe tantas vezes as‑ sumiu, mas de uma concepção que não dispensa a ideia de luta de classes como chave de interpretação dos processos de formação do sujeito colectivo da política. Já os contributos de Michael Hardt e Antonio Negri vieram re‑ jeitar liminarmente quaisquer noções de povo, de popular ou de po‑ pulismo. Com o sucesso da publicação de Império, em 200013, con‑ tribuíram, na verdade, e de modo muito significativo, para a emer‑ gência do nome multidão (que viria a ser título do livro seguinte a Império), enquanto nova designação de uma política dos muitos, a ser desenvolvida a partir das transformações político‑económicas das últimas décadas, e procurando superar o que designaram como novo paradigma da dominação: o Império. Em diálogo com a filosofia po‑ lítica clássica, recolocaram sob nova luz as ideias de povo e multidão, contrapondo um princípio de multiplicidade desta última, em que comunidade e singularidade não se opõem, a uma ideia unitária de introdução [21] povo. Os contributos de Hardt e Negri, porém, compreendem‑se à luz de uma história mais ampla, que nos remete justamente àqueles anos 60 e 70 do século xx, em que se assiste a uma radicalização de algumas franjas do movimento operário europeu. É no quadro do movimento político, social e teórico italiano desta época, em parti‑ cular no seio dos universos do operaismo e da autonomia operária, que ganha forma a sua crítica a uma concepção identitária da classe, cen‑ trada no operário enquanto trabalhador, à qual contrapuseram a ima‑ gem de um operário em luta contra o trabalho, assim como uma ideia de produção que se foi alargando, ao longo dos anos, ao todo social, para este efeito convocando quer a noção de General Intellect presente nos Grundrisse de Marx, quer uma releitura do conceito foucaultiano de biopolítica. Muitas vezes apresentados em oposição à teoria mar‑ xista das classes, estes pensadores, no entanto, não definem a mul‑ tidão enquanto um objecto ou um sujeito por eles identificado no tecido social, em resultado de uma sua superior clarividência teórica em relação ao marxismo, mas sim procuram que se abandonem defi‑ nitivamente representações identitárias das classes. Trata‑se aqui, mas o mesmo é válido para a generalidade dos con‑ tributos que reunimos neste livro, da afirmação ontologicamente fundada de um sujeito da política. O que todos estes contributos de alguma forma demonstram é que não é possível discutir a questão do sujeito da política sem reflectir acerca do que é a história e, mais profundamente, sem uma interrogação ontológica: o que é aquilo que é? Há um imperativo que consiste em pensar o modo como o viver humano se produz e reproduz num quadro comunitário (em pensar a ontologia do ser social, para usar a expressão de Lukács), imperativo que leva necessariamente ao inquérito acerca do modo como a trans‑ formação pode ter lugar, nomeadamente acerca da transformação política enquanto transformação do modo como esse viver se orga‑ niza14. Ao dizermos que a interrogação acerca do sujeito da política é uma interrogação ontológica, não dizemos, pois, que esse sujeito deva ser entendido como algo coisificado, cristalizado, identificável, que habitará em segredo o funcionamento dos colectivos humanos, cabendo ao pensamento a sua descodificação. Importa, sim, pensar a questão do sujeito da política sem pro‑ curar a representação mais adequada do político entre as diversas [22] a política dos muitos doutrinas e teorias disponíveis; pensar para além de uma concepção de verdade como adequação ou como correspondência entre o real e uma sua representação. A procura desta correspondência tem do‑ minado grande parte do pensamento ocidental em torno do sujeito colectivo na política, como sugere o texto de Dipesh Chakrabarty incluído neste livro. Inspirando‑se em Hayden White, que por sua vez parte de uma leitura do sublime kantiano, o historiador indiano, filiado na tradição dos estudos subalternos, dirige‑se contra os enten‑ dimentos da história como objecto fixo e arrumado, e que portanto pode ser dado a uma representação cristalizadora, a uma arrumação do processo histórico em categorias que permitem fixar os sujeitos em identidades estáveis. Trata‑se, e prolongando a crítica de Chakra‑ barty ao debate em torno da política, de contrariar a redução da polí‑ tica a algo que possa ser simplesmente contido numa representação. Porque a questão que se coloca é: não será tal redução uma forma de passar ao lado do que é principal na política? introdução [23] notas 1 Veja‑se os ensaios de Immanuel Wallerstein reunidos em: Immanuel Wallerstein, After Liberalism, Nova Iorque, New Press, 1995. 2 A nível historiográfico, a problematização desta questão encontra‑se no centro da obra de Edward Palmer Thompson. Veja‑se por exemplo: E.P.Thompson, A Economia Moral da Multidão na Inglaterra do Século XVIII, Lisboa, Antígona, 2008. 3 Acerca dos diferentes significados que a palavra sujeito pode assumir em di‑ versas línguas europeias, veja‑se a entrada «Sujet» em: Barbara Cassin (coord.), Vocabulaire Européen des Philosophies, Paris, Le Seuil/Le Robert, 2004. 4 Acerca da relação entre nação, comunismo e igualdade, veja‑se a reflexão pioneira de Henri Lefebvre em 1937: Henri Lefebvre, Le nationalisme contre les nations, Paris, Méridiens Klincksieck, 1988. 5 A este respeito, veja‑se: George Comninel, Rethinking the French Revolution – Marxism and the Revisionist Challenge, Londres, Verso, 1987. Neste livro sobre o desafio colocado ao marxismo pelo revisionismo historiográfico em torno da história da Revolução Francesa, analisa‑se como a obra de Marx, nas suas Na política, o principal é justamente a impossibilidade de fixar os seus mecanismos, pois a política é o que excede a lógica de funcio‑ namento do social e do económico e, portanto, é aquilo que resiste a toda a operação de estabilização, conforme se esclarece a partir da diferença que Jacques Rancière, no fim deste livro, estabelece entre política e polícia. Como tem afirmado Alain Badiou, é a emergên‑ cia do acontecimento político que cria as condições da sua própria inteligibilidade, e só no quadro do acontecimento que é a politica é que se cria o sujeito dessa mesma política15. Daí, em ultima análise, a impossibilidade de fixar o sujeito colectivo da política, não porque esse sujeito seja individual, muito pelo contrário, mas justamente por‑ que não é identificável. Não se trata de contrapor o colectivismo ao individualismo, nem de dissolver a dimensão individual no colectivo, mas de compreender que o indivíduo é sempre produto de um con‑ junto de relações, que não há indivíduo sem processo de individuação, que o indivíduo age e pensa mas que a sua existência num colectivo humano é condição desse pensar e desse agir, como Marx mostrou. A tentativa de encerrar o sujeito colectivo da política nos limites de um conceito que o fixe, recortando‑o como parcela no todo social, revela‑se em última análise uma tentativa de encerrar no conforto do previsível aquilo que escapa a toda a lógica de previsão. interpretações históricas, desenvolve quer leituras de índole identitária quer leituras em que é o princípio da luta de classes que assume maior relevo. 6 Martin Mevius (coord.), The Communist Quest for National Legitimacy in Europe, 1918‑1989, Londres, Routledge, 2010. 7 Veja‑se: Kristin Ross, May 68 and its Afterlives, Chicago, Chicago University Press, 2002. 8 Para uma visão de conjunto, consulte‑se: Philippe Artières e Michelle Zancarini‑Fournel (coord.), 68: Une histoire collective, 1962‑81, Paris, Éditions La Découverte, 2008. Para uma leitura que não se centra exclusivamente no caso francês: Gerd‑Rainer Horn, The Spirit of 68: Rebellion in Western Europe and North America, 1956‑1976, Oxford, Oxford University Press, 2008. 9 Veja‑se, por exemplo, a análise de Sanjay Seth em relação ao caso indiano: Sanjay Seth, Marxist Theory and Nationalist Politics: the Case of Colonial India, Nova Deli, Sage, 1995. 10 Alguns autores, como Benedict Anderson, apontam mesmo o carácter pio‑ neiro de nacionalismos não europeus, no quadro de uma história mundial dos nacionalismos. Veja‑se: Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas – Reflexões sobre a Origem e a Expansão do Nacionalismo, Lisboa, Edições 70, 2005. 11 Veja‑se, por exemplo: Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse?, Londres, Zed Books, 1986. [24] a política dos muitos 12 Veja‑se duas antologias de referência: Hélène Carrère d’Encausse e Stuart Schram (coord.), Le Marxisme et l’Asie 1853‑1964, Paris, Armand Collin, 1965; Michael Löwy, História do Marxismo na América Latina – Uma Antologia de 1909 aos Dias Atuais, São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 1999. 13 Antonio Negri e Michael Hardt, Império, Lisboa, Livros do Brasil, 2000. 14 A questão do embasamento ontológico da política tem sido, em Portugal, objecto privilegiado da reflexão de José Barata‑Moura. Veja‑se, por exemplo: José Barata‑Moura, «Uma Meditação (Ontológica) da Política», em Razão e Liberdade: Homenagem a Manuel José do Carmo Ferreira, Lisboa, Centro de Fi‑ losofia da Universidade de Lisboa, Departamento de Filosofia da Universi‑ dade de Lisboa, 2010, pp.165‑190. 15 Alain Badiou, Abrégé de métapolitique, Paris, Seuil, 1998. Povo, Popular e Populismo Alvaro Garcia Linera nasceu na Bolívia, em 1962. Aprofundou os seus estudos durante a prisão nos anos 90, devida à sua participação num grupo guerrilheiro. É sociólogo e professor na Universidad Mayor de San Andrés, mas desde 2006 que é o vice‑presidente do governo liderado por Evo Morales. Entre as suas principais publicações, destacam‑se Sociología de los movimientos sociales en Bolivia (2005) e La potencia plebeya – Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia (2008), assim como a recente autoria, com Antonio Negri e Michael Hardt, entre outros de Imperio, multitud y sociedad abigarrada (2008). Antonio Negri foi professor na Universidade de Pádua e, mais tarde, nas universidades de Paris VII e de Paris VIII. Nos últimos anos publicou, com Michael Hardt, a trilogia Império, Multidão e Commonwealth (2000‑2009), sendo considerado um dos teóricos mais importantes associados aos movimentos de alterglobalização. Os seus primeiros textos políticos, contudo, datam dos anos 60 e 70, e foram escritos em Itália no quadro do operaismo e da autonomia operá‑ ria. Podem ser encontrados no volume I Libri del Rogo (2006). Nasceu em Itália, em 1933. C.L.R. James (Cyril Lionel Robert James) nasceu em 1901, em Trinidad e Tobago, e morreu em 1989. Historiador, viveu entre a sua terra natal, os Esta‑ dos Unidos da América e a Inglaterra. Ficou conhecido pelos seus trabalhos de final dos anos 30, ainda no quadro da sua militância trotsquista, nomeadamen‑ te World Revolution – 1917‑1936: The Rise and Fall of the Communist International (1937) e The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution (1938), este último marcando‑o como um dos pensadores mais influentes do movimento negro, particularmente nos EUA, durante a segunda metade do século xx. Neste período, publicaria ainda o seu estudo seminal sobre cricket, Beyond a Boundary (1963). [440] a política dos muitos notas biográficas [441] Dipesh Chakrabarty é um historiador indiano e foi membro do grupo de Es‑ série O Sistema Mundial Moderno (1974‑1989), Anti‑systemic Movements (1989), em tudos Subalternos. Actualmente é professor na Universidade de Chicago, tendo autoria com Giovanni Arrighi e Terence Hopkins, e mais recentemente After sido investigador no Centre for Studies in Social Sciences, em Calcutá. Entre as Liberalism (1995). No início da sua carreira académica foi professor na Universi‑ suas obras, destacam‑se Rethinking Working‑Class History: Bengal, 1890‑1940 (1989) dade de Colúmbia e actualmente é professor na Universidade de Yale. e Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (2000). Jacques Rancière nasceu na Argélia, em 1940. Filósofo, é actualmente profes‑ Eric Hobsbawm nasceu no Egipto, em 1917. Historiador, foi durante muitos sor na Universidade de Paris VIII. Com Louis Althusser e outros, é autor de Ler anos professor no Birkbeck College, Universidade de Londres, de que é presi‑ «O Capital» (1965). Os seus interesses dividiram‑se em várias áreas, da história do dente honorário, e na New School for Social Research, em Nova Iorque. É autor movimento operário ao cinema e à literatura, e entre as suas obras destacam‑se de inúmeras obras, entre as quais se destacam o estudo Rebeldes Primitivos (1959) La Nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier (1981), Le Philosophe et ses pauvres e a série A Era das Revoluções (1962), A Era do Capital (1975), A Era do Império (1983), O Mestre Ignorante: Cinco Lições sobre Emancipação Intelectual (1987) ou La (1987) e A Era dos Extremos (1994). Mésentente (1995). Recentemente publicou Le Spectateur émancipé (2008). Ernesto Laclau é filósofo e cientista político, é professor na Universidade Jean‑Luc Nancy é filósofo e nasceu em 1940 em França. O seu primeiro livro, Le de Essex e autor de várias obras, entre as quais se destacam On Populist Rea‑ Titre de la lettre (1970), foi escrito com Philippe Lacoue‑Labarthe, com quem man‑ son (2005) e Politics and Ideology in Marxist Theory (1977). Com Chantal Mouffe, teve uma estreita colaboração. Escreveu sobre Hegel, Kant, Descartes ou Heideg‑ escreveu aquele que é considerado como o seu trabalho mais influente: Hege‑ ger, e entre as suas obras destacam‑se La Communauté désoeuvrée (1983), L’Expérience mony and Socialist Strategy (1985). Nasceu na Argentina em 1935. de la liberté (1988), Le Sens du monde (1993) e Être singulier pluriel (1996). Mais re‑ Étienne Balibar nasceu em França, em 1942. Filósofo, é actualmente profes‑ (2010). Entre outras universidades, foi professor na Universidade da Califórnia e sor na Universidade da Califórnia, Irvine. Com Althusser e outros, escreveu Ler na Freie Universität. Actualmente é professor na Universidade de Estrasburgo. centemente, publicou Vérité de la démocratie (2007) e Identité: fragments, franchises «O Capital» (1965). Com Immanuel Wallerstein, Race, Nation and Classe (1988). Mais recentemente, destaque‑se La Crainte des masses: politique e philosophie avant Marcus Rediker nasceu em 1951, nos Estados Unidos da América, e é histo‑ et après Marx (1997) e Nous, citoyens d’Europe: les frontières, l’état, le peuple (2001). riador. Actualmente é professor na Universidade de Pittsburgh. Com Peter Li‑ nebaugh, publicou The Many‑Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Giorgio Agamben nasceu em Itália, em 1942. Entre os seus trabalhos, desta- Hidden History of the Revolutionary Atlantic (2001). É ainda autor de The Slave cam‑se A Comunidade que Vem (1990), Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua Ship: A Human History – The Missing Link in the Chain of American Slavery (2007), (1995), Stato di Eccezione (2003) e Il Regno e la Gloria. Per una Genealogia Teológica Villains of All Nations: Atlantic Pirates in the Golden Age (2004) e Between the Devil dell’Economia e del Governo (2007). Filósofo, foi professor em várias universida‑ and the Deep Blue Sea: Merchant Seaman, Pirates, and the Anglo‑American Maritime des, nomeadamente no Collège de France e, mais recentemente, no Instituto World 1700‑1750 (1987). Universitário de Arquitectura de Veneza. Martin Breaugh foi investigador de pós‑doutoramento na Universidade do Ian Hacking publicou, entre outros, Historical Ontology (2002) e The Emergence Quebeque, em Montreal, e é actualmente professor de Ciência Política na Uni‑ of Probability (1975). Filósofo, com vários estudos sobre ciência, foi professor em versidade de York, Canadá. Publicou L’Expérience plébéienne. Une histoire disconti‑ várias universidades e, mais recentemente, no Collège de France e na Universi‑ nue de la liberté politique (2007), onde se debruça sobre o problema da emancipa‑ dade da Califórnia. Nasceu no Canadá em 1936. ção, de Roma até à Comuna de Paris. Immanuel Wallerstein nasceu nos Estados Unidos da América, em 1930. His‑ Michel Foucault nasceu em França, em 1926, e morreu em 1984. Publicou toriador e sociólogo, tem uma vasta obra, da qual se destacam os três volumes da inúmeras obras, por exemplo: As Palavras e as Coisas (1966), Arqueologia do Saber [442] a política dos muitos notas biográficas [443] (1969) ou Vigiar e Punir (1975). Os seus cursos no Collège de France foram recen‑ Sandro Mezzadra é professor na Universidade de Bolonha e na Universidade temente publicados, com destaque para Sécurité, Térritoire et Population, curso de Western Sidney. Sociólogo, tem vários estudos sobre migrações. É autor de do ano 1977/1978. Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione (2001) e de La costituzione del sociale. Il pensiero politico e giuridico di Hugo Preuss (1999). Editou recentemente Mike Davis nasceu em 1946, nos Estados Unidos da América. Sociólogo, tem a antologia Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales (2008). Nasceu em 1963. inúmeros trabalhos publicados, nomeadamente na área dos estudos urbanos. Entre os seus livros mais importantes, contam‑se Planet of Slums: Urban Invo‑ Slavoj Žižek nasceu na Eslovénia, em 1949. Filósofo e psicanalista, é actual‑ lution and the Informal Working Class (2006), Ecology of Fear: Los Angeles and the mente director internacional do Institute for Humanities do Birkbeck College, Imagination of Disaster (2000) City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles Universidade de Londres, e investigador da Universidade de Liubliana. Publi‑ (1990). É actualmente professor na Universidade da Califórnia e é editor da New cou inúmeros livros, entre os quais se destacam The Sublime Object of Ideology Left Review. (1989), Tarrying with the Negative: Kant, Hegel and the Critique of Ideology (1994), O Sujeito Incómodo – O Centro Ausente da Ontologia Política (1999), The Parallax Paolo Virno nasceu em Itália em 1952. Filósofo, é actualmente é professor na Universidade da Calábria. Publicou, entre outros, Grammatica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita contemporanee (2001) e Quando il verbo se fa carne. Linguaggio e natura umana (2003). Nos anos 90, com Michael Hardt, organizou a antologia Radical Thought in Italy: A Potential Politics (1996). Peter Linebaugh é historiador, actualmente professor na Universidade de Tole‑ do, Canadá. É igualmente membro do Midnight Notes Collective. Entre as suas principais publicações, encontram‑se The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (1991) e The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All (2008). Com Marcus Rediker, escreveu The Many‑Headed Hydra: Sailors, Sla‑ ves, Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic (2001). Pierre Bourdieu nasceu em França, em 1930, e morreu em 2002. Foi sociólogo e professor na École Pratique des Hautes Études e no Collège de France. Publicou vários livros, entre os quais La Distinction: critique sociale du jugement (1979), Le Sens pratique (1980), La Noblesse d’État: grandes écoles et esprit de corps (1989), Razões Práti‑ cas. Sobre a Teoria da Acção (1994) e Meditações Pascalianas (1997); com Jean‑ Claude Passeron, A Reprodução – Elementos para Uma Teoria do Sistema de Ensino (1970); e, em 1993, sob a sua direcção, o volume La Misére du monde (1993). Raymond Huard nasceu em França, em 1933. É historiador e actualmente pro‑ fessor na Universidade de Montpellier III. Publicou La Préhistoire des partis. Le mouvement républicain en Bas‑Languedoc, 1848‑1881 (1982), Le Suffrage universel en France (1848‑1946) (1991) e La Naissance du parti politique en France (1996). O seu artigo «Existe‑t‑il une politique populaire?», de 1985, é um marco importante na história dos movimentos sociais. View (2006) e In Defence of Lost Causes (2008). Os textos que compõem este volume foram originalmente publicados em: Álvaro Garcia Linera, «Multitud y comunidad. La insurgencia social en Bo‑ livia», Revista Chiapas, N.11, Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 2001. Antonio Negri, «Per una definizione ontologica della moltitudine». Original italiano de texto publicado em francês: Antonio Negri, «Pour une définition on‑ tologique de la multitude», em Multitudes, n.º 9, Maio-Junho de 2002. C.L.R. James, «Black Power». Conferência proferida em Londres, em 1967. Transcrição em: www.marxists.org/archive/james-clr/works/1967/black-power. htm Dipesh Chakrabarty, «Subaltern History as Political Thought», em V. R. Mehta e Thomas Pantham (coords.), Political Ideas in Modern India: Thematic Ex‑ plorations, Deli, Sage, 2006. O texto traduzido é, contudo, uma versão ligeira‑ mente diferente, cedida directamente pelo autor. Eric Hobsbawm, «Identity Politics and the Left», em New Left Review, n.º 217, Maio-Junho de 1996, pp. 38-47. Ernesto Laclau, «Populism: What’s in a name?», em Francisco Panizza (coord.), Populism and the mirror of democracy, Londres, Verso, 2005, pp. 32-49. Étienne Balibar, «Prolégomènes à la souveraineté: La frontière, l’état, le peu‑ ple», em Les Temps Modernes, n.º 610, Setembro-Novembro de 2000, pp. 47-75. Giorgio Agamben, «Che cos’e un popolo?», em Giorgio Agamben, Mezzi Senza Fine – Note sulla politica, Turim, Bolatti Boringhieri, 1996, pp. 30-34. Ian Hacking, «Making up people», em The London Review of Books, vol. 28 (16), 17 de Agosto de 2006. Também publicado em: Ian Hacking, Historical Ontology, Cambridge, Harvard University Press, pp. 99-114. Immanuel Wallerstein, «The Bourgeois(ie) as Concept and Reality», em New Left Review, I/167, Janeiro-Fevereiro de 1988, pp. 91-106. Jacques Rancière (com François Noudelman), «La communauté comme dis‑ sentiment», em Jacques Rancière, Tant pis pour les gens fatigués, Paris, Amster‑ dam, 2009, pp. 313-324. [446] a política dos muitos Jean-Luc Nancy, «De l’être-en-commun», em Jean-Luc Nancy, La communauté désoeuvrée, Paris, Christian Bourgois, 2004, pp.210-209. O capítulo traduzido corresponde a uma intervenção realizada em 1988 no colóquio «Community at Loose Ends», na Miami University, em Oxford, Ohio. Martin Breaugh, L’expérience Plébéienne — Une Histoire Discontinue de la Liberté Politique, Paris, Payot, 2007. O texto aqui publicado corresponde à introdução do livro. Michel Foucault, «La Gouvernamentalité», em Dits et Ecrits, 3: 635-57. Gallimard, Paris, 1994. Mike Davis, «Planet of Slums», em New Left Review, 26, Março-Abril de 2004, pp. 5-34. Paolo Virno, «Moltitudine et principio di individuazione». Original ita‑ liano de texto publicado em francês: Paolo Virno, «Multitude et principe d’individuation», em Multitudes, n.º 7, Dezembro de 2001. Peter Linebaugh e Marcus Rediker, «The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, and the Atlantic Working Class in the Eighteenth Century», em Journal of Historical Sociology, vol. 3 (3), Setembro de 1990, pp. 225-252. Pierre Bourdieu, «Vous avez dit populaire?», em Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 46 (1), 1983, pp. 98-105. Raymond Huard, « Existe-t-il une ‘politique populaire’?», em Jean Nicolas (coord.), Mouvements populaires et conscience sociale, XVIe-XIXe siècles. Actes du colloque de l’Université Paris VII-CNRS, 24-26 mai 1984, Paris, Maloine, 1985, pp. 57-68. Sandro Mezzadra, «The Right to Escape», em Ephemera – Theory of the Multi‑ tude, vol. 4 (3), 2004, pp. 267-275. Slavoj Žižek, «Why we all love to hate Haider», em New Left Review, n.º 2, Março-Abril 2000, pp. 37-45. A primeira edição de A Política dos Muitos foi composta em caracteres Hoefler Text e impressa na Guide, Artes Gráficas, em papel Coral Book de 90 gramas, numa tiragem de 1000 exemplares, no mês de Junho de 2010.
Baixar