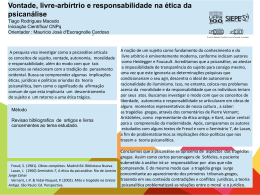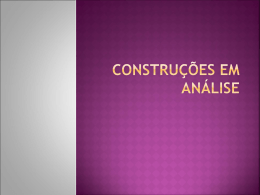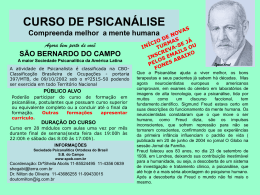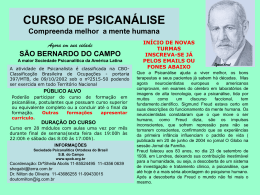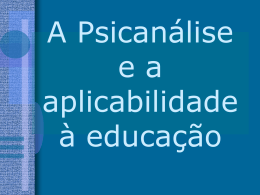Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, Porto Alegre, n. 39, p. 103-112, jul./dez. 2010 ENTREVISTA EXPERIÊNCIA E NARRATIVAS Jeanne Marie Gagnebin A Revista da APPOA tem o prazer de contar com a contribuição de Jeanne Marie Gagnebin neste espaço de entrevista. Radicada no Brasil desde 1978, é professora titular de filosofia da PUC/SP e professora livre-docente de teoria literária da Unicamp. São inúmeros os leitores que Jeanne Marie tem encontrado, ao longo de muitos anos, em nossa instituição. Sim, pois seus livros tem nos auxiliado, e muito, em diversas perspectivas. Sua tese de doutorado tratou sobre a filosofia da história, de Walter Benjamin, e suas contribuições literárias nos levam a importantes reflexões. Podemos destacar suas idéias desenvolvidas em Walter Benjamin, os cacos da História (1982), Sete aulas sobre linguagem, memória e história (1997/2005), e nos textos que temos trabalhado de forma especial, como História e narração em Walter Benjamin (1994) e o incrível Lembrar, escrever, esquecer (2006). O exame profundo das obras de Benjamin, os temas que encontram diálogos fecundos com a psicanálise, e, é preciso referir, a admirável sensibilidade e a clareza com que partilha com seu leitor os caminhos trilhados constituem pontos de abertura para o pensar sobre a “experiência”, tema tão caro à sua produção, assim como à prática analítica. Hoje, o acento enlaça as questões relativas à memória, e publicamos aqui, com satisfação, mais essa oportunidade de contar com sua palavra. 103103 Jeanne Marie Gagnebin 104 104 104 REVISTA: O filme Sem limites (Limitless, 2011, direção: Neil Burger) é um elogio à memória às avessas. Tudo se passa em torno de uma cobiçada pílula que permite a seu usuário a capacidade excepcional de armazenar e dispor de traços mnêmicos de forma a dar inveja a qualquer computador: as lembranças afluem como imagens que se sucedem umas às outras num ritmo frenético. O resultado é uma habilidade intelectual extraordinária que possibilita a excelência do desempenho do que quer que seja; como se não bastasse dormir e comer não se faz mais necessário. O problema é que, levado ao extremo, o uso excessivo do medicamento produz lapsos de memória, momentos de apagamento do eu semelhantes a estados crepusculares, ocasiões em que a pessoa mais parece um autômato. De outro lado, a abstinência desencadeia falência corporal e envelhecimento precoce, evoluindo até a morte. Até aí, nada de mais, é um filme como outro qualquer, o qual, por sinal, nem recomendo. No entanto, fiquei pasma aos constatar que a pílula da memória já é uma realidade. Vem sendo comercializada nos EUA e, em breve, estará sendo lançada no Brasil. Numa cultura orientada por um discurso que fetichiza os objetos, nem a memória escapa aos seus efeitos: agora, ela está ao alcance da mão. Estaria a memória perdendo sua potência de produzir distensão espaço-temporal a partir da qual o eu é chamado a narrar-se? O que poderia vir a substituí-la em sua função de promover a alteridade necessária para que o eu possa constituir experiência (no sentido benjaminiano do termo)a partir do vivido? GAGNEBIN: Não conheço nem o filme, ao qual você alude, nem essa pílula... Então, vamos por parte! Em relação aos conceitos de Walter Benjamin, ele distingue uma memória comum, mais ampla, ligada à transmissão de várias narrativas conhecidas pelos membros de um mesmo grupo, à construção de uma experiência (Erfahrung) comum e coletiva, portanto, de uma memória individual e solitária, própria da Modernidade e do isolamento na grande cidade (Baudelaire), do isolamento e da solidão no trabalho capitalista-industrial e no cotidiano alienado, uma memória tão fragmentada e isolada que ela tem dificuldade em se articular de maneira narrativa mais completa, ela é feita de experiências (Erlebnisse) muitas vezes até triviais, mas dificilmente comunicáveis e narráveis. Acho que a forma muito peculiar de narração e de narrativa que o nascimento da prática psicanalítica representa pode ser colocada em relação com essa nova forma de sofrimento individual, mas socialmente determinado: a saber, a dificuldade em encontrar palavras comuns (isto é, que possam ser compartilhadas com outros) para dizer de sua vida, de suas dúvidas de seus sofrimentos e alegrias. A idéia meio ingênua que, se alguém tiver alguns verdadeiros amigos, não precisaria fazer análise, evacua, claro, a especificidade da dinâmica do inconsciente, do sofrimento psíquico e, igualmente, a questão Experiência e narrativas da transferência, mas alude a essa perda de um contexto social mais acolhedor e tradicional no qual as relações inter-subjetivas se davam segundo paradigmas bem conhecidos e aceitos. Não se trata de idealizar tal contexto, com seu peso de obrigações.; mas de perceber a “desorientação”, isto é, a “falta de conselho”, como diz Benjamin (Rat-losigkeit) que acomete os sujeitos anônimos e isolados dentro da multidão no trabalho, nos transportes coletivos, nas moradias, no “lazer” (ver a esse respeito as análises de Georg Simmel, que foi professor de Benjamin). Notemos ainda que a recuperação de dimensões mais profundas de experiência – Erfahrung – nessa profusão de experiências vividas isoladas – Erlebnisse – não é uma questão de boa vontade pessoal, mas, segundo Benjamin, depende da invenção de outras formas narrativas, em particular na literatura. Por isso, as artes oferecem como um laboratório estético e político de novas formas de convivência e de comunicação. REVISTA: A teoria freudiana do trauma nos ensina que a cena traumática se forma num segundo tempo em relação à vivência infantil, isto é, no a posteriori da lembrança. Lacuna temporal que permite ao eu vislumbrar o gozo em relação ao qual o sujeito surge como tendo sido objeto do sentido sexual proposto pelo adulto. Não obstante, com o intuito de diminuir o sofrimento daqueles que sofrem de lembranças traumáticas insuportáveis, neurocientistas têm se dedicado a pesquisar um meio de apagá-las através de intervenções sobre os neurotransmissores. O que se pode pensar desse tipo de proposta, considerando o que você tem trabalhado acerca da função do testemunho de histórias traumáticas? GAGNEBIN: Essa questão é mais específica, não sei se consigo entender bem essas distinções e implicações das várias teorias do trauma. O que me faz questão é por que queremos, tantas vezes, ter uma vida “indolor”. Não defendo o sofrer pelo sofrer, em particular não me parece ter sentido não querer aliviar certos sofrimentos físicos (nos moribundos, por exemplo). Agora, o que me parece ser a maior dor psíquica é a indiferença, a falta de intensidade de vida – e, nesse sentido, apagar experiências e lembranças traumáticas não resultaria numa normalidade fictícia, num embotamento psíquico cujo verdadeiro objetivo talvez seja acalmar o sentimento de incapacidade de suportar a dor alheia sem saber como ajudar ? – uma problemática que remete a outras questões sobre a dificuldade de ouvir e de escutar, que vocês colocam mais pela frente. REVISTA: A APPOA está se preparando para um Congresso em 2012 que terá como tema/título: O ato analítico: incidências clínicas, políticas e sociais. Quanto ao ato analítico, resumidamente, este poderia ser entendido como o ato 105 Jeanne Marie Gagnebin que estabelece para o sujeito, uma marca entre um antes e um depois, ou seja, estabelece uma diferença, no mínimo, temporal. Então, parece-nos importante refletir sobre a possibilidade de que o ato analítico venha a intervir nos demais campos, já que o que se passa no privado do consultório, a priori, é esperado que se o faça sentir no âmbito social. Em muitas passagens, você se dedica à análise de questões que reverberam tanto no campo político quanto no social. Como pensa ser possível articular esses três eixos? GAGNEBIN: Aqui também, não sei se consegui entender bem o alcance de sua pergunta. Em particular porque vocês devem ter umas idéias muito mais elaboradas do que eu poderia ter a respeito do ‘ato analítico’. Acho muito interessante essa observação de vocês sobre a inscrição da diferença temporal, essa marca de uma “antes” e um “depois” produzidas pelo ato analítico, e gostaria de entender melhor como que isso se dá. Agora, como boa “gauchiste” dos anos sessenta que ainda sou (!), não consigo separar social e político, porque as questões da organização da sociedade, e também da vida dita privada, remetem a escolhas políticas muitas vezes implícitas. Tomemos o exemplo dos problemas de urbanização e de moradia nas grandes cidades brasileiras: a negligência em relação aos transportes públicos, aos espaços públicos, a prevalência do carro e do “condomínio fechado” (ao lado muitas vezes de favelas) apontam para “formas de habitar o mundo” (como dizem os fenomenôlogos) que são profundamente políticas. Uma política de privatização do espaço e da vida, de exclusão dos que não pertencem ao “clã” e de repressão da violência decorrente. Um círculo infernal de exclusão e de violência, de repressão em nome da “segurança”. 106 106 106 REVISTA: Pela leitura dos seus trabalhos, é possível fazer uma analogia entre a experiência do Holocausto aos períodos de ditaduras militares na América Latina. Claro, há particularidades em cada um desses acontecimentos, principalmente no que tange à elaboração dos lutos coletivos que esses acontecimentos produziram. A partir de suas formulações como seria possível pensar nessa elaboração coletiva? O que esses acontecimentos exigem, em termos políticos e sociais, para tornarem possível uma elaboração? GAGNEBIN: Podemos primeiramente observar que várias experiências traumáticas coletivas, guerras, guerras cíveis, genocídios, quando terminaram, como que suscitaram nos sobreviventes uma primeira reação de silenciamento – o que não é sinônimo de esquecimento – para poder continuar a viver. Silêncio bem conhecido nas pesquisas e que filhos ou netos de sobreviventes sempre criticam nos seus pais como desejo de apagamento e de recalque. Essas dimensões são certamente presentes, mas também existe a necessidade de juntar forças para continuar vivendo, isto é, não se deixar tomar e sufocar pela Experiência e narrativas avalanche de lembranças. Esse fato é comentado por exemplo por Jorge Semprun (no livro A escrita ou a vida, título que remete a essa alternativa) ou por Primo Levi, quando narra que seu livro sobre Auschwitz, É isto um homem?, publicado em 1945, foi primeiro totalmente ignorado e somente se tornou literatura obrigatória uns 15-20 anos mais tarde. Há, portanto, como um período de silêncio e de incubação que pode ser necessário para recompor suas forças. O problema é quando esse período se torna, por assim dizer, regra definitiva, quando se faz de conta que é melhor apagar, esquecer esse passado e não “elaborá-lo”. Pois o silêncio só se justifica para possibilitar, justamente, uma futura elaboração, muitas vezes empreendida pela segunda ou até terceira geração. Nesse sentido, o silêncio não deveria impedir a transmissão, mas permitir que ela se aconteça de forma respeitosa em relação à dor. No caso da Shoah/Holocausto, há sem dúvida, ao lado da enormidade monstruosa da exterminação organizada (e da decorrente culpa dos nazistas e de todos que compactuaram), um fator cultural muito forte que ajudou a não esquecer, a não perpetuar o silêncio: o fato de o povo judeu se definir a si mesmo como o povo da memória e da escrita, seja num contexto religioso, seja no contexto secular. Essa consciência de uma identidade fortemente ligada à transmissão do passado é algo que certamente foi decisivo para a importância da ‘elaboração’ da Shoah até hoje, inclusive. No caso da América latina, devemos certamente distinguir entre os diferentes países (Argentina e Brasil têm políticas de memória bem diferentes, por exemplo). No caso do Brasil, vejo dois fatores essenciais para essa dificuldade, mais, essa má vontade de lembrar. O primeiro é que o passado histórico “nacional” é um passado baseado sobre a violência da colonização e da escravatura. Como se a “identidade” brasileira nascesse dessa dupla fonte de violência, transfigurada depois nas várias teorias de miscigenação feliz. O segundo é essa versão brasileira da ideologia do capitalismo atual, de alcance universal, que faz do presente o único tempo válido, tempo de exploração e de consumo desenfreados, que não perguntam jamais sobre as conseqüências de seu crescimento, nem sobre modelos de felicidade ou de “sucesso” que poderiam diferir do paradigma da acumulação. Nesse sentido, o presente não pode se lembrar do passado (que oferecia outras modalidades de vida) nem se preocupar com o futuro. A versão brasileira desse axioma é incrementada por uma certa fé ainda no “progresso”, no fato que a imensidão e as riquezas do país oferecem possibilidades infinitas, que sempre vá se poder portanto melhorar, que o povo brasileiro é cordial e feliz por natureza (Lula até disse certa vez que também é feliz porque mora em belas praias!!), que portanto podemos e devemos esquecer 107 Jeanne Marie Gagnebin do passado, às vezes doloroso, para olhar para frente. Esse ufanismo tem uma contrapartida paradoxal, mas que reforça o imobilismo e o não lembrar: nunca vai mudar nada mesmo, o que você quer, aqui é o Brasil, etc. etc. Conclusão: aproveite agora o que puder. Aqueles que querem se lembrar do passado são “ressentidos” (parece que os militares brasileiros leram Nietzsche!) e aqueles que denunciam os perigos do desenvolvimento capitalista para o futuro são “pessimistas”. Ora, ressentimento e pessimismo vão contra essa ideologia da índole feliz nacional! REVISTA: Focalizando situações de escuta clínica que envolvem eventos traumáticos é freqüente nos depararmos com dificuldades do lado de quem escuta “ algo semelhante aos “ouvintes que dão as costas” de Primo Levi “ pela insuportabilidade da dor de escutar, Em algumas situações os profissionais inserem seus trabalhos em instituições (públicas) muitas vezes amparados por políticas de proteção à população atendida. Observa-se que as políticas públicas tem a função de amparar não somente à população mas, também, à escuta dos trabalhadores.Entretanto, freqüentemente servem como justificativa para a vitimização dos sujeitos que sofrem dos efeitos do trauma. Além disso, é comum ver-se repetir na cena dos atendimentos o ato de “virar as costas” através de encaminhamentos apressados e atuações não acolhedoras. Consideramos isso como efeito do sofrimento daqueles que escutam e não, necessariamente, de movimentos de não implicação com o trabalho realizado. Um dos recursos que tem sido utilizado para enfrentar essas situações é a arte: trabalhos com literatura, escrita, fotografia, etc. Temos pensado esse recurso como um espaço intermediário em que a dor e o sofrimento podem ser expressos e escutados a partir da intermediação da narrativa artística. Poderia tal dispositivo ser pensado a partir da função de testemunha? GAGNEBIN: Novamente, não sei se vou conseguir responder realmente... O que me toca muito nessa questão é a importância de reconhecer a dor e as dificuldades daqueles que querem escutar e amparar, e, ás vezes, não “agüentam” mais, como se diz vulgarmente. Acho importante reconhecer essa não-onipotência, esses limites, até para poder talvez dizer de certa maneira às “vítimas” que eles, que querem ajudar, não possuem esse lugar de onipotência. Talvez uma atuação artística, que pode envolver também a participação dos cuidadores, permita esse exercício de invenção de novos papeis: não ser só vítima, não ser só pai ou mãe onipotentes... 108 108 108 REVISTA: A partir do que você aponta ser uma diferença entre o horror de acontecimentos reconhecidos e aqueles ignorados ou denegados pela comunidade política internacional, perguntamos: haveria uma diferença na função Experiência e narrativas de escutar quando se está sustentado por políticas públicas que reconhecem o sofrimento e os direitos de parcelas da população que sofrem os efeitos da desigualdade social do que na sua ausência? GAGNEBIN: Sem dúvida, deve haver diferenças de peso. Agora, o risco é sempre de fazer do “estado” o provedor universal, esquecendo de que a organização política e social, que lhe deu origem, deve ser colocada em questão. Acho que aquilo que acontece hoje com as famosas “Mães da Praça de Maio” na Argentina, é um exemplo terrível de como uma certa intervenção do estado, à primeira vista bem-vinda, pode se transformar numa política de privilégio e de corrupção que solapa os princípios da luta e da solidariedade... REVISTA: No trabalho desenvolvido numa instituição pública com mulheres em situação de miserabilidade, deparamo-nos com algo que causa surpresa em quem as escuta. Essas mulheres, também mães, ao serem questionadas sobre a prática de contar histórias para seus filhos, respondem negativamente, justificando não haver nada para ser contado, pois o que tem é muito triste, e por isso não vale a pena ser narrado. Interrogamo-nos, então, sobre os efeitos desse silêncio, o qual parece construir-se na trama de várias gerações: quando crianças também não escutavam histórias. O que faz esse silêncio se perpetuar? GAGNEBIN: Parece haver um sentimento de vergonha profundo ligado à miséria e à tristeza. Quando não se cai num sistema de queixas perpétuas, luxo talvez de pessoas já mais abastecidas e que poderiam reivindicar mais (ver a analogia entre queixa, Klage, e acusação, Anklage, em Freud), miséria e infelicidade são sentidas como uma culpa pessoal vaga, uma incapacidade que gera vergonha. Somente se pode falar de sucesso e de coisas boas e alegres, parece, o resto é evitado. Existe uma ideologia da obrigação em ser feliz que é nova, historicamente falando. Ela vem talvez do declínio das religiões (que prometiam uma outra felicidade, mesmo que mais tarde) e dessa falsa afirmação que cada um é responsável por aquilo que é e se tornou, que ele “merece” ser feliz ou não, que é só uma questão de auto-estima, de olhar positivo etc., etc., todas essas babaquices. Tal ideologia da felicidade permite vender melhor os produtos que – supostamente- nos tornariam felizes, permite também não ter um olhar crítico sobre o sistema de exploração social, permite enfim esquecer que não somos animais felizes, mas sim, dilacerados, porque temos...linguagem, memória (Nietzsche!) inconsciente e cultura (Freud!). Acho que uma das tarefas mais valiosas de qualquer “acompanhamento terapêutico” (penso também na minha prática de ensino, por exemplo) consiste em ajudar a ver melhor onde nos situamos entre esse sistema de vitimização e de queixa, muito prático mesmo que (porque?) imobilizante, e essa vergonha porque não se consegue ser feliz, como se fosse somente uma questão de 109 Jeanne Marie Gagnebin capacidade pessoal. Sem precisar cair novamente na religião, em particular nessas novas “religiões da prosperidade”! O esquisito é que nem a felicidade nem a infelicidade parecem poder ser narradas: uma desperta inveja, outra vergonha. Talvez a literatura, por isso e desde Ulisses, conte as várias viagens e provações. Quando não há viagem possível, acaba... REVISTA: Você tem trabalhado a importância da função do testemunho na lida com histórias traumáticas que remontam a um sofrimento indizível. Reconhecemos na clínica psicanalítica muito do que propões sobre isso. Poderiase, também, pensar no papel do testemunho no que diz respeito a forma de lidar com o mal-estar na cultura, ou seja, com isso que temos que dar conta incessantemente? GAGNEBIN: Desculpem, mas essa pergunta não consigo entender...não está claro para mim qual é mesmo esse mal-estar na cultura de que temos que dar conta incessantemente...Proponho ou reformular a pergunta ou deixá-la de lado, porque a entrevista já é longa! REVISTA: O título de seu livro Lembrar, escrever, esquecer é, ele mesmo, uma seqüência, um encadeamento entre esses três termos. Como você relaciona essa sequência que não está claramente enunciada, mas que se faz pensar enquanto “processo de elaboração”? GAGNEBIN: sim, sem dúvida! E acho que os leitores “psi” entenderam muito bem e rapidamente essa associação, que outros leitores não percebem. Agora, o título também alude ao fato que hoje em dia a insistência nos processos de “resgate” e de “memória” pela memória, por assim dizer, que essa insistência deve ser questionada como sintoma histórico. E é uma homenagem a Nietzsche e à sua ênfase sobre a necessidade de esquecer também. Repetição (Freud) e ressentimento (Nietzsche) são certamente duas formas próximas de não poder esquecer, no sentido de não poder viver, se abrir ao novo e deixar de seguir sempre as mesmas trilhas do passado. Mas, claro, isso pressupõe que esse “passado” seja não apagado, recalcado etc., mas sim lembrado e elaborado para poder ser deixado. Se a escrita enquanto ato conseguir ajudar nessa “elaboração”, aí sim ela se torna algo vivo, não só um registro. E pode até perder seu peso de autoridade e de propriedade, se tornar, por assim dizer, uma dádiva para todos. 110 110 110 REVISTA: Na leitura das Confissões de Santo Agostinho, você considera que ele expõe de maneira belíssima a impossibilidade do espírito se apreender a si mesmo, se quiser dizer sua verdade mais íntima. Terá sido nesse espaço que a psicanálise se constituiu? Nas confissões a um outro (Outro) que Experiência e narrativas possibilitariam o acesso às verdades mais íntimas? Como pensadora da história, como concebes essa origem? GAGNEBIN: Aqui, não consigo seguir a pista que você propõem. Aquilo a que aludi na leitura de Santo Agostinho – leitura ancorada na interpretação de Paul Ricoeur, não sou nenhuma especialista em Agostinho -, é muito mais ligado à apreensão do movimento especulativo do espírito (nous, em grego, Geist, em alemão) do que a uma intimidade subjetiva psíquica, que se diz e se descobre na fala diante de um outro. Esse movimento especulativo remete à imbricação essencial entre linguagem e espírito, entre falar e pensar, que produz a impossibilidade – fértil – para o pensar de poder se apreender inteiramente a si mesmo, já que sua própria “linguicidade” (queiram desculpar a palavra!) sempre lhe escapa e lhe empurra para outros desdobramentos. REVISTA: Sobre a História, você traz Santo Agostinho para nos dizer: ¨Ainda que narrem os acontecimentos verídicos já passados, a memória relata, não os próprios acontecimentos que já decorreram, mas sim as palavras concebidas pelas imagens daqueles fatos, os quais ao passarem pelos sentidos, gravaram no espírito uma espécie de vestígio”. Como pensadora nos parece que você reconhece a história também como uma construção humana e, portanto, ficcional. Como o historiador acaba lidando com a realidade psiquica? GAGNEBIN: Novamente, remeto a Ricoeur e à leitura que ele faz de Santo Agostinho (no primeiro capítulo de Tempo e Narrativa, volume I). Ele mesmo insiste (num outro livro, A memória, a história, o esquecimento) que essa ligação entre memória, imagem e imaginação sempre despertou a desconfiança dos filósofos e dos historiadores em relação tanto à memória quanto à imagem. Como os psicanalistas bem sabem, nossas lembranças não correspondem a pretensos “fatos”, mas a várias maneiras de ter vivido e lembrado algo do qual nem se pode dizer se “realmente aconteceu”. Hoje em dia, a reflexão historiográfica, portanto a reflexão teórica sobre a escrita da história, reconhece plenamente esse caráter de construção imaginativa, por assim dizer literária da narrativa histórica. O que não implica que se confunda com ficção: esta assume e reivindica seu caráter de invenção, enquanto a história busca interpretar rastros, vestígios, documentos etc. Acho que devemos distinguir entre construção humana ligada à imaginação e à memória – e construção humana ficcional no sentido estrito da ficção literária que se sabe e se afirma ficção, senão jogamos tudo no mesmo pote em detrimento de ambas. Também me parece que devemos distinguir entre “realidade psíquica” e construção humana em geral. Os historiadores sabem do caráter interpretativo da memória, mas só me parecem poder abordar a “realidade psíquica” como um entre vários fatores da memória. 111 Jeanne Marie Gagnebin REVISTA: No texto O preço de uma reconciliação extorquida, que integra o livro O que resta da Ditadura, você diz: “Gostaria de compreender melhor as relações de ignorância e de indiferença que prevalecem em relação ao passado no Brasil, em particular em relação à ditadura, mas também à escravidão e às lutas de resistência populares em geral”. Nesta direção queríamos perguntar como diferencia o processo da anistia, no Brasil, do perdão, questão que aparece no seu texto? E, também, como relaciona o dever de memória aos diversos tipos de “esquecimento” que socialmente se promove? GAGNEBIN: Novamente, Ricoeur! Na última parte de A memória, a história, o esquecimento, ele estabelece de maneira muito clara e firme diferenciações entre esses conceitos. Anistia é uma conceito jurídico que visa o estabelecimento de um não castigo em vista do restabelecimento de uma “unidade nacional”. Como diz Ricoeur, ela significa não um esquecimento completo, mas sim uma memória imposta. Pode se justificar como trégua necessária durante um tempo para retomar a vida em comum. Não pode pretender impor uma única versão da história. O perdão, por sua vez, não é uma categoria jurídica, mas sim de âmbito subjetivo: somente uma pessoa pode oferecer seu perdão, ninguém pode ser obrigado a isso. É uma questão de foro íntimo que remete à generosidade de alguém particular, que, portanto, tem algo de transcendente e de misterioso. Pensadores tão diferentes como Derrida e Ricoeur o pensaram na sua ligação com o teológico. Agora, para poder perdoar, deve-se poder lembrar, justamente. Obrigar a esquecer, como se tenta fazer na anistia, é justamente o movimento contrário, que impede o perdão verdadeiro. Quanto ao “dever de memória”, acho como Ricoeur que devemos ter um certo cuidado com os abusos dessa expressão. Ela se presta a muitas confusões, inclusive nos seus usos oficiais quando autoridades políticas impõem “comemorações”. Prefiro pensar em termos, justamente, de “elaboração” (a Durcharbeitung de Freud que tanto Adorno como Ricoeur retomam) e, nesse sentido talvez muito mais num “dever de não esquecimento”. De muitas coisas podemos nos esquecer, até com proveito. De muitas outras, das quais às vezes gostaríamos de nos esquecer, não podemos, porque “voltam” como sintoma etc., mas também porque não temos esse direito, porque os esquecidos chamam nossa responsabilidade presente, nos interpelam. As “teses” de Walter Benjamin insistem sobre esse apelo do passado dirigido ao presente. O não esquecimento é, portanto, uma grandeza política e ética. Não implica em celebrações, mas em transformações do presente. 112 112 112 Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, Porto Alegre, n. 39, p. 113-123, jul./dez. 2010 RECORDAR, REPETIR, ELABORAR VINTE ANOS DEPOIS1 Contardo Calligaris 2 Aniversário e herança O texto a seguir é a transcrição da conferência de Contardo Calligaris, proferida nas Jornadas Clínicas da APPOA de 2009, sobre as Estruturas freudianas: psicoses e neuroses. É também a fala sobre os 20 anos da fundação da APPOA. Ele anuncia que vem para comemorar o aniversário, mas, mais do que isso, parece falar desde o lugar do aniversariante. Afinal, a história de Contardo, em Porto Alegre, e a da APPOA se entrecruzam em vários pontos, o que justifica o encontro dos lugares. Muitos elementos do discurso de um aniversariante estão presentes no que Contardo disse nessa ocasião: o relato necessário da história e o que ela acarretou; a revisão dos acertos e erros dos anos que se passaram; os arrependimentos e as congratulações; a referência à morte como fantasma insepulto e que dá as caras na festa para lembrar o implacável do tempo; e, mais que tudo, as alusões às heranças e dívidas contraídas por aquilo que o período trouxe consigo e proporcionou. Conferência apresentada nas Jornadas Clínicas da APPOA: Estruturas freudianas, realizadas em Porto Alegre, outubro de 2009. 2 Psicanalista; Membro da APPOA; Doutor em Psicologia Clínica; Colunista da Folha de São Paulo. Livros mais recentes do autor: A mulher de vermelho e branco (Companhia das Letras, 2011); Conto do amor (Companhia das letras, 2008); Cartas a um jovem terapeuta (Alegro, 2007). Email: [email protected] 1 113113 Contardo Calligaris Contardo Calligaris conta sobre as heranças recebidas ao longo de sua formação e aqui cabe a referência às marcas que ele imprimiu na APPOA. Pois Calligaris contribuiu para o reconhecimento de traços de valor na nossa filiação: a de brasileiros e a relativa à psicanálise. A admiração de Contardo pelo Brasil nos convidou a pensarmos sobre nós de outra maneira, quer dizer, como partilhantes de herança singular e valorosa por nos ser própria. Considero que isso contribuiu para produzir o esvaziamento das divergências entre os grupos psicanalíticos anteriores à APPOA, o que – há 20 anos – propiciou a reunião deles e a posterior fundação de nossa Instituição. Não se precisava mais concorrer por um traço restrito que alguns achavam que tinham, e outros não. A herança não era mais vista como ínfima e, menos ainda, nem era algo que se precisasse disputar. Ao contrário, alguns traços compartilhados de uma filiação e de um estilo ganharam lugar, de modo que as diferenças puderam se fazer presentes, sem implicar a imaginarização do mais ou menos/da reinvindicação diante da herança. O fundamental é que esse traço de valor às peculiaridades das produções psicanalíticas brasileiras fundou e aguçou na APPOA um estilo criativo de relação com a psicanálise. Pois essa é a melhor herança: a que permite reconhecê-la e também ultrapassá-la. Lúcia A. Mees *** E 114 114 114 u vim, sobre tudo, para cantar os parabéns. Estou um pouco atordoado porque, curiosamente, embora eu tenha voltado a Porto Alegre mais de uma vez desde a época em que saí para Nova Iorque, em 94, eu nunca senti o efeito que estou sentindo neste momento. Talvez porque a reunião seja grande, ou porque seja uma ocasião muito especial, o aniversário da nossa associação. Há um lema que diz que, em geral, um paciente só tem um analista, ou dois, se faz uma segunda análise, ou três, se faz uma terceira, mas, a cada vez tem um analista, enquanto cada analista tem muitos pacientes, o que garante certa desproporção. E, às vezes, isso é objeto de reivindicação e queixa: “Eu só tenho você como analista. E você vai, ainda, ver 12 pessoas até hoje à noite, na hora que eu sair do seu consultório você já estará com o seu seguinte, ou a seguinte, que seja”. É verdade, só que em uma situação como essa, eu, em poucas horas, vi tantas pessoas que me deram a honra de eu ser o analista delas durante períodos longos ou mais curtos, e isso me tocou profundamente, porque me agitou, no sentido de eu lembrar-me de cada história, mas, sobretudo, Vinte anos depois de me perguntar: como é que seria essa mesma análise se, por hipótese, ela começasse hoje, porque eu mudei e eles também mudaram. E fiquei totalmente monopolizado pela pluralidade de tantos encontros em tão pouco tempo. Isso dito, Vinte anos depois é o título de um romance de Alexandre Dumas, que é a continuação dos Três mosqueteiros, que, na verdade, eram quatro. Ele escreveu Vinte anos depois no ano seguinte, não esperou vinte anos. Eu não reli nessa ocasião, confiei na minha lembrança de infância, mas me lembro de um romance chato, justamente porque é um romance muito mais histórico, acontece uma confusão, mas o fundo da questão é que os quatro amigos estão mesmo divididos aos quatro ventos, em campos políticos opostos, Athos e Aramis estão com La Fronde, Dartagnan está a serviço do Cardeal, isso é inadmissível, vai à procura de Porthos, finalmente eles se engajam numa aventura totalmente estapafúrdia, por ser a aventura de salvar o Rei da Inglaterra da decapitação que lhe é prometida pela revolução de Cromwell. Claro, eles fracassam miseravelmente. Então é uma história péssima, eles estão divididos, tentam uma aventura, dá tudo errado, se dividem novamente. Mas, enfim, não podia deixar de pensar em Alexandre Dumas, uma vez dado esse título. Há outro aniversário, anteontem, uma repórter da Zero Hora, me telefonou, em São Paulo, e quis saber do “aniversário”; eu pensei que ela falasse do aniversário da APPOA, mas ela sabia que era, também, o aniversário de 20 anos do meu livro sobre psicose, coisa que eu não lembrava. Na verdade, só agora sei, foi publicado em 89. Mas esse livro está esgotado em espanhol, em português e em francês, então vocês podem fotocopiá-lo livremente. Existe, na sua edição mais recente, em japonês, para quem quiser lê-lo, os grafos são iguais. Aliás, esses grafos super malfeitos, que copiam exatamente os desenhos feitos por mim, a mão, aparecendo no meio dessa coisa sublime, que é a escrita japonesa, parecem de uma grosseria revoltante, mas o livro é muito bonito; se vocês tentarem lê-lo em japonês, não esqueçam que é da direita para a esquerda. Então, Patrícia, a repórter, me perguntou se vinte anos depois eu tinha algo para acrescentar ao que eu tinha dito 20 anos atrás sobre a psicose, aliás, num seminário que aconteceu aqui em Porto Alegre, e que contou com a participação de várias pessoas aqui presentes. As perguntas, o diálogo, aparecem no próprio livro. Eu lhe disse que não, que não tinha nada a acrescentar. Primeiro, porque eu não me releio, digo não me releio uma vez impresso, então, não reli recentemente esse livro; e, segundo, porque, na verdade, nesses últimos vinte anos, eu tive pouquíssimas relações com a psicose, por várias razões. Talvez porque de fato houve avanços grandes da medicação, talvez porque a reforma psiquiátrica seja eficiente. Mas a gente poderia pensar o contrário: com a reforma psiquiátrica, haveria mais psicóticos fora do asilo, atendidos pelos Caps; isso, ao contrário, deveria levar mais psicóticos ao consultório, a um consultório 115 Contardo Calligaris 116 116 116 particular. E cheguei, finalmente, a uma hipótese na qual não sei se eu acredito verdadeiramente, mas que é a seguinte: talvez o que a gente chama pósmodernidade (eu não acredito muito nesse termo, mas igual, vamos usá-lo) alivie a psicose. Aliás, a própria reforma psiquiátrica que foi batalhada, talvez ela tenha sido, também, só possível num mundo que se tornou profundamente pluralista. Na variedade das metáforas que hoje podem dar sentido a uma vida, se tornou muito difícil encontrar ou inventar uma metáfora que todo mundo, ou quase todo mundo, conteste e estigmatize por ser fraca, barroca, inverossímil. Hoje, em geral, é quase sempre possível, mesmo com as metáforas mais estapafúrdias, dar um sentido à vida da gente de uma maneira aceitável, aceitável ao menos por alguns. E vocês sabem que o que torna viável o que a gente chama uma metáfora, ou seja, uma maneira de dar sentido à vida, o que a torna viável é a sua aceitação, seu reconhecimento social, um pouco, pelo menos, coletivo. Se vocês são cristãos, por exemplo, vocês não são delirantes porque, por uma série de circunstâncias históricas, vocês são muito numerosos a suspender o sentido da vida na ideia da encarnação do filho de Deus, e de sua subsequente ressurreição. Mas, em si, essa ideia é uma ideia, como teria dito Adão antes, é uma ideia linha dura, não é mais verossímil do que a ideia do Presidente Schreber, que ele estaria se tornando mulher, enquanto, aos poucos, Deus tem o projeto de sodomizá-lo com seus raios divinos. O que acontece é que Schreber era sozinho, enquanto uma religião pode se permitir qualquer metáfora sem que seja delirante, porque a religião socializa. Eu costumo dizer que o problema da psicose, em outras palavras, é a falta de amigos. É um critério. Talvez, hoje, seja mais fácil encontrar “amigos”. Se você frequentasse um asilo, um antigo asilo, você podia encontrar alguns casos de delírio a dois, mas era excessivamente raro que o delírio se tornasse um delírio comum; provavelmente, se isso acontecesse, tornando-se um delírio comum, resolveria o problema. Essa ideia de que o problema da psicose é a falta de amigos desenha, aliás, uma espécie de leque cujo outro extremo, sem dúvida, é a perversão, porque, pelo menos a meu ver, o problema do perverso é o excesso de amigos, mas vou deixar essa questão para lá. Só quero dizer que o neurótico não está no meio do caminho, entre um e outro, embora, naturalmente, ele aspire a ser ambos; ele, o neurótico, está simplesmente fora, ele trivializa o seu entendimento do mundo, na ilusão de alcançar uma espécie de universalidade, e claro, logo ele passa a lastimar sua singularidade perdida na massa, ou, então, a reivindicá-la, o que dá, absolutamente, na mesma. Mas, voltando à psicose e à falta de amigos. Não é uma visão muito estruturalista, mas o valor de uma metáfora que dê sentido à vida, por exemplo, Vinte anos depois Deus encarnado e a ressurreição do mesmo, depende, claro, de sua história, depende do reconhecimento que essa metáfora encontra, depende de seu sucesso. Desse ponto de vista, aliás, vou lhes dizer, Lacan só não é delirante porque nós estamos aqui, se não estivéssemos aqui, se não houvesse milhares de pessoas dispostas a se debruçar sobre o que ele disse, escute, é sério, “A topologia é o real”, “A mulher não existe”, “Não há relações sexuais” Hospício! Só não vai para o hospício por causa da gente. Claro, ele fez o necessário para que isso acontecesse, assim como Joyce fez o necessário. Joyce dizia que ele escreveria de tal forma que a universidade se debruçaria em cima dos seus textos durante mais não sei quantos séculos. Lacan também. É um bom projeto, porque é um projeto que preserva da psicose. Digo isso porque não é que a pósmodernidade seja mais tolerante com os loucos, é que ela está constantemente disposta, por sua variedade, a socializar metáforas que, sem isso, não seriam compartilhadas e, portanto, seriam consideradas delirantes. Então, talvez, seja por isso que vejo poucos psicóticos, porque as metáforas delirantes se socializam com muita facilidade – minimamente, não é preciso fundar a Igreja Universal, pode ser uma coisa pequena, um grupo de amigos. Agora, em compensação, eu vejo muitos pacientes borderline. Vou ter que explicar o que é, para mim, um paciente borderline, porque a descrição é variável, mas o que eu vou dizer faz parte do fundo comum. O que caracteriza, pelo menos, os pacientes que eu chamo borderline são cinco pontos. 1) Uma demanda de amor devorante, mas que é sempre negada pelo próprio sujeito por uma defesa fóbica contra o eventual carinho que pudesse, quem sabe, responder a essa demanda – ou, então, uma defesa fóbica contra a própria demanda do sujeito, porque, se o outro respondesse a minha demanda de amor, isso acabaria com a minha autonomia; ou seja, de qualquer forma, “por favor, me ame, mas vai se foder”; 2) Uma impulsividade de animal acuado exatamente no canto ao lado da porta da gaiola – o que corresponde bem ao lado fóbico do primeiro ponto; 3) Um desinteresse pela vida, como se esse interesse, ao surgir, fosse, necessariamente, uma armadilha na qual o outro quer me pegar; 4) Uma grande paixão pelo risco, pelo perigo de vida, como se fosse a demonstração radical do desapego pelo que o outro pode, eventualmente, me propor para me seduzir. 5) Enfim, uma extraordinária arte da manipulação, mas sempre a serviço do medo de ser minimamente manipulado. Eu gosto de borderline. É difícil gostar de borderline, eu digo é difícil porque eles são exigentes. Mas é o paciente, por excelência, que lembra ao terapeuta, se é que é preciso lembrar isso, o tempo inteiro, que o campo de batalha da terapia é o que acontece de fato na transferência. É o paciente que 117 Contardo Calligaris sabe que naquela distinção entre conteúdo da sessão e processo, só o processo importa. Pode-se falar de qualquer coisa, é só a relação entre paciente e terapeuta que importa, é nela que tudo se joga. Gosto por isso. Gosto, também, porque acho que o borderline é um herói da singularidade. Alguém que está disposto, aparentemente, a tudo para defender a sua unicidade, a sua singularidade, a sua autonomia. Mas com um problema, com um agregado, dito em termos muito resumidos: o borderline é o super-homem nietzschiano, mas carregando consigo a mãe de Woody Allen. Digo “carregando consigo a mãe de Woody Allen”, porque ele está nessa posição do único e singular contra o mundo, mas em nada disposto a renunciar, e não podendo renunciar à sua enorme demanda de amor e de cuidado contra a qual ele mesmo se defende. Eduardo Mendes Ribeiro perguntava no próprio título da sua fala, em que borda está o borderline?3 Eu acho que ele está, sobretudo, na borda da paciência de seus próximos e de seus terapeutas. Uma outra questão que queria retomar. Os vinte anos da psicose e os vinte anos da APPOA têm a ver com algo que Alfredo4 lembrava. Eu achei muito bonita a maneira de ele apresentar a própria posição de Lacan, como uma espécie de vacilação entre o modo histórico e o modo anistórico, como se a realidade psíquica fosse, ao mesmo tempo, às vezes, histórica, decidida pela história do paciente e, às vezes, estrutural. Eu, na verdade, nunca tive problemas com essa questão, provavelmente porque eu sempre entendi Lacan de maneira errada, até porque eu comecei a me formar com Piaget. A minha primeira formação é construtivista e piagetiana, com ele mesmo, aliás, o cara. Então, para mim, Piaget é o protótipo: a estrutura é produzida pela história. A estrutura é um negócio que se constrói; então eu nunca achei que existisse uma espécie de alternativa excludente entre estrutura e história, porque nunca entendi a estrutura como outra coisa do que um certo momento da história. Mas quero chegar aos vinte anos da APPOA. Eu não sou a melhor pessoa para falar dos vinte anos, até porque eu não vi os últimos quinze, mas talvez eu seja uma boa pessoa para falar do que foi o processo que permitiu à APPOA se Ver RIBEIRO, Eduardo Mendes. Borderline: nas bordas de quê?. Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre – Estruturas clínicas, n.38, p.115-125, jan/jul 2010. (N. do E.) 4 Ver JERUSALINSKY, Alfredo. As quatro estruturas fundamentais do sujeito: autismos, psicoses, neuroses e perversões. Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre – Estruturas clínicas, n.38, p. 9-19, jan/jul. 2010. (N. do E.) 3 118 118 118 Vinte anos depois constituir e do que foi a sua fundação, em dezembro de 89, depois de um processo que durou dois anos de aproximações e companhia. Vou lembrar um pouco essa história, sobretudo, porque em vinte anos muitas pessoas entraram na APPOA, fazem parte da APPOA, se formaram na APPOA, passaram pelo Percurso, gerações inteiras, aliás, é difícil dizer quantas. Imagino que, para essas pessoas, uma boa parte delas, a história que eu vou lembrar seja esquecida, esquecida não é palavra certa, mas seja irrelevante, de alguma forma, ou considerada como uma coisa não sabida. Então, quando eu cheguei ao Brasil, em 85, 86, não sei mais, acho que em 85 foi a primeira vez. Comecei a viajar ao Brasil, de Paris, em 86, viajar com certa regularidade, pequena, e, depois, muito grande. E, finalmente, eu vinha a Porto Alegre a cada dois meses, mais ou menos, acho, sobretudo em 87, 88 e 89, que foi quando fechei Paris, mudei para o Brasil; Porto Alegre, sendo o meu lugar de residência. Naquela época, qual era o estado de espírito ou o pano de fundo? É importante lembrar essa história, porque ter feito parte durante todos esses anos, e fazer parte da APPOA pelo que ela foi no meio desse pano de fundo que vou evocar, é um privilégio, foi um privilégio, e acho que continua sendo. Eu sei, primeiro, de onde eu vinha. Vinha da França. Vinha de um lugar onde a luta pelo espólio, espólio que eu nunca pensei que fosse meu, aliás, mas pelo espólio de Lacan, luta fratricida, era tudo que interessava no mundo psicanalítico. A luta fratricida não é tão má assim. Vocês se lembram do que Freud imagina em Totem e tabu, ele imagina que a um dado momento o machoalfa, o chefão, poderoso, morre, é assassinado pelos irmãos, eventual e coletivamente, e Freud diz aquela coisa interessantíssima, que, a partir disso, eles interiorizam a lei, então as coisas se arrumam porque eles, os irmãos, interiorizam a lei. É um mistério quando você lê aquele texto, porque, em princípio, por que eles não tentariam se matar um ao outro até decidir quem é o novo poderoso chefão? O que faz com que eles interiorizem uma lei? Qual é o elemento aí, Freud não menciona, que introduziria uma novidade à simples procura de um novo chefe? Eu sempre pensei que, na história contada por Freud, o elemento fosse a posição das mulheres e, particularmente, da mãe, da favorita do machoalfa, porque a regra era a seguinte: nós somos machos-betas, tem um machoalfa, vamos pegá-lo, todos juntos, cacetadas no meio da noite e, de manhã, vamos ter que decidir quem de nós fica com a mulher dele. Essa é a ideia. Só que um belo dia a mulher do macho-alfa, que foi morto, poderia dizer que não, que ela segue fiel à memória do morto; seria suficiente ela dizer isso para que nós fossemos forçados a interiorizar esse macho-alfa que assassinamos, como sendo uma lei interior. Ou seja, é preciso que a gente não tenha acesso ao corpo materno para que funcione a virada de Totem e tabu. Não foi o caso da França naqueles anos, porque tinha tudo. Tinha a luta pelo espólio do pai, quem 119 Contardo Calligaris 120 120 120 é o legítimo herdeiro, bom, e a luta pelo corpo da mãe, o que era o corpo da mãe? O corpo era a grande massa de analisandos que se tratava de conquistar, aquele era o corpo materno que se tratava de conquistar. Quanto à situação aqui, a sensação que a gente tinha, chegando aqui, ou pelo menos que eu tinha, é de que a luta não era uma luta de discípulos pelo espólio do mestre, era uma luta de apadrinhados lutando pelo espólio dos discípulos, os quais lutavam pelo espólio do mestre. Nesse contexto, então, me estabeleci, comecei a vir regularmente a Porto Alegre, São Paulo também, naquela época. Eu acho mesmo que servi para alguma coisa, e digo isso sem modéstia, por várias razões. Primeiro, porque eu mesmo era um francês em termos – os topólogos sabem, inclusão externa, por ser italiano, então era um francês em termos. Segundo, porque a minha filiação psicanalítica era completamente ectópica, o meu analista tinha sido Serge Leclaire, o qual tinha uma posição de total exterioridade àquela bagunça que estava acontecendo, aliás, considerava tudo aquilo como um horror e não se metia, senão para dizer que era um horror. No que ele tinha totalmente razão. Então, graças a essas duas posições, mas me servindo de fato do que poderíamos chamar a transferência colonial, eu consegui, em grande parte, aboli-la, fazer com que ela não fosse operante na constituição do que se constituiu. Eu consegui o que eu considero mesmo um ato analítico, porque, afinal, acabar com uma neurose de transferência, positiva ou negativa que seja, é, para mim, a melhor definição do que seja um ato analítico. A ponto de permitir que os grupos que existiam em Porto Alegre pudessem, sem se preocupar com apadrinhamentos a diferentes herdeiros, se encontrar, dialogar, se reconhecer mutuamente e, no fim de 89, se dissolver. Alguns eram grupos constituídos, como a Maiêutica, como o Centro de Trabalho em Psicanálise, outros eram grupos informais. É bom saber a história da psicanálise do lugar onde a gente está, e de outros lugares também. Eu não pretendo contá-la, mas seria útil contá-la, em detalhes. Essas pessoas puderam se reunir e criar uma associação, onde o meu grande prazer, quando fui embora, em 94, foi descobrir que eu não era necessário, porque eu tinha sido, provavelmente, instrumental para que aquilo acontecesse, mas, francamente, não era necessário. Isso, vocês não sabem, que alívio é, porque eu estou sempre com esse problema. Se em relação aos meus analisandos, eu tenho ou não o direito de morrer, estou sempre preocupado com isso. Em 94, quando deixei Porto Alegre e fui para Nova Iorque, eu pensei que era uma possibilidade, mas foi uma possibilidade que nem existiu. No ato de 89 tem um ponto muito importante, foi a escolha do nome, Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Muitos de vocês, imagino, acham isso muito óbvio, porque é uma associação psicanalítica e está em Porto Alegre, não é assim? Vinte anos depois A gente escolheu associação porque, claro, sociedade teria sido o nome de uma sociedade da IPA, também a gente achava que sociedade tivesse a ver com o caráter institucionalizado do poder dentro da internacionalização da psicanálise, então “associação”. Porto Alegre, tudo bem, também, é em Porto Alegre, mas o problema é que naquela época, no campo lacaniano, em particular, a ideia de se chamar associação “psicanalítica” era uma ideia bizarra, completamente bizarra. Existia, em Paris, uma Associação Freudiana, da qual também fui um fundador, e que, aliás, mais tarde, passou a se chamar Associação Lacaniana, se distanciando ainda mais do projeto inicial. Fui um dos fundadores da Associação Freudiana, da Lacaniana não teria aceito. A própria escola fundada por Lacan, e da qual fui membro, onde me formei, chamava-se Escola Freudiana de Paris. Nisso, ela se definia em relação a um corpo teórico, o do inventor da psicanálise. Aliás, engraçado, não é? Só Freud e Lacan produziram isso, não existe associação balintiana, não existe associação kleiniana, não existe, é só Freud e Lacan que produziram esse tipo de efeito. Foi uma ousadia chamar essa nossa associação de psicanalítica, não de freudiana, por exemplo. É muito mais difícil entender e fazer uma associação psicanalítica do que fazer uma associação freudiana, lacaniana, kleiniana ou balintiana que seja, ou, sei lá, winnicottiana; por que muito mais difícil? Porque é relativamente simples estabelecer um corpo de doutrina, a doutrina do pensador com o qual todo mundo concorda, é o cara que vamos estudar, vamos compartilhar essa linguagem. Sabemos do que se trata. É muito mais fácil ser lacaniano, freudiano e companhia, do que ser psicanalista, muito mais fácil. O que define o psicanalítico em Associação Psicanalítica de Porto Alegre? Eu me coloquei a pergunta enquanto estava tomando estas notas para falar com vocês, hoje. Como me coloquei a pergunta na época, como a gente se colocou, certamente, na época, fiquei pensando o que é absolutamente imprescindível para mim, hoje, para que eu me considere psicanalista? Aí vem uma série de coisas que são elementos da teoria ou, pelo menos, elementos da descrição que a psicanálise faz da realidade psíquica, Édipo, castração, significante fálico, inconsciente, pulsões. Pulsão, decididamente, não é comigo. Como é que se diz? A casa não trabalha com pulsões, eu nunca tive simpatia com a teoria energética freudiana, desse ponto de vista eu venho bem próximo dos ingleses, da Escola da relação de objeto mais recente. É uma metáfora que não me ajuda, mas o resto, sim, castração, inconsciente, como é que seria? E finalmente cheguei à conclusão seguinte, que considero que minha prática é psicanalítica, o que faz com que eu me reconheça numa associação psicanalítica é o conflito. É a ideia de que a subjetividade é conflito, o resto eu posso negociar, o resto pode depender de conjunturas, vai ver que exista uma tribo sem Édipo em algum lugar perdido. Estou disposto a negociar qualquer 121 Contardo Calligaris 122 122 122 coisa, salvo a ideia de que a subjetividade é conflito. Esse conflito se projeta nas relações interpessoais, se projeta nas reflexões que nós temos e nos afligem sobre fatores existenciais, a brevidade da vida, a perda e a companhia, mas a base de tudo isso é que, absolutamente, qualquer descrição subjetiva é descrição de um conflito. Não necessariamente toda a psicologia do eu, porque, por exemplo, Anna Freud diria exatamente a mesma coisa, mas Hartmann tinha a ideia de que existe uma esfera do ego livre de conflitos, e aliás, é lá que preciso chegar. A posição de Freud é de que o ego é um campo de batalha entre o Id e o mundo externo, é lá que eventualmente se fazem compromissos. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o meu acesso ao conflito interno do paciente se dá pelo processo prático, e não pelos conteúdos que ele me apresenta, ou seja, se dá porque aquele conflito aparece na relação dele comigo. Aquele conflito, o conflito interno do paciente, é o conflito do qual se trata na transferência. Chamar a nossa associação de Associação Psicanalítica de Porto Alegre foi definir a psicanálise como uma prática, muito antes de ser uma doutrina. Aliás, acrescento o seguinte, que para mim todas as teorias, lacaniana, freudiana, relação de objeto, não só são metáforas, mas são metáforas pragmáticas. Eu aprendi isso numa época, fazendo uma coisa muito diferente, fazendo escola de sindicalismo, eu também fiz, não só o Lula. Fazendo escola de sindicalismo numa ilha da antiga Iugoslávia, aprendi uma coisa muito interessante, que era o seguinte, uma das primeiras coisas que a gente aprendia era por que um sindicato é diferente de uma corporação? Corporação poderia ser a corporação dos trabalhadores do livro, isso inclui desde o dono da editora, ou o dono da gráfica, até o cara que limpa, à noite, o escritório ou a gráfica. É muito interessante, mas não tem nenhum valor operacional, pois quando é que o dono da editora vai fazer greve junto com o cara que limpa? Então, sindicato é outra coisa do que corporação, ele se define justamente pelos termos de conflito. Nós devemos definir uma classe de maneira que tenha uma potencialidade de conflito. Sem isso, nossa definição é inoperante. Eu tenho a mesma relação com a teoria psicanalítica, uma relação pragmática, me interessa na medida em que é operacional na minha prática. O outro ponto pelo qual eu definiria uma prática como psicanalítica é uma antiortopedia radical. No entanto, eu recupero a palavra “terapia”, acredito na palavra “terapia”, acredito na palavra “terapêutico”, até porque a palavra “terapia” ou “terapêutica” foi fortemente atacada nos meios lacanianos, e com sarcasmo, mas ao benefício de algo muito pior, que foi uma idealização dos efeitos da psicanálise como exercício de alguma forma, intelectual ou mesmo como experiência, ou seja, o seguinte, você está muito mal, não tem importância, você vai ter uma experiência analítica. Você vai continuar mal ou pior, mas vai ter Vinte anos depois tido uma experiência analítica. Isso se transformou no seguinte: você vai ter uma experiência analítica e, se você tiver mesmo uma experiência analítica, vai ganhar uma bala, você vai se tornar psicanalista. Ou seja, a psicanálise se tornou uma máquina de reprodução à exclusão do trabalho terapêutico, do fato de que afinal ela foi concebida para atender pacientes neuróticos, psicóticos ou simplesmente infelizes. Claro que ninguém pensa que nós somos capazes de retirar a infelicidade do humano, porque seria mais fácil retirar o humano da infelicidade, mas não se trata disso, se trata de não retirar o terapêutico da psicanálise, sobretudo para substituí-lo com uma idealização da experiência psicanalítica e eventualmente pela ideia de que essa experiência psicanalítica idealizada daria uma compensação. Você será muito infeliz com esta neurose, mas vai ser membro da associação. Existem psicanálises infinitas, intermináveis, isso não me estranha, é uma coisa que me preocupa, um pouco, quando me pergunto se tenho direito de morrer, mas tudo bem, me preocupa em termos. Eu entendo que haja psicanálises intermináveis por uma razão simples: no fundo, o que a gente pode fazer de melhor em termos terapêuticos, é o meu ponto de vista, é ajudar alguém a renegociar os seus sintomas de uma maneira, se for possível, um pouco menos custosa. Nós, em geral, tendemos a criar compromissos para nossos conflitos que são sempre muito mais caros do que é preciso, tipo assim: eu não tenho direito a ver pernas, então na minha casa não há mesas. Não, era só as de mulher; mesa pode ter, é renegociar, diminuir os custos. A terapia, ou uma psicanálise interminável, pode fazer parte dessa renegociação, ser incluída nessa renegociação. Alguém dirá que é muito custosa uma terapia que dura uma vida inteira. Não estou falando nem do custo no sentido material, mas do custo de continuar uma terapia vinte, trinta anos. Pois é, às vezes é muito menos custoso do que o paciente pagaria na vida se tivesse que voltar ao antigo compromisso no qual ele vivia. Agora, então, uma terapia infinita, uma psicanálise infinita ou até o interesse pela psicanálise, até o se tornar psicanalista pode fazer, e certamente deve fazer, parte de uma renegociação do sintoma de todos nós. O que significa que psicanalistas somos todos doentes, até aí nenhuma novidade, mas que tornar-se psicanalista não é uma cura, vocês vão achar que é uma trivialidade, até porque vocês já se tornaram psicanalistas e já descobriram que não é, mas acontece que, na França, do fim dos anos 80, tornar-se psicanalista era uma cura. 123 Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, Porto Alegre, n. 39, p. 124-131, jul./dez. 2010 VARIAÇÕES CADA UM TEM O ANALISTA QUE MERECE1 Ricardo Goldenberg2 Q uero falar sobre nossos pacientes, os nossos e os dos outros. O tema destas jornadas é o ato analítico, e por tal todo mundo entende o que o psicanalista faz com seus pacientes. O sujeito do agir está na poltrona; o objeto sobre o qual a ação recai, no divã. Tenho certeza de que ninguém aqui o diria dessa maneira, mas é assim que resulta de fato concebido, se não de direito, ao menos de fato. Meu desejo é refletir sobre o que se passa ou não se passa do lado-divã do ato analítico. “Cada um tem o analista que merece” é o mote que me ocorreu para conversarmos sobre isso. Poderia ter chamado esta comunicação de “Jacques com Nelson”, aproveitando aquele impagável “perdoa-me por me traíres”, que, sem o voluntarismo da boa ou da má consciência, e sem condescendência para com a vitimização generalizada, me parece uma fórmula excelente para introduzir a pergunta pela ética do analisante, se houver. Trabalho apresentado nas Jornadas Clínicas da APPOA: Dizer e fazer em análise, realizadas em Porto Alegre, novembro de 2010. 2 Psicanalista; Membro da APPOA; Mestre em Filosofia/USP; Doutor em Comunicação e Semiótica, PUC/SP. Publicou, entre outros: Ensaio sobre a moral de Freud (Salvador: Ágalma, 1994); No círculo cínico ou caro Lacan, por que negar a psicanálise aos canalhas? (Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002) e Política e psicanálise (Rio de Janeiro: Zahar, 2006). Organizou a coletânea Goza! Capitalismo, globalização, psicanálise (Salvador: Ágalma, 1996). E-mail: [email protected] 1 124 Cada um tem o analista que merece Essa ideia de pensar a ética do lado analisante não é nada nova para mim. Há muitos anos argumentei sobre a inadequação da palavra “paciente” para designar os atarefados em analisarem-se. Lacan sugeriu precisamente “analisante”, em vez de analisando, para denotar que ali não havia a menor passividade. Eu teria preferido “analisador” em nossa língua, mas, enfim, é a tradução que vingou para analysant. Naquela ocasião, sugeri que cabia ao analista ser paciente, contanto que tivesse a manha de induzir certa impaciência nos seus analisantes. Paciência para esperar o bom momento de incomodá-los, a ponto de sacudir a sua inércia sintomática. No fim das contas, saber esperar a boa ocasião faz o bom político, e o bom analista também. Antes, ainda, e a propósito do que se tinha convencionado denominar de “clínica do ato” – inspirada no último Lacan, le tout dernier, que seria o único que presta, claro, estando todo o anterior ultrapassado e sem efeito: acaso o simbólico não ganha do imaginário, que perde do real? –, fiz uma intervenção, sugerindo que não bastava maltratar os pacientes para ser um bom lacaniano. Era uma época em que os psicanalistas agiam. Praticavam o “ato analítico”, que podia consistir em enfiar a mão no bolso do cliente, para tomarlhe o dinheiro; servir-se dele para pegar as crianças na escola ou reformar a casa da praia (no caso de o paciente ser arquiteto). Era o corte no real, fazê-lo vender o carro e as joias para continuar pagando a análise, por exemplo, ou intimar sua esposa, seu filho ou sua amante (ou os três juntos) a virem deitar no mesmo divã que ele. Era a retificação subjetiva, controlar a análise do próprio filho, a ponto de telefonar ao analista do rebento para corrigir-lhe uma interpretação dada. Acaso Freud não analisou a sua caçula, Anna? Acaso o pai do Pequeno Hans não analisava o filho, sob instruções do próprio mestre? E vejam que nem menciono o detalhe de o analista fiscalizado ter sido um ex-paciente de quem assim o fiscaliza. Era a ruptura do semblant, convocar analisantes de colegas para trocarem de analista – preciso dizer quem era o novo analista sugerido no lugar? Um desses mestres de cerimônia se superou a si mesmo, telefonando para o analisante de uma colega doente para sugerir que, considerando que sua analista morreria logo, o melhor que o moço poderia fazer era vir deitar no divã... adivinhem de quem? O psicanalista como “homem de ação”... É para rir, se lembrarmos que Jacques Lacan, sim, Jacques Lacan ([1958] 1998), define o psicanalista precisamente como aquele que retira seu poder da inação. Seu lugar na dupla seria o de quem não age, e o desejo do psicanalista consistiria exatamente na enérgica recusa do exercício do poder que a transferência lhe confere. O contrário da sugestão, que se caracteriza pelo uso do poder sobre o sugestionado. Freud ironizava sobre a reclamação de um mestre hipnotizador, que gritava para uma senhora relutante a entrar em transe: “Mais, Madame, vous, vous contre- 125 Ricardo Goldenberg 126 126126 suggestionez!” E Freud: “Mas, ela tem todo o direito de contra-sugestionar-se!” ([1921] 1989, p. 85). E então propõe para o futuro analista a “neutralidade”, ou seja, a reserva quanto ao uso do poder no quadro do tratamento. Como a carta roubada, de Poe (apud Lacan, [1954-55] 1985), que investe de poder a quem a detém, desde que não faça uso dela. Em todo caso, tais “agitadores” se opunham à observância da neutralidade passiva do psicanalista freudiano a la Strachey, e, assim fazendo, acreditavam seguir Lacan. E, sobretudo, toda essa agitação acontecia em nome do final da análise. Ah! o final da análise! Il gran finale era a Meca; era Eldorado; era o momento em que nos convertíamos em O analista – porque A mulher pode muito bem não existir, mas O analista, esse, sim, existe. Ô se existe! Conheço uma que declarou terminada a sua análise, ao atravessar a avenida Angélica: estava aí, segundo disse, a travessia da fantasia. Outra, ou talvez a mesma, verificou o bem fundado do fim da sua análise quando seu corpo perdeu qualquer forma humana, pois assim constatava-se o necessário desprendimento do imaginário e a derradeira consagração ao simbólico, ou, quem sabe, ao real. Analisar-se “para terminar” é um dos efeitos deletérios que poderíamos pôr na conta da clínica inspirada na teoria do passe, acredito. Antes disso, as pessoas se analisavam porque precisavam, e às vezes aquilo se passava de tal modo que acabava por seu próprio movimento, e segundo uma lógica que podia pensar-se depois. Mas analisar-se visando ao fimdanálise... era uma novidade trazida junto com o desejo de ser analista. Tratava-se de uma nova idealização, a de chegar a poder apresentar-se como um caso particular da classe universal O analista, que, por outro lado, nada mais seria do que a realização do Homem Novo sonhado por São Paulo e projetado politicamente por El Che. Não vejo bem como chacoalhar as identificações cristalizadas de uma pessoa que usa o procedimento para criar uma nova e final identidade para si. Mas hoje desejo me debruçar sobre outra questão. Qual seja, as consequências clínicas de certa leitura do deslocamento conceitual da resistência à análise do paciente para o analista – a ponto de Lacan ([1967-68]) soltar aquela fórmula bastante enigmática, e sobre a qual caberia refletir um pouco: o analista tem horror de seu ato. Tal deslocamento teve o valor de uma interpretação jogada bem na cara da comunidade analítica, e foi um inegável progresso ao introduzir a questão da responsabilidade ética do psicanalista pelo seu lugar e sua função. É bem conhecida a crítica de Lacan ([1962-63] 2005) ao modo de Kris dirigir o tratamento, a ponto de transformar uma interpretação relatada por este em exemplo paradigmático de acting-out. Ou seja, onde Kris lia uma confirmação do bem fundado de sua interpretação, Lacan lia a resistência à análise, e a atribuía à concepção de realidade que Kris teria. Já desde a releitura do caso Cada um tem o analista que merece Dora, Lacan ([1951] 1998) nos ensinara que o motivo da desistência da moça tinha sido a interpretação errada que Freud tentara lhe impingir, e não a dificuldade dela em reconhecer o recalcado. Entretanto, o que disso foi deduzido – e por mais de um – foi que, embora o analisante fosse o agente do acting, a sua ação era concebida como um puro efeito cuja causa estaria na intervenção errada do seu analista. Com idêntico raciocínio, a passagem ao ato resultaria da falência completa do analista em seu lugar. Em suma, assim como para Galvão Bueno o time adversário jamais ganha, é o Brasil que perde; assim, o paciente não tem vez no ato analítico: fracassado ou bem sucedido, o ato e a ética que lhe seriam inerentes são sempre do psicanalista. Mas, que a ética de uma psicanálise dependa do desejo do analista não implica que, no dispositivo e no tratamento que lhe é dispensado dentro dele, o analisante não tenha responsabilidade alguma. É precisamente pela sua implicação que recebe esse nome. Ele não é apenas o que sofre, o que padece, o apaixonado... enfim, o paciente. Trata-se, ao contrário, de impacientá-lo, de pô-lo a trabalhar a serviço, se vocês querem, da causa da análise. A dele, em primeiro lugar, e a da psicanálise mesma, quando ele é ou quer ser um psicanalista. Nunca se tratou com isso de apelar a qualquer voluntarismo; de conclamar o eu ao trabalho, mas de criar as condições para que o inconsciente, que já trabalha, o faça dentro dos quadros do dispositivo analítico, de modo a poder recolher-lhe os produtos, e com isso mudar a vida da pessoa. Porque, convenhamos, continua tratando-se disso, de viver um pouco melhor; de parar de atirar nos próprios pés. Não acredito que se trate apenas de uma linha de montagem de psicanalistas. Muitos dos que se reportam à escrita do discurso do psicanalista para definir o que fazem, na hora da prática, mostram a ação de um deslizamento que revela uma inversão dos lugares de objeto-agente e de sujeito-outro do ato analítico. E o resultado é uma montagem que tem, de um lado, um psicanalista diretor do tratamento, de cuja técnica/ética depende o andamento e o desfecho da análise do outro. E, do outro lado, um analisando instalado em sua pasmaceira transferencial, desincumbido da menor responsabilidade pelo estado em que se encontra e pelas coisas que faz ou que lhe são feitas. Estamos às voltas, portanto, com um paciente apelidado de “analisante”, mas concebido e tratado como analisando, isto é, como o objeto da análise do psicanalista-diretor. Por outras palavras, a pergunta ética não se coloca do seu lado. Mas, a que estou chamando de “pergunta ética”? Sem demasiada filosofia: de que modo estás detrás do que fazes? O mais engraçado é que, uma vez finda a análise conduzida sob tais premissas, espera-se desse puro produto do ato analítico que deixe de ser objeto e vire magicamente sujeito. Mais do que isso, espera-se que se transforme 127 Ricardo Goldenberg 128 128128 em um caso particular de O psicanalista produzido pelo ato (do outro, evidentemente). Freud ([1918] 1989) sugeria não tomar decisões drásticas durante o tratamento; recomendava um certo não-agir aos analisantes, precisamente porque o estado de hainamoration transferencial podia induzir ao erro e levá-los a entrar numa fria. Mas as análises duravam seis meses, máximo. Podemos esperar o mesmo de uma análise que dura vinte anos? Aliás, o fato de uma análise durar duas décadas não revela já certo fracasso da psicanálise em extensão? E note-se que ainda nem entrei no mérito dos analisantes que praticam a psicanálise que, com semelhante concepção da ética e de ato analítico, nem mesmo poderiam ser considerados psicanalistas, já que só haveria analista depois que a análise estivesse terminada. Tratar-se-ia, portanto, de pacientes que exercem a psicanálise de modo mais ou menos ilegítimo. Essa situação, claro, em nosso meio é raríssima, como vocês bem sabem, quase nunca acontece... O absurdo desse raciocínio nem mereceria comentário, não fosse pelo fato de comportar consequências bem concretas. Conheço alguns que não podem analisar-se já porque deviam ter terminado e há, também, quem não pode pedir análise, mesmo no limite da angústia, porque já terminou, e reconhecer que precisa de um analista seria como confessar um acabamento que deixa a desejar. A resistência à análise jamais é dos pacientes, nos é dito. Muito bem, contudo, cabe perguntar se quem aceita que seu ex-analista fiscalize seu trabalho; quem vende o carro para continuar pagando a sua análise interminável; quem reforma a casa de lazer do analista; quem chama a mulher, a filha e a amante para fazer análise com seu próprio analista obedecendo a ordens; quem abandona ou muda de analista para atender o apelo do Outro-Analista... me pergunto, se não caberia dizer, de cada um deles, que tem o analista que merece. Sei que soa meio apelativo, mas não é isso que a gente diz de certos casais, e de certos amigos, que eles se merecem? Ouvi dizer que não estou considerando direito a transferência. Que sob transferência os pacientes se submetem a qualquer coisa, por amor. Como as mulheres do Nelson a seus machos. Foi-me dito, também, que se o psicanalista for um canalha, seus pacientes estarão por anos a fio na posição de servidão voluntária, na medida em que encarna para cada um deles o Outro imaginário da fantasia que lhes comanda o desejo. Contudo, se o analista for bom e competente, os analisantes poderão ser reconduzidos para fora da posição objetal de servidão ao gozo do Outro. Na mesma linha, disseram-me que, estrategicamente, um analista pode levar seu analisante até as últimas consequências da sua posição de escravo, justamente com a finalidade de dar-se conta sozinho do que esta significa e do preço que paga por ela; ponto em que ele mesmo poderá recusar Cada um tem o analista que merece tal lugar. Não apenas concordo, como eu mesmo posso dar testemunho disso, mas, convenhamos, trata-se de um cálculo pra lá de delicado. Suponho, porém, que tais opiniões consideram o problema ético apenas do ponto de vista do psicanalista. Como se do lado analisante não existisse a dimensão da escolha – no mesmo sentido em que Freud fala de Objekwahl, a escolha de objeto libidinal, e de Nerosenwahl, a escolha de neurose. No mesmo sentido, também, em que Lacan fala de choix forcé, a escolha forçada, que não por forçada isenta o sujeito de responsabilidade por ela. E espero não dar a entender responsabilidade como mandato “superegoico”, porque penso em uma responsabilidade après-coup, pelas consequências dos próprios atos, que revelam ao agente as suas determinações inconscientes, mesmo estando aos cuidados (ou nas mãos) de um psicanalista. Nada mais longe, portanto, que contestar a ética do psicanalista. Proponho, apenas começar a pensar como as pessoas escolhem os seus analistas, de um modo que faça jus ao que Lacan ([1966] 1998) mesmo nos diz na primeira página dos seus escritos: eles estão feitos, escreveu, de tal modo que seja necessário ao leitor pôr algo de si para poder lê-los. Não sugiro nada diferente: digo que quando alguém escolhe um analista e com ele se sustenta está sendo ativo em sua opção, e afirmar que tal opção é feita desde a fantasia inconsciente não retira nada da sua responsabilidade de sujeito por tal escolha. Com certeza não faz dele uma vítima. Pela mesma razão que, para Freud, o inconsciente jamais poderia ser usado como desculpa para justificar atos inadmissíveis, no sentido de the devil made me do it, a repetição transferencial não poderia servir de pretexto para o analisando eximir-se de qualquer responsabilidade com o que é feito com ele; com o que ele deixa ou até encoraja que seja feito com ele. Não poderíamos esperar dos pacientes transferenciados que façam como aquela referida por Freud ([1921] 1989), aquela que resistia à vontade do hipnotizador mediante uma ação contrária? Não deveriam fazer esses pacientes como Dora com Freud: depois que seu analista erra o alvo várias vezes, mandar-se? Não seriam essas mulheres bons exemplos do que estou tentando chamar de analisantes éticos? Portanto, quando certo chefe de escola adverte um aluno que nunca receberá encaminhamentos devido ao fato de que o seu analista, freguês de outra paróquia, pratica a clínica ultrapassada do simbólico, em vez da moderna clínica do real que ali se exerce, e o aluno em questão decide mudar de analista para corresponder ao que se espera dele, eu me pergunto se tal decisão deve ser posta na conta exclusiva da malignidade da serpente sedutora ou da bondosa impotência do anjo, que não soube segurar seu freguês, ou se se trata de uma postura canalha do analisante, que opta pela conivência com seu algoz, seduzido pela promessa fálica que dele recebe. Leiam Drácula, de Bram Stocker (1988), 129 Ricardo Goldenberg 130 130130 o vampiro jamais vai até as presas; são elas que vão a ele, fascinadas pelo seu gozo mortífero. Devemos tê-las como inocentes e discutir apenas a falta de ética do vampiro? Fui interpelado durante a sessão de um analisante sobre o termo ou não da minha própria análise, já que a sua estava sendo contestada por uma figura de nosso meio. A lógica da contestação era a seguinte: eu não teria terminado e, portanto, jamais poderia levar um analisante até o fim da análise – um pouco como se diz “levá-lo até o orgasmo”. Fascinado com essa promessa de consumação, o meu analisante me questiona seriamente sobre a minha competência ou não para continuar sendo seu analista, e pretende que eu confirme ou negue a “acusação” de que tinha sido objeto. No início optei por um silêncio salutar, mas quando achei que essa história estava de bom tamanho, disse que estava pouco me lixando com a opinião da distinta colega sobre mim, e que se a sua experiência comigo não era suficiente para ele poder responder sozinho a sua própria pergunta, tinha mais é que ir embora mesmo. Fim da história, mas não da análise, que continuou sem mais interferências que as do próprio movimento transferencial até seu desfecho. Já uma ex-analisante me mandou um e-mail pedindo para conversar, depois de ter assistido a uma palestra minha. Vinha me dizer o que não disse dez anos atrás, quando interrompeu o tratamento comigo. Tinha sido depois de uma mancada da minha parte, atraso ou esquecimento. Ela não voltou, eu não a chamei. No dia da palestra, pensou que devia ter me ligado e vindo continuar com a sua tarefa, depois de me xingar como eu merecia. O que tinha acontecido fora uma repetição da relação dela com os homens: eles a largavam e, para não sofrer, imediatamente ela os riscava da agenda, como se nunca tivessem existido. Devia ter podido perseverar em seu trabalho até poder atravessar o impasse: “eu não valho para você, então você não tem qualquer valor para mim.” Sabia disso hoje, e quis vir me dizer. E agora eu sei que devia tê-la chamado e não simplesmente a abandonado à sua sorte. Mas, o gesto dela, a sua iniciativa de vir me dizer isso, não testemunha uma posição ética que merece o nome de ato? E que tipo de ato é esse que uma década depois significa para ambos o momento de concluir, obrigando-me a assumir a minha própria responsabilidade, ao mesmo tempo em que ela insiste em manter a sua? Fala-se com razão da grandeza de Freud ([1905] 1989) ao expor seu erro de cálculo na condução do tratamento de Dora, mas ter-se dado conta disso, não se deve nem um pouquinho a ela, que insiste em seu desejo deixando-o cair? Suponho que essas caricaturas de lacaniano que evoco fazem aos outros o que foi feito a elas. São, na linha de raciocínio que tento combater, vítimas. São as vítimas do vampiro, transformadas elas mesmas em vampiros. É assim que pensamos a transmissão? Faço análise com um canalha e viro um Cada um tem o analista que merece canalhanalista; é assim, fácil? Nossos analisantes seriam como a cera virgem sobre a qual se imprime o que for? Ou devemos pensar que, dentre as condições de possibilidade de uma psicanálise, haveria que incluir uma pergunta pela ética do paciente, que faz possível que ele se torne e permaneça analisante? O que são as entrevistas ditas preliminares, se não a criação dessas condições? Como minha antiga analisante me ensinou – e não encontro palavras boas o suficiente para lhe agradecer –, ao vir me mostrar aonde foi que eu tinha me perdido como seu analista, ela pode encontrar-se como sujeito em uma posição para a qual não cabe melhor palavra que “ética”. REFERÊNCIAS: FREUD, Sigmund. Fragmento de análisis de un caso de histeria (1905). In: ______. Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu, 1989. v. 7. ______. De la historia de una neurosis infantil (1918). In: ______. v. 17. ______. Psicología de las masas y análisis del yo (1921). In: ______. v. 18. LACAN, Jacques. O seminário, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise [1954-55]. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. ______. Intervenção sobre a transferência [1951]. In: ______. Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. p. 214-225. _____. A direção do tratamento e os princípios de seu poder [1958]. In: ______. p. 591-652. ______. Abertura desta coletânea. In: ______. p. 9-11. ______. O seminário, livro 10: a angústia [1962-63]. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. ______. O ato psicanalítico – seminário [1967-1968]. Escola de Estudos Psicanalíticos. (Publicação interna) STOCKER, Bram. Drácula. Lisboa: Publicações Europa-América, 1988. Recebido em 10/03/2011 Aceito em 7/05/2011 Revisado por Valéria Rilho 131 Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, Porto Alegre, n. 39, p. 132-138, jul./dez. 2010 VARIAÇÕES A FUNÇÃO CRIADORA DA FALA1 Heloisa Marcon2 A fala tem um papel central no processo psicanalítico, é o próprio meio ambiente em que uma análise se desloca. Mas a fala tomada no seu sentido estritamente psicanalítico diferencia-se da comunicação, na medida em que não é, como esta última, simplesmente um meio de se comunicar e transmitir informações. Lacan ([1953-54] 1975), na aula do dia 16 de junho de 19543, põe-se a questão de saber se o grunhido de um animal é fala. Tal questionamento serve para estabelecer a diferença entre a comunicação e a fala, a primeira que visa comunicar ou transmitir informações, sendo, assim, “mais ou menos da mesma ordem de um movimento mecânico”4 (Ibid., p. 264), enquanto a segunda é essencialmente o meio de ser reconhecido. Ela é antes de qualquer coisa que haja por detrás. E por isso ela é ambivalente e absolutamente insondável. O que ela diz é verdade? Não é verdade? É uma miragem. É essa primeira miragem que vos assegura que estão no domínio da fala5 (Ibid., p.264). Este artigo é baseado na Dissertação de Mestrado de minha autoria, intitulada Sobre a justificação hegeliana dada por Lacan para a função criadora da fala (PPG Filosofia/UFRGS). 2 Psicanalista, Membro da APPOA, Mestre em Filosofia/UFRGS. E-mail: [email protected] 3 Esta aula constitui a lição XIX do Seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud, intitulado pelo organizador de seus seminários como “A função criadora da fala“. Devido à importância dessa aula para o problema de que trata este artigo e pelas discordâncias na tradução para o português, quando se tratar de tal aula, será usada a publicação do Seminário em francês (Lacan [1953-54] 1975). 4 [...] à peu près du même ordre qu’un mouvement mécanique. 5 [...] est essentiellement le moyen d’être reconnu. Elle est là avant toute chose qu’il y a derrière. Et, par là, elle est ambivalente, et absolument insondable. Ce qu’elle dit, est-ce que c’est vrai? Est-ce que ce n’est pas vrai? C’est un mirage. C’est ce mirage premier qui vous assure que vous êtes dans le domaine de la parole. 1 132 A função criadora da fala Trata-se de usar a linguagem dos animais como paradigma, quase como caso-limite, para enfatizar a diferença dos grunhidos enquanto comunicação entre os porcos – comunicação de suas necessidades como a fome, a sede, a volúpia e mesmo o espírito de grupo, lista Lacan –, de algo outro que é absolutamente insondável e que constitui a fala. Caso-limite não no sentido mais imediato dessa expressão, isto é, que ilustraria bem a diferença do homem para com os animais, mas justamente para sublinhar que “[...] desde que ele [o grunhido] quer fazer crer e exige o reconhecimento, a fala existe”6 (Lacan,[195354] 1975, p.265), ou seja, caso-limite no sentido de que, mesmo nos homens, para os quais se pensa que – como para os animais – a fala é simplesmente um meio de comunicar e de transmitir informações, no momento em que ela quer dar a entender e exige reconhecimento, a dimensão de miragem que comparece garante que estamos no domínio da fala, e não simplesmente da comunicação. Em seguida, na mesma aula, Lacan pergunta-se sobre o que acontecia no tratamento de um paciente de um colega – Nunberg – com quem nada mexia, apesar do empenho de ambos, e, quando surge na fala do paciente uma certa relação com o tempo – falar no tratamento e falar numa experiência da infância desse paciente – Lacan diz: A fala nunca tem um sentido único, nem a palavra só um emprego. Qualquer fala tem sempre um além, sustenta várias funções, envolve vários sentidos. Por detrás do que diz um discurso há o que ele quer dizer, e por detrás do que ele quer dizer há ainda um outro querer-dizer e nunca nada será esgotado – a não ser que se conclui que a fala tem função criadora e faz surgir a própria coisa, que não é mais do que o conceito7 (Lacan,[1953-54] 1975, p.267). É nesse momento que Lacan recorre ao que Hegel diz do conceito: “O conceito é o tempo da coisa”8 (Idem, p.267). No entanto, o problema de tal tese é que ela leva a uma regressão ao infinito. Em função desse problema é que Lacan recorre ao sistema hegeliano, especificamente à relação entre a coisa 6 [...] dès lors qu’il veut faire croire et exige la reconnaissance, la parole existe. La parole n’a jamais un seul sens, le mot un seul emploi. Toute parole a toujours un au-delà, soutient plusieurs fonctions, enveloppe plusieurs sens. Derrière ce que dit un discours, il y a ce qu’il veut dire, et derrière ce qu’il veut dire, il y a encore un autre vouloir-dire, et rien n’en sera jamais épuisé – si ce n’est qu’on arrive à ceci que la parole a fonction créatrice, et qu’elle fait surgir la chose même, qui n’est rien d’autre que le concept. 8 [...] Le concept, c’est le temps de la chose. 7 133 Heloisa Marcon 134 134 134 mesma e o conceito. Tal relação é antecipada por Lacan como sendo mediada pelo tempo. A aproximação ao pensamento de Hegel leva Lacan a postular a fala como criadora no sentido de que ela faria surgir a própria coisa na forma do seu conceito. Deve haver algo no conceito de conceito hegeliano e na sua relação com a coisa mesma que abra possibilidade de equacionar o problema dos múltiplos sentidos ou querer-dizer de uma fala, sem chegar à regressão ao infinito. Essa possibilidade deve, também, ter relação com o que poderia ser chamado de estatuto da criação em Hegel e, assim, com a função criadora da fala proposta por Lacan. Assim que estamos frente ao que podemos entender ser a base da prática psicanalítica – a fala – e o modo de concebê-la, devido às suas características numa análise, coloca um problema propriamente filosófico, como já dito, uma regressão ao infinito. Um problema filosófico que foi, aliás, adequadamente encaminhado, uma vez que Lacan foi buscar solucioná-lo a partir da filosofia, especificamente, a partir do sistema filosófico de Hegel. Trata-se, portanto, de uma aposta na seriedade dessa citação ou referência a Hegel feita por Lacan, o que quer dizer que este trabalho parte do princípio de tal aproximação não se tratar de um mero recurso retórico momentâneo usado por Lacan para, rapidamente, sair do problema dos múltiplos sentidos ou quererdizer da fala, ao qual sua própria teoria havia levado. Tomando como séria e com consequências a aproximação ao sistema de pensamento hegeliano, o objetivo deste trabalho é apresentar a aproximação recém referida (à filosofia de Hegel), fazendo aparecer/brilhar a relação, apenas indicada por Lacan, entre o conceito e a coisa em Hegel e, posteriormente, a relação entre o conceito de conceito hegeliano e a fala tal como concebida por Lacan, retirando dessa aproximação algumas consequências. A obra escolhida como base para apresentar a relação da coisa ao conceito em Hegel (2002) foi a Fenomenologia do espírito, uma vez que ela permite que acompanhemos a experiência da consciência sobre si mesma. Nesse percurso de vir a si mesma, percurso propriamente de figuração, a consciência desdobra diferentemente a coisa. Acompanhemos, resumidamente, o desdobrar da coisa no conceito, feito pela consciência. Na certeza sensível, primeiro momento da experiência da consciência (CS) na Fenomenologia do espírito (Idem) (FE), a coisa é o isto apontado e o eu é apenas este que aponta. Mas ao apontar, o eu (este que aponta) faz a experiência de apontar vários isto em diferentes momentos (agora) e diferentes locais (aqui), com o que se dá a passagem ao segundo momento, a percepção. O objeto da percepção é a coisa de muitas propriedades e o eu é o eu que percebe essa coisa. Mas a percepção não consegue tomar a coisa na sua A função criadora da fala unidade (é essa coisa) e na sua diversidade (as muitas propriedades da coisa) juntamente, e, na sua experiência, fica jogando esses dois momentos um contra o outro. O entendimento, terceiro momento da consciência, tem, de saída, a coisa dividida nesses dois momentos, que ele vai tomar como conceito de força (força recalcada sobre si ou uno e força exteriorizada ou as muitas propriedades). Mas como, na sua experiência, esses momentos da força se dissolvem um no outro, o entendimento toma o objeto, agora, como o jogo de forças, e o rapport como o que mantém as duas forças numa unidade. O entendimento toma a coisa, então, como fenômeno, um aparecer para em seguida desaparecer numa formulação mais elevada que inclui o aparecer como negativo nessa nova formulação. Em seguida, o entendimento explica a unidade das duas forças como lei da força. A lei da força é o que não muda, o que é estável no fenômeno. No entanto, o entendimento, na sua experiência de explicar a estabilidade do fenômeno com a lei da força, dá-se conta de que o que é estável no fenômeno é seu aparecer e desaparecer; com isso, a lei inverte-se. Nessas explicações todas, a consciência (aqui entendimento) entende que o objeto não é um Outro dela (como até aqui a CS tomou), mas que é um objeto seu. Assim, a diferença (o objeto) é reconhecida como sua, como diferença interna: o objeto não é mais Outro ou estrangeiro da consciência, mas diferença na própria consciência. A consciência começa a trabalhar com o conceito de infinitude e surge na sua verdade, isto é, como consciência de si. Ao acompanharmos o percurso da consciência desdobrando a coisa, ela aparece, então, como sendo, em cada momento, seu conceito. O conceito é a coisa mesma em seu desenvolvimento pela consciência, já que ele é a unidade entre o pensamento e o ser. Unidade, diga-se de passagem, para o idealismo alemão, indissolúvel na experiência, pois, na experiência, sujeito e objeto estão inevitavelmente unidos se o saber é saber, isto é, se é saber de algo. Heidegger (1984), no seu Curso sobre a Fenomenologia do espírito de Hegel, ensina a seus alunos que o conteúdo já está contido no saber, e isso logicamente para que o saber seja saber de algo. Heidegger explica o sentido dessa necessidade quando apresenta a distinção hegeliana do “objeto para ele” e do “objeto para nós”, distinção em virtude da qual alguma coisa é em si para a consciência e, num outro momento, é o saber ou o ser do objeto para a consciência. Afirma Heidegger: Nós, que mediatizamos, nos é preciso necessariamente tomar para nós a título de primeiro objeto o saber que, como tal, pode ser assim sabido, que de si ele não requer justamente nada de outro que a simples apreensão (Aufassen). [...] Esse imediato como 135 Heloisa Marcon objeto do saber que é, para nós que sabemos absolutamente, o objeto imediato, Hegel o chama o ente. Temos então no nosso saber dois objetos, ou duas vezes um objeto – [...] porque para nós, o que é objeto é fundamentalmente e constantemente o saber que, de acordo com sua essência formal, tem seu objeto e o traz com ele. Essa relação, é aquela que Hegel exprime com acuidade dissociando o “objeto para nós” e o “objeto para ele” – “para ele” quer dizer para o saber que a cada vez é o objeto para nós. Mas na medida em que o saber que é nosso objeto não é saber que porque alguma coisa é sabida por ele, ao objeto para nós pertence precisamente o objeto para ele”9 (Heidegger, 1984, p. 91). Dessa forma, apesar de, por vezes, o trabalho com a Fenomenologia do espírito ser extremamente difícil e cansativo, e parecer não esclarecer o ponto de aproximação que interessa neste trabalho, foi preciso, assim como para a consciência é preciso, paciência para percorrer o caminho e fazer a experiência com a consciência, para que a relação da coisa ao conceito fosse iluminada e conseguíssemos ver surgir a necessidade lógica no suceder das figuras. E através dessa necessidade lógica é possível acompanhar o desenvolvimento, diferente em cada figura, da unidade entre o pensamento e o ser, entre o subjetivo e o objetivo, isto é, o desenvolvimento do conceito. Desenvolvimento este que é, ele mesmo, propriamente um fenômeno, isto é, um aparecer para em seguida desaparecer numa formulação mais elevada. Encontramos em Heidegger (1984, p. 184) que “o fenômeno não é somente aparência, mas na desaparição alguma coisa vem ao parecer”10. Assim, o fenômeno surge como uma totalidade do 9 136 136 136 Nous, qui médiatisons, il nous faut nécessairement prendre por nous à titre de premier objet le savoir qui, comme tel, peut être ainsi su que de soi il ne requiàre justement rien d’autre que la simple appréhension (Auffassen). [...] Cet immédiat comme objet du savoir qui est, pour nous qui savons absolument, l’objet immédiat, Hegel l’appelle l’étant. Nous avons donc dans notre savoir deux objets, ou deux fois un objet – [...] car pour nous, ce qui est objet, c’est fondamentalement et constamment le savoir qui, lui-même et derechef, conformément à son essence formelle, a son objet et l’apporte avec lui. Ce rapport, c’est celui que Hegel exprime avec acuité en dissociant “l’objet pour nous” et “l’objet pour lui”– “pour lui”, c’est-à-dire pour le savoir qui à chaque fois est objet pour nous. Mas dans la mesure où le savoir qui est notre objet n’est savoir que parce que quelque chose est su pour lui, à l’objet pour nous appartient précisément l’objet pour lui. 10 [...] le phénomène n’est pas seulement apparence, mais que dans la disparition quelque chose vient au paraître. A função criadora da fala aparecer no sentido de que ele é um suprassumir-se-a-si-mesmo que guarda o momento anterior em si como negativo, o que, como se sabe, não é possível para um ser que imediatamente é em si mesmo um não-ser, ou seja, um ser que é só aparência, e não fenômeno. Foi preciso a paciência que é destacada por Hegel na Fenomenologia do espírito para, através do meio, chegar ao fim. “A impaciência exige o impossível, ou seja, a obtenção do fim sem os meios”, diz-nos Hegel (2002, p. 42). A sua FE é justamente esse meio. Assim que, pela indicação de Lacan à relação entre a coisa e o conceito no sistema filosófico de Hegel, é possível pensar a fala numa análise como tendo uma função semelhante à atividade ou trabalho da consciência, qual seja, desdobrar ou trazer à luz a coisa no conceito. Uma vez que o conceito – que, como sabemos, é a unidade entre pensamento e ser – é colocado por Lacan do lado da fala, que coisa seria esta que seria desdobrada no conceito, no caso de uma análise, logo, nesta experiência do inconsciente? Trata-se, de uma “coisa discursiva”, para fazer oposição à coisa, tal como denominada por Freud de das Ding, a coisa única e exclusivamente no registro do real, logo, como esse inapreensível que, enquanto tal, funciona como o marco mítico em que se apoia todo o trabalho do aparelho psíquico; ou seja, a das Ding se apresenta e se isola como o termo estranho em torno do qual gira todo o movimento da Vorstellung, das representações. O que é desdobrado em uma análise são os significantes (conceito lacaniano que reúne os dois tipos de representações postuladas por Freud – a representação-coisa e a representação-palavra, isto é, o que aqui é denominado de a “coisa discursiva”). Significantes estes que, por suas propriedades de articulação [fonemas – elemento diferencial último – e cadeia significante – modo de ligação dos fonemas]11, trazem neles as relações com outros significantes enquanto o que é conservado e o que é superado nessa dialética – dialética significante, como Lacan (Manuscrito inédito, p.181) vem a chamar no Seminário 5. Assim, os significantes – essa “coisa discursiva” – deslizam pela fala e fazem surgir o inconsciente. Chega-se, por paradoxal que seja, ao fato de que esse trabalho da fala, que tem a mesma função que o trabalho da consciência hegeliana, faz surgir o inconsciente. É assim que a dialética transforma-se, na psicanálise, em dialética significante. Sobre tais propriedades do significante, ver texto de Lacan: A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud, Escritos (Lacan, 1998, p.496-533). 11 137 Heloisa Marcon A fala tem função criadora, como formulou Lacan, para escapar da regressão ao infinito, na medida em que, a partir da aproximação ao sistema filosófico de Hegel, o estatuto dessa criação é fenomênico, isto é, na medida em que essa experiência de desdobrar a coisa no seu conceito é um aparecer, um surgir no mundo – numa certa figuração -, para, em seguida, desaparecer numa formulação mais elevada dessa unidade entre pensamento e ser. A fala tem função criadora na medida em que desdobra – pelo menos tem essa potência, que, é verdade, nem sempre, é atualizada – diferentemente o conceito, os significantes, numa nova articulação. Essa função constituinte e determinante da fala – de ser criadora – garante que a procura psicanalítica pelos múltiplos sentidos de uma fala não seja sem fim, porque, como consequência dessa aproximação a Hegel, temos que, quando estamos no domínio da fala, estamos sempre diante da coisa ou do conceito – no caso, a “coisa discursiva”, os significantes – nos seus diferentes desdobramentos, o que evita a regressão ao infinito desses múltiplos quererdizer e, ainda mais, dá um lugar privilegiado à fala como dotada de uma potência original na formação do sentido. REFERÊNCIAS HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do espírito. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2002. HEIDEGGER, Martin. La “Phénomenologie de l’esprit” de Hegel. Paris: Éditions Gallimard, 1984. LACAN, Jacques. As formações do inconsciente – Seminário, livro 5 [1957-58]. Manuscrito inédito. Traduzido por Paulo Medeiros. Para uso interno do Recorte de Psicanálise. ________. Le séminaire de Jacques Lacan: les écrits techniques de Freud, livre I, 1953-1954. Paris: Éditions du Seuil, 1975. ________. A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud [1957].In: LACAN. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. p.496-533. Recebido em 02/12/2010 Aceito em 07/01/2011 Revisado por Maria Ângela Bulhões 138 138 138 Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, Porto Alegre, n. 39, p. 139-152, jul./dez. 2010 VARIAÇÕES TABOU: NOTAS SOBRE UM SUICÍDIO DOCUMENTADO1 Robson Pereira2 O povo ficou intrigado com o acontecido, cada um tem a sua opinião. Ela acendeu muita vela, pediu proteção, mas ninguém descobriu como foi que ele se transformou. Paulinho da Viola Filme: Tabou, direção de Orane Burri, 2008 Algumas observações iniciais N ão se pode comentar este documentário sem reconhecer o impacto do tema. É impossível debater aspectos conceituais, sejam eles psicanalíticos – ou de outras tantas disciplinas que se ocuparam deste evento na condição humana – estéticos, filmográficos e mesmo existenciais, sem reconhecer os efeitos desse ato que pode parecer tão absurdo e brutal. Discuti-lo publicamente é uma forma de compartilhar esse reconhecimento, tomando-o como um testemunho e não como espetáculo. Testamento imagético de um ato que capta as palavras de quem ficou, para o qual não há considerações totalizantes, tampouco terapias especializadas. Texto baseado no trabalho apresentado nas Jornadas Clínicas da APPOA: Dizer e fazer em análise, realizadas em Porto Alegre, novembro de 2010. 2 Psicanalista; Membro da APPOA. Publicou, entre outros: O divã e a tela – cinema e psicanálise (Porto Alegre: Artes & Ofícios, 2011) e Sargento Pimenta forever (Porto Alegre: Libretos, 2007). E-mail: [email protected] 1 139 139139 Robson Pereira Uma segunda observação prévia: temos que aceitar as limitações do texto, sem as imagens do documentário. Por isso, optamos por um relato que tenta acompanhar a sequência do filme, permeada por observações. Essas observações/associações vão mudando, com acréscimos, olhares diferentes, a cada vez que retornamos à película. Como se fossem cenas adicionais de um mesmo filme. Uma maneira de nos demonstrar a resistência enfrentada face à angustiante força das imagens e do relato. Outras associações Inevitável, para os que praticam a psicanálise, lembrar de Totem e tabu, de Freud ([1912-13] 1989) – cuja última palavra nomeia o filme – e escrito no qual o primeiro psicanalista narra o nascimento mítico de nossa cultura a partir do assassinato do pai da horda primitiva. A fratria resultante instaura a lei que organiza os laços sociais, e deixa a culpa primordial como legado dessa organização. Culpa; termo que na língua alemã escreve-se como sinônimo de dívida. Dívida com o pai, que no cristianismo é ponto central. Sem falar que em sua primeira exibição na tevê sueca3, em horário nobre, Tabou provocou polêmica; pois muitos manifestaram sua contrariedade com o tema, achando que é melhor não falar, tampouco mostrar assunto tão constrangedor. A resposta não é simples. Mas Orane Burri, a diretora, e as pessoas que deram seu aval e contribuição para o filme acreditaram na possibilidade de elaboração, após ter que lidar com ato tão definitivo 4. Em maio de 2010, Tabou foi exibido no INPUT – International Public Television, (nesse ano realizado em Budapeste, Hungria), despertando grande interesse dos críticos e público presente. O que motivou sua vinda a Porto Alegre em outubro de 2010 para a mostra O melhor do Input, realizado no Instituto Goethe. O INPUT é uma conferência anual dedicada à televisão de interesse público. É um evento realizado em um país diferente a cada edição há 28 anos. Tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de uma televisão a serviço da formação da cidadania, promover uma melhor compreensão entre as diferentes culturas e debater os programas mais marcantes de todo o mundo. A ideia surgiu a partir de um seminário organizado pela Fundação Rockefeller em Bellagio, na ltália, em maio de 1977. A coordenação do evento organiza outras atividades em dezenas de países. Anualmente acontece em Porto Alegre o Mini-Input, a fim de promover um debate sobre televisão entre produtores, diretores e roteiristas. Organização voluntária, apoiada por entidades de televisão – públicas e privadas –, instituições e fundações internacionais, o Mini-Input aconteceu em 2010 pelo nono ano consecutivo em Porto Alegre, numa parceria entre o Instituto Goethe e Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, trazendo uma seleção de 16 programas apresentados na última conferência do INPUT, produzidos em 10 diferentes países. Endereço: www.input-tv.org 4 Vide Jacques Lacan ([1967-68] s/d), Seminário O ato psicanalítico. 3 140 140 140 Tabou: notas sobre um suicídio... O suicídio continua sendo um tema tabu em nossa cultura ocidental, judaico/cristã, monoteísta. Talvez as únicas referências diferentes importantes para nós, em que o suicídio tem um significado culturalmente diferente seja no Império (e na República) romano e no Japão imperial (leia-se até o fim da II Guerra mundial, quando o Império se viu derrotado). Nestes tempos e lugares, suicidar-se era uma questão de honra, uma chance de o sujeito ter um último ato honrado. No século XIX, Émile Durkheim ([1897] 2008) escreveu o primeiro tratado sociológico, a primeira pesquisa etnográfica sobre o suicídio. Sua pesquisa é referência ainda hoje, ao classificar os modos de suicídio como egoísta/ existencial, altruísta e resultado da anomia social. No século XX, recentemente terminado, entre obras importantes que tratam do tema, Albert Camus ([1942]) escreveu em O mito de Sísifo: o suicídio é a grande questão filosófica de nosso tempo, decidir se a vida vale a pena ou não ser vivida é responder a uma pergunta fundamental da filosofia (talvez única questão filosófica séria, arrematava o autor). Mais recentemente, O livro Pastoral clínica, de Ângela Garcia (2010), trata antropologicamente de uma pesquisa no México, na região onde há os mais altos índices de adição à heroína e, por conseguinte, a taxa de mortalidade por overdose também. A autora chega a nomear suicide as a form of life, um dos capítulos do livro, analisando alguns casos nos quais considera que o uso continuado da heroína foi uma maneira de encurtar a vida e também de enfrentar uma série de sofrimentos no corpo, nas relações amorosas, ou na impossibilidade delas. Não banaliza, nem julga as condutas mais ou menos marginais de quem faz o trajeto na fronteira, nos limites da experiência de vida e de morte. A revista Wired, de março de 2011, fez uma extensa reportagem sobre os suicídios na empresa Foxconn, situada na província de Shenzhen, China, maior fábrica de componentes eletrônicos do mundo; as plataformas mais modernas, dos itens mais desejados do momento (I-phones, I-pads, notebooks, smartphones), utilizam sua tecnologia. Título: 1 million workers. 90 million iphones. 17 suicides...This is where your gadgets come from. Should you care?5. E não 1 milhão de trabalhadores. 90 milhões de I-phones. 17 suicídios... Aqui é o lugar onde seus brinquedinhos são feitos. Você deveria se importar com isto? (Tradução do autor). 5 141 Robson Pereira pense que o lugar é um daqueles filmes de terror imaginado por algum inimigo do capitalismo avançado, ou da tecnologia; onde os trabalhadores vivem em regime de semi-escravidão, dormindo em catres e alojamentos lúgubres e com jornadas de 16 horas. Ao contrário, as condições de trabalho são as melhores, o salário é dos mais altos, o ambiente é limpo, com bares, restaurantes, lugares para convivência. Há dormitórios coletivos, porém eles se parecem mais aos campi universitários americanos. Além disso, ninguém é obrigado a dormir nos alojamentos da fábrica; há transporte regular para as cidades vizinhas, onde os trabalhadores podem residir com suas famílias. E, mesmo assim, as pessoas se matam. Na maior parte por defenestração, ou se atirando dos telhados e vãos livres entre os edifícios; o que fez com que redes de proteção se integrassem à paisagem cotidiana. Como marcas visíveis da impossibilidade de estancar uma hemorragia. Curiosamente, os suicídios começaram a ser notados a partir de 2007 (quase vinte anos depois da primeira planta instalada); até então eram raros. Porém, entre março e maio de 2010, nove pessoas se atiraram dos telhados ou de outros lugares e, apesar dos esforços de contenção, vem se repetindo. A reportagem tenta abordar, ou chamar atenção dos consumidores. Mais uma vez, a culpa se revela na pergunta: você deveria se importar com isao quando compra um I-phone novo? No Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul, há pesquisas sendo levadas a efeito, tendo por base os municípios onde são registradas as mais altas incidências de suicídio. Acrescente-se que, internacionalmente, a OMS concedeu um status preocupante aos índices de suicídio somente a partir da metade da década passada. A partir dessa tomada de posição, os governos nacionais passaram a incentivar as pesquisas e grupos de estudo e intervenção, que já vinham levando seus esforços adiante. Como vemos, o tema é tão importante que diversas áreas tentam abordálo, seja sob a ótica da ficção ou da pesquisa; desde a filosofia, passando pelas artes modernas e antigas, a religião, a música popular6 ou mesmo a literatura, o teatro entre outros. No cinema, uma das primeiras referências é Tabu, de F. Murnau, 1931 – o tema era a perda da inocência num paraíso idealizado – mares do sul, Tahiti. Duas partes: paraíso e perda do paraíso – representado pelo colonialismo. A novidade do colonialismo, junto com a forma de ocupação das colônias e encontro com uma cultura diferente, era incapaz de responder Entre as muitas músicas, fazemos referência a esta citada na epígrafe: Comprimido, crônica de um suicídio, lançado no LP Nervos de Aço, de Paulinho da Viola. 6 142 142 142 Tabou: notas sobre um suicídio... aos conflitos entre a tradição e a modernidade dos povos do Pacífico sul. O casal de apaixonados, protagonistas do filme, não consegue resolver o impasse por meio do amor. Para citar outras obras, Louis Malle produziu Trinta anos esta noite, em 1969, e François Truffaut dirigiu A mulher do lado, sobre o casal de amantes que opta pelo suicídio. Mais recentemente, há alguns anos, o tema da documentação da morte, ainda que de forma ficcional, foi abordado no cinema, através de um roteiro em que um programa de televisão pagava para que pessoas com doenças terminais, ou que iam tirar a própria vida, se deixassem filmar. Uma rápida pesquisa pela internet vai mostrar a quantidade de filmes tratando do tema e mesmo de outros temas tabus. Mas o caso de Tabou é diferente. Não se trata exatamente de uma ficção. O filme Tabou foi exibido pela televisão sueca, no segundo semestre de 2010. Horário nobre, 21h. Momento em que no Brasil a tevê aberta exibe a novela “das oito”, nosso folhetim diário. Provocou muitas manifestações: desde críticas pelo risco de se exibir um documentário assim, até defesas de que a melhor prevenção (se é que ela existe e de que tipo) é o esclarecimento, por mais sofrido que ele seja. Atualmente, o documentário e sua diretora percorrem a Europa e alguns países da América fazendo essa discussão7 e ajudando a mostrar as iniciativas de cada lugar. Aspectos cinematográficos ou de filmagem propriamente ditos: roteiro, edição, música, material para o documentário e outros foram pouco examinados. A dificuldade residiu justamente no tema e na fonte material que o filme aborda. O filme começa com uma estação e início da viagem de trem e, bem no início, com uma declaração, um depoimento expressando as razões da diretora: feito para tentar dar algum sentido àquilo que ela tinha recebido como herança. Custou-lhe vários anos, quase dez, até decidir-se por realizar o documentário. Ao longo da película vamos sabendo das razões desse endereçamento. Há também uma voz masculina incentivando a feitura do filme a partir do acervo de fitas cassetes/vídeo gravadas pelo próprio Thomas Mendez, que resolveu filmar minuciosamente os últimos seis meses de sua vida. Marcando data para cometer suicídio (01/10/1998). No site www.oraneburri.com há um extenso histórico do filme e de seu percurso até agora. O grupo no Facebook pode ser acessado em: Tabou Le film. 7 143 Robson Pereira A viagem de trem expressa a viagem empreendida pela diretora para, retroativamente, com ajuda dos seus entrevistados e da edição de imagens, buscar sentido para um ato que excede qualquer sentido limitador, fechado8. Voltar atrás para tentar encontrar outra saída que não a “saída de emergência” (como aparece nas imagens iniciais), ou tentar aproximar-se, de uma maneira elaborativa, da “saída de emergência desesperada” pela qual seu amigo Thomas havia enveredado. Vários autores referem-se a esse trabalho realizado com parentes e amigos como fundamental para uma elaboração psíquica. Além disso, enfatizam que a possibilidade de alguma prevenção está também no contato com o círculo familiar e de amigos. Entretanto, ao falar sobre os efeitos, podemos acrescentar que sempre haverá este buraco/furo no entendimento de um ato dessa natureza. Retomar a discussão possibilita a elaboração: de uma morte cujos efeitos violentos são sentidos por todos os que estão próximos e um luto compartilhado para que o morto possa ser enterrado e a culpa possa ser esvaziada, tomando essa dimensão simbólica que se tem com os mortos e a morte. Em outras palavras, somos organizados pela linguagem, que tem na dimensão do Outro seu lugar de enunciação. Lembrando outra elaboração de Lacan ao trabalhar o enlaçamento topológico das dimensões que organizam o sujeito (RSI) que a vida está compreendida na dimensão do real, e a morte, no simbólico. Estamos diante de um ato que mostra os limites da palavra, os limites da imagem e simultaneamente, a potência dessa mesma palavra ao radicalizar sua impotência. Ao mostrar o fracasso da relação com o outro e com o mundo revela simultaneamente, sua articulação impossível de ser desfeita. Retomamos Freud ([1929] 1989), que, ao relacionar as três grandes fontes do mal-estar em nossa cultura (natureza e corpo as duas primeiras), escreveu que a relação com o outro/semelhante talvez seja a mais difícil de lidar. Além disso, em diversos de seus textos Freud fez referência ao suicídio, sem tentar uma teoria geral9. Com a retomada freudiana de Lacan ([1960-61] 1992), a psicanálise considera que esse outro ao qual nos referimos não se resume ao semelhante. O reconhecimento do inconsciente possibilita confrontar o sujeito com o pequeno a (outro) em sua dimensão de imagem do semelhante i(a) e como objeto de desejo inapreensível, Lacan ([1967-68] s/d) diz, no Seminário O ato psicanalítico, que o suicídio é o único ato realmente logrado. Os outros atos humanos se caracterizam por serem falhos. 9 A este respeito, leia-se o trabalho Inconsciente e suicídios, de Enrique Rattin, apresentado em Montevidéu, 2009, por ocasião do XXV Congresso Mundial de prevenção ao suicídio. 8 144 144 144 Tabou: notas sobre um suicídio... mas sempre revestido como um Sileno que esconde o ágalma. Simultaneamente a essa, há uma dimensão do A (grande Outro), campo da linguagem e das condições de enunciação, com o qual o sujeito lida através do enlaçamento das dimensões simbólicas, imaginárias e reais. Seus efeitos, as condições de lidar com a falta no Outro, tramam as saídas de emergência do real ou simbólicas. Entrevistas iniciais do documentário Irmã, Mannon Mendez: “Não consegui ver nada do que estava acontecendo”. Mãe, Eve Putsch: “Cena inimaginável, voltar de viagem, abrir a porta e deparar-se com o filho morto”. Amigo, Pascal: chora quando lembra o momento que recebeu a notícia, “Thomas meteu três tiros na cabeça”. Ele relembra os filmes que fizeram e, ao longo do filme, o progressivo distanciamento do amigo. Thomas: decidiu, em 1999, filmar os últimos seis meses de vida. Em uma das primeiras cenas, faz panorâmica de seu quarto de trabalho, onde lê, toca violão e trabalha em suas trilhas sonoras. Uma delas para o filme de Orane, sua amiga cineasta e a quem ele admira. Vê sua mãe como presente e até invasiva de sua privacidade; nos depoimentos dela aparecem as qualidades e potencialidades talentosas do filho. Apenas isto? Veremos mais tarde do que ela vai se dar conta. Thomas sonha em ser “filmaker”: escreve roteiros, realizou curtas, humorísticos, irônicos com a religião, o consumo e a crença das pessoas nas potencialidades mágicas dos produtos (na linha dos Monthy Pyton). Ironiza o mote “Red Bull te dá asas” em um de seus esquetes. Sua irmã é mais crítica: fala sobre seu relacionamento, quando tinha identidade com o irmão, iam ao cinema, gostavam de discutir filmes, mas ela percebia que “ele não conseguia encontrar os meios de realizar suas potencialidades, seus sonhos”. Thomas faz declaração à câmera: “Não quero apenas sobreviver, não quero fazer isto por 50 anos, não posso aceitar! Estou nesta situação, a mesma destas pessoas que não se questionam sobre isto, que aceitam esta vida louca”. Obs: não há espaço para surpresas. Ele escreveu e finalizou o roteiro de sua vida. Única possibilidade de controlar tudo, de obter a solução final/inteira para todas as dúvidas e angústias. Vemos isto ao longo dos meses, quando parece que até os últimos dias ele não parecia dar-se conta que se tratava de sua própria morte. O que nos leva a considerar a ideia explicitada por sua irmã de que Thomas estava obsessionado/pressionado pela ideia de se matar, não pela morte propriamente dita. 145 Robson Pereira Os meses documentados Abril Aos 22 anos, Thomas não sabe o que é o amor: “Não sei como funciona a diferença entre o amor romântico, o sexual e o fraterno”. Sente-se só. Está “apaixonado” por Orane, mas não consegue se expressar. E ainda recebeu uma resposta negativa às suas pretensões de ir além da relação de trabalho e coleguismo. Amigo Valeri-Antoine (Valero, como Thomas o chama) faz boa interpretação: “Thomas não quer se arriscar aos desígnios do amor. Fecha-se”. Maio Continua o relato da desdita amorosa (amor romântico sempre foi desditado, a bela pertence ao outro). Nesse caso, ela ainda pertence ao Outro; pois não aparece o ciúme por um rival, não está personalizado. Filma Orane, mas não consegue declarar seu amor por ela. O que consegue fazer é apontar a jovem como seu objeto idealizado, em todos os sentidos: “Com 17 anos, ela já filma e escreve como ele jamais conseguirá fazer”, diz Thomas a seu respeito. Sente-se ridículo – mas só consegue filmá-la e filmar seus depoimentos – a câmera é seu interlocutor. Isto Orane levou quase dez anos para elaborar. Ela é objeto, destinatário das filmagens. Por isto ela voltou (na viagem de trem) para revisitar os lugares. A resposta teria que ser dada em termos de linguagem cinematográfica. Num desses dias de conversa e filmagem, ela perguntou se ele pretendia se matar: a resposta foi um solene “Não”. Entretanto sua declaração sobre se conhecer cada vez mais a cada dia, e que por isto não queria continuar vivendo, é uma contradição. Dá mostra de seu desconhecimento. Como? A vida não é um conhecimento progressivo; muitas vezes, ao contrário: a repetição que vivemos mostra apenas uma parte da experiência e o quanto ignoramos a respeito de nós mesmos. 146 146 146 Junho Caixa de aniversário: presente para Orane, onde uma profusão de objetos tenta demonstrar seu amor e carinho. Chega a mencionar sua ideia de namorar, mas entende a resposta como um desejo de simples amizade da parte dela. Sua obsessão por Orane é algo que se nota de maneira mais intensa a cada vez que revemos o filme. Ela fez o trabalho/filme para lidar com este endereçamento. Fardo pesado demais para carregar sozinha. Cada um lida pessoalmente, com seus fantasmas, com um ato tão brutal. A questão é: como articular essa complexidade; pois a simples reunião das histórias não dá conta; porém, pode fazer um pouco de suporte contra a violência. Por isso, buscar os Tabou: notas sobre um suicídio... depoimentos dos parentes e amigos é fundamental, porque mostra que não podemos enfrentar a morte do outro como uma mensagem exclusiva para nós: os outros estão implicados também. O ato suicida busca implicar os outros, ao mostrar o fracasso dessa relação complexa com o outro semelhante e com o Outro. Amigo Valero: “Ele estava obcecado pela solução final e não conseguia lidar com as questões parciais da vida. Por um momento estivemos identificados. Depois encontrei minha mulher, meu trabalho e nossos caminhos foram se afastando. Ele me ligava, parecia querer falar algo importante; mas sempre que eu tentava aprofundar um assunto, ele recusava”. Depoimentos, como este, ajudam a dar sentido ao que resta sem sentido e a suportar a dor. Thomas: “Me dei conta que a câmera é minha confidente”, situação que a irmã e o amigo interpretaram posteriormente. Mãe fala da surpresa de não se dar conta que seu filho, aos 22 anos, ainda era um adolescente e, simultaneamente, um menino, frágil, precisando de orientação. Somente aqui a primeira menção à falta de um pai. O pai não aparece no filme. Comparece por sua ausência. Não sabemos se está vivo, ou o que aconteceu. Somente esta frase: ele não tinha coragem de dizer ao pai o que lhe desagradava. Thomas considerava-se um sujeito cuja fragilidade os outros não percebiam; por sua ironia, distanciamento, mas interiormente estava em erupção. Julho Sente-se morbidamente atraído pela morte e pelo sofrimento. Um verdadeiro niilista. Às vezes hesita em dizer a alguém sobre suas intenções suicidas. Valero foi quem chegou mais perto. Ele chega a supor como poderia tentar, como iniciaria a conversa. Entretanto, ficava nervoso-irritado por Valero dirigir-se a ele de maneira tão paternal, tentando ajudar, por se identificar com sua experiência sofrida. Valero diz que percebia que Thomas se identificava com ele, como se pudessem compreender alguma coisa comum. Porém, Valero não estava mais no mesmo caminho. Agosto Valero diz que procura a vida, com ajuda da namorada, atual mulher, e da religiosidade. Thomas continuou buscando a morte. A vida não é um valor em si. Encontra-se valor nos detalhes, nas pequenas coisas. Na maior parte do tempo, socialmente, na oferta dos objetos de consumo. Isso tenta fazer-nos esquecer que não há justificativa plausível, universal, para a sustentação da vida. Mario Corso (2008) escreveu que a pergunta sobre as 147 Robson Pereira razões para valorizar a vida é uma “wrong question”, ou falsa questão; pois racionalmente a vida não tem sentido. Essa é uma das razões de por que Thomas encontrou uma racionalização para terminar com sua vida. A outra é a tentativa de documentar seu fim. Controle ou tentativa de alcançar o outro de quem ele sentia-se impotente para relacionar-se? Durante o feriado, em que ele filmou e ainda dizia que havia se reencontrado com pessoas e antigos amigos, Orane pensou que ele poderia ter se suicidado. Não, ele respondeu que não iria se matar no verão, quando todas as pessoas estavam de férias. Queria gente no seu enterro. O suicídio ficava em suspenso a partir de questões prosaicas como esta e outras, tais como: como iria acompanhar às aulas e se matar? A solidão se acentua fortemente. Mãe acha que ele não conseguiu encontrar saídas para enfrentar a mudança de vida dos amigos – que tinham namorada, trabalho, etc... Irmã: “Não conseguiu encontrar mais referências em nada, ficou completamente solitário”. Setembro Encontrou Valero. Não consegue falar de seu sofrimento. Os depoimentos começam a ficar mais angustiados e intranquilos quando fala sobre os preparativos, a data e os efeitos que causará nas pessoas e, principalmente, na mãe. Projeta se matar em 1º de outubro, morto. Ela volta dia 2 (mãe tem uma viagem à China). Apenas na véspera do retorno. Não quer que ela veja um cadáver apodrecendo. “Será duro para ela”. Imediatamente também fala da farsa sobre a consideração com os outros. É sua vida, quer dispor dela como bem entender, pouco importam os outros e seus sentimentos. Esta é a idealização: ser completamente independente/autônomo. E, simultaneamente, mostra-se tão dependente! Valero interpreta essa agressividade contida no ato suicida. Obs: aqui podemos observar como a edição/montagem foi sendo articulada com o depoimento de Thomas e as interpretações dos amigos. As imagens tornam-se mais rápidas e difusas, somando-se à crescente angústia dos depoimentos de Thomas. 148 148 148 Outubro Thomas Mendes deixa texto. Carta declaratória. A cronologia passa a ser contada em horas: 9 horas – sente-se mal. 11 horas – descreve as diversas formas pelas quais pensou em tirar a vida e nenhuma lhe pareceu ser adequada. Lembra-se da arma com 50 balas de munição. Tabou: notas sobre um suicídio... 19 horas – seu desespero é visível. Tinha tudo sob controle e programado, e agora se desespera por hesitar. Sua mãe chegou às 8h30min, a hora da morte foi por volta das 6h30min do dia 02 de outubro. ********************* Irmã: “Thomas tinha uma paixão por se matar, não exatamente pela morte. Parecia que no final, matar-se era uma imposição. Estava obrigado a fazê-lo, não podia recuar apesar de sua angústia e hesitação”. Depoimentos póstumos (Todos são, mas estes não estão mais entremeados com as filmagens de Thomas). Irmã, mãe, amigos Irmã: “Há pessoas que fazem isto e para as quais não há tratamento. Estão decididas. A questão é o que fazer? Talvez dizer algo aos jovens e aos não-jovens. Lembremo-nos dos velhos que se suicidaram. Estes parecem que já viveram algo e decidiram dar um fim a sua experiência”. Amigo Valero: “Ele achava que eu entenderia seu ato e que certificaria. Não entendo e não certifico, não avalizo”. Ambos (irmã e amigo): “Sempre há possibilidade de superar algo”. Mãe: “Só agora consigo dizer que é um ato estúpido, uma coisa estúpida provocar tanto sofrimento, dor no outros e cortar com a possibilidade de aprender com a vida. O filme lhes dá a chance disto: superar, aprender algo. Quase ironicamente, é do gesto desesperado de Thomas que eles podem tirar consequências. A topologia da vida é feita de corte e costura, perfuração e cesura. Thomas optou pelo corte final. Uma solução definitiva. Um filme assim deve ser debatido/exibido. Testemunha uma possibilidade de elaborar o impacto causado pela morte de Thomas. Talvez possa servir para dar uma chance a outras pessoas, de não se deixarem tomar pelo desespero de não encontrar outra saída, por sentirem-se extremamente pressionadas pelos outros e por sua própria exigência (que poderíamos dizer em outras palavras, ter que cumprir com o imperativo do superego “Goza!”). Reconhecer a impossibilidade de cumprir com o ideal de exigência é um passo fundamental para transformar/ realizar algo. Agarrar a chance, mesmo que seja por alguns pequenos/detalhes. Orane encontrou outra “saída de emergência” daquela mostrada no início do filme, tornando público o endereçamento, a herança que recebeu, para que 149 Robson Pereira ela não se transformasse em herança maldita, opressiva, sem luto. É uma forma de fazer o luto e, como ela mesmo declarou, elaborar a culpa por não conseguir ver os indícios. Fazer algo com “isso”, com o que ficou emudecido, no seu “savoir-faire” de fazer filmes encontrou uma saída. Essa pertinência é difícil de achar. Coda A OMS divulga que o suicídio é a segunda causa de mortes no mundo. Por isso, desde o início da década passada, incentiva fortemente os projetos de pesquisa e prevenção do suicídio no âmbito público, universitário e de organizações não-governamentais. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS/RS) abriga o Centro de Promoção de Vida e Prevenção do Suicídio no Rio Grande do Sul (CPVPS) – pesquisa em quatro municípios gaúchos de grande incidência de suicídio. Média brasileira é de 4,7 por cem mil. Enquanto nesses lugares no Rio Grande do Sul chega a 9,9 por cem mil. Os municípios envolvidos são Candelária, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul e São Lourenço do Sul. O suicídio está entre as dez causas de maior incidência de morte. No Brasil é a terceira, logo atrás dos acidentes de trânsito e de homicídios. O problema é que enquanto as campanhas contra acidentes no trânsito e mesmo de redução dos homicídios – com armas de fogo e entre os jovens – conseguem pequenos êxitos, o mesmo não ocorre em relação aos suicídios. Ano passado, 2009, no Rio Grande do Sul, foram 1151 casos confirmados, de acordo com o coordenador do CPVPS, Ricardo Nogueira (2010). 150 150 150 Associações e endereços de entidades assistenciais na Europa e América: No Uruguai: - Ultimo recurso – prevenção del suicídio. Instituição coordenada por Silvia Peláez: “apostar na comunidade deve ser o primeiro recurso de prevenção ao suicídio”. Site: <http://www.ultimorecurso.com.uy/> Na Argentina: - Grupo de Investigacion sobre crisis y suicídio. Editou publicações, entre elas: YANPEY et alli. Crisis y suicídio. Buenos Aires: Grupo de Investigacion sobre crisis y suicídio, A.P.A., 1998. _____. Desesperacion y suicídio. Buenos Aires: Kagierman, 1992. Nos EUA, várias associações em diversos estados, em particular: - www.stopsuicide.ch - www.childrenaction.org Tabou: notas sobre um suicídio... E as publicações: MEKHANN, Charles. Death on request. KELLEHEN, Michael J; MOTTO, Jerome A. Death on request. Crisis: the journal of crisis intervention and suicide prevention, v. 16, n. 2, p. 92-95, 1995. Na Bahia: - NEPS (Núcleo de Prevenção do Suicídio), coordenado por Soraya Rigo, ligado ao CIAVE (Centro de Informação Anti-Veneno). No ano de 2011, de 13 a 17 de setembro, teremos o XXVI Congresso Mundial de prevenção ao suicídio, em Beijing (antiga Pequim), China. REFERÊNCIAS BURRI, Orane. Tabou. Título original: Tabou [Filme]. Direção de Orane Burri, Suíça, 2008, Documentário, 52 min. CAMUS, Albert. O mito de Sísifo: ensaio sobre o absurdo [1942]. Disponível em: <filosofocamus.sites.uol.com.br/Camus_sisifo_completol.htm>. Acesso em: 20 jul. 2011. CORSO, Mario. A pergunta errada. Zero Hora, Porto Alegre, 26 maio 2008. DURKHEIM, Émile. O suicídio [1897]. São Paulo: Martin Claret, 2008. FREUD, Sigmund. Tótem y tabú [1912-13]. In: ______. Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu, 1989. v. 13. ______. El malestar en la cultura [1929]. In: ______. ______. v. 21. GARCIA, Ângela. The pastoral clinic: addiction and dispossession along the Rio Grande. Berkeley: University of Califórnia Press, 2010. JOHNSON, Joel. My gadget guilt (this is an I-phone factory in Chine. Seventeen of the company’s workers have commited suicide. It’s your fault?). Wired, p. 96-103, mar. 2011. Disponível em: <www. wired.com.pt.mk.gd/magazine/2011/02/ff_joelinchina/>. Acesso em: 20 jul. 2011. LACAN, Jacques. O seminário, livro 8: a transferência [1960-61]. Rio de Janeiro: Zahar, 1992. ______. O ato psicanalítico – seminário [1967-68]. Porto Alegre: Escola de Estudos Psicanalíticos, s/d. (Publicação interna) MALLE, Louis. Trinta anos esta noite. Título original: Le feu follet [Filme-vídeo]. Direção de Louis Malle, roteiro de Louis Malle e Pierre Drieu La Rochelle. França, Itália, 1969. Drama, P& B, 108 min. MURNAU, F. W. Tabu. Título original: Tabu – a story of the south seas [Filme-vídeo]. Direção de F. W. Murnau e Robert Flaherty. Estados Unidos da América. Distribuição Magnus Opus, 1931. Arte, P&B, Mudo, 81 min., Dolby digital 2.0. NOGUEIRA, Ricardo . Correio do Povo , 31 ago. 2010. Disponível e m : < w w w . c o r r e i o d o p o v o . c o m . b r / i m p r e s s o / ?ano=115&numero=335&caderno=0¬icia=189954>. Acesso em: 20 jul. 2011. RATTIN, Enrique. Inconsciente e suicídios. Trabalho apresentado no XXV Congresso Mundial de prevenção ao suicídio, Montevideu. 2009. Disponível em: <http:// convergencia.aocc.free.fr/texte/rattin-e.htm>. Acesso em: 20 jul. 2011. 151 Robson Pereira TRUFFAUT, François. A mulher do lado. Título original: La femme d’ à cote [Filmevídeo]. Direção de François Truffaut. França, 1981. Drama, Romance, Cor, 106 min. VIOLA, Paulinho da. Comprimido. Nervos de aço – LP, 1973. Recebido em 5/07/2011 Aceito em 16/07/2011 Revisado por Valéria Rilho 152 152 152 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO I APRECIAÇÃO PELO CONSELHO EDITORIAL Os textos enviados para publicação serão apreciados pela comissão editorial da Revista e consultores ad hoc, quando se fizer necessário. Os autores serão notificados da aceitação ou não dos textos. Caso sejam necessárias modificações, o autor será comunicado e encarregado de providenciá-las, devolvendo o texto no prazo estipulado na ocasião. Aprovado o artigo, o mesmo deverá ser enviado para a APPOA, aos cuidados da Revista, por e-mail. II DIREITOS AUTORAIS A aprovação dos textos implica a permissão de publicação, sem ônus, nesta Revista. O autor continuará a deter os direitos autorais para futuras publicações. III APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS Os textos devem ser apresentados contendo: – nome e créditos do autor (em nota de rodapé), incluíndo títulos acadêmicos, publicações de livros, formação profissional, inserção institucional, email; resumo (com até 90 palavras); palavras-chaves (de 3 a 5 substantivos separados por vírgula); abstract (versão em inglês do resumo); keywords (versão em inglês das palavras-chaves). – no corpo do texto, deverá conter título; usar itálico para as palavras e/ou expressões em destaque e para os títulos de obras referidas. – Notas de rodapé: as notas, inclusive as referentes ao título e aos créditos do autor, serão indicadas por algarismos arábicos ao longo do texto. IV REFERÊNCIAS E CITAÇÕES No corpo do texto, a referência a autores deverá ser feita somente mencionando o sobrenome (em caixa baixa), acrescido do ano da obra. No caso de autores cujo ano do texto é relevante, colocá-lo antes do ano da edição utilizada. Ex: Freud ([1914] 1981). As citações textuais serão indicadas pelo uso de aspas duplas, acrescidas dos seguintes dados, entre parênteses: autor, ano da edição, página. V REFERÊNCIAS Lista das obras referidas ou citadas no texto. Deve vir no final, em ordem alfabética pelo último nome do autor, conforme os modelos abaixo: OBRA NA TOTALIDADE BLEICHMAR, Hugo. O narcisismo; estudo sobre a enunciação e a gramática inconsciente. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. LACAN, Jacques. O seminário, livro 5: as formações do inconsciente [1957-1958]. Rio de Janeiro: J. Zahar Ed., 1999. PARTE DE OBRA CALLIGARIS, Contardo. O grande casamenteiro. In: CALLIGARIS, C. et al. O laço conjugal. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1994. p. 11-24. CHAUI, Marilena. Laços do desejo. In: NOVAES, Adauto (Org). O desejo. São Paulo: Comp. das Letras, 1993. p. 21-9. FREUD, Sigmund. El “Moises” de Miguel Angel [1914]. In: ______. Obras completas. 4. ed. Madrid: Bibl. Nueva, 1981. v. 2. ARTIGO DE PERIÓDICO CHEMAMA, Roland. Onde se inventa o Brasil? Cadernos da APPOA, Porto Alegre, n. 71, p. 12-20, ago. 1999. HASSOUN, J. Os três tempos da constituição do inconsciente. Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, Porto Alegre, n. 14, p. 43-53, mar. 1998. ARTIGO DE JORNAL CARLE, Ricardo. O homem inventou a identidade feminina. Entrevista com Maria Rita Kehl. Zero Hora, Porto Alegre, 5 dez. 1998. Caderno Cultura, p. 4-5. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO KARAM, Henriete. Sensorialidade e liminaridade em “Ensaio sobre a cegueira”, de J. Saramago. 2003. 179 f. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária). Faculdade de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2003. TESE DE DOUTORADO SETTINERI, Francisco Franke. Quando falar é tratar: o funcionamento da linguagem nas intervenções do psicanalista. 2001. 144 f. Tese (Doutorado em Lingüística Aplicada). Faculdade de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2001. DOCUMENTO`ELETRÔNICO VALENTE, Rubens. Governo reforça controle de psicocirurgias. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff01102003 23.htm>. Acesso em: 25 fev. 2003. Revista da APPOA e Correio da APPOA conecte-se com os temas e eventos mais atuais em Psicanálise Para receber a Revista e o Correio da APPOA, copie e preencha o cupom abaixo e remeta-o para*: NOME: ___________________________________________________ ENDEREÇO ______________________________________________ CEP: _____________ CIDADE:______________________ UF: _____ TEL.: __________________________ FAX: _____________________ E-MAIL: __________________________________________________ Sim, quero receber as publicações da APPOA, nas condições abaixo: ( ) Assinatura em conjunto: Revista (2 exemplares) e Correio da APPOA (11 exemplares)R$ 150,00 ( ) Assinatura anual da Revista da APPOA (4 exemplares) R$ 120,00 ( ) Assinatura anual do Correio da APPOA (11 exemplares) R$ 100,00 PROMOÇÃO ESPECIAL! Assinando uma das propostas você receberá como cortesia o livro “Narrativas do Brasil - Cultura e psicanálise” - Várias autores (294p.) Data: ______/_____/2011 * O pagamento pode ser feito via depósito bancário no Banco Itaú, Bco. 341, Ag. 0604, C/C 32910-2. O comprovante deve ser enviado por fax, juntamente com o cupom, ou via correio, com cheque nominal à APPOA.
Download