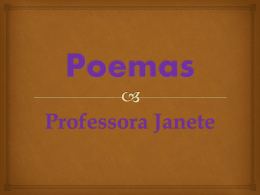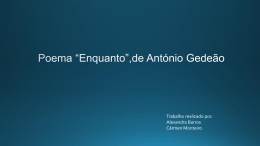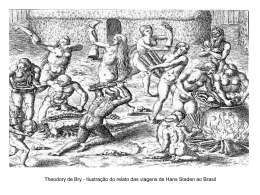1 CARLA DA SILVA MIGUELOTE A POÉTICA DE LUÍS MIGUEL NAVA: VEM SEMPRE DAR À PELE O QUE A MEMÓRIA CARREGOU Dissertação de Mestrado UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Centro de Estudos Gerais Instituto de Letras Mestrado em Letras Niterói, março de 2006 2 CARLA DA SILVA MIGUELOTE A POÉTICA DE LUÍS MIGUEL NAVA: VEM SEMPRE DAR À PELE O QUE A MEMÓRIA CARREGOU Dissertação apresentada à Coordenação de PósGraduação em Letras da Universidade Federal Fluminense como requisito final para a obtenção do grau de Mestre em Letras (Área de Concentração: Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas em Língua Portuguesa) Orientadora: Prof ª Dr ª Ida Maria Santos Ferreira Alves UFF / Instituto de Letras Niterói, março de 2006 3 CARLA DA SILVA MIGUELOTE A POÉTICA DE LUÍS MIGUEL NAVA: VEM SEMPRE DAR À PELE O QUE A MEMÓRIA CARREGOU Dissertação apresentada à Coordenação de PósGraduação em Letras da Universidade Federal Fluminense como requisito final para a obtenção do grau de Mestre em Letras (Área de Concentração: Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas em Língua Portuguesa) BANCA _________________________________________________________________________ Prof ª. Dr ª Ida Maria Santos Ferreira Alves – Orientadora Universidade Federal Fluminense ________________________________________________________________________ Prof. Dr. Jorge Fernandes da Silveira Universidade Federal do Rio de Janeiro _________________________________________________________________________ Prof ª. Dr ª Maria Cristina Franco Ferraz Universidade Federal Fluminense _________________________________________________________________________ Profª. Drª. Gilda Santos – Suplente Universidade Federal do Rio de Janeiro _________________________________________________________________________ Prof ª. Dr ª. Paula Glenadel – Suplente Universidade Federal Fluminense Niterói, Rio de Janeiro Março de 2006 4 Agradecimentos A Ida Alves, minha orientadora, pela incansável generosidade com que respondeu às minhas dificuldades, tanto nos assuntos teóricos quanto nos percalços da vida, e por encorajar-me a afirmar, sem medo, as intuições que guiaram esta dissertação. A Maria Cristina Franco Ferraz, que não só me motivou a incursão pelo pensamento filosófico como ajudou a construir o substrato de meu modo de pensar. A Jorge Fernandes da Silveira, por seu contagiante amor à poesia, que, nos poucos encontros que tivemos, tanto me inspirou. A Paula Glenadel, por suas afinadas contribuições à leitura de Luís Miguel Nava. À minha mãe, por me segurar pelo braço sempre que me vejo sem chão e pelo interesse com que acompanhou este trabalho, lendo comigo página a página e trazendo ao diálogo suas animadas reflexões. Ao meu pai, pelo carinho dedicado nos momentos mais difíceis. Às minhas irmãs, Flavia e Claudia, por compartilharem comigo toda alegria do viver. A Laura, pelo sol nos pulsos. 5 Meu ideal, quando escrevo sobre um autor, seria não escrever nada que pudesse afetá-lo de tristeza, ou, se ele estiver morto, que o faça chorar na tumba: pensar no autor sobre o qual escrevemos. Pensar nele de modo tão forte que ele não possa mais ser um objeto, e tampouco possamos nos identificar com ele. Evitar a dupla ignomínia do erudito e do familiar. Levar a um autor um pouco da alegria, da força, da vida amorosa e política que ele soube dar, inventar. Gilles Deleuze 6 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO................................................................................................................ 9 2. UMA POÉTICA DA IMPUREZA.................................................................................. 14 3. DO EROTISMO À MORTE: CONDIÇÃO PARA A CRI AÇÃO.................................. 37 4. O MOVIMENTO DO MUNDO NO CORPO................................................................. 62 4.1. Da pele ao coração.................................................................................................. 73 4.2. Eu sintonizo a página à memória........................................................................... 91 5. CONCLUSÃO............................................................................................................... 120 6. BIBLIOGRAFIA............................................................................................................ 123 7 RESUMO Nesta dissertação, analisamos a obra poética de Luís Miguel Nava, partindo da compreensão de que sua escrita reverbera um vigoroso pensamento, cujas questões se voltam, sobretudo, para as possibilidades e condições do conhecimento. Criando uma linguagem muito particular, entremeando narrativa e reflexão sem jamais abrir mão do lírico, o poeta desloca os paradigmas científicos e põe em cena uma espécie inaudita de conhecimento. O esbatimento da dicotomia sujeito/objeto revela-se como condição do conhecimento, equiparando-se esse à criação. Nessa perspectiva, compreende-se que a criação de sentido emerge de um duplo movimento do mundo no corpo. O mundo adentra a profundidade orgânica, consubstanciando-se à memória, para depois retornar à superfície da pele. Palavras-chave: Luís Miguel Nava; poesia portuguesa contemporânea; conhecimento; memória. 8 RÉSUMÉ Dans cette dissertation, on fait l’analyse de l’oeuvre poétique de Luís Miguel Nava, comprennant que son écriture retentit une vigoureuse pensée, dont les questions se tournent, surtout, vers les possibilités et conditions de la connaissance. Créant un langage très particulier, emmêlant narration et reflexion sans jamais se passer du lyrique, le poète deplace les paradigmes scientifiques et met en scène une espèce inouïe de connaissance. L’ écroulement de la dichotomie sujet/objet se révèle comme condition de la connaissance, celle-ci assimilée alors à la création. À cet égard, on comprend que la création de sens émerge d’un double mouvement du monde dans le corps. Le monde pénètre la profondeur organique, se faisant consubstanciel à la mémoire, et puis revient à la surface de la peau. Mots-clé: Luís Miguel Nava; poésie portugaise contemporaine; connaissance; mémoire. 9 1. INTRODUÇÃO Ensina-nos a etimologia que na origem do sentido se entrelaçam noções de natureza afectiva e sensorial, do que ainda hoje a língua nos dá conta através de certas homonímias. Sentido será, nesta perspectiva, tudo o que nós percebemos, quer por via intelectual, quer através da pele ou através do coração. É, a meu ver, pelo que estes dois metonímica e metaforicamente recobrem que se afere a qualidade literária. (NAVA, 2004, p. 22) Se fizermos valer as considerações acima citadas, a qualidade literária de Luís Miguel Nava (como qualquer outra) só poderá ser avaliada segundo critérios que advenham daquilo que a pele e o coração recobrem metonímica e metaforicamente: o corpo, o sensível, a paixão, os afetos. Trata-se, sem dúvida, de uma poética do corpo, que nos afeta corporalmente, se nos deixarmos ouvi- la através da pele e do coração. Mas trata-se igualmente de um vigoroso pensamento, um pensamento poético do corpo. Não raro se tem dito dessa obra que ela ocupa no panorama da poesia portuguesa o lugar de uma excepcionalidade. Um primeiro traço constituinte desse quadro de exceção advém de uma tenacidade radical investida na busca de se fazer de uma descida aos abismos viscerais uma via de conhecimento do mundo. A esse respeito refere-se Antonio Ramos Rosa, quando constata em Nava uma “profundidade carnal, orgânica, que é talvez inédita em toda a poesia portuguesa” (Apud AMARAL, 1991, p. 159). Constatação que é endossada por outro crítico e também poeta, Ferna ndo Pinto do Amaral, quando afirma não conhecer “nenhum outro caso em que fosse levado tão longe o fascínio por essa carga visceral, por essa ‘palpitação das vísceras’” (AMARAL, 1991, p. 159). 10 No entanto, não é apenas pelo paroxismo a que conduz essa instigante e insólita presença do corpo na escrita que o nome de Nava ocupa um lugar à parte no panorama literário português. É também no que diz respeito ao desenvolvimento de uma linguagem muito particular que se reforça a compreensão dessa poesia como um caso excepcional. Nesse domínio, destacamos um ímpeto narrativo que freqüentemente se desdobra na composição de poemas em prosa, e um extremado rigor de construção textual, que se revela, muitas vezes, numa “construção frásica quase excessivamente elaborada e explicativa” (CRUZ, 2002, p. 283). Observa-se, portanto, que não é se deixando arrastar por um fluxo verbal não vigiado que Nava resgata as potências do corpo e do sensível. Nava escreve como quem busca uma ciência, o que não faz sem subverter todos os paradigmas científicos. Nesse sentido, seu principal questionamento diz respeito à “possibilidade de um objeto, enquanto entidade separada dum sujeito, poder ser por este conhecido, seja esse objeto o mundo ou o próprio eu” (NAVA, 2004, p. 220). No final das contas, as únicas semelhanças que lhe restam quanto ao modelo cientificista são mesmo a vontade de conhecer e o rigor com o que empreende o seu projeto. “Deslocando os paradigmas, os elementos daquilo que é comumente aceite, creio que temos já algumas hipóteses de nos aproximarmos, já não digo da verdade, que é uma coisa que não existe, mas dum outro sentido mais estimulante...” (NAVA, 1997: 148), afirma o poeta. Esta dissertação procura investigar os paradigmas deslocados pela escrita naviana, tendo como horizonte último a compreensão do sentido do mundo que daí emerge. Nosso objeto de investigação é a obra poética – cujas referências todas remetem para a 11 Poesia Completa (2002)1 . Mas o que buscamos aí apreender é o pensamento que a atravessa. Um pensamento que, por sua vez, se revela em outros textos que não os nomeadamente poéticos. A esse respeito, destacamos os ensaios críticos publicados em O pão a culpa a escrita e outros textos (1982) e Ensaios reunidos (2004). Faz-se revelador o modo como, ao referir-se a outras obras, é de seu próprio universo poético que está a falar, pois o que lhe salta aos olhos nos textos alheios é justamente aquilo que subterraneamente se inscreve em seus poemas: “Raramente escrevo sobre textos por que me não sinta atraído; a intenção com que falo sobre um livro é pois, antes de mais, apropriar-se dele ou, talvez melhor, legitimar uma apropriação que o meu desejo já entretanto tem levado a cabo” (2004, p. 219). Além dos ensaios, trazemos ao diálogo os fragmentos reunidos sob o título “Há uma espécie de asma mental em que sufoco” e a entrevista concedida a Maria Correia de Sousa, ambos publicados na Revista Relâmpago n°1 (1997). Recorremos igualmente a “O livro de Samuel – fragmentos”, o romance inacabado do escritor e revelado ao público no volume n°16 (2005) da mesma revista. Nota-se, nesse texto, a mesma força lírica que se encontra nos poemas em prosa, além de uma contundente reverberação das imagens mais expressivas da obra poética. Desse mesmo número da Relâmpago, valemo - nos da carta ao amigo Paulo Silveira. Convocamos, ainda, o texto autobiográfico “As escadas”, endereçado a Amadeu Lopes Sabino e publicado no Jornal de Letras, Artes e Ideias de Lisboa - JL 1 A fim de não poluir o corpo do texto, quando citarmos os poemas, indicaremos apenas número de página, ficando subentendida a referência a essa publicação. Quanto a citações de outros textos do poeta, indicaremos também ano de publicação. Somente para outros autores, a referência será completa (autor, ano, número de página). 12 (1995), no qual Nava desenvolve uma instigante reflexão sobre os procedimentos da memória, tão em consonância com o papel que essa desempenha em sua poética. Cumpre ressaltar o cuidado em manter nossa leitura rente ao texto poético, apenas fazendo apelo a outras fontes na medida em que acreditamos auxiliarem no aprofundamento de nossa análise. Inicialmente, trataremos de analisar os vínculos entre a forma peculiar de seus poemas e o pensamento neles expresso. Observaremos que sua escrita, ao redimensionar as relações entre o poético e o mundo, exige uma transgressão dos limites impostos pela classificação dos gêneros literários. Veremos que, mais do que questionar as possibilidades de conciliação entre realidade do poema e realidade extratextual, Nava repensa a noção mesma de realidade. Em seguida, verificaremos que o conhecimento efetuado por essa poética pressupõe o esbatimento da dicotomia sujeito/objeto. Daí seu parentesco com o erotismo e a morte, tais como compreendidos por Georges Bataille (BATAILLE, 2004). Mostraremos que a dissolução das formas constituídas, promovida tanto pelo acontecimento erótico quanto pela inscrição da morte, apresenta-se como condição para a criação. Aliás, como condição para a vida, já que a concepção dessa última acaba por sofrer também uma reformulação, equiparando-se a movimento; a morte, por sua vez, assimilando-se à inércia ou congelamento das formas. Assinalada a importância do movimento para essa poética, analisaremos, no último capítulo, por fim, os sentidos desse movimento. Veremos que o conhecimento, a criação e a vida têm como condição um duplo movimento do mundo no corpo: uma descida à profundidade orgânica, um retorno à superfície da pele. A noção de um sujeito centrado e 13 unificado será suplantada pela impetuosidade de um movimento que convoca, além da multiplicidade de órgãos que compõem o organismo, a multiplicidade de paisagens que afrontam o corpo. A memória, condensando toda essa multiplicidade, será a instância a que o poeta recorre no momento da escrita. Importa assinalar as referências teóricas que guiaram nossas reflexões. Apesar de serem poucas as referências apontadas no corpo do texto, o pensamento dos filósofos Friedrich Nietzsche e Gilles Deleuze perpassa e inspira toda a nossa leitura. Se um diálogo mais efetivo não transparece, é porque, embora reconheçamos uma consonâ ncia dessas filosofias com a poética em questão, não nos interessamos em traçar os possíveis paralelos. Ocupamo- nos, fundamentalmente, em enfrentar a potência do pensamento poético de Luís Miguel Nava. 14 2. UMA POÉTICA DA “IMPUREZA” A partir do momento em que há prática de escrita, situamo nos em algo que já não é inteiramente a literatura, no sentido burguês da palavra. Eu chamo a isso o texto, quer dizer, uma prática que implica a subversão dos gêneros; num texto já não se reconhece a figura do romance, ou a figura da poesia, ou a figura do ensaio. Roland Barthes Luís Miguel Nava publicou seis livros de poemas: Películas (1979), A inércia da deserção (1981), Como alguém disse (1982), Rebentação (1984), O céu sob as entranhas (1989) e Vulcão (1994) 2. Contamos com um total de 166 poemas. Dentre esses, 73 são em versos, 92 em prosa, somando-se, ainda, um poema misto 3. Isso significa que a composição em prosa é predominante no conjunto da obra. Nos três últimos livros, não só os textos em prosa se fazem significativamente mais numerosos, como também passam a ser cada vez mais extensos, sendo o maior de todos o intitulado “Os comedores de espaço”. Devido à extensão – ocupa quatro páginas 4 -, esse texto se afasta do que se entenderia mesmo por poema em prosa, aproximando-se já do conto. Um primeiro problema que essa obra nos coloca gira, portanto, em torno do questionamento acerca da classificação dos chamados gêneros literários5 . 2 Não incluimos nessa listagem o livro Poemas, uma reedição conjunta dos três primeiros livros. Referimo-nos, aqui, ao livro A inércia da deserção, pois, optando por considerá-lo como um único poema, temos de reconhecer que é composto por fragmentos em prosa e fragmentos em verso. 4 Combe atesta que “les poèmes em prose courants [...] excèdent rarement une page” (COMBE, 1989, p. 107). 5 Gastão Cruz assinala que a criação de “um género literário híbrido” tem, na literatura portuguesa, “sem dúvida, alguma tradição”, “na produção de um compromisso entre os traços narrativos e descritivos de certos textos em prosa e o seu teor inconfundivelmente poético, do Bernadim Ribeiro de Menina e Moça ao Raul Brandão de Húmus, ao Pessoa do Livro do Desassossego e ao Herberto Helder de Os Passos em Volta” (CRUZ, 2002, p. 284). 3 15 Para debruçarmo-nos sobre essa questão, recorremos, inicialmente, a um ensaio do próprio L.M. Nava, intitulado “Sobre a teoria dos géneros, com uma referência ao último capítulo de Alegria breve de Vergílio Ferreira”, cuja epígrafe é a mesma que abre este capítulo (NAVA, 1982, pp. 11-20). Nesse ensaio, tendo como referência central o livro Introduction à l’Architexte, de Gérard Genette, Nava acaba por esboçar uma concepção muito própria a respeito do lírico. E é exatamente isso que mais nos interessa, pois, a despeito dos gêneros a que possamos remeter a sua obra, é essa concepção de lirismo que mais nos ajudará a compreendê- la. Comecemos pelo breve resumo que Nava faz da questão levantada por Genette: Gérard Genette, neste livro, começa por dar conta dos modos por que através da História a questão dos gêneros tem sido posta, o que faz no intuito de mostrar como a origem aristotélica que os românticos atribuem à tríade lírico/épico/dramático é falaciosa. Com efeito, a divisão levada a cabo por Platão e reformulada por Aristóteles não só não incluía o lirismo – a que, confinado que este estava à música, a Poética tão pouco alude - como também não referia realidades cujo estatuto de algum modo se aproximasse do dos gêneros literários, tal como o Romantismo entendeu. [...] Recobrindo apenas a poesia (com o que a prosa era à partida excluída) mimética [...] o lirismo não era sequer considerado [...]. (1982, p. 12) Seguindo a argumentação de Genette, Nava arremata que os gêneros que os românticos gostariam de compreender como “formas naturais” não passam de “produtos duma contingência histórica”: “não há arqui- géneros que se furtem totalmente à historicidade conservando uma definição genérica” (1982, p. 13). Em seguida, o poeta anuncia o desafio a que se propõe: “Revelada a natureza falaciosa da concepção triádica posta em voga pelo romantismo, cabe-nos assumir essa impossibilidade e – quase diria: epistemologicamente – ensaiar uma abordagem outra” (1982, p. 14). 16 Diante da dificuldade de se estabelecer “fronteiras entre as diversas produções literárias, de molde a poder circunscrevê-las em gêneros”, Nava propõe a noção, assumidamente imprecisa, de “dimensões”. O poeta parece dizer que a delimitação de um sistema de gêneros e a questão de saber se um texto pertence a esse ou àquele outro gênero acabam por se revelar secundárias face ao fato literário propriamente dito. Por isso, não hesita diante da imprecisão que reconhece no termo dimensão por ele proposto: “Com toda a sua imprecisão, termos há que melhor dão conta de certas realidades que outros a que a rede do discurso em que se inserem circunscrevem de tal modo a significação que acabam por deixar escapar o que muita vez mais nos importa” (1982, p. 15). Na esteira de Käte Hamburger, Nava reduz a tríade lírico/épico/dramático a um par. Mas ao invés de, como ela, opor lirismo à ficção, o poeta prefere a “oposição entre lirismo e narrativa” (1982, p. 14). Como explica em nota, o termo ficção se lhe afigura “pouco rigoroso”, entre outras razões, “porque parece excluir do seu horizonte qualquer relação com a realidade” (1982, p. 14). É significativo notar que Nava faz questão de assegurar uma relação da narrativa com a realidade, e é por isso que se recusa a identificá- la com a ficção. Esse procedimento ressoa com aquilo que se desdobra em sua obra poética, cuja inegável dimensão narrativa é inseparável de uma referência à realidade – o que não poderemos compreender sem atentarmos para a redefinição que aí se opera quanto à noção mesma de realidade. Desdobraremos mais à frente essas questões. Por ora, destacamos que o lírico e o narrativo são as duas dimensões que lhe vão permitir uma abordagem das possíveis demarcações entre textos literários, “podendo então dizer-se de um texto que ele é (predominantemente) lírico ou narrativo, sem que tal implique a ausência nele da outra dimensão” (1982, p. 17). 17 Importa lembrar que a motivação dessas reflexões é a leitura do romance de Vergílio Ferreira, seguida da inquietação que lhe provoca a afirmativa de Robert Bréchon no Prefácio a esse livro, a de ser ele “igualmente um poema e uma narrativa romanesca”. Nava quer discordar de tal observação, o que chega a fazer apenas ao final do ensaio: “Chamar- lhe poema é que, entretanto, me não parece muito rigoroso” (1982, p. 20). O poeta parece preocupado em desvincular o lirismo daquilo que, “mais vulgarmente, é designado por poesia” (1982, p. 16), dando a entender que Alegria Breve é não um poema, mas uma narrativa impregnada de lirismo. De acordo com Nava, o lírico se faz presente toda vez que o texto vem “apelar para algo que excede o sentido determinado pela cadeia narrativa e é esse excesso o que, a meu ver, define essa dimensão da poesia” (1982, p. 16). O lírico é expressamente identificado a um excesso de sentido. E o poeta busca exemplificar essa noção: Lembro-me de que, quando li O Manto de Augustina Bessa-Luís, me comovi ao deparar, a certo passo de determinada descrição, com algo como “o rio descia, desembrulhando-se da névoa”. Não há neste fragmento nada que bloqueie o sentido instituído pelo texto: e contudo o verbo desembrulhar-se apela para muito do que por via emocional a nossa memória guarda, mais não sendo os momentos em que deliciadamente procurávamos vencer, em garotos, a distância que os papéis instituíam entre nós e os presentes que dos nossos pais acabávamos de receber. (1982, p. 16) Não há dúvidas de que é no verbo desembrulhar-se que se concentra a dimensão lírica reconhecida pelo poeta na passagem citada. Ora, o lírico, que se disse apelar para um excesso de sentido, agora se diz apelar para muito do que por via emocional a nossa memória guarda. Sem nos determos nessa segunda definição de lirismo, será importante, para desdobramentos futuros de nosso estudo, sublinhar que a apreensão desse excesso de 18 sentido, que caracterizaria o lírico, passa por via emocional - e não intelectiva - e é à memória que se recorre no momento de apreendê- lo. Desse modo definida a dimensão lírica, o poeta ensaia também circunscrever aquilo que caracteriza “o texto a que sinedoquicamente chamamos narrativo”, explicando concorrer para sua composição “três ingredientes: o narrativo, o descritivo e o reflexivo” (1982, p. 17). Ao descritivo caberia “o enquadramento espacio -temporal da narrativa” e ao reflexivo, “dar conta das posições do narrador em face do que vai enunciando” (1982, p. 15). O que Nava vem ressaltar é que nenhum desses dois ingredientes excede o sentido determinado pela narrativa. E mesmo que ganhem preponderância em relação ao fio narrativo, não estando ali apenas para auxiliá- lo, não é a eles que se deve uma possível irrupção do lírico: “qualquer dos ingredientes concorre para a construção daquilo a que atrás chamei sentido instituído pelo texto. Só quando no seu interior irrompe aquilo que de algum modo aponta para além desse sentido é que [...] estamos em presença da dimensão lírica, essa a que poetas como Mallarmé procuraram circunscrever a sua produção” (1982, p. 17). A amplitude dessa dimensão em Alegria Breve faz com que esse livro, “não sendo já um romance”, não tenha “ainda uma designação apropriada”. Mas não só a inserção do lirismo nesse texto narrativo vem balançar a definição dos gêneros. Segundo Nava, há ainda nele algo que o aproxima não já da poesia, mas do ensaio, a saber, a frase interrogativa: Pelo emprego da frase interrogativa se traduz, entretanto, algo que com o caráter narrativo se não liga muito bem. Contudo, se não participa ela de qualquer dos ingredientes de que dissemos revelar o texto narrativo, não é necessariamente ainda à dimensão lírica [...] que devemos atribuí-la. Mais me parece decorrer do fato, a 19 que Robert Bréchon alude no Prefácio, de “integrar na ficção um tipo de pensamento que habitualmente se exprime pelo ensaio”. (1982, p. 20) O livro de Vergílio Ferreira, aproximando-se tanto do lírico quanto do ensaístico, mantém-se predominantemente narrativo, e é por isso que, apesar da inadequação, se lhe continua a chamar romance. Ora, a obra poética de Luís Miguel Nava, aproximando-se, por sua vez, da narrativa e do ensaio, permanece predominantemente lírica – segundo a definição de lirismo que o próprio autor institui e que, então, adotamos – e é por isso que se diz obra poética e não outra coisa. A chave para compreendermos a convergência de dimensões textuais em sua obra é a análise da forma que se faz aí predominante, o poema em prosa. Um breve exame do contexto em que esse “sub-gênero” surge na história da literatura ajuda-nos a compreender um certo jogo de forças de que essa forma se faz o palco e que não é alheio à escrita naviana. Nesse sentido, é elucidativo o percurso de análise levado a cabo por Dominique Combe, em seu livro Poésie et récit, une rhétorique des genres, onde procura retraçar os caminhos pelos quais a modernidade literária se foi conformando sob uma reconfiguração do sistema de gêneros, superpondo à tríade épico / dramático / lírico a dicotomia prosa / poesia, ou, mais especificamente, prosa narrativa-dramática / poesia lírica (COMBE, 1989, p. 70). Segundo Combe, esse novo sistema de gêneros, dualista, resulta da exclusão do narrativo em poesia, defendida com rara obstinação por poetas tão diferentes quanto Mallarmé, Valéry e Breton. Essa mutação decisiva na demarcação do literário teria sido encetada por Mallarmé, quando, numa célebre declaração, em que se apresenta como portavoz de seu tempo, o poeta assinala: 20 Un désir indéniable à mon temps est de séparer comme em vue d’attributions différentes le double état de la parole, brut ou immédiat ici, là essentiel. Narrer, enseigner, même décrire, cela va et encore qu’à chacun suffirait peut-être pour échanger la pensée humaine, de prendre ou de mettre dans la main d’autrui en silence une pièce de monnaie, l’emploi élémantaire du discours dessert l’universel reportage dont, la littérature exceptée, participe tout entre les genres d’écrits contemporains [...]. (Apud COMBE, 1989, p. 11) A exclusão do narrativo, apenas esboçada por Mallarmé, será posteriormente ampliada e radicalizada, transformando-se numa exigência normativa do poético. O trabalho do poeta consistiria em depurar a linguagem, liberando-a de tudo aquilo que persiste em ofuscar seu estado essencial. É Paul Valéry quem, apoiando-se sobre a noção de “poesia pura”, se faz o mais destacado arauto da temática mallarmeana da exclusão. Poesia pura seria aquela exclusivamente lírica, não se definindo o lírico senão negativamente, como exclusão do narrativo. Combe observa, entretanto, que o narrativo se reveste de um valor simbólico, encabeçando uma lista de diversos outros termos a serem excluídos da poesia. Além da descrição e do didatismo, acrescenta-se, nessa espécie de lista negra, a variedade de termos que caracterizariam uma literatura representativa: mimesis, objetividade, referencialidade e realismo serão também objeto de recusa. Não nos esqueçamos que o romance realista era o gênero dominante à época de Valéry e que, enaltecer a poesia, por contraste ao romance, significava depreciar um certo uso da linguagem como representação da realidade. A purificação absoluta aparece mais como um ideal do que como um fato. A poesia pura constitui uma finalidade jamais alcançada, servindo apenas como um modelo a orientar a criação. O essencial da linguagem seria incompatível com a realidade sensível, e como as palavras, matéria da linguagem, fazem parte dessa realidade, o ideal da poesia pura nos enviaria, em última instância, a uma poesia sem palavras: “l’indicible ou el Pur, la 21 poésie sans les mots!”, diria Mallarmé. A lógica da exclusão revela suas aporias. Não é surpreendente, portanto, que, à mesma época em que se traça a antinomia entre poesia e narrativa, a primeira se definindo pela exclusão da segunda, se venham inventar formas de reconciliação, tais como o “poema em prosa”, o “romance poético” ou o “romance em versos” (COMBE, 1989, p. 91). Isso significa que a modernidade cria maneiras de negociar as próprias aporias que criou. Entretanto, alega Combe, o sistema dualista vigora, insistindo na fronteira entre os gêneros, e inscrevendo essas formas sob o signo da “impureza” (COMBE, 1989, p. 108). Nota-se que a concepção de lírico desenvolvida por Nava de modo algum participa da retórica da exclusão fundadora do novo sistema de gêneros. De acordo com o poeta, para que o lírico venha emergir não há que se excluir nada. Tudo pode estar ali, narrativa, descrição, ensaio, reflexão. O lírico é justamente o que excede tudo isso. O lírico é o excesso de sentido que pode irromper de qualquer forma de discurso. O poema em prosa parece admitir mais facilmente as dimensões narrativas, descritivas ou mesmo ensaísticas da linguagem. Observamos, contudo, que, na escrita naviana, as características facilitadas pelo poema em prosa acabam por se inflectir sobre o poema em verso, apenas encontrando no primeiro condições mais favoráveis para aflorar. Isso significa que as especificidades a diferenciar as duas formas de composição não dependem de uma rígida demarcação entre dimensões da linguagem, como se os poemas em verso viessem reclamar o estatuto de uma poesia pura entretanto recusado pelos poemas em prosa. Não raro, os poemas em prosa de Luís Miguel Nava adotam os signos mais evidentes de um texto narrativo. Os poemas em verso, mesmo quando admitem uma 22 dimensão narrativa, não se fazem paradigmáticos dela, esquivando-se de suas marcas mais tradicionais. Estamos considerando como textos tradicionalmente narrativos, aqueles em que os enunciados, compostos de sujeito e predicado (personagem e ação) encadeiam-se segundo uma cronologia e uma lógica, seguindo pressupostos de linearidade e causalidade, aqueles a que não se furtam indicações de lugar, tempo e pessoa. Assim, em “Lembrança de A. Morin”, faz-se inegável a presença de linearidade cronológica: “De bruços sobre o lavatório, abro a torneira, tapo o ralo, fico alguns momentos a ver correr a esperança, que vai enchendo aos poucos a bacia. Depois fecho a torneira [...]” (p. 203). A progressão temporal é indicada pela enumeração sucessiva de verbos de ação – abro, tapo, fecho -, e auxiliada por indicações temporais – alguns momentos, depois. Em “O grito”, é o emprego de verbos do passado, alternando-se em pretérito perfeito e imperfeito, que melhor elucida a dimensão narrativa: “Corria pela rua acima quando a súbita explosão dum grito o fez parar instantaneamente. Todo o seu corpo estremeceu ” (p. 233, grifo nosso). O recurso a um encadeamento lógico se pode notar, por exemplo, em “Crepúsculo”, patente na expressão de causalidade por causa disso: “Vira nessa manhã um abutre poisado sobre o lavatório. Por causa disso, esquecera-se da cafeteira ao lume [...]” (p. 261). Os exemplos citados fazem uso de certas fórmulas discursivas que nos permitem equipará-los genericamente ao que normalmente consideramos como narrativa. Interessanos, entretanto, verificar aquilo que a narratividade naviana tem de singular. Nesse sentido, já não nos restringimos aos poemas em prosa. Começamos por ressaltar que a configuração de personagens, fundamental para a composição narrativa, tem, aqui, um papel muito secundário. Vale notar que são poucos os casos em que os poemas se referem a personagens expressamente nomeados. Manuel e Virgínia são dois nomes (aliás de pessoas 23 reais, conhecidas do poeta) que aparecem, cada um, no título de uma composição versificada. Porém, no corpo mesmo dos poemas, os nomes não reaparecem e os personagens aludidos não se fazem sujeitos de nenhum enunciado narrativo. Além desses nomes, temos o personagem Agnelo (do latim, “agnellus”: cordeirinho), do penúltimo poema de Vulcão. Essa nomeação não nos parece fortuita, pois faz ressoar “os símbolos cristãos da Paixão, em especial os relacionados com a flagelação (pregos, coroa de espinhos, cruz)”, que, como bem nota Carlos Mendes de Sousa, se fa zem tão presentes no final da obra (SOUSA, 1997: 54). Isso indica que a existência desse personagem aponta para algo mais insondável do que uma mera ancoragem narrativa. Destacaríamos, ainda, as personagens Matilde, A e B, presentes nos “Poemas inéditos”, apenas publicados após a morte do escritor. Haveria que se acrescentar a esses parcos personagens expressamente nomeados, a figura do rapaz ou do(s) amigo (s), embora a particularidade desses deva ser, no próximo capítulo, mais atentamente analisada. Por ora, se nos afigura de maior interesse examinar o que está em jogo quando o sujeito do enunciado não é nomeado, mas indicado por um pronome. Primeiramente, cumpre compreender o que (não) está por trás dos pronomes pessoais eu ou ele6 . Em 6 Dentro do sistema triádico, costuma-se associar a cada um dos gêneros o papel predominante de uma das pessoas do discurso. Assim, à poesia lírica caberia a preeminência do eu, à dramática, do tu, e à épica do ele. Na modernidade, tendo a poesia épica se transfigurado no romance, caberia à prosa narrativa conceder ao ele o papel principal. Na escrita de Nava, estão presentes tanto o eu – que configuraria o lírico – tanto o ele – que se conformaria como personagem da narrativa - embora, como mostraremos, ambos se queiram remetidos aos indefinidos alguém e quem. Não nos referimos à presença do tu. Isso porque ela é bastante rara na obra, aparecendo apenas nos dois primeiros poemas - “nos teus ouvidos isto explode / de amor” (p. 37, grifo nosso); “rápidos / espelhos cercam-te explodindo os pássaros” (p. 38, grifo nosso) – e nos dois últimos - “‘Eu queria era que o diabo te levasse e nunca mais te pôr a vis ta em cima’” (p. 260, grifo nosso); “não foi sem dificuldades que este livro rompeu através dos interstícios do mundo até chegar às tuas mãos, leitor” (p. 265, grifo nosso). Essas duas duplas de poemas, que abrem e fecham a obra, se assemelhariam às cortinas de um teatro, que ao abrirem-se e fecharem-se, indicam o início e o fim da peça. Veremos que, sendo os primeiros livros marcados pela explosão erótica e os últimos pela sombra da morte, o palco se apresentaria vertiginosamente iluminado e se despediria engolfado sob as trevas. O trágico desfecho da vida de Nava – o 24 entrevista, Nava adverte: “Nem quando escrevo ‘eu’ estou a falar de mim ou, em todo o caso, a fazê- lo mais do que quando escrevo ‘ele’” (1997: 153). Tal afirmativa ecoa num poema: “Quando, por exemplo, eu digo ou escrevo eu ou ele, qualquer dessas palavras parte em busca de alguém a quem se ajuste” (p. 103, grifo nosso). Esses pronomes, quando aparecem nessa escrita, se remetem aos indefinidos alguém e quem. Aliás, não raras vezes, são esses mesmos diretamente convocados como sujeitos de uma ação: “[...] alguém / a quem o coração serve de rei / dispõe no tabuleiro as outras peças // [...] só / quem joga estima o peso em cada lance” (p. 136); “De quem ao coração vai buscar água / ninguém se lembra nem / de quem por tê- lo / pregado à pele mostra os seus pregos mais ferrugentos” (p. 144). Ocasiões há também em que a esses pronomes correspondem verbos que indicam já procedimentos intelectivos: “Há quem sugira que [...], quem pelo contrário admita que [...]” (p. 146); “Há quem nessas alturas [...] confunda” (p. 193). Se nos dois primeiros casos se pressente o ingrediente narrativo, para os últimos concorreria já o reflexivo, embora não estejamos aí diante “das posições do narrador em face do que vai enunciando”. Verifica-se, antes, uma consideração de perspectivas que o narrador apena s organiza. Mas, tratar-se-ia ainda assim de um narrador? Preferimos dizer que já se pressente aí a incursão de um ensaísta. A par da indefinição de pessoa tem-se muitas vezes uma indefinição temporal. Ao invés de situar um ponto preciso no tempo, o poeta se refere a momentos, ocasiões ou circunstâncias: “Momentos há em que [...]” (p. 170); “Há momentos em que [...]” (p. 180); assassinato brutal - faz retumbar o tom de despedida do último livro, que se fecha sintomaticamente pelo poema intitulado “Final”. Acaba por se travar, no corpo do poeta, uma impensável interseção entre vida e obra, cujas dimensões se fazem aterradoramente dramáticas. “Ignoro de que peça é todo este meu corpo a encenação perversa”, lê-se no poema “Teatro” (p. 145). 25 “Há ocasiões em que [...], alturas em que [...]” (p. 185); “Em certas circunstâncias [...]” (p. 185); “De vez em quando [...]” (pp. 108; 117; 187); “Às vezes [...]” (pp. 112; 113; 135). Imprescindível sublinhar que essa atmosfera de indefinição não corresponde a um desejo do poeta de anular o particular em vias de se alcançar o geral, o que seria o objetivo de um discurso cientificista. Mais do que da oposição particular/geral, estaríamos no domínio do par singular-impessoal: Em geral, os fantasmas só tratam o indefinido como a máscara de um pronome pessoal ou de um possessivo: “bate-se numa criança” se transforma rapidamente em “meu pa i me bateu”. Mas a literatura segue a via inversa, e só se instala descobrindo sob as aparentes pessoas a potência de um impessoal, que de modo algum é uma generalidade, mas uma singularidade no mais alto grau. (DELEUZE, 1997, p. 13) A escrita naviana buscaria, assim, explodir a noção de identidade. Se ali onde se encontra qualquer nome ou pronome pessoal se deixa ler o indefinido é porque mesmo os pronomes pessoais ou os nomes de pessoas não definem contornos identitários. E se, ao invés de um “naquela ocasião foi assim”, temos um “em certas ocasiões é assim”, esse “é assim” não vem colocar, no lugar de um evento particular, uma suposta lei geral. Ou, se há uma lei geral, se há algo que é sempre assim, o que essa lei postula é que as coisas mudam o tempo todo, que não há nenhuma essência imutável, que nada se mantém idêntico a si mesmo. Por isso, no poema “A memória”, que se inicia pela afirmativa “Assim é a memória” (p. 97, grifo nosso), o que se apresenta em seguida é não uma definição conceitual (o que se aprestaria a assegurar-lhe uma identidade), mas a descrição-narração de movimentos empreendidos pela memória: “abre um buraco, entra na terra”; “espalha-se à tona” (p. 97). E se, nesse momento, é a memória que constitui o sujeito da ação; em outros poemas essa função será concedida à pele: “A pele prende-se ao tempo [...]. Ao unir-se 26 assim às mais variadas épocas, a pele vai aos poucos adquirindo a configuração dum polvo [...]. A pele [...] às vezes fere a escuridão como uma faca” (p. 172); “A pele [...] dir-se-ia que me passa através das frestas que os pensamentos deixam abertas entre si, ou entre os pensamentos e a memória, e que por vezes os envolve [...]” (p. 193). Se quisermos assegurar uma dimensão narrativa para esses poemas, teremos que admitir que, nesses casos, pele e memória desempenham o papel de personagens. Ou então, concordando que aí se insinua uma dimensão ensaística, diremos que essas palavras se aproximam já de conceitos. Embora os indicativos de um texto ensaístico sejam menos definidos do que os que caracterizam a dimensão narrativa, podemos detectar alguns indícios discursivos que nos aproximam do ensaio. A respeito do romance de Vergílio Ferreira, Nava havia apontado um deslocamento operado pela frase interrogativa. Essa afastaria o texto da dimensão narrativa ao mesmo tempo em que o aproximaria do ensaio. Combe também afirma a incompatibilidade da narrativa com outras modalidades da frase que não a assertiva (COMBE, 1989, p. 41). O ensaio, tal como o próprio nome sugere, seria marcado pela especulação ou incerteza, tateando sobre hipóteses que não necessariamente vêm a ser comprovadas. É por esse viés que perscrutaremos as marcas ensaísticas dos poemas de Nava. A primeira marca será, portanto, aquela indicada pelo próprio poeta, a frase interrogativa. Certamente, não nos situamos no âmbito de uma dimensão narrativa quando se pergunta: “Quem como eu não sentiu já no corpo um dos seus órgãos a afundar-se?” (p. 96). É, entretanto, no poema “Lembranças” que o uso da interrogativa nos vem suscitar uma reflexão de cunho mais claramente ensaístico: “Como é que eu poderei sintonizar o 27 poema de maneira a que a espessura do papel não se insinue entre as suas inflexões e, a coberto da leve desfocagem a que a página o submete, o não invadam ruídos doutros textos?” (p. 212). Há que se considerar ainda o caso em que, mesmo se fazendo via uma personagem, o caráter especulativo da interrogação nos remete à dimensão ensaística: “Será também assim o pensamento, perguntou para si própria: algo volátil, capaz de embaciar um vidro?” (p. 261). Para a dimensão ensaística nos conduzem igualmente certas expressões que, vindo à frente da frase afirmativa, atenuam sua qualidade assertiva. Assim observamos, por exemplo, no poema “A exactidão das coisas”: “a um certo nível, podemos assim dizer que [...]” (p. 185). Entre as expressões atenuadoras da qualidade assertiva, “dir-se- ia que” é certamente a mais recorrente, aparecendo em vários poemas (pp. 189; 243; 246; 249; 257; 260). Ao lado dela, contaríamos com as irmanadas “é de crer que” (p. 196), “era de crer que” (pp. 241; 255), “seria de crer que” (p. 222); “é mesmo de crer que” (p. 265). A formulação de hipóteses, flagrada no uso do subjuntivo seria um outro traço a aproximar-nos do ensaio: “Talvez pudéssemos lavá- lo, este deserto, quem sabe, ou amarrálo, amordaçá-lo” (p. 160, grifo nosso). As expressões “talvez” e “quem sabe” contribuem para envolver a frase de uma atmosfera de incerteza que a distancia ainda mais da asserção que definiria a narrativa. Mas é sem dúvida no poema “A cor dos ossos” que a dimensão ensaística ganha maior amplitude. O poeta demonstra inquietação – “o fato impressionoume”; “o que, de tudo isso, mais me preocupa” - diante de algumas questões sobre as quais se põe a especular. Começa por erguer hipóteses: “Se me fosse possível ver na rua um osso ou um órgão meu (p. 174); “Talvez haja quem os tenha [os ossos] coloridos” (p. 175). E constrói suas especulações valendo-se de um encadeamento que se quer tão ostensivamente 28 lógico que, não fosse a dimensão lírica, nos diríamos enredados por um discurso afeito ao modelo científico: “O problema que daqui decorre é o de saber [...]” (p. 175); “Um outro passo a dar nos meandros desse raciocínio é o que nos leva a pôr a hipótese de [...]” (p. 175). Não nos prolongaremos na investigação de outras marcas discursivas da dimensão ensaística. Importante entender o jogo de forças que atravessa, dessa vez, a forma ensaio; um jogo de que, novamente, a escrita naviana não se isenta. A esse respeito, é o texto “O ensaio como forma” de Theodor W. Adorno a nossa principal referência. Assim como o poema em prosa é visto como uma forma impura, misturando poesia e narrativa, Adorno assinala que o ensaio também é marcado pela impureza, de sua parte mesclando o filosófico ou científico e o literário. De acordo com Adorno, o ensaio comporta motivo de desconforto diante de uma mentalidade que “pretende resguardar a arte como uma reserva de irracionalidade, identificando conhecimento com ciência organizada e excluindo como impuro tudo o que não se submeta a essa antítese” (ADORNO, 2003, p. 15, grifo nosso). O que o ensaio reclama frente ao discurso científico ou filosófico tradicional é aquilo que vem aparentá- lo à arte, ou seja, um desposar entre forma e conteúdo. O texto científico obedeceria a uma forma pré-determinada, invariável, jamais se flexionando ao sabor do conteúdo tratado. Segundo Adorno, a separação entre forma e conteúdo é correlata da rígida separação entre sujeito e objeto. O discurso científico, apostando na objetividade, parece acreditar que a integridade do objeto será tanto mais sólida quanto menos contar com o apoio da forma. “Como seria possível, afinal, falar do estético de modo não estético, sem qualquer proximidade com o objeto [...]?” (ADORNO, 2003, p. 18), indaga o 29 pensador. Concluímos que a forma se deixará impregnar pelo conteúdo tanto mais quanto o sujeito se deixar impregnar pelo objeto. Percebe-se que o jogo de forças que eclode tanto no poema em prosa quanto no ensaio diz respeito, em última instância, a modos de aproximação da realidade. Duas correntes do pensamento se embatem, uma que aposta numa abordagem objetiva da realidade, outra que reclama uma perspectiva subjetiva frente ao mundo, ambas perseguindo seu ideal de verdade. Há, de um lado, um discurso cientificista que, temendo contaminar-se por impressões subjetivas, quer-se afastar de todo indício do literário. E há, de outro lado, no campo literário, a retórica do lirismo purista que, temendo contaminar-se pela racionalidade objetivista representacional, recusa-se a partilhar qualquer marca da “inevitável ‘prosa do mundo’” (Inimigo Rumor, 2003: 4). Frente a todas essas questões, consideramos que a forma da escrita de Luís Miguel Nava, colocando-se para além das fronteiras entre os gêneros, responde a um pensamento poético que opera para além da dicotomia sujeito/objeto. Na perspectiva naviana, entendese que a realidade só se constitui no encontro do sujeito com o objeto e, portanto, não se apreende nem objetiva nem subjetivamente. A “impureza” do seu texto remete para uma certa concepção do poético e de sua relação com o mundo, que vem repensar não só as noções de referencialidade e representação mas também a própria concepção de realidade. Sobre isso, vale observarmos o contexto literário em que surge sua obra. Seu primeiro livro data de 1979, final de uma década em que a poesia portuguesa, animada por uma nova sensibilidade, reclama ímpetos de renovação. Vemos delinear-se uma proposta literária, mais explicitamente formulada por Joaquim Manuel Magalhães, que postula o 30 chamado (e discutido) “regresso ao real”7 . Magalhães procura se afastar dos paradigmas norteadores de alguns dos poetas surgidos na década de 60, seja o grupo da Poesia 61, seja o grupo da Poesia Experimental. O afastamento de tais paradigmas é encarado por alguns críticos como contestação de uma certa idéia de modernidade, que, em Portugal, teria atingido o seu apogeu justamente nas vanguardas de 60. A crítica parece oscilar entre decidir se tal contestação significa uma verdadeira ruptura, que conduziria a uma pósmodernidade, ou, ao contrário, um regresso, um retorno a certas características de uma escrita pré-pessoana, ou “pré-moderna” 8 . Se a definição moderna de poesia passa pela defesa da impessoalidade, por uma atitude anti-representacional e pela delimitação do poético ao espaço textual do poema, os poetas de 70 reclamam um lirismo de matizes vivenciais, em que a presença de elementos referenciais vem remeter a escrita a uma experiência extratextual. Luís Miguel Nava não reconhece nesse movimento, entretanto, nem ruptura nem regresso. “Não há qualquer ruptura entre a poesia iniciada nos anos 60 e a que viria revelarse na década seguinte”, afirma. E, em seguida, acrescenta que a linguagem com que os poetas surgidos no decênio de 70 “se apostaram, nas palavras de Joaquim Manuel Magalhães, em voltar ao real e ao coração, legaram- lha os primeiros depurada e apta a suportar a declaração sentimental e quotidiana sem que tal significasse um retrocesso” (2004, pp. 216-217). Segundo Nava, depois do surto vanguardista, não é mais possível ocultar que “por um lado, entre a linguagem e um eu que através dela se dissesse e, por outro, entre a linguagem e um real a que, de modo idêntico, ela se ajustasse existe uma 7 Mais do que a originalidade dessa proposta, cumpre observar as possíveis influências trazidas pela poesia espanhola coetânea, da qual Magalhães foi não apenas leitor, mas também tradutor. 31 inadequação irredutível” (2004, p. 306). Nava não deixa de admitir, porém, uma mudança de atitude das poéticas de 70 frente aos paradigmas vanguardistas: Se com a vanguarda se visou fazer ir pelos ares a representação [...], é duma espécie de compromisso com a representação que vai nascer o que é nos nossos dias importante. Consiste ele [...] em produzir de tal forma a representação que os mecanismos por cujo intermédio ela é levada a cabo simultaneamente se entremostram, impedindo assim um total efeito de realidade. (2004, pp. 306-307) Percebe-se que, se essa nova atitude não recai num projeto ingenuamente realista, é porque “transfere [...] o peso do que da realidade é convocado para o que condiciona a sua perspectiva” (2004, p. 294). Ora, se alguns críticos podem discordar dessa avaliação no que diz respeito a alguns dos poetas de 70, acreditamos que a poética naviana a aceita sem reservas. Pois reside justamente aí o seu projeto poético: mostrar as condições do conhecimento, os mecanismos através dos quais se dá a percepção, o modo pelo qual se constroem as referências e representações do mundo, o seu sentido. Mais do que mostrar o mundo, Nava procura mostrar a perspectiva a partir da qual vê o mundo. Compreende-se por que o poeta opta por incluir na orelha de seu penúltimo livro as seguintes palavras de Eduardo Prado Coelho: “Nava faz uma síntese admirável entre a preocupação com o rigor da construção textual dos anos 60 e o retorno a elementos explicitamente referenciais capazes de conferirem aos poemas uma outra densidade ‘realista’ (que pode, em certas circunstâncias, ser de tipo narrativo ou alucinatório).” Comentando este texto, Gastão Cruz faz a ressalva de que o caráter alucinatório de que fala Prado Coelho não se manifesta esporadicamente, mas é predominante nessa poesia. Gastão Cruz levanta então uma problemática que resumimos na seguinte questão: que caráter essa 8 A esse respeito, sugerimos a leitura da Revista Relâmpago n° 12 [Nova poesia portuguesa], 2003. 32 “densidade realista” ganha numa poesia que ergue diante do leitor a estranheza de um universo banhado pela mais insólita irrealidade? (CRUZ, 2002, pp. 282-283). A primeira observação a ser feita é a de que, se o insólito das imagens criadas sugere mesmo um caráter alucinatório, tal “alucinação” não é, todavia, fruto de uma escrita automática, que buscaria num jogo com o acaso suas relações inauditas (procedimento caro a algumas pesquisas surrealistas): “nada é por acaso em poesia”, sentencia Nava (2004, p. 310). Tratar-se- ia antes de uma alucinação aplicada, como disse Eucanaã Ferraz, uma alucinação que tem por fundo uma vontade de ciência (FERRAZ, 2004: 99). A sua poética nos sugere a idéia de ciência justamente porque a alucinação a que ela se aplica se funda numa vontade de conhecer o mundo: “Atei uma ligadura ao mundo. / Seguindo uma estratégia diferente, há quem o aparafuse, ajoelhando-se na terra, ou abra nele um olho, uma pupila” (p. 106). Entretanto, se não se trata de uma alucinação subjetiva, também não se trata de uma ciência objetiva. O conhecimento que a poética de Nava coloca em cena não é objetivo, porque “falar do que num objeto nos toca é impossível sem implicar no que dizemos aquilo em que ele toca – o nosso espírito” (1997: 12). E também não é subjetivo, porque “a uma luz que de nós próprios irradia, é impossível conhecer seja o que for” (p. 146). Tanto o objeto quanto o espírito irradiam forças próprias. E no espaço entre um e outro essas forças se confundem. É preciso recorrer então a um terceiro elemento, para dar conta dessas forças: “Cosida interiormente ao nosso espírito, a paisagem – como se com ele formasse um nó – jamais 33 por nós será compreendida” (p. 105)9 . Esse terceiro elemento seria a linguagem, a escrita poética: “Escrever é, para mim, tentar desfazer os nós, embora o que na realidade acabo sempre por fazer seja embrulhar ainda mais os fios” (p. 104)10 . Ou seja, se a escrita é uma tentativa de compreender o mundo, essa compreensão não passará pelo desatar dos nós que atam o sujeito aos objetos, mas por um entrelaçamento ainda mais radical. A escrita naviana recusa qualquer idéia de uma reprodução fiel do mundo. E isso porque compreende que a pretendida cópia não tem modelo. Ou melhor, se o modelo mundo exterior - existe, é desprovido de essência - e, mesmo que não o fosse, sua suposta essência nos seria inacessível. É a partir da noção de movimento que melhor podemos compreender a derrubada da concepção de mundo enquanto essência. Essência pressupõe fixidez, que as coisas perdurem tais como são, idênticas a si mesmas, alheias ao passar do tempo. Essência pressupõe também objetividade, que as coisas se apresentem tais como são, independentemente dos sujeitos que as percebem. No pensamento poético de Nava, o mundo aparece destituído de essência porque só existe enquanto movimento ininterrupto, assolado por incessantes transformações; não existe enquanto objeto, separado do sujeito. É o próprio fluxo temporal, no qual o mundo se encontra imerso, que lhe engendra sem cessar transformações e impossibilita a identidade das coisas. Dessa impossibilidade de fixação numa essência, nos dá conta o poema “A exatidão das coisas”: A exatidão das coisas, a plena adequação de cada uma aos seus contornos, é algo que jamais se verifica, indo de par a sua variável precisão com a maior ou menor proximidade a que se encontram do presente, dimensão ideal para que, nos seus arredores, todas elas tendem a seu modo, sem que alguma vez a possam atingir. [...] 9 Como advertência de que, nessa poética, o espírito não se opõe ao corpo, vale lembrar uma passagem de “O livro de Samuel” em que uma imagem muito semelhante se esboça, figurando o corpo onde ali figurava o espírito : “a paisagem [...] era no corpo uma visão indecifrável” (2005b: 22). 10 Importa notar que os dois poemas aludidos se encontram lado a lado na obra, em páginas subseqüentes, e que, portanto, o diálogo entre eles já era indiciado pelo próprio poeta. 34 Os seus contornos, mais ou menos inexatos, são pois fruto, em grande parte, da presença do futuro, que nelas, em ritmos e velocidades desiguais, encarna com um rumor às vezes quase imperceptível. [...] Atravé s dos objetos, de que, a um certo nível, podemos assim dizer que é uma componente essencial e impossível de isolar, todo o futuro flui na mira de um presente que incessantemente se desloca. (p. 185) Ainda em outro poema, alude-se à presença implacável do futuro: “uma substância na aparência cristalina mas em cujo seio as formas do presente se diluiriam todas” (p. 235). Os objetos do mundo jamais se isentam da ação do tempo e nem se fixam em alguma forma. Mais do que isso, não temos acesso a eles senão à medida que se transportam para o nosso interior e se fundem com o nosso corpo. Não há como averiguar um mundo exterior, independente de qualquer sujeito, puramente objetivo. Nava elucida esse ponto de vista citando Rodrigues Lobo: “Se algum bem a sorte escassa / me mostra, tal o hei-de ver / qual água toma o ser / da terra por onde passa; / qual toma a cor da vidraça / o sol que a traspassa, assim / são os bens chegados a mim” (Apud NAVA, 2004, p. 221). Assinalando a consonância desses versos com aquilo que se apresenta na obra de Fiama Hasse Pais Brandão, Nava afirma a respeito dessa última: À idéia segundo a qual há, por um lado, o mundo e, por outro, o seu sentido, opõese pois aqui o mundo enquanto sentido. Aquilo a que chamamos mundo mais não é, em suma, do que o desenho que se esboça sobre o vidro do que somos, desenho esse de que não podemos dissociar coisas como a consistência ou a textura material da superfície onde se imprime; e não se pense que esse vidro é um obstáculo: a ele e à sua força intrínseca se deve a ordenação do que sobre ele se delineia. (2004, p. 220) A concepção de subjetividade que aqui se esboça, como consistência ou textura material, vidro sobre o qual o mundo se desenha, em muito ecoa em sua própria poética. A imagem do vidro aparece aí diversas vezes. Em algumas circunstâncias, assimila-se ao espírito - “as vidraças do espírito” (p. 194); “parte envidraçada do seu espírito” (p. 142); “O real é um vidro pintado sob o sol berrante, as coisas prendem-se- me ao espírito” (p. 106). 35 Outras vezes, remete aos sentidos: “A realidade [...] desposara- lhe os sentidos até níveis antes insondados, atirara- lhe às janelas pedaços de mundo há muito soterrados, que ficaram momentaneamente colados aos vidros como formas irreconhecíveis” (2005b: 19). Um diálogo entre dois poemas confirma também a assimilação do vidro aos sentidos, assinalando-os como duas imagens permutáveis: “desfazem-se as lembranças contra os vidros” (p. 219), lemos no primeiro; e no segundo, mantendo-se a imagem de lembranças que se desfazem, os sentidos ocupam o lugar do vidro: “contra os sentidos se nos fazem e desfazem as ávidas lembranças” (p. 227). Num ensaio, sem evocar a imagem do vidro, o poeta retoma a idéia de imagens que se desenham no espírito: As coisas a que [...] a nos sa pele é permeável nem sempre são o que no nosso espírito acaba por desenhar a demorada meditação sobre o que daquele modo nos tiver mais do que tocado, penetrado. Se à imagem que estas palavras dão do que referem não quadra o nome de objecto, é justamente pelo modo como dela participa a pele de quem as usa. Trata -se, em suma, duma dessas imagens de que no fundo do nosso coração acaba sempre por ficar um resíduo, que tem que ver com a nossa pele, e é essa ‘impureza’ o que antes de qualquer coisa compromete a fixidez dos contornos. (2004, p. 340) Aqui, se a imagem se desenha no vidro do espírito, a consistência ou textura material que se mistura ao objeto e lhe destitui de sua suposta pureza é a pele. Percebe-se, portanto, que a noção de subjetividade remet e a um só tempo, e sem fazer- lhes oposição, ao espiritual e ao corporal. Mas o que nos interessa é sublinhar a impureza que o vidro do que somos impõe aos objetos que percebemos. Sem essa impureza, informa- nos o poeta, não haveria percepção. E se o mundo que se nos apresenta, ao traspassar o vidro do que somos, se faz indissociável da substância que daí extrai, o mundo que reapresentamos traspassa também, embora em sentido inverso, o mesmo vidro: “Escrever é fazer passar as palavras através de um vidro, sem as destruir. De um vidro, de um muro, de substâncias de que elas 36 se apropriam e cujas qualidades trazem para a página, de que, quando não perecem, saem robustecidas” (2005a: 1). A realidade que vem à página é duas vezes “impura”, pois passa duas vezes pelo vidro, no momento da percepção e no momento da escrita. Conclui-se que, sem essa impureza, também não haveria poema. 37 3. DO EROTISMO À MORTE: CONDIÇÃO PARA A CRIAÇÃO Vontade de amor: isto significa disposição, também, para a morte. Friedrich Nietzsche Na minha vida há espaços, breves aberturas, através das quais passa a minha morte, a terra da minha sepultura. Luís Miguel Nava O pensamento poético de Luís Miguel Nava, ao perscrutar as condições do conhecimento, vem abalar as premissas de que se quer valer o conhecimento de tipo tradicionalmente científico. Como vimos, se a ciência tem como um de seus principais fundamentos a dicotomia sujeito/objeto, o conhecimento que a poética naviana coloca em jogo está longe de pressupor um sujeito conhecedor apartado de um objeto a ser conhecido. “Não nos podemos esquecer daquele sentido bíblico do verbo ‘conhecer’ que o liga ao ato sexual” (1997: 151), alerta-nos o poeta. Nesse modo de conhecer, o sujeito não impõe sua luz ao objeto, mas avança em sua direção, para invadi- lo ou deixar-se invadir por ele. No ato de conhecimento, sujeito e objeto se fundem, deixando de existir como instâncias opostas e delineadas. “É que o sujeito é um vazio que só pela posse dum objeto, com o qual se funde momentaneamente [...], alcança a plenitude” (2004, p. 35). Poderíamos afirmar que, para Nava, conhecer o mundo é, em última instância, desvelar sua potência erótica, confundir-se ou fundir-se com ele. Fazemos do erotismo, como sugere Nava, “uma idéia mais lata, na medida em que toda a nossa relação com o mundo está de alguma maneira imbuída de erotismo” (1997: 38 151). Tendo em mente uma concepção de erotismo mais alargada, trazemos ao diálogo algumas das célebres reflexões de Georges Bataille. Reflexões, aliás, que não passaram desapercebidas pelo poeta e das quais o mesmo se serve para abordar alguns aspectos da obra de Artaud (cf NAVA, 2004, pp. 51-52). Para retomarmos a concepção que Bataille faz do erotismo, precisamos nos deter sobre duas noções que a acompanham, a de continuidade e de descontinuidade. Segundo o escritor francês, somos seres isolados, individuados, descontínuos: “entre um ser e outro há um abismo, uma descontinuidade” (BATAILLE, 2004, p. 22). Ao mesmo tempo em que aspiramos preservar nossa duração como ser individuado, nossa existência pessoal, sentimos uma nostalgia por uma continuidade primeira. O isolamento é fonte de sofrimento e por isso queremos rompê- lo. A imortalidade não é desejável porque significa a manutenção ad eternum do isolamento. A morte, por sua vez, aparece como uma manifestação da continuidade. No entanto, não é preciso morrer para desfrutar dessa condição. Há algumas experiências, em vida, capazes de criar um sentimento de continuidade profunda. São essas as experiências suscitadas pelo erotismo, e também, acrescenta Bataille, pela poesia: “a poesia leva ao mesmo ponto que cada forma de erotismo, à indistinção, à confusão dos objetos distintos” (BATAILLE, 2004, p. 40). Ora, em Nava, o conhecimento é entendido como uma relação erótica justamente porque implica uma dissolução das formas sujeito e objeto. Conhecer o mundo, na perspectiva naviana, é estar em continuidade com ele, anulando os limites que proíbem a confusão entre os seres. Trata-se, como veremos, de um projeto de conhecimento que coloca em jogo, a um só tempo, as três esferas que Bataille associa à experiência da continuidade: a poesia, o erotismo e a morte. 39 Como contraponto a essa espécie de conhecimento como apreensão erótica do mundo, recorremos à irônica denominação que o filósofo Friedrich Nietzsche atribui ao conhecimento do tipo científico, neutro, imparcial, objetivo. A esse tipo de postura diante do mundo o filósofo dá o nome de imaculado conhecimento 11 . Os “imaculados buscadores do puro conhecimento” são aqueles que desejam acariciar a beleza da terra “somente com os olhos”, que não anseiam das coisas senão “o direito de deitar-se diante delas como um espelho de cem olhos”, que contemplam “a vida sem desejos”, com “a vontade morta”. A esses “hipócritas melindrosos” lhes falt a “a inocência do desejo”, a “vontade de procriação”. Ao afirmar que o olhar contemplativo é um olhar castrado, Nietzsche arremata que o imaculado conhecimento jamais dará à luz coisa alguma. Distinta forma de conhecimento seria aquela operada por quem nã o tem vergonha de “obedecer às próprias vísceras”, que proclama seu “amor à terra” e possui “inocência e desejo de criar”. Acepção que se torna mais instigante quando se afirma que a inclinação a essa espécie de conhecimento, assimilada a uma vontade de amor e procriação, requer do conhecedor uma experiência radical, algo que se traduziria numa disposição para a morte “amar e morrer: as duas coisas harmonizam-se desde a eternidade”. Para conhecer é preciso extinguir-se. Extinção que pode ser entendida como destruição ou, como nos interessa compreender, como transmutação. De um modo ou de outro, aos afeitos do conhecimento criador, faz-se imprescindível o desapego da identidade ou das formas constituídas. Nava parece compartilhar essa idéia, ao sentenciar que “quem é dominado pela sede está de 11 Referimo -nos ao capítulo “Do imaculado conhecimento”, da segunda parte de Assim falou Zaratustra (NIETZSCHE, 1995, pp. 134-136), de onde retiramos as citações que, em seguida, passamos a fazer. 40 algum modo privado de sua identidade”, pois “o desejo implica essa expulsão do eu” (2004, p. 35). Se preferimos a idéia de transmutação à de destruição é porque entendemos que a dissolução do sujeito, mais do que um impulso de morte, se apresenta como imprescindível ao ato criador. Aquele que se dissolve no ato do conhecimento erótico não o faz sem o desejo de procriação. Nava não foi insensível ao vínculo entre conhecimento e nascimento, chamando a atenção para o acaso revelador que se faz presente na constituição da palavra francesa connaissance (conhecimento) - “co-naissance” (co-nascimento) (2004, p. 35). Aqui, conhecimento conforma um novo sentido e significa também co- nascimento. Conhecer é nascer com. Nietzsche compara os buscadores do imaculado conhecimento à lua, “esse tímido noctâmbulo”, que se limita a observar a terra com seu olhar frio e distante, e nos oferece o sol como o correlato de um desejo ardente 12 . Numa imagem em que o cosmos inteiro parece mergulhado num fulgor erótico, o filósofo-poeta descreve o sol a desposar o mar: Olhai lá, como o sol vem impaciente sobre o mar! Não sentis a sede e o hálito abrasado do seu amor? O mar quer sugar e levar consigo para o alto, bebendo-a, a sua profundidade; e, então, o desejo do mar ergue-se com mil seios. Beijado e sugado quer ser ele pela sede do sol; ar, quer tornar-se, e altura e vereda de luz e, ele mesmo, luz! Em verdade, tal como o sol, eu amo a vida e todos os mares profundos. E é isto, para mim, o conhecimento: tudo o que é profundo deve subir – à minha altura! Assim falou Zaratustra. Não resistimos a reproduzir tal passagem em sua integridade, pois diversas nos parecem ser suas ressonâncias com o pensamento poético de Luís Miguel Nava. Mas, antes 41 de buscar os pontos de contato com sua obra, gostaríamos de trazer à baila outra imagem que fulgura na mesma constelação. Trata-se de um poema de Rimbaud, a que Bataille refere, na tentativa de “tornar mais sensível a idéia de continuidade”: “Elle est retrouvée / Quoi? L’eternité / C’est la mer allée / Avec le soleil” 13 . A eternidade se fundaria na continuidade, na indistinção dos seres, na união do mar com o sol. A essa eternidade a poesia nos leva, afirma Bataille (2004, p. 40). Ao encontro dessa idéia, destacamos uma afirmativa de Nava: “todo o acto poético é uma cosmificação” (2004, p. 40) e um poema seu, de apenas um verso, intitulado “Ars poética”: “O mar, no seu lugar pôr um relâmpago” (p. 44). Podemos pensar que, se há procriação do encontro erótico do sol co m o mar, o seu fruto é o relâmpago (o mar quer ser sugado pela sede do sol e tornar-se ele mesmo luz), esse súbito clarão que não raras vezes fulgura no universo imagético em questão. Perspectiva que se torna ainda mais inquietante se lembrarmos que o rapaz, personagem fulcral dos poemas de inclinação mais explicitamente erótica, é, pelo autor, assimilado a um relâmpago: “um rapaz e um relâmpago são a mesma coisa” (1997: 151). Tratar-se-ia de um rapaz-relâmpago, em cujo corpo também incidem o sol e o mar, tal como nos dão notícia os poemas “Na pele” e “Rapaz”. No primeiro, referindo-se aos “rapazes que circulam por Lisboa no verão”, afirma-se que “o mar está- lhes na pele” (p. 95). No segundo, fala-se de um “rapaz pelo interior / de cuja pele o sol surge antes de o fazer no céu” (p. 86). A esse respeito, vale observar o poema “Os pratos na balança”: 12 Assimilação que se faz presente também na poesia de Eugênio de Andrade: “não é o desejo / o amigo mais íntimo do sol?” (Apud NAVA, 2004, p. 129). 13 Em tradução de Ivo Barroso, lê-se: “Achada, é verdade? / Quem? A eternidade. / É o mar que se evade / Com o sol à tarde” (Apud BATAILLE, 2004, p. 40) 42 Por entre as rochas um rapaz, nas mãos levando uma balança, avança em direção ao mar. Vai procurar pesá-lo. Num dos pratos, o mar há de revolver-se, debater-se, rebentar, há -de trazer à superfície a força das entranhas e atrair o céu, há-de-o fazer precipitar até com ele se confundir, e as próprias rochas através das quais o rapaz segue hão-de pesar no prato ferozmente. Imperturbável, o rapaz colocará no outro prato o seu sorriso. (p. 137) O rapaz equivale a um relâmpago, mas equivale também à fusão do céu com o mar. Tão inusitadas comparações ou equivalências nos suscitam averiguar o estatuto desse rapaz, suposto “objeto” do desejo erótico. Em entrevista, o poeta explica que “a personagem do rapaz que tanto surge nos [...] primeiros livros” não “corresponde a alguém de especial” (1997: 153). E, em outro momento, declara que tem “imensa pena”, “antes de mais, e sobretudo, por não poder falar daqueles que amo. Por não poder manifestar-lhes a amizade que lhes devo, ou simplesmente a exaltação de com eles partilhar certos momentos. Se o Dante fosse como eu, ninguém hoje teria ouvido falar da Beatriz” (1997: 152). O poeta lamenta não falar de quem ama. Esse silêncio corresponde, entretanto, menos a uma incapacidade afetiva ou a um desejo de ocultação das relações homoeróticas do que a uma opção estética: esse amor não lhe parece interessar à poesia. Um sujeito que deseja possuir o objeto amado não é assunto para a sua escrita. A esta interessa o acontecimento erótico, aquele em que as noções de sujeito e objeto se desmoronam, em que não há posse, mas despossessão. Nesse sentido, o poema “O olhar do peixe” (apenas publicado postumamente) é elucidativo. Diante do amigo, laconicamente denominado A, no qual mantém “um dos olhos”, o outro voltado para o “o bloco de notas”, B tenta rabiscar “algumas frases apressadas”, para logo em seguida desistir: “Mas não, com aquele drama amoroso ele não poderia fazer nada, nem com o rapaz do fio de ouro, nem com o estrangeiro de shorts e câmeras de vídeo” (pp. 269-271). Ao leitor é anunciado que “a 43 conversa deles [...] era muito aborrecida”, A “repetia vários bordões” e B, na altura dos seus cinqüenta anos, constatava que “passa-se meio século e os sentimentos continuam a ser os mesmos”. Talvez o único interesse de B por aquele “mocetão duns vinte anos”, “bem constituído, entroncado, prenunciando através de algumas das partes- fetiche do seu corpo (os dedos, o pescoço, o nariz), ocultas partes igualmente abastadas”, não passasse de um desejo de posse sexual. De todo modo, somos levados a crer que se trata de um encontro demasiado imbuído do senso comum, seja no plano dos sentimentos, dos bordões de linguagem ou das partes- fetiche do corpo. Aí, apesar de haver atração sexual, o erotismo parece estar ausente. Não são abaladas as formas constituídas, não há espaço para a criação. É, entretanto, num registro radicalmente distinto, que vem surgir a figura do rapazrelâmpago. Aqui, “a intensidade do rapaz é então tal que é ele quem põe em branco a página” (p. 49). O rapaz assemelha-se menos a um “objeto” de desejo do que à própria concretização do encontro erótico. Faz-se curioso lembrarmos uma outra passagem de Nietzsche, dessa vez, do livro Genealogia da Moral, em que combate a concepção de um sujeito já dado, voluntarista, dotado de uma essência. Nesse texto, o filósofo adverte-nos quanto aos “sedutores erros da linguagem, segundo a qual todo efeito está condicionado por uma causa eficiente, por um ‘sujeito’”: “A plebe distingue entre o raio e o seu resplendor por considerar este resplendor como uma ação do sujeito raio [...]. Mas não há tal substratum , não há um ser por detrás do ato: o ato é tudo” (NIETZSCHE, s. d, pp. 46-47). Tal concepção nos ajuda a ensejar a idéia de que a assimilação do rapaz ao relâmpago acaba por desestabilizar qualquer tentativa de fixar numa identidade uma das 44 partes do encontro amoroso 14 . Pois o que ganha relevo não é o suposto objeto de desejo, mas o fulgor do ato erótico e a possibilidade que daí decorre, de fusão entre os seres, de acedência do descontínuo ao contínuo. Não é por acaso que a aparição do rapaz se faz insistentemente numa esfera de indistinção dos elementos vislumbrados. Não poucas vezes, o rapaz é palco de uma cosmificação do corpo humano ao mesmo tempo em que procede a uma antropomorfização da natureza: “Esse rapaz as suas próprias veias / o amarram à manhã (p. 47)”; “O macho cujo peito em poderosos / e lentos haustos é / para Melville o mar/ do sol servem- lhe os raios de cabelo” (p. 48); “É possível / atar- lhes o horizonte entre os cabelos e acariciá- los/ ainda uma vez mais” (p. 60); “Chamando a esse rapaz / rebentação, / o céu rasga-se à volta dos seus ombros” (p. 88). Através de uma leitura guiada pela ordem cronológica de publicação, nota-se que a presença do rapaz vai se escasseando ao longo da obra, a ponto de desaparecer nos dois últimos livros. Entretanto, não se pense que a fusão ou indistinção dos seres, antes provocadas pelos encontros eróticos, venha se retirar de cena. O desejo de indistinção ou de fusão com o mundo aproximar-se-á, cada vez mais, de uma dissolução absoluta através da morte. A esse respeito, vale analisarmos alguns versos do poema “A fome”, do último livro, Vulcão. Aqui, onde a mão não alcança o interruptor da vida, aqui só brilha a solidão. [...] aqui a solidão não brilha, apenas se estorce. A fome fala através das feridas. (p. 219) 14 “Mas o que é, precisamente, um encontro com alguém que se ama? Será um encontro com alguém, ou com animais que vêm povoá-los, ou com idéias que os invadem, com movimentos que os comovem, sons que os atravessam?”, indagaria o filósofo Gilles Deleuze (1998, p. 19). 45 Se o rapaz fulgurava como um relâmpago, testemunhando um excesso de vida, a solidão se associa a um só tempo à escuridão e à morte. Pois, mesmo num primeiro momento, em que se afirma que a solidão brilha, a vida, entretanto, não se acende. A escuridão se faz enfim definitiva, quando o poeta termina por se corrigir: “aqui a solidão não brilha”. Rapaz-relâmpago, solidão-trevas. Tudo apontaria para um sofrimento de matizes melancólicos, não fosse o último verso: “a fome fala através das feridas” (p. 219). A melancolia, ou ausência de desejo, adviria se, na solidão, o poeta se visse forçado a fechar-se sobre si mesmo, impossibilitado de uma fusão com o mundo. Entretanto, a fome ou a sede que se manifestavam no desejo sexual investido no rapaz-relâmpago - “[...] se poucos / amigos há para falar / dos quais me sirvo de relâmpago, de todos / é ele o que melhor vai com a minha fome” (p. 61, grifo nosso); “servindo-me os relâmpagos de sede ” (p. 69, grifo nosso) – falam agora através das feridas, prenúncio da morte. Fome ou desejo de anular as barreiras entre os seres, não importa se através do erotismo ou da morte. Em ambos os casos, o que se procura é, mais uma vez, uma ruptura do isolamento. Nava parece concordar com Bataille, quando esse afirma que a descontinuidade ou individuação do ser é fonte de sofrimento. Nesse sentido, uma carta do poeta se afigura esclarecedora. Referindo-se à própria imagem refletida nas águas de um rio, Nava conjetura: “a minha imagem decerto se sentiria muito mais à vontade naquele elemento líquido do que eu, de cá de fora a olhá-la. [...]: ali mergulhada, mais funda do que o próprio fundo das águas, a minha [imagem] certamente estabeleceria com o meio uma relação bastante mais harmoniosa do que eu” (2005: 80, grifo nosso). No fundo das águas, a imagem estabelece com essas uma relação de continuidade. A própria indefinição dos contornos das imagens assim refletidas nos dá conta disso. Tratar-se-ia de uma mesma 46 matéria, que apenas por uma gradação de luz e cor se distinguiria. Mas do lado de fora, à superfície das águas, o corpo mantém seus limites bem definidos, isolando-se e alheando-se do mundo. Na mesma carta, o poeta dirige-se ao amigo e declara: “Tu [...] és para mim o ponto de ancoragem ao real, à superfície do qual eu antes resvalava como uma peça solta, qualquer coisa que tivessem deixado cair dentro duma máquina a que não pertence” (2005: 80-81, grifo nosso). À superfície do real, um sentimento de inadequação ou não pertencimento prevalece. O amigo serviria então de ancoragem, atando o poeta a uma espécie de profundidade onde, talvez, as formas se confundiriam. Se pudermos atribuir ao rapaz dos primeiros poemas a mesma função que o amigo, nessa carta, diremos que ele representa a possibilidade de fusão ou indistinção entre os seres. Precisamos analisar, agora, como, na ausência do rapaz, a morte passa a cumprir esse papel. Se o erotismo das primeiras publicações se fazia acompanhar, assim como bem assinalou Gastão Cruz, de uma “luminosidade abrupta e fortíssima”, da qual o relâmpago se afigurava como paradigma, o percurso posterior vai nos encaminhando “a uma mistura de luz e sombra, até a treva total” (CRUZ, 2002, p. 286). Tudo se passa “como se, a partir de dada altura, um pincel tivesse começado a passar sucessivas camadas de tinta preta”, pois “tudo [...] enegrecia velozmente” (pp. 260-261). É revelador observarmos que, quando a figura do rapaz vai se eclipsando, o sol vai sofrendo igual destino. No livro Rebentação, uma seqüência de três poemas nos dá notícia desse apagamento: “O sol é subterrâneo, [...] é preciso cavar bem fundo até o fazer surgir” (p. 138); “O sol declina-me no espírito” (p. 139); “Ao sol começa a faltar lenha” (p. 140). A partir de então, quando faz sua aparição, não é mais do que “um sol sem crédito” (p. 226). A sua luminosidade parece depender não apenas de uma qualidade intrínseca, mas das 47 articulações que com outros elementos possa estabelecer. “O sol não alumia senão em função duma certa linguagem, desinserido da qual tudo são trevas” (p. 190) e as “palavras de cujo sentido o próprio sol precisa para brilhar” estão bloqueadas ao poeta (p. 189). O texto a que era “preciso de habituar o olhar como a uma luz mais forte” (p. 67) carece agora ser iluminado por uma candeia: “Poisei na margem desta folha uma candeia, para que se tornassem mais claras as palavras deste texto” (p. 169). Ainda no mesmo livro, também o mar começa a ver minguada a sua imponência: “o mar ligado / por cem mil cordas ao meu leito, // reduz-se a poucas vagas” (p. 142). Não podemos deixar de detectar aí um esmaecimento da intensidade erótica: Há no mar uma energia, visível no contínuo movimento das correntes, das marés, mas sobretudo das vagas (a rebentação, que daria o título a um dos meus livros, é um fenômeno idêntico a um relâmpago), que faz dele uma coisa extremamente erótica e daí que também apareça várias vezes associado à pele. (1997: 151) “As águas tumultuosas”, que, também segundo Bataille, fazem lembrar “a ação erótica” (BATAILLE, 2004, p. 36), afiguram-se agora como uma ameaça. Assim, no poema “Os rostos náufragos”, ao mar ou ao erotismo se associa a idéia de afogamento: O que eu do mar conheço, devo-o contudo, mais do que a qualquer outra experiência, a corpos onde a nitidez de suas águas ultrapassa muitas vezes a dos próprios traços fisionômicos: não raro, basta uma breve carícia, ou outro contato ainda mais discreto, para sentir como são avassaladoras essas águas, à superfície das quais parecem prestes a afundar-se os rostos náufragos. (p. 159) Também em “Lembranças”, ainda em relação a essa ameaça, o poeta se diz “aproximar do mar com passos vacilantes, dando ao meu pai uma das mãos e a outra ao terror de me saber tragado em breve por aquela imensa massa de água a espumejar à minha frente” (p. 212). É como se o mar, ao desprender-se de seu halo matinal, se entregasse a um 48 “boca a boca com as trevas” (p. 241). Mas o caráter ame açador das águas não é exclusivo do mar e, no momento em que começa a se manifestar, evoca também a imagem, até então ausente, do rio. Assim, em “Um rio”, alude-se à possibilidade de que “as endemoninhadas águas por completos nos afoguem” (p. 187), e, em “Naufrágio”, faz-se referência a “um rio onde os meus ossos naufragassem” (p. 194). Curioso observar que, no mesmo livro, O céu sob as entranhas, em que a imagem do rio pela primeira vez aparece na obra (em quatro poemas), o tempo, “que já tanto compararam a um rio” (p. 221), faz-se uma presença igualmente recorrente, e não sem que se evoque sua dimensão também ameaçadora. Numa entrevista, referindo-se a esse livro, o próprio poeta sublinha: “O tempo é, com efeito, muito presente nesta obra, que a ele deve uma tonalidade algo sombria. O livro termina com a constatação de que ‘o tempo tudo apaga à minha volta’” (1997: 151). “O tempo tudo apaga à minha volta” é justamente o último verso desse livro e, se atentarmos, como faz Carlos Mendes de Sousa, ao “princípio organizador” com que o poeta estrutura toda a sua obra, esse fato torna-se mais relevante (SOUSA, 2004, p. 7). Pois “o tempo, neste livro, é justamente isso, essa ameaça, que eu não fui capaz de nomear doutra maneira, mas que nos coloca na iminência da destruição” (1997: 153). É sob a luz dessas considerações que assimilamos o aparecimento da imagem do rio à consciência de um fluxo temporal implacável. Em verdade, já não importa se se trata de um rio ou da água a escorrer da torneira de um lavatório, como no poema “Lembrança de A. Morin”. O que se afigura incontornável é o escoar das águas, “sem regresso em direcção ao caos” (p. 203). Parece que não há nada a fazer em favor das “partes do meu corpo mais expostas à devastação das águas” (p. 195); “Começam / os anos a pesar / mais para trás que para a frente” (p. 229); “é sobre a pele, evidentemente, que as 49 suas marcas primeiro são visíveis” (1997: 151); “O coração é o tempo, a pele as margens” (p. 172). No livro seguinte, Vulcão, a imagem da balança retorna. E é interessante observar a substituição de um dos elementos a pesar nos pratos. Se, como vimos, o poema “Os pratos na balança” sugeria relações de equivalência entre o rapaz e o mar, agora o que se pretende verificar é a possibilidade desse último contrabalançar o peso do rio: “Num dos pratos o mar, no outro um rio” (p. 221). Se substituirmos os termos “mar” e “rio” por aquilo a que metaforicamente aludem, podemos dizer que a potência erótica disputa seu peso ao curso irremediável do tempo. E não poderemos deixar de perceber que o rio, ou o tempo, encarna, aqui, a inevitabilidade da morte. O que se procuraria medir seria, portanto, não o peso, mas a capacidade de promover a indistinção das formas ou a dissolução do sujeito, a capacidade de promover a continuidade entre os seres. O desdobramento de Vulcão nos levaria a crer que, verificada a equivalência, nos pratos da balança, entre o erotismo e a morte, é sobre essa última que se decide então investir. Restaria observar outros destinos a que concorrem as águas, também nesse último livro. Um exemplo nos oferece o poema “As trevas”, em que, distante do esplendor do movimento das marés ou da implacabilidade do fluxo dos rios, as águas aproximam-se da imobilidade, abandonando o estado líquido para petrificar-se: “aqui ninguém ignora / que os lagos gelam a partir das margens / e o homem a partir do coração” (p. 225). Para evocar uma dimensão sonora, podemos citar o poema “Sem outro intuito”, e constatar que, se comparadas às que se apresentam num poema do primeiro livro, as águas perdem o seu alarido. Pois, onde se podia ouvir a eclosão das manhãs - “no perfil das águas ouço-as 50 eclodindo” (p. 42) -, agora se escuta o silêncio - “Atirávamos pedras / à água para o silêncio vir à tona” (p. 217). Vai-e-vem das ondas que se interpenetram, escoar ininterrupto e irreversível, suspensão do movimento na petrificação. Mar, rio, lago. A essas três possibilidades da água, mais uma se acrescenta - a sua dissipação: o deserto. É já no segundo livro, A Inércia da deserção, que a noção de deserto – já presente no título - pela primeira vez se insinua. “O ruído das vagas” vai “desertando” (p. 65) e o poeta declara: “sinto / faltar- me esse rapaz como a respiração” (p. 72). No percurso posterior da obra, o processo de deserção se acentua e a abundância das águas cede lugar à aridez. O céu não se funde mais com o mar, é um “céu árido” (p. 168), um “céu deserto” (p. 198). O mar, por sua vez, sofre um “processo” de “apuramento” e cristaliza-se no “deserto” (p. 159). “Se se atender a que o lugar onde esse apuramento se produz é o nosso espírito” (p. 41), essa secura ou perda gradual de umidade não escapa de ser associada a uma sensação de desfalecimento da vida. Em relação a isso, vale lembrar as considerações tecidas por Aristóteles acerca da filosofia de Tales de Mileto, para quem a água era o princípio de todas as coisas. Segundo Aristóteles, Tales foi “levado sem dúvida a esta concepção por ver que o alimento de todas as coisas é úmido [...] e pelo fato de as sementes de todas as coisas terem a natureza úmida” (Apud SOUZA, 1996, p. 40). Também comentando o pensamento de Tales, Simplício observa que “o quente vive com o úmido, as coisas mortas ressecam-se” (Apud SOUZA, 1996, p. 41). Indo ao encontro de tal premissa, o poeta separa o que nte do úmido e conduz seu universo ao ressecamento. Assim, vemos o sol se dissociar do mar e ser penetrado pelo deserto: “O próprio sol que entre elas [as vértebras] brilha é descarnado, um sol deserto, onde o deserto penetrou” (p. 160). Observe - 51 se que não é o sol que penetra o deserto, o que ainda nos poderia sugerir um excesso de calor ou luminosidade. É o deserto que invade o sol e o torna descarnado, ressequido, por assim dizer: “... do verão / não há já senão os ossos” (p. 81). A idéia de morte e a imagem do deserto mais incisivamente se enlaçam quando lemos o poema “Estacas”: “Os meus ossos estão todos espetados no deserto” (p. 160). E isso se reforça se atentarmos para o caráter simbólico que os ossos assumem no imaginário do poeta, quando esse afirma, num ensaio crítico, que na imagem dos ossos “se consubstancia a da morte” (2004, p. 51). Os ossos, aliás, surgem com uma notável constância nos últimos livros, e bastam os títulos de alguns poemas para disso nos dar prova: “Os ossos”, “A cor dos ossos”, “Um osso”. É, porém, no poema “As trevas” que sua associação à morte é mais direta: “envolvem- nos as trevas / os ossos, dir-se-ia / que a própria morte / nos serve aqui de pele, como a um morcego” (p. 226). Vale lembrar ainda uma outra imagem que se articula à do deserto – a roupa: “também já eu me apercebi da clandestinidade do deserto, o que me leva a compará-lo àquela roupa que persiste em irromper na pele de quem por isso nunca por completo se consegue desnudar” (p. 159). Essa articulação é significativa se trouxermos à reflexão duas considerações: a roupa é aquilo que cobre e oculta a pele; e a pele, nesse universo poético, pode ser comparada ao mar, que funciona para ela “como uma representação muito aumentada, qualquer coisa como uma metáfora ou uma lente” (p. 108). Pois é num mesmo movimento que o deserto se sobrepõe ao mar e a roupa se sobrepõe à pele, acrescentandose a essas duas sobreposições aquela que o próprio deserto vem exercer sobre a pele, como no poema “Aliança”: “O que outras vezes acontece” é que, estando a roupa soterrada, “à superfície da pele [...] mais não vermos que o deserto, uma enormíssima extensão de areia 52 refulgente” (p. 248). Todos os signos do erotismo vão se encobrindo: “O sexo reduzira-selhe à roupa [...]. A pele, como sabe mos, contraíra- lhe o costume de se retrair” (p. 246). A aridez, do deserto ou da roupa, suplanta o erotismo, do mar ou da pele, e contamina também a fala: “A fala quer-se árida, de uma aridez idêntica à da roupa que nos cobre o corpo” (p. 168). Observamos, portanto, que o percurso que Gastão Cruz reconhece como um trajeto “dos relâmpagos às trevas” coincide também com uma passagem da umidade à aridez. Poderíamos acrescentar que esse percurso se acompanha, ainda, de uma transição do quente ao frio. Pois ao verão, estação que modula a atmosfera dos primeiros livros (pp. 81; 87; 95), sucede, na produção subseqüente, o inverno (pp. 149; 197; 214), intensificado pela presença da neve (pp. 191; 218; 221; 225). Se, em Vulcão, o verão torna a aparecer (no poema “Num dia de verão”), agora o faz dentro de uma realidade que se insinua absolutamente “precária”, “frágil”, “imersa numa solução de irrealidade”, irmanada, ainda, às noções de “ausência”, “nada”, “vazio” (pp. 236-237). É como se todo um campo semântico fosse deslizando do erotismo à morte. A atmosfera não se faz mais tenebrosa sem se tornar também mais seca e fria. Os topos que gravitavam em torno do erotismo luz, manhã, claridade, flashes, clarão, mar, verão, sol, incêndio, chama, fogo – cedem lugar a topos envolvidos pelo halo da morte - trevas, noite, sombra, escuridão, negridão, deserto, inverno, neve. Numa leitura mais apressada, os elementos que compõem essas duas esferas gravitacionais poderiam, sem grande esforço, ser alinhavados como dicotomias – manhã/noite, luz/trevas, claridade/escuridão, etc. No entanto, é preciso mais cuidado no tratamento desses pares, aparentemente opositivos. Já vimos que os eixos em torno dos 53 quais circundam, morte e erotismo, não se situam em pólos opostos, já que ambos apontam para um mesmo fim, a dissolução das formas constituídas. Em verdade, o próprio par luz/trevas se assinala menos como uma antinomia do que como uma diferença de escala. Ao menos, é isso que o poeta indica quando afirma que a luz de deus tem “uma excessiva dose de trevas misturada” (p. 182). Estamos diante de uma poética que enxerga nos aspectos contrastantes menos oposição do que diferença de grau: “A substância do deserto é a do mar, que dele difere apenas pelo grau de apuramento” (p. 159, grifo nosso). Nessa mesma perspectiva, podemos compreender a incursão de uma “brancura” ao lado da negridão que se instala no decorrer da obra. Brancura que, aliás, já se pressente na presença da neve, sendo essa um dos indícios do esfriamento próprio da morte. Assim, o poeta se refere a uma “brancura que o lençol disputa às trevas” (p. 222) e alude a “um branco tão branco como o das noites em branco” (p. 249). Valeria observar, ainda, o poema “A cela”, em que se relata a presença de uma mulher “embiocada de negro”: Apesar da negridão das suas vestes, tal figura estava intimamente unida à luz, a qual, de cada vez que ela lhe assomava à mente, ele sentia penetrar por todos os buracos do seu corpo, até explodir algures num espaço que essa própria explosão retroactivamente abria dentro dele. Talvez que, se ele tivesse à mão algum objecto cortante, já houvesse perpetrado no peito uma ou outra incisão através da qual o processo se acentuasse até a sua carne por completo se consumir nesse fulgor. (p. 241) É possível, assim, assimilarmos tal mulher à morte e, a partir daí, concluirmos que a última está também intimamente unida à luz. O desejo de consumação da carne num fulgor parece tão próximo do erotismo quanto da morte. A dupla dicotomia vida-luz / morte-trevas não se sustenta. E não porque se deva realizar uma inversão dos pares associados (vidatrevas / morte- luz), tal como se faria a partir de uma perspectiva cristã, em que a vida, 54 encarada como fardo, se assimilaria a uma caminhada obscura que se deveria atravessar para enfim se atingir, após a morte, a luz celestial. A dicotomia se esvai, não em função de uma associação equívoca dos pares, mas devido à própria insustentabilidade das oposições. Na poética naviana, luz não se opõe a trevas, mar não se opõe a deserto, assim como vida não se opõe à morte. Aquilo que, esquematicamente, apresentamos como dois momentos distintos da obra encontra-se, em verdade, bem mais entremeado. Um breve exame do espectro de luz e cores que se pinta nessa poesia pode ser, nesse sentido, esclarecedor. Já vimos que o relâmpago constitui o elemento paradigmático da claridade ou luminosidade dos primeiros livros. Não se trataria, portanto, de uma claridade solar. Longe de invocar uma atmosfera harmônica ou estável, o súbito clarão que é o relâmpago testemunha um rasgo de luz contrastante com um em-redor não iluminado. Próximo de uma explosão, a qualidade mais marcante do relâmpago seria a sua intensidade. Intensidade que se mediria, conjeturamos, pela capacidade de iluminar a escuridão que o rod eia. As trevas já se intuem, pois se tudo se encontrasse iluminado de antemão, a intensidade do relâmpago não se faria sentir. Ao analisarmos o aspecto cromático dessa claridade inicial, percebemos que ela se encontra tão próxima do branco quanto do vermelho. Pois se “a luz às vezes é de tal intensidade que a página fica em branco ” (p. 49, grifo nosso), outras vezes é uma “trovoada vermelha” que “emerge das imagens” (p. 47, grifo nosso). E se há “páginas / onde a brancura se estilhaça (p. 45)”, há também aquelas em que palavras como “chama” (p. 59), “incêndio” (p. 41) ou “fogo” (p. 85) evocam o vermelho. Na produção posterior, assim como a negridão, como mais acima assinalamos, não se faz estranha a uma brancura, a proliferação das trevas não implica uma ausência de luz. 55 Mas se, antes, a irradiação provinha do fulgor erótico do rapaz-relâmpago, agora é da proximidade da morte, pressentida nas feridas ou no sangue, que ela irradia. Assim, em “Matadouro”, o poeta se refere a uma “luz que desse sangue irradiava, como se nele o sol tivesse mergulhado e os raios nele se houvessem diluído (p. 181)”. A proximidade do sangue e da luz se revela também no poema “O corpo espacejado”, em que a carne, tendo assimilado as estrelas, as exibe “como luminosas cicatrizes cujo brilho, transmutado em sangue, lentamente se esvaía (p. 166)”. A própria imagem do relâmpago é, num contexto radicalmente distinto, resgatada: a “carne que através dessa ferida anoitecesse e amanhecesse, quem agora a visse [...] julgá- la- ia irmanada a um relâmpago (p. 224)”. Clarão que provém de um corpo não mais erotizado, mas ferido. Curioso notar que as cores que nessa atmosfera se pressentem são, além do negro das trevas, novamente o branco e o vermelho 15 : “Começam-nos as trevas a romper / a carne, comparáveis / a neve que do céu / caísse ensangüentada (p. 225)”. Da mesma forma que as trevas são comparáveis à neve, mas à neve ensangüentada, o negro seria, talvez, comparável ao branco, mas a um branco avermelhado. Conviria examinar, ainda, o papel desempenhado pelo azul que, como lembra Carlos Mendes de Sousa, “nos poemas de Vulcão [...] se torna cada vez mais presente” (SOUSA, 1997: 39). Associado sobretudo ao céu ou ao mar, o azul, aqui, se vincula também à carne ferida ou dilacerada. É no poema “Recônditas palavras” que esse vínculo se explicita. Na primeira estrofe, lê-se: “Inquietam- me as dedadas / de deus rente à raiz da carne, [...] / à cicatriz / azul do céu sobre o destino”. As dedadas de deus se aplicam 15 O vínculo entre essas duas cores e a morte, remeteria, incontornavelmente, ao poema “Branco e vermelho”, de Camilo Pessanha. 56 simultaneamente à raiz da carne e à cicatriz azul do céu. Na quarta estrofe, os sentidos operam uma convergência das duas instâncias a que se voltavam as dedadas de deus: os “sentidos (...) nos imprimem na carne a cicatriz do céu (p. 227, grifo nosso)”. E, no decorrer do poema, a própria carne passa a ser apresentada como uma “cicatriz pesada”, “com todo azul do céu lá dentro a procurar rompê-la” (p. 227, grifo nosso). No poema “A imagem”, a incidência do azul sobre a carne (vermelha?), resultaria, enfim, numa terceira cor, o roxo: “roxo roxo, de carne cianosada”. Presente apenas nesse texto, essa cor, entretanto, pareceria capaz de impregnar o poeta “de uma tal violência que a partir daí o roxo se lhe colaria ao nome com mais força do que ao manto do senhor dos passos” (pp. 253-255). É que o roxo poderia, talvez, dar conta da fusão de todas as cores, do azul e do vermelho, mas também do negro e do branco, pois a sua “essência” consistiria, afinal, como sugere o poeta, numa “espécie de momento incolor” (p. 253). Porém, não se pode descartar a hipótese de que todas as cores partilhem dessa mesma essência incolor. Assim seria ao menos na escrita poética, pois, aí, a força das cores parece derivar “não dum hipotético referente susceptível de encontrar-se na natureza ou na tela dum pintor”, mas precisamente da “privação da sua própria essência cromática” (2004, p. 158). Segundo Carlos Mendes de Sousa, a cor que Nava perseguiria, em seus textos, seria “uma cor doloridamente irrepresentável, a cor da ferida” (SOUSA, 1997: 44). É justamente para um cor irrepresentável que o poeta aponta no poema “Final”, o último do livro “que estava destinado a ficar como o seu testamento poético” (CRUZ, 2002, p. 289). Nesse texto, manifesta-se o desejo de que o livro possa, nas mãos do leitor, “como um deserto a abrir noutro deserto, criar uma irradiação simbólica, magnética, onde o branco do papel e o negro das palavras, essas cores que segundo Borges se odeiam, pudessem fundir-se e 57 converter-se nessa outra a que, na enigmática expressão de Sá-Carneiro, a saudade se trava” (p. 265). Afastemos do nome “as cores para no lugar delas não deixar senão a luz” (p. 55). Suponhamos que o nome de que no poema “Poço e mentira” se fala seja o do próprio poeta. E já que “nele já não era o nome, mas as sílabas do nome, que adquiriam personalidade própria”, restam- nos “três sílabas magnéticas” (p. 244). Pois, ao recortarmos de Luís Miguel Nava as primeiras de cada um dos três nomes, ficamos com as seguintes sílabas: lumi- na. Contudo, o próprio texto admite, a luminosidade que o nome do poeta anuncia não passa de uma mentira: “todo ele se embebia na mentira de que o próprio nome era a raiz (p. 244)”. Citando uma vez mais Carlos Mendes de Sousa, diríamos que “o projeto de fixação do texto solar revela -se impossível”, pois as “cores da manhã (a pulsão vital – eros), mal se tentam fixar, são tomadas por uma violenta intromissão das sombras” (SOUSA, 1997: 44)16 . Atentando para o conjunto da obra, apercebemo-nos de que a sua força provém do enfrentamento dessa mentira, dessa impossibilidade. A escrita de Luís Miguel Nava se ergue onde o branco se funde ao negro e a luminosidade se mescla à escuridão; onde, como uma ferida, a morte se inscreve na vida. Precisamos, portanto, dissociar a morte da idéia que dela usualmente se faz, como fim, aniquilame nto ou reverso da vida, aquilo que se deve, a todo custo, rechaçar. Evidentemente, não se trata de pensá-la como passagem para uma outra vida, em que a alma, imortalizada, prescindiria do corpo. Se alguma idéia de imortalidade pode advir dessa poética, essa se acopla à matéria e não ao espírito. E a matéria não perdura sem se 58 metamorfosear. A morte desintegra o corpo para devolver à terra a matéria imortal que o compõe. Nesse sentido, a morte não constitui senão condição para a criação, condição para outra vida. Assim como nos sugere Bossuet, morrer conforma um ato de generosidade para com a natureza: A natureza [...] declara freqüentemente e assinala que não pode nos ceder por muito tempo este pouco de matéria que ela nos empresta, que essa matéria não deve permanecer nas mesmas mãos, e que deve ser trocada eternamente: a natureza precisa dela para outras formas, ela a reclama para outras obras. (Apud BATAILLE, 2004, p. 93) É da matéria corrompida pela morte que nasce o vivo. No universo poético de Nava, é sobretudo dos ossos, como encarnação da morte, que algo pode brotar. “Cresceram-me entre os ossos já as primeiras ervas” (p. 204), lemos em “Dos descampados”. Em “Borrasca”, imagem semelhante se esboça, elevando, porém, suas dimensões. Dos ossos brotam não apenas vegetais, mas também o corpo e o cosmos: “Quem quer que lhe tivesse concebido os ossos, era então visível o intuito de os fazer florir. Deles brotaria a pele, o céu, a encenação da glória” (p. 245). Como não lembrar, aqui, os célebres versos de T. S. Eliot: “O cadáver que plantaste ano passado em teu jardim / já começou a brotar? Dará flores este ano?” (ELIOT, 1981)? Se somos mortais compostos por partículas imortais, a vida continua para além da integridade do sujeito. Aliás, essa vida desintegrada, análoga da morte, em que se manifesta a continuidade da matéria - no fundo das águas, como a imagem refletida, ou no fundo da terra, como o corpo enterrado - afigura-se mais autêntica que a vida individuada, estocada 16 O próprio Luís Miguel Nava refere -se, em “ O livro de Samuel” , à impossibilidade do texto solar: “o que quer que ele escrevesse ali mais não seria, sempre, do que a sombra desse outro livro, fulgurante, eternamente por escrever” (2005b: 15). 59 nos limites do sujeito: “Talvez [...] por fim surjam aqueles que quando escavam / o fazem como se avançassem / assim para uma vida mais autêntica” (p. 204, grifo nosso). Difícil não ouvir ressoar, aqui, mais uma vez, o universo poético de Camilo Pessanha, principalmente no que tange o desejo de habitar o fundo da terra, dissolvendo-se numa matéria indiferenciada: “Oh! Quem pudesse deslizar sem ruído! / No chão sumir-se, como faz um verme...” (PESSANHA, 1989, p. 11); “Tomai meu corpo e abride- lhe as veias... / O meu sangue entornai-o, / Difundi-o, sob o rútilo sol, / Na areia branca como em um lençol” (PESSANHA, 1989, p. 51). Ou nas imagens de pedaços do corpo fragmentado, que “repousam, fundos, sob a água plana”: “Róseas unhinhas que a maré partira... / Dentinhos que o vaivém desengastara... / Conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos...” (PESSANHA, 1989, p. 32). Entretanto, se há poemas de Pessanha em que a imagem da morte se aproxima da que se desenha na poética naviana, haveria que se examinar também aqueles em que essa imagem lhe parece bastante distinta. A distância assevera se erguer no que diz respeito às relações entre matéria e espírito, corpo e consciência. Lembramos, por exemplo, os versos em que a morte se inscreve apenas no corpo, a consciência permanecendo viva e gozando de não lhe doer nada: “E eu sob a terra firme, / Compacta, recalcada, / Muito quietinho. A rir- me / De não me doer nada” (PESSANHA, 1989, p. 67). O corpo, nesses versos, enquanto lugar dos sentidos e sensações, constituiria fonte de dor. Portanto, mais do que a morte, o que se deseja é o apartamento do corpo, a cessação do sofrimento. Morrer não processa a fusão com o em-redor, ou, ao menos, se a matéria se desfaz numa massa informe, o espírito permanece, imortal, individuado, em descontinuidade. 60 Ora, em Nava, o sofrimento não proviria do corpo propriamente dito, mas do isolamento desse em relação ao mundo. Além disso, o que morre, aqui, é o ser individuado. A matéria permanece viva e, mesmo dilacerada, continua a respirar: “Brilhar-lhes-ão nas pás / pedaços do meu corpo que respiram” (p. 204). Talvez estejamos tratando de diferentes modalidades de vida e diferentes modalidades de morte. Nava parece dizer-nos que a vida, confinada e constrangida a estocar-se dentro dos limites do eu, equivaleria a uma morte. E, ao contrário, uma vida mais autêntica, só seria alcançada por aqueles que arriscassem perder os contornos subjetivos. “Sujeito, objeto são perspectivas do ser no momento da inércia”, afirma Bataille (1992, p. 68). Sob essa ótica, é a inércia que se equipara à morte, enquanto a vida faz-se sinônimo de movimento. Por isso, Nava lança a hipótese: “É possível que, sem que o saibamos, tenhamos estados mortos grande parte da nossa vida. Terei eu vivido desde que nasci? Apavorando- me a morte, aceitaria eu, a troco dela, reviver grande parte dos momentos passados?” (1997a: 10). Estamos mortos, em vida, quando reforçamos nossa individuação e nos isolamos do mundo, impedindo o movimento que faria avançar o sujeito em direção ao objeto, o objeto em direção ao sujeito, a ponto de esses não mais se distinguirem. Se a morte do ser individuado abre caminho para a manifestação de uma vida mais autêntica, a vida do ser individuado se assimila a uma morte, mas a uma morte menos autêntica, aquela que paralisa o movimento e congela as formas. No pensamento naviano, é, enfim, essa morte menos autêntica, dentro da vida individuada, a fonte de maior sofrimento. Precisamos, afinal, compreender de que movimento se trata, quando o fazemos sinônimo de vida. Veremos, no próximo capítulo, que o movimento que interessa a essa poética não se refere a deslocamentos espaciais que um corpo possa efetuar através de um 61 mundo que lhe permaneça exterior. Interessa- lhe, antes, o duplo movimento que o corpo impele ao mundo: interiorizando-o na profundidade orgânica, onde com ele se funde; expelindo-o à superfície da pele, onde afinal se dá a ver na indistinção entre interior e exterior. Em outras palavras, mais do que do movimento do corpo no mundo, trata-se do movimento do mundo no corpo 17 . 17 A concepção desse movimento como vital se confirma em nossas experiências. Basta observar que um corpo paralítico, que não se move através do espaço, sobrevive, enquanto um corpo que não efetua trocas com o exterior – não respira ou não se alimenta – falece. 62 4. O MOVIMENTO DO MUNDO NO CORPO Vimos, no capítulo anterior, que tanto o erotismo quanto a morte funcionam, nessa poética, como catalisadores da dissolução da dicotomia sujeito/objeto. Observamos também que a fusão dessas duas instâncias é facilitada por uma imersão na profundidade. No fundo das águas, da terra, ou mesmo do corpo do rapaz, uma sensação de continuidade aplacaria o sofrimento advindo da separação do sujeito frente ao mundo: “É terra doutro o corpo dum rapaz, [...] mínimo relâmpago de terra o poço da alegria” (p. 41). Analisamos, ainda, a assimilação do ato sexual ao conhecimento. Examinaremos agora como, desvinculando-se da esfera do erotismo, o desejo de submersão na profundidade confirma-se indissociável de uma vontade de conhecer. Irredutível ao que se revela na mera aparência ou superficialidade das coisas, o poeta buscaria penetrar o profundo, equivalendo esse a um plano desconhecido, que se furta à percepção usual, mas também a uma dimensão em que as formas individuadas se desfazem, fundindo-se numa matéria comum. A empresa de ir mais além de um conhecimento “superficial” não se fundaria, entretanto, na compreensão de que esse último seria menos verdadeiro ou exato do que um conhecimento “profundo”. O investimento na profundidade se assentaria na aposta de que, a partir das superfícies, se pode apreender apenas uma parcela da realidade, justamente aquela da qual a ciência tem se ocupado. A superfície constituiria uma dimensão separadora, em que sujeito e objeto se distinguem, e as formas se encontram todas delimitadas e isoladas umas das outras. Esse plano mais 63 evidente, a que se costuma chamar de realidade, coexiste com um outro, menos visível decerto; contudo, também acessível aos sentidos. O poema “Disjunção” nos dá notícia da coexistência desses dois planos da realidade: Ao mergulhar, o mar entrou-lhe de roldão no pensamento e deslocou-lhe os sentimentos para uma zona de tal modo abstrata e afastada de qualquer tipo de emoção, que por momentos deu duas ou três braçadas num plano de si mesmo a que jamais tivera acesso e que, por muito pouco democrático desígnio da natureza, lhe pareceu até então reservado a deus. [...] Acrescentando-lhe ao que acima se descreve uma sensação de elasticidade cronológica de que se lhe afiguraram poucos dignos os seus órgãos, esta experiência foi interrompida por um regresso à superfície que lhe devolveu a presença do areal e dos rochedos a que naquele instante a aragem insuflava uma realidade disjuntiva. (p. 179) A superfície é associada a uma realidade disjuntiva, contraponto da realidade conjuntiva da profundidade. É o que somos levados a induzir, se tivermos em mente o poema imediatamente anterior, intitulado “Atrás de si”: Por onde quer que passasse, deixava atrás de si sulcos abertos na vida, o que a tornava comparável aos terrenos onde, quando os lavradores os atravessam com o arado, a realidade em certos pontos fica à mostra. Havia nela o exagero das paisagens que se multiplicam em registros que as distorcem (o mar no conjuntivo, etc.) [...]. (p. 178, grifo nosso) Duas realidades se justapõem, uma superficial e disjuntiva, outra profunda e conjuntiva. Compreendendo “disjunção” como separação ou individuação, arriscamos a designação de conjuntiva para uma dimensão do real marcada pela fusão ou indistinção das formas. Coincidindo essa com um plano que parece “reservado a deus”, e cuja elasticidade cronológica nos remeteria à eternidade. Nesse sentido, vale observar também o comentário que o poeta tece a respeito de um poema de Antônio Franco Alexandre, no qual esse se refere ao momento em que “ele criou o céu e a terra”, “mas eu não tinha corpo” (Apud NAVA, 2004, p. 277). Segundo 64 Nava, “seja qual for a leitura que fizermos desse início, atribuamos à formação da humanidade ou à de um determinado indivíduo o estádio primitivo para que ele remete, o que importa sublinhar aqui é a nostalgia desse instante em que nenhuma subjetividade vinha contrapor-se ao mundo e desse modo separar-se irremediavelmente dele” (2004, p. 277). A profundidade a que a poética naviana aspira evoca esse estádio primitivo, em que nenhuma subjetividade se contrapõe ao mundo e se separa dele. Esse plano, entretanto, não se situaria num momento cronologicamente anterior à individuação das formas. Forma e informe, disjunção e conjunção, coexistem, simultaneamente, embora em planos distintos. A distinção desses dois “momentos” nos remete, em sua própria poética, a uma dimensão menos temporal do que espacial. Busca-se não um tempo anterior, mas um espaço interior ou profundo. E é por isso que, longe de uma nostalgia para sempre frustrada, essa busca se faz possível e esse projeto de conhecimento executável. A realidade conjuntiva não se situa num passado irrecuperável, mas numa profundidade que, embora pareça reservada a deus, abre-se àqueles que arriscam perder seus próprios contornos a fim de adentrá- la. Importa acrescentar que, para que algum conhecimento possa advir desse contato com o profundo, não basta mergulhar. Há que regressar à superfície. A permanência na profundidade não garante o conhecimento. Esse dependeria de um trânsito entre o conjuntivo e o disjuntivo, o profundo e o superficial. Vamo -nos aproximando da definição de conhecimento, anteriormente citada, que Nietzsche/Zaratustra revogara: “E é isto, para mim, o conhecimento: tudo o que é profundo deve subir – à minha altura!”. Para o mesmo raciocínio nos encaminha o poema “O grito”, em que se refere a “uma palavra susceptível de um dia se vir a converter num utensílio graças ao qual aquele 65 que bem no fundo de si próprio se esforçava por chegar à realidade poderia finalmente abrir caminho, rompendo através da massa do seu sangue e dos seus músculos” (p. 234, grifo nosso). Aqui, realidade se confunde com superfície. Nesse caso, e nos termos que vamos utilizando, diríamos que o ato de conhecer equivaleria a trazer para o plano da superfície o que ainda está mergulhado na profundidade, aquilo que, “como as esculturas no interior da pedra, se mantinha na expectativa desse simples gesto dum escritor para atingir a realidade” (p. 233). Inferimos, entretanto, que o profundo, longe de constituir uma não-realidade, consiste apenas numa realidade ainda não conhecida, ainda não visível, ainda não tornada poema; uma realidade que ainda não veio à superfície da pele, ou da página; uma realidade, enfim, à espera de um escritor obstinado “em abrir frestas através / das quais possa irromper” (p. 198). Já em “O livro de Samuel”, a realidade, mais do que cingida entre dois planos, se define como o próprio movimento que leva da profundidade à superfície: “A realidade, a irrefragável impulsão das coisas para a sua superfície” (2005b: 19). Nessa perspectiva, conhecer a realidade consistiria em perfazer o movimento do profundo ao superficial. Diríamos, então, que a experiência da escrita poética que se pretende uma via de conhecimento só se efetivaria no perfazer desse movimento: um mergulho no profundo, um regresso à superfície. Portanto, mais do que se embrenhar definitivamente nas profundezas, buscar-se-ia aí mergulhar para, mesclado com a sua matéria, retornar à superfície. Nesse sentido, são nítidas as imagens que, mais recorrentemente nessa obra, se referem ao contato com o subterrâneo: raiz, poço, vulcão – três instâncias que, cada uma a seu modo, efetivam o comércio com a superfície. Deixando para uma análise posterior o transporte entre os dois 66 planos, de que essas três imagens se encarregam, interessa-nos, agora, abeirar-nos do significado que, numa entrevista, o poeta atribui à imagem da raiz: Tudo tem que ver com um certo desejo de dar sentido às coisas, de as compreender, de ir um pouco além das meras aparências que os sentidos dão delas. Como sabe, a realidade só adquire sentido em função de uma determinada perspectiva, de uma certa situação. Não é isso que na linguagem corrente queremos dizer quando sugerimos que se ponha no lugar de outra pessoa? O desejo de espetar raízes na terra é, por conseguinte, o de poder dar um sentido ao que nos cerca. (1997: 150) Aqui, a associação entre o desejo de profundidade e a vontade de conhecer é mais explícita. Sentimo-nos impelidos a pensar que a terra de que fala funciona como metonímia de toda espécie de matéria do mundo, e o desejo de espetar raízes alude ao de penetrar a profundidade dessa matéria. O mergulho nas profundezas seria, então, condição para a atribuição de sentido. E, se a idéia de criação de sentido se aproxima da noção de conhecimento, é porque, como se pode notar, não é numa imaginação desenraizada da experiência que o poeta busca criar esse sentido. Ao contrário, o sentido só advém quando a linguagem se enraíza no mundo: “A metáfora, para ser exata, tem de irromper do mesmo espaço de que irrompem os termos literais. Só quando com as raízes destes as suas se misturam vale a pena aproveitá- la” (1997a: 13-14). Ora, onde estariam espetadas as raízes dos termos literais senão na própria matéria do mundo? As coisas complicam-se um pouco, entretanto, quando lemos o seguinte fragmento da mesma entrevista: “Mas o solo onde é necessário enraizarmo-nos [...] está dentro de nós” (1997: 150). O mundo subterrâneo confunde-se com o mundo subcutâneo. Ou seja, a terra, que funcionaria como metonímia de toda matéria do mundo, vale também como metáfora da carne: “o mundo, que os sentidos tonificam, surgia-nos todo enterrado na nossa própria 67 carne” (p. 217, grifo nosso). A profundidade que se persegue coincide, portanto, com a interioridade do corpo. Com efeito, aquilo que a poética de Nava procura trazer à superfície é, antes de tudo, uma profundidade carnal, orgânica; uma profundidade que parece dizer respeito mais às vísceras do poeta do que ao mundo propriamente dito. O problema que então se coloca é o de saber porque um projeto poético que se funda num desejo de conhecer o mundo principia por realizar uma descida aos abismos viscerais. Em entrevista, o poeta explica as razões desse empreendimento: Talvez, a uma primeira leitura, o que escrevo pareça demasiado centrado sobre o meu próprio interior, dada a grande quantidade de referências às entranhas, à memória, etc., mas se isso acontece não é porque eu volte as costas para o mundo, mas porque é dentro de nós que o mundo faz sentido. Como diria o Pessoa [...] é dentro de nós que a paisagem é paisagem. (1997: 149) Já afirmamos que profundidade se confunde com uma realidade conjuntiva, em que não há separação entre sujeito e objeto. Agora, contudo, verificamos que essa profundidade é, na realidade, uma distância interior, está dentro do sujeito. Poderíamos supor que o mais profundo do corpo comporta o que, nele, mais se distingue e se afasta do mundo, um cerne preservado contra as contaminações do fora. Nessa perspectiva, ao invés de fusão com o mundo, a profundidade garantiria uma separação, uma realidade disjuntiva. Mas é justamente o contrário que se percebe em Nava. Na profundidade do corpo, não há distinção eu/mundo, porque o interior é habitado pelo exterior, o dentro contém o fora. E mais, é dentro que o fora pode fazer sentido. Talvez porque, se buscarmos compreender o fora a partir de fora mesmo, nos instalaremos numa disjunção interior/exterior, sujeito/objeto, e não o conheceremos senão superficialmente. Esquivando-se de “uma visão apenas exterior (esse será o objetivo de qualquer discurso científico)” (1997a: 12), o projeto 68 poético naviano funda-se num conhecimento do mundo empreendido a partir de uma profundidade radical, em que as dicotomias desmoronam e os pares aparentemente opositivos se fundem. A fim de aprofundarmos a investigação acerca dessa inusitada profundidade, trazemos para nossas reflexões o poema “Os ossos”: Um dia, ao acordar, deu por ter deixado todos os seus ossos num dos sonhos, do qual, como dum espelho, a carne e a roupa juntas irrompiam. Nunca mais desde então os pôde espetar na realidade, coisa que antes tanto se orgulhava de fazer. Talvez num cão fosse possível encontrar a necessária obstinação para os trazer à superfície. Contudo, a tal profundidade os ossos estariam que, por muito que o animal escavasse, sob as suas patas haveriam de romper as águas de mil rios, pedras, folhas, a enxurrada do universo e, embravecido, o próprio mar, mais tudo aquilo de que habitualmente os sonhos se compõem, antes que deles se deixasse adivinhar o mais breve vestígio. (p. 173) De um lado, se coadunam realidade e superfície; de outro, sonho, espelho e profundidade. Entretanto, se a relação entre sonho e profundidade pode ser facilmente apreendida – tendo em vista a noção de profundo que estamos esboçando, irmanado a uma dimensão desconhecida da realidade – a referência ao espelho acena -se mais enigmática. Há que se investigar as qualidades de que esse se investe no universo poético em questão. Começamos por observar que o espelho, mais do que reflexo ou duplicação do real, parece assinalar o transporte para um outro lado da realidade. A associação do espelho a uma outra dimensão do real é sugerida, por exemplo, a partir de sua assimilação ao mar e da vinculação de ambos à noção de profundidade. Em dois poemas, a semelhança entre mar e espelho é explicitamente sugerida. Num se fala “como se a força do mar fosse a dos espelhos” (p. 123). No outro, para essa proximidade converge ainda a noção de irrealidade: “Um lábio contraindo irrealidade / - é isso o que me 69 traz / o mar, de que os espelhos são reminiscências” (p. 114). Já num terceiro poema, embora a palavra mar não figure, sua alusão é evidente: “Às vezes, entranhando-me num espelho, consigo dar nele duas ou três braçadas sucessivas” (p. 113, grifo nosso). Aventura-se nadar no espelho como se nada no mar. Cumpre ainda ressaltar que duas ou três braçadas conformam exatamente o mesmo movimento que se realiza no poema “Disjunção”, ao se mergulhar no mar: “deu duas ou três braçadas num plano de si mesmo a que jamais tivera acesso” (p. 179). Aqui, não obstante mergulhe no mar, é num plano de si mesmo que vem a nadar, a profundidade marítima nos colocando em contato com a própria profundidade interior. Pois, tudo se passa como se, à semelhança do mar, o espelho nos permitisse também um acesso a essa profundidade. Para apreendermos tais assimilações, precisamos nos afastar tanto da concepção intelectiva quanto da exp eriência prática e cotidiana que usualmente temos dos espelhos. Numa perspectiva mais usual, compartilha-se a idéia de que a superfície especular reflete as formas do campo visível, aquelas que se desenham à superfície dos corpos, oferecendo-nos desses nada mais que uma imagem exterior. Ora, é de um atributo radicalmente distinto e inaudito que essa obra procura extrair a potência dos espelhos. Queremos endossar a hipótese de que, se o espelho nos ensina algo do corpo, é porque partilha com ele um de seus atributos, o que aqui chamaremos de infinitude interior. É como se o poeta se servisse do espelho como uma imagem a tornar mais palpável a noção de infinito que atribui ao interior corporal. Ajuda-nos a desenvolver essa idéia o poema “O infinito”: Gostava de passar pela experiência de um desses espelhos em frente dos quais um outro é colocado – sentir a minha imagem multiplicar-se por mim dentro até ao infinito. Porque é isto justamente o infinito – o interior de um espelho em face do 70 qual outro foi posto. Sempre que dois espelhos amorosamente se interpelam, qualquer deles, incorporando o outro, o atravessa e, carregando-o consigo, se coloca, perfilado e atento, do outro lado. (p. 121, grifo nosso) Além da multiplicação vertiginosa produzida pelo encontro de dois espelhos, esse poema nos convida a pensar no procedimento, aparentemente mais banal, que se estabelece quando um espelho se encontra diante de qualquer paisagem. De acordo com o que esse texto nos indica, o espelho, mais do que refletir uma imagem, incorpora-a, trá-la para dentro de si. A paisagem, apesar de estar à frente do espelho, transportar-se-ia para o seu lado de dentro. O interior de qualquer espelho seria, portanto, potencialmente infinito, comportando tanto mais imagens quanto forem postas à sua frente. Dotado de uma potencial infinitude, o espaço interior de um espelho estaria apto a comportar o universo inteiro. Essa capacidade desmesurada dos espelhos em nada evoca o corpo, se tivermos em mente seus limites e medidas aparentes, superficiais. Entretanto, se trouxermos ao diálogo algumas reflexões que Nava desenvolve no ensaio “A propósito duma imagem de Pessanha”, a associação entre as duas instâncias, corpo e espelho, torna -se mais clara. Enquanto vivo, o espaço interior dum corpo [...] não corresponde ao das suas proporções externas – e desse desajustamento entre o tamanho que dele vemos, digamos, a partir de fora e o do que dentro dele se deixa pressentir será para nós sempre um foco de perplexidade. (2004, p. 61) O que vemos do corpo a partir de fora não é senão a sua superfície bem delimitada. Já o que de dentro do corpo se deixa pressentir é uma profundidade imensurável, capaz de absorver o ilimitado do mundo. Se cada olhar conforma “um poderoso mecanismo de absorção do mundo” (2004, p. 62), cada corpo contém, absorvido em seu interior, o mundo 71 que percebe. A perplexidade adviria, portanto, de saber o conteúdo (mundo) infinitamente maior que o continente (corpo): Tive hoje, olhando o céu pela janela do meu quarto, a sensação de que ele se me entranhava até a infância. Nunca supus que em mim houvesse uma profundidade capaz de absorver uma tão extensa superfície azul, a qual vertiginosamente refluía por mim dentro [...]. (p. 107) Assim como o espelho, o corpo transporta para dentro de si as paisagens do exterior. Assim como seu interior, a profundidade do corpo se revela potencialmente infinita, capaz de absorver toda a extensão do universo. Quando o outro me percebe, transporta-me para dentro de si: “Sempre que sobre mim poisava os olhos, o olhar dele era o de quem os volta para dentro de si próprio, como se nesse espaço me quisesse aprisionar ou dele, sem que eu sequer suspeitasse, há muito me tivesse feito residente” (p. 151). Eu, por minha vez, ao perceber o outro, transporto-o, com minha imagem dentro, para dentro de mim. Ou seja, o corpo está diante do mundo como um espelho diante do outro. O corpo se coloca dentro do mundo, o mundo se coloca dentro do corpo, ambos multiplicando-se ao infinito. O que importa ressaltar é que apenas o corpo vivo possui em sua profundidade a potencialidade do infinito: “pressinto [...] que a noção que nós temos da vida advém precisamente dessa idéia de que o mundo se prolonga pelo interior de quem o olha” (2004, p. 60). A noção de morte, ao contrário, adviria da paralisação do trânsito entre interior e exterior. O interior, quando morto, não absorve nada do que lhe circunda, e se esvazia: Assim, como se a morte, reduzindo o corpo a meras superfícies, o esvaziasse, [...] o que nos corpos donde a vida foi desalojada mais nos impressiona é exactamente o facto de por dentro dos seus olhos não haver senão esse vazio tão avesso a ser pensado como o infinito para que os vemos voltados [...]. (2004, p. 61, grifo nosso) 72 Víramos, anteriormente, que, à inércia do ser, congelada nas formas amortecidas sujeito e objeto, contrapunha-se um dinamismo vital, que vinha justamente franquear as barreiras entre a interioridade subjetiva e a exterioridade do mundo. Constatamos, agora, que esse movimento consiste no trespassar do mundo através da superfície corporal, condição do avivamento da profundidade orgânica 18 . Observaremos, no próximo item, que é por via sensorial e afetiva que o mundo exterior passa ao fundo do corpo e com ele se consubstancia. 18 Impedido o acesso ao fora, o sujeito estaria condenado a fechar-se sobre si, “como no fundo de um túmulo”, diria Bataille (BATAILLE, 1992, p. 68). 73 4.1. Da pele ao coração Não invento nada, Na arte de olhar A luz é cúmplice da pele. Eugênio de Andrade A força que trazia das entranhas aspirava o mundo. Luís Miguel Nava Se as ciências que têm como paradigma a objetividade, apenas alcançada por um suposto sujeito imparcial ou neutro, apostam numa apreensão do mundo fundamentalmente intelectiva, há nessa aposta algo de revelador. A separação eu/mundo parece ser operada e garantida mais pelo intelecto do que pelas fronteiras físicas que nos distinguem do emredor. Em contrapartida, a forma de conhecimento levada a cabo pela poética naviana, ao se fundar na suspensão das barreiras entre os seres, vai se valer, sobretudo, da apreensão pelas vias sensoriais e afetivas. Deixando o intelectivo em segundo plano e creditando ao sensível e ao afetivo a função de conhecer, afasta-se do reinado da razão preconizado pela filosofia clássica. O pensamento ocidental sempre privilegiou a razão e o inteligível em detrimento dos afetos e do sensível. Nava sabe em que tradição está inserido e demarca sua posição: “Tem de há muito tempo ao nosso espírito ocidental repugnado aferir por ela [a sensibilidade] a qualidade do que nos rodeia, mas não creio que qualquer outro critério possa auxiliá-lo neste campo” (2004, p. 21). 74 As coisas complicam-se um pouco quando consideramos que, dentro da tradição ocidental, mesmo nossos sentidos estão subordinados ao intelecto, ou seja, que somos treinados a filtrar toda percepção sensorial pela peneira das faculdades intelectivas. É sem dúvida a visão o sentido que mais nos dá conta desse comprometimento, pois, como bem observa Nava, “no nosso imaginário se homologa a idéia de visão com a de compreensão” e “subrepticiamente se faz crer que basta abrir os olhos para conhecer” (2004, p. 222). Por isso, em sua poética, em consonância com a crítica da primazia intelectual, pressente-se uma contestação do privilégio da visão enquanto sentido mais apto a conhecer o mundo. Assim como refere o poeta a respeito do livro As moradas de António Franco Alexandre, sua própria obra nos colocaria em presença de um tipo de conhecimento onde o sujeito e o objeto se dissolvem um no outro, bastante diferente, por conseguinte, daquela forma de conhecimento que pressupõe uma total independência do intelecto em relação ao que em princípio lhe cabe apreender. Os olhos e a visão estão profundamente associados a esta segunda forma de conhecimento, do que é comprovativo o facto de em muitas línguas ‘ver’ e ‘discernir, compreender’ serem sinônimos. Percebe -se assim que o repúdio da visão (ou, como vimos, de uma certa visão, exterior) vá de par, nestes poemas, com idêntico repúdio de um conhecimento intelectualizado [...]. (2004, p. 277) De acordo com o que por essa citação se anuncia, o que se combate não é a visão propriamente dita, mas a sua conversão num frio olho espiritual, desencarnado da experiência sensível, apartado do mundo. No lugar de um olho asséptico, Nava estaria em busca de “um olho a humanizar o raciocínio, um olho a que a abstração ia buscar uma expressão quase animal, entranhas que em nenhum outro lugar o pensamento encontraria” (p. 238). É o que, em entrevista, também explicita: “O que na minha poesia se procura é ver visceralmente...” (1997: 149). A função de ver acaba por se liberar dos olhos, e passa a ser atribuída também ao ouvido, à pele, ao coração ou ao sangue: “Se alguma coisa vi foi com 75 o sangue. / De alguém a quem o sangue serviu de olhos poderá / falar quem o fizer de mim” (p. 133). O que importa ressaltar é a tentativa de desvincular a percepção visual, mas também qualquer outra percepção sensória, do domínio intelectivo. Veremos, ainda, que a visão, ou qualquer dos outros sentidos, lhe interessará quando deixar de ser apenas exterior e proceder a uma interiorização, no corpo, do que, a partir de fora, se ofereceria à percepção. Como se o poeta tivesse “dentes em vez de olhos, devorando o espaço” (2005b: 20). O propósito de apreender o mundo mais pelas vias afetivas e sensoriais que pelas intelectuais implicará uma dupla sublevação, do coração face ao predomínio do intelecto, da pele frente ao privilégio dos olhos. Ressaltamos, desde já, que, se a pele ganha tal prevalência, não é porque o tato seja hierarquicamente superior aos outros sentidos, mas porque a pele, por contornar o corpo inteiro, nos proporcionaria uma percepção mais global e não compartimentada pelos sentidos especializados: “Na selva dos meus órgãos, sobre o qual foi desde sempre a pele o firmamento, ao coração coube o papel de rei da criação” (p. 145). A alusão à selva nos remete a uma natureza não domada, ao reino animal, onde os instintos ditam a ordem e a razão não tem lugar. O “rei da criação” nos envia tanto ao leão, o rei da selva, quanto à idéia de deus, autor de toda criação e que, a partir dos céus ou do firmamento, rege as suas criaturas. O coração, assimilado a um só tempo à ferocidade instintiva do felino e à ordenação conscienciosa de deus, é a instância, no escritor, responsável pela criação. A pele, ao recobrir todos os órgãos, faz às vezes do firmamento, que recobre todas as criaturas. Como se o universo criado remetesse ao interior orgânico, àquilo que se reveste pela pele, e não ao exterior, àquilo que estaria ao alcance dos olhos. 76 Não é demais lembrar que, em outra circunstância, a pele já aparecia na mesma posição em relação ao coração: “A pele serve de céu ao coração” (p. 93). E, ainda em outro poema, embora num contexto diferente, ao coração já era atribuído o papel do rei: “Alguém / a quem o coração serve de rei / dispõe no tabuleiro as outras peças” (p. 136). Curioso observar que o xadrez, um dos jogos que mais exigem do intelecto, aparece, aqui, e também em outros poemas, com a particularidade de se confiar ao corpo, aos sentidos e afetos, a condução do jogo. Assim, no poema “Xadrez”, diz-se de uma “vontade imensa de jogar, de abrir de novo as vísceras, mostrar por dentro o corpo, esse magnífico xadrez de que o trabalho dos meus órgãos equivale à sucessão dos dias” (p. 135). Aposta-se numa apreensão do mundo guiada mais pelo coração, ou pelo afetivo, do que pelo cérebro, ou pelo racional. Se, segundo a ótica tradicional, incutida nos nossos hábitos e experiências mais corriqueiras, a relação que o intelecto trava com os sentidos é hierárquica, de domínio, controle e inibição, o vínculo que o coração vai com eles estabelecer é, como veremos, de cumplicidade. Comecemos por observar a relação que o coração, comportando a dimensão afetiva, mantém com a pele, funcionando essa como metonímia de todo o aspecto sensorial. Vale atentar para aquilo que diz o poeta, em entrevista: “A pele tem tido efectivamente uma grande importância na minha poesia. Por várias razões. Uma delas é [...] sua relação com o coração. É como se fossem duas entidades intercambiáveis ou, se se quiser, ambas as faces de uma mesma moeda” (1997: 148). E mais à frente acrescenta: “O que creio estar assim posto em causa é a dicotomia corpo/espírito, sexo/sentimento, erotismo/afectividade” (1997: 149). Os aspectos sensoriais e afectivos, se podem ser distintamente nomeados, encontram-se, em realidade, fortemente entremeados, a ponto de se confundirem. Mesclar-se- iam uma esfera espiritual, onde se 77 situariam os sentimentos e a afetividade, e o âmbito corporal, lugar do sexo e do erotismo. Mas o que importa sublinhar é que não há uma independência dos sentidos em relação aos afetos e vice-versa. No entanto, se essa constatação configuraria, para um conhecimento objetivista, um motivo a mais para se desconfiar dos sentidos, dado o incontestável grau de arbitrariedade ou subjetividade na constituição dos afetos, para o conhecimento a que essa poética se propõe, e tendo em vista sua assimilação ao ato sexual, esse intricamento está longe de oferecer um obstáculo. Ao contrário, deseja-se justamente liberar e intensificar as vias de comunicação entre a pele e o coração, ou até mesmo fazê- los coincidir: “Há entre o coração e a pele cumplicidades para cujo entendimento apenas corpos como o dele às vezes contribuem” (p. 89). São os corpos absorvidos de paixão e erotismo que melhor revelam tais cumplicidades: “É sem dúvida em dias de maior paixão que pelo coração se chega à pele. Não há então entre eles nenhum desnível” (p. 124); “Por esse coração, ainda que escarpado, era, no entanto, fácil alcançar a pele” (p. 89). Por outro lado, os corpos onde esses afetos se ausentam acabam por ocultar uma das partes: “Há quem, tendo-a metida / num cofre até às mais fundas raízes, / simule não ter pele, quando / de facto ela não está / senão um pouco atrasada em relação ao coração” (p. 163). Observemos ainda o poema “A sombra”, em que Nava reinventa a anatomia e coloca a pele em comunicação direta não com o cérebro, como postula a ciência, mas com o coração. De acordo com a anatomia científica, o cérebro, órgão central do sistema nervoso, está, desde a fase embriológica, em ligação direta com a pele. Ambos derivam do ectoderma, o folheto externo do embrião, que, na sua evolução, dobra-se sobre si formando um tubo, chamado tubo neural. A parte interna vai desenvolver o sistema nervoso e a parte 78 que fica por fora vai formar a pele, encarregada de enviar informações sobre o meio externo. Costuma-se comparar os nervos aos galhos de uma árvore, que, partindo do cérebro e da medula espinhal, ramificam-se e se dirigem a todos os pontos do organismo, incluindo a pele. Nava também compara o organismo a uma árvore, mas subverte os termos comparativos: Se o homem fosse uma árvore, seria diferente de todas as outras, dado que é no centro do seu corpo, e não na extremidade, que se encontram as raízes. Refiro-me, evidentemente, ao coração, esse órgão a partir do qual ganham sentido as outras partes, sendo indubitavelmente a pele o que no corpo corresponde às folhas. (p. 167) No final do poema, a relação entre a pele e o coração se inverte, passando a ser este o equivalente das folhas. Lê -se: “de tal modo às vezes é frondoso o coração que toda a pele se acolhe à sua sombra”. Sabemos que o cérebro, a razão e a mente são, em nossa tradição, freqüentemente associados à luz. A razão pretende iluminar os objetos sobre os quais se debruça, pretende eliminar todo resquício de obscuridade sob o qual se possa esconder uma suposta verdade das coisas. O coração, ao contrário, não ilumina; fornece sombra, dá abrigo, acolhe. Idéia semelhante se apresenta no poema “O véu”: “o véu que o coração pôs sobre as coisas / a elas aderiu duma tal forma que tentar / agora retirá-lo é desfazê-las” (p. 132). Se a razão desvela, o coração vela, encobre. E só veladas as coisas podem ser conhecidas, desvelá- las é desfazê- las. Resta ao escritor assumir a perspectiva do coração: “São outras as paisagens quando alguém / as vê pelas janelas do seu próprio coração ou quando / com esse coração / a própria estrada está comprometida” (p. 127). A percepção visual desvincula-se do mental e articula-se com o afetivo: “As luzes do porto e a do farol, todas elas a br ilhar de afecto, ou talvez de desafecto, ninguém o saberia” (2005b: p. 17). 79 Indo mais longe, no poema “O nome”, o coração aparece dotado de propriedades visuais mais aptas que os próprios olhos, auxiliando a apreensão do que se lhes oculta: o nome, “de que nunca ninguém soube a forma exata”, que “se situa onde dele nada aos nossos olhos é visível”, “talvez alguém a quem o coração sirva de lupa algures o venha ainda a decifrar” (p. 146). Em sua atividade crítica, Nava se mostra particularmente atento aos modos pelos quais, através da escrita literária e, especificamente, no âmbito da poesia portuguesa, se vem operando um questionamento da vinculação entre percepção sensória e percepção mental. A primeira referência que se lhe impõe, nesse sentido, é a de Alberto Caeiro, “uma vez que foi ele quem primeiro questionou essa assimilação, ao procurar (embora em vão, é evidente) esvaziar o verbo ver da sua acepção mental” (2004, p. 222). Nava ressalta também o desdobramento dessas questões numa obra como a de Fiama Hasse Pais Brandão e chega a afirmar que essa escrita representa “um salto em relação ao espaço assim aberto por Caeiro, e dir-se- ia mesmo que em sentido inverso ao deste poeta (ou para um outro espaço, onde o primeiro deixa de fazer sentido)” (2004, p. 222). O que Nava destaca, em Fiama, é a consciência de que “sujeito e objecto são ambos produtos da linguagem”, de que não há como se subtrair “às leis da representação” ou à perspectiva a partir da qual se contemplem os objetos (2004, p. 223). Apesar de a ação de ver nos aparecer, na escrita de Fiama, “como uma das mais freqüentemente referidas”, a poeta não buscaria alcançar, através da visão, uma fidelidade aos objetos: Segundo a concepção tradicional, a percepção visual, directa, dum objeto seria o que mais longe estaria de qualquer transformação. O objecto percepcionado pelos olhos chegar-nos-ia ao espírito tal qual ele é. Aqui, pelo contrário, os olhos chamam a si o papel da boca, sendo o acto que eles levam a cabo o de sorver (cf. 25, onde se refere “uma transformação súbita / da paisagem anterior / através do crivo dos 80 olhos, / que sorvem as imagens / com o mesmo silvo com que as narinas / absorvem um vento acidulado”) ou mastigar (cf. 32, onde se alude a “olhos que mastiguem”). Ou seja, o que eles em Área Branca entregam ao espírito é um produto digerido, transformado – interiorizado em suma. (2004, p. 225) No que concerne ao afastamento de uma percepção imparcial, de moldes científicos, dois procedimentos são, aqui, encarecidos por Nava: o embaralhame nto dos sentidos e a interiorização. O primeiro, por ser um processo “em virtude do qual as linhas de vários planos se confundem, onde a linguagem e o mundo deixam de poder ser considerados separadamente” (2004, p. 215). O segundo, por asseverar a assimilação entre percepção e transformação ou digestão, configurando uma inseparabilidade entre exterior percebido e interior perceptivo. Em sua produção poética, ambos os procedimentos ganham também especial relevo e, ao se articularem de uma maneira muito própr ia, revelam um entendimento e uma experiência da percepção absolutamente inovadores. Ou seja, apropriando-se daquilo que uma certa tradição literária havia realizado antes dele e que se coadunava com os seus próprios propósitos, Nava recriou modos de perceber e de formular a percepção. Ao valorizar o embaralhamento dos sentidos, o escritor se insere numa linhagem da poesia moderna que o próprio diz iniciada com Baudelaire, “através da teoria das correspondências”, mas que também muito deve a Rimbaud, com sua incitação ao desregramento de todos os sentidos, e mesmo a Rilke, “cujo impacto sobre a geração de Eugênio de Andrade, que é também a de Sophia e Jorge de Sena, nunca será demais lembrar” (2004, p. 147). Assim, no ensaio “O amigo mais íntimo do sol”, sobre Eugênio de Andrade, Nava alude ao texto “Urgeräusch” (“Rumor Primordial”), de Rilke, no qual esse declara que “para que o poema se consume, é necessário que o mundo nele se manifeste 81 sob uma forma à qual só se poderá guindar mediante o simultâneo concurso das cinco ‘alavancas’ dos sentidos” (2004, p. 147). E o poeta-crítico destaca a presença desse enunciado em versos do autor de Ostinato Rigore, tais como “o silêncio brilha acariciado”, “onde num sintagma de apenas três palavras se entrelaçam três sentidos (o ouvido, a vista e o tacto)” (2004, p. 148). O entrelaçamento dos sentidos se efetua recorrentemente também em sua própria escrita. Em variadas circunstâncias, o paladar e a vista se entremesclam, informando-nos de que às qualidades gustativas se conciliam propriedades visuais: “o azul do paladar” (2005b: 14). E é por isso que do pão pode-se dizer que “saboreara-o com os olhos e com os dentes” (2005b: 17). Se o que se oferece aos olhos adquire sabor – “treva adocicada” (p. 260), o que se entrega ao palato também procura a vista: “um sabor quase visão, que lhe ascendia aos olhos” (2005: 13). Embora em apenas uma referência, indica-se que o paladar pode coincidir, também, com a audição: “A língua era excitada pelo que ouvia, a língua ouvia” (2005b: 13). Os sentidos da vista e da audição estabelecem relações não menos estreitas. Ora permutam atributos: “víamo- la através do ouvido”. Ora interferem-se: “cores que nos ouvidos se alteravam antes de voltarem à visão” (2005b: 22). E quando o som, ganhando características visuais, se colore, os ouvidos, mais do que verem a cor, arrepanham-na para si: “as vozes ascendiam esverdeando-lhe os ouvidos” (2005b: 13). Comunicam-se igualmente a vista e o olfato, quando, por exemplo, a exalação de aromas e fragrâncias se confunde com a emanação de cores: “[...] nas trevas – onde as ervas / e as flores são invisíveis - / o aroma verdeja [...]” (p. 277); “neblinas e fragrâncias, dessas que, até quando o escuro se apodera das raízes, continuam sempre a verdejar” (p. 254). 82 Esses dois sentidos se aparentam, ainda, quando se trata de auxiliar na percepção daquilo que se furta ao auditivo: “o silêncio não existe, existem só momentos em que deixamos de ouvir, e em que o que até então se definira nos ouvidos se engolfa nos olhos, nas narinas” (2005b: 19). Entretanto, o embaralhamento dos sentidos ganha contornos expressivamente mais particulares quando, como dissemos, vai de par com a interiorização ou assimilação do mundo exterior pelo interior do corpo - quando se vêem “os sentidos todos eles num feixe, num ímpeto abrangendo tudo em torno, as casas, as paisagens [...]” (2005b: 14). A interdependência entre esses dois procedimentos se evidencia num trecho do poema “Um céu de funcionários”: “[...] o aroma pisado a ervas trouxe-lhe dum tímido canteiro o primeiro sinal da primavera. Aspirou-o como se o esgotasse, como se tudo o que naquelas ervas houvesse de fragrância dentro de si pudesse fazer corpo com os olhos, os ouvidos e o palato. ‘Consubstanciação’, pensou, ‘transubstanciação’” (p. 272). O que primeiro se nota é a alusão à possibilidade de a fragrância ser apreendida não apenas pelo olfato, mas pela visão, audição e paladar. Contudo, nada de muito surpreendente estaria em causa se a percepção do aroma implicasse nada mais que uma apreensão sinestésica, de resto já tão explorada no domínio da poesia. O que ressalta como estranhamento principia na expressão fazer corpo com, que indica a fusão do aroma com os órgãos dos sentidos, quando o primeiro é trazido para dentro de si. Os olhos, o ouvido e o palato não apenas fazem-se sensíveis ao aroma, mas fundem-se num corpo comum. Essa fusão implica, então, uma mudança de substância, evidenciada nas palavras “consubstanciação” e “transubstanciação”, que, embora retiradas do vocabulário teoló gico, não nos parecem remeter a nenhuma experiência mística. Aliás, se deixarmos de lado sua conotação 83 religiosa, esses vocábulos podem nos auxiliar a compreender a noção de conhecimento que vamos perscrutando. No pensamento poético naviano, conhecer consiste em trazer o objeto percebido para o interior do sujeito que percebe. Ou seja, o mundo só se entranha no corpo transmutando-se na própria matéria corpórea. Paradoxalmente, assimilando-se ao organismo, o mundo parece não perder as suas qualidades essenciais, “assim como se o espírito alterasse a natureza das coisas sem que, apesar disso, elas deixassem de alguma forma de se manterem essencialmente as mesmas” (2004, p. 62). Nesse sentido, vejamos o poema “A mesa”: Da mesa a que me sento, onde registo em traços largos esta idéia, uma pequena parte começou-se-me a entranhar na alma, fascinada pela expectativa de a madeira se poder aos poucos converter em carne. Atrás dela, os objectos que sobre ela estão poisados – o papel, a esferográfica, o relógio, um espe lho – irão decerto reclamar idêntico destino. Não tarda, desta forma, que o meu sangue me reflicta e que aos meus órgãos o relógio ceda o privilégio de marcar no mostrador o verdadeiro tempo do meu espírito. (p. 184) A madeira deixa de ser madeira e se converte em carne, o espelho deixa de ser espelho e se converte em sangue, o relógio deixa de ser relógio e se converte em órgãos. Mais do que isso, o sangue, consubstanciando-se ao espelho, adquire suas propriedades e passa a também refletir. Os órgãos, consubstanciando-se ao relógio, assumem a função de marcar o tempo. E a carne, sem dúvida, ganha alguma particularidade da madeira. Como se essas coisas, fundidas à materialidade visceral, guardassem, ainda, suas qualidades essenciais. O que chamamos de interiorização refere-se, portanto, ao processo pelo qual, através dos órgãos dos sentidos, o corpo absorve o mundo e assimila-o em sua profundidade, onde com ele se consubstancia. Pois, se é através da vista que a luz adentra o organismo, são as 84 entranhas que guardam o registro de “quantas manhãs as percorreram absorvidas pelas aberturas dos seus olhos” (p. 182). A luz da manhã pode também ser absorvida pelo osso, que então se enche de luminosidade: “manhã que se me entranha / [...] nesse osso em torno / do qua l como uma auréola a luz vibra.” (p. 214). E, mesmo o sol, “as vísceras consomemno, assimilam- no” (p. 196). Compreende-se porque, ao se deparar com “uma entranha de tal modo reluzente”, “sem qualquer hesitação, todos concluíram ter sido ela a assimilar o sol” (p. 259). O organismo que assimila a luz, assimila igualmente o seu reverso: “as trevas engolfavam-se- lhe através da boca e dos ouvidos” (p. 260). A profundidade orgânica também as absorve e é por isso que, na ausência de trevas no mundo, pode-se recorrer às “que cada homem traz dentro de si” (p. 258). As entranhas de tal modo incorporam a escuridão que passam também a emaná-la: “não tardou que as trevas irradiassem das nossas próprias entranhas” (p. 220). Parece que todos os órgãos podem servir de destino daquilo que se percebe. “É como se a paisagem, não contente com o excesso que nos rodeia, nos quisesse ainda penetrar mesmo até o fundo dos pulmões”, refere-se numa carta (2005: 79). Mas é talvez o coração o órgão que mais se presta a tal função, sej a o elemento percebido dotado de qualidades visuais, auditivas ou táteis. Ao absorver a percepção visual, por exemplo, o coração adquire a cor da paisagem: “Por entre os vidros / inquietos dos meus óculos, o verde / das folhas tinge o coração” (p. 155); “sentia o verde a ganhar altitude no interior do coração” (2005b: 22). E quando a “luz, ou seja, aquilo que constitui a matéria mesma do que apreendemos através da vista” (2004, p. 149), adquire propriedades acústicas, é também ao coração que sua música se d ireciona: “uma luz [...] cuja música, sem me passar pelos ouvidos, ia direita ao coração” (p. 181). Dessa vez, o coração se torna ele mesmo musical: “a luz [...] 85 atravessava- me os poros e fazia- me cantar o coração” (p. 181). Mas, se esse é um ponto de chegada de toda percepção, isso não significa que a matéria percebida não se espraie por outras partes do corpo. É o que se constata quando se fala de um rio que “molhara-nos de súbito os sentidos”, “escorrências que nos desciam através da carne, grande parte da qual as absorvia antes de elas nos poderem atingir o coração” (p. 254). Indo ainda mais longe, o poeta nos diz que não apenas os órgãos apreendem a realidade, como também a matéria mesma por eles apreendida passa a intervir nos processos perceptivos: “São diferentes os cheiros quando os percepcionamos perto da água ou numa altura em que de qualquer forma a água está no nosso espírito. [...] De tal forma esses cheiros então se nos impõem que quase diríamos não sermos nós, mas sim a própria água, o que, servindo-se do nosso olfacto, dentro de nós nesse momento os percepciona” (1997a: 13). E não só as coisas servem-se de nossos sentido como também parecem se transformar elas próprias em sentido: Sentia tudo aquilo com a língua, a língua era de súbito um sentido suplementar que aglutinava todos os restantes, os quais se retraíam para dar lugar exclusivamente àquele, com o qual as coisas em redor faziam corpo, como se também elas próprias fossem um sentido, e ele respirasse através do mar, das rochas e as visse através umas das outras, entre si, na perspectiva de cada uma, e a sua sensorialidade assim se exacerbasse, via o mar visto pelas rochas, do pétreo ponto de vista das rochas, e as rochas como se fosse o mar, do ponto de vista líquido do mar. E não só via , mas ouvia e saboreava, e não só o mar e as rochas, mas todos os objetos em redor, as árvores, as casas, o farol, tudo isso absorvido pela língua [...]. (2005b: 11-12) Já vimos que, como contraponto ao conhecimento racionalista, que privilegia a visão, o projeto naviano de conhecimento faz da pele o seu instrumento principal. É chegado o momento de analisar os motivos dessa prevalência. “O que agora mais me interessa na pele é a sua utilização como uma espécie de instrumento de apreensão do mundo” (1997: 149), 86 afirma o poeta, em entrevista. E, mais à frente, servindo-se de referências à literatura francesa, explica as razões de seu interesse: A pele, dada a sua extensão e a enorme quantidade de seus poros, tem aí um papel extremamente importante. Há, a este respeito, duas frases que de há muito andam associadas no meu espírito. Uma delas é do Genet, que, a propósito de Querelle, refere a atitude dessa personagem em determinada situação como a de quem tivesse olhos nas extremidades não só dos dedos mas també m dos músculos. Outra é de Balzac, que, para exprimir o que Sarrazine sentiu a primeira vez que ouviu Zambinela cantar, afirma que ele julgou ouvir por todos os seus poros. A idéia de que cada poro possa chamar a si o papel da vista ou do ouvido tem bastante a ver com a minha poesia. A pele é, se quiser, como uma grande lupa. (1997: 149) Ao recobrir toda a extensão corpórea, a pele é compreendida como nosso maior órgão perceptivo, cuja função não se limita ao sentido que lhe é comumente atribuído, o tato, mas se estende a todos os outros. Apropriando-se dos atributos dos outros sentidos, a pele faz com que o corpo inteiro percepcione, alargando indefinidamente sua capacidade sensitiva. Quando cada poro adquire o poder de ver, por exemplo, esse sentido se faz aumentado, transformando-se a pele numa grande lupa. A capacidade de ampliar o visível é referida à pele também num poema, onde se diz de “paisagens às quais a nossa pele serve de lente” (p. 215). E se à infinidade de poros do nosso corpo é concedido o papel não apenas da vista, mas, além do tato, também da audição, do olfato e do paladar, podemos imaginar quão dilatada e variada se faz nossa percepção do mundo. Quando o poeta se refere a uma experiência “que cada poro do seu corpo registou de maneira diferente” (p. 179), compreendemos que a pele produz como que uma multiplicação dos pontos de vista. Mas a importância da pele na apreensão do mundo parece advir ainda de um outro motivo, que o poeta não explicita no trecho citado, mas que infalivelmente se pressente no corpo dos poemas. O interesse, dessa vez, volta-se para o papel preponderante que a pele 87 desempenha no processo de interiorização da realidade. Pois os poros epidérmicos, mais do que os orifícios mais visíveis, parecem se encarregar pela passagem do mundo exterior à interioridade orgânica. Devido à sua extensão, a superfície da pele configura um expandido acesso à “realidade que através de todos os meus poros se procura incorporar na marcha dos sentidos” (p. 195). Constituindo a fronteira entre o dentro e o fora, é a partir dela que a exterioridade objetiva se liga à interioridade subjetiva, conformando-se nessa ligação aquilo mesmo a que podemos chamar realidade: “Entre cada um dos meus poros e o que deles diviso no meu próprio espírito há uma corda, uma espécie de cabo onde circula a realidade” (p. 193). A percepção visceral, em que o corpo inteiro se implica, não se efetuaria, portanto, sem uma participação direta da pele. Pois é através de seus poros que a paisagem pode atingir a profundidade orgânica, sendo então absorvida pelas entranhas, pelos pulmões, pelo coração, pelo sangue. Ou seja, graças à pele, os elementos corporais que não concorriam para a percepção sensória, passam também a participar da apreensão do mundo. Não só os sentidos se embaralham entre si como também se distribuem, compartilhando suas funções sensitivas com órgãos que usualmente não se encarregam dessas funções. De acordo com o que vamos entendendo, a percepção que interessa a essa poesia não é aquela realizada por um sujeito apartado do mundo. Ora, se o corpo se distingue do seu em-redor é porque há uma fronteira que os separa, e essa fronteira é a pele. Mas essa fronteira apenas seria um obstáculo ao conhecimento se ela não fosse porosa. A porosidade do corpo é justamente aquilo que denuncia o caráter ilusório da separação corpo/mundo. A pele dá contorno, mas não fecha. Pelo contrário, “a pele por fulgurantes / instantes muitas vezes abre-se até onde / seria impensável que exercesse / com tão grande rigor o seu 88 domínio ” (p. 161). Para conhecer, há que se afirmar a porosidade do corpo, alargar as aberturas pelas quais o mundo adentra o organismo e funde-se com ele. Entretanto, essa espécie de conhecimento conforma uma experiência arriscada. O poeta parece- nos dizer que, à medida que as aberturas se alargam, o mundo penetra com maior intensidade e volume. Ao ser invadido por tamanha enxurrada do exterior, o corpo não se conteria mais em seu envoltório, não encontrando saída senão expandindo-se, estendendo suas proporções a uma dimensão cósmica, dispersando-se, enfim, pelo universo. É esta mais radical incursão pelo desmesurado da natureza que se observa no poema “O corpo espacejado”. As várias partes do corpo, “de que só por abstração se chegava à noção de um todo começavam- lhe a afastar-se umas das outras, de forma que entre elas não tardou que espumejassem as marés e a própria via - láctea principiasse a abrir caminho” (p. 166). Ao final do poema, este ser de descomunais proporções, resolve plastificar-se. Embrulha em celofane as mais diversas partes do corpo, dos dedos das mãos aos intestinos e o coração. Como se, na ausência da proteção da pele, se buscasse um revestimento artificial, evitando-se recair definitivamente na indistinção das formas. O risco de se abolir a fronteira da pele é, então, o da dissolução absoluta. O sujeito perde sua forma individuada e se confunde com os objetos que o cercam. Parece não haver garantia de se reconstituir as formas dissolvidas. Para que, a partir da fusão sujeito/objeto, novas formas possam irromper, é preciso que conhecimento implique também criação. O conhecimento dissolve as formas constituídas e devolve outras recriadas. Após o ato de conhecimento, o poeta renasce, transformado num outro: um novo sujeito diante de um novo objeto, o poema. Se entendermos a experiência da morte, isto é, da dissolução do sujeito, como correlata da 89 experiência da criação, podemos afirmar que ela é fundadora dessa poesia. A suspensão das fronteiras não se faz sem a luta por preservar algum contorno. Escrever é não se esvair na indistinção, é salvar a pele, do poeta, do poema. Em “Identidade”, lê-se: “Ignoro ao certo o que seja ser, mas, seja o que for, dispõe de intensidade própria ou regulável [...]” (p. 180). Acreditamos que o instrumento regulador do ser é justamente a pele, seja a do corpo ou a da escrita. O poeta dedica-se ao exercício de ampliar ou estreitar a abertura dos poros. Abri- los é deixar o corpo ser um com o mundo, experimentar a dissolução do eu, entrar em estado poético. Fechá - los é garantir uma forma, experimentar uma identidade, costurar o poema. A leitura de “O último reduto” pode nos ajudar a endossar essa leitura: Naquilo a que chamamos eu há sempre um espaço inocupado, onde parece alimentar-se um mecanismo que de dentro de nós próprios se apostasse em escorraçar-nos, repelir-nos, algo cuja natureza nos é estranha e que não raro ocupa toda a nossa identidade. Vamos assim sendo confinados a um domínio que se exaure, a um território em progressiva retração, que em breve se limita às mãos, aos lábios, ao rebordo de uma ferida, sendo na pele que inevitavelmente concentramos então tudo o que nos resta. Na pele é um modo de dizer: na roupa, nos adornos. São os brincos, as pulseiras e os anéis o que por vezes nos sustém, o que garante a nossa integridade, o último reduto contra esse mecanismo que de dentro de nós próprios nos rechaça e de que a pele, a plataforma a que, alarmados, então nos agarramos, é igualmente o carburante, numa duplicidade idêntica à de um livro cujas páginas entrassem e saíssem do espírito de quem o escrevesse. (p. 171) No espaço reservado para o eu, nada chega a residir, nada cria raízes, nada se demora. A única coisa que aí permanece, constantemente alimentado, é um mecanismo. Portanto, se esse mecanismo nos é de natureza estranha, nossa identidade não é senão alteridade. Trata-se de um mecanismo de outramento, para evocar a expressão de Fernando Pessoa, um mecanismo que impossibilita o mesmo e destitui o eu de sua capacidade identitária. O eu transforma-se constantemente em outro. Todavia, parece haver algo neste 90 contínuo outramento que apavora. Como se o eu quisesse, a despeito de sua contínua dissolução, fixar-se. É aí que o poeta afirma a duplicidade inexorável da pele. Por um lado, ela é a plataforma a qual o eu se agarra antes de ser expulso para fora de si mesmo. Limite entre o dentro e o fora, a pele é o contorno que garante a constituição de uma interioridade possível. Por outro lado, ela é o carburante que explode a identidade. Porque é porosa, não permite estancar a hemorragia do ser. O devir é implacável e é através dos poros da pele que ganha passagem. Pelos poros da pele, o mundo entra e sai do corpo. Pelas frestas do espírito, as páginas do livro entram e saem do escritor. Em ambos os movimentos, o eu é transformado em outro. O poema não se cria sem que o poeta seja também recriado. 91 4.2. Eu sintonizo a página à memória Tout le passé du monde complètement absorbé dans le moment présent. André Gide Os nervos, essa rede quase hidrográfica através da qual todo o real nos vem desaguar na carne, tomam com freqüência a configuração duma raiz que sub-repticiamente nos houvesse mergulhado na memória. Luís Miguel Nava Dissemos que o movimento do mundo no corpo se constitui num duplo sentido, da superfície à profundidade, da profundidade à superfície. Ora, a apreensão do mundo pelos sentidos nos dá conta de apenas um desses movimentos. O mundo atravessa a superfície da pele e se encaminha à profundidade orgânica. Há, porém, “um instrumento mais na apreensão do mundo”, “um instrumento que não é decerto mais exato do que os outros, mas que talvez por isso até se torne mais interessante, dada a forma quase descarada como transforma nossas percepções” (1997: 152). Estamos falando da memória. Pois é através dela que se efetiva o segundo movimento do mundo no corpo: “O Proust di- lo na última página da Recherche, onde refere que o encanto dos quadros da memória advém precisamente de serem captados no seu próprio interior e não pelos sentidos” (1997: 152). As paisagens apreendidas pelos sentidos vão do exterior ao interior orgânico. As paisagens captadas pela memória realizam, pois, o percurso contrário; vão da profundidade à superfície dos corpos. Mostramos que, através das vias sensoriais não se pretende alcançar uma percepção pura e fiel dos objetos. Vimos também que a separação eu/mundo é, mais do que um fato 92 físico inquestionável, fruto de uma abordagem do real a partir de uma perspectiva predominantemente intelectiva. Veremos, agora, que o mundo apreendido pela memória, embora advenha do interior do corpo, não consiste numa realidade subjetiva. Ou seja, ao fazer da memória um instrumento de apreensão do mundo, não se está recaindo no avesso de um conhecimento científico objetivista. De resto, dizer que as paisagens da memória são subjetivas seria recair na mesma dicotomia sobre a qual se funda esse tipo de conhecimento, seria separar sujeito e objeto. Investigando o pensamento poético naviano, somos levados a compreender que, longe de consistir na capacidade de um sujeito para rememorar, a memória coloca em xeque a própria noção de sujeito; mais do que uma faculdade intelectiva, a memória é corporal; diversa de um reservatório de imagens fiéis do passado, a memória é um mecanismo através do qual o próprio passado se transforma, cambiando-se em presente. Se do mundo exterior temos a impressão de que é um único e mesmo para todos aqueles que o apreciam, à diversidade de mundos interiores faz-se impossível acordarmos a mesma unicidade, já que cada indivíduo tem o seu. Entretanto, cada realidade interior não se constitui senão absorvendo o que de fora se lhe é apresentado, conformando um corpo de memória tão mais singular quanto o forem os percursos de vida empreendidos. Vindas de dentro do próprio corpo, as paisagens que a memória nos entrega são, portanto, o retrato vivo da indissociabilidade eu/mundo. É sobre essas paisagens que Luís Miguel Nava se debruça no momento da escrita: “Escrevo onde à nudez cabe o papel habitualmente atribuído a uma janela” (p. 55). O poeta se volta sobre o próprio corpo, e não só sobre a sua superfície: “Desnudarmo- nos é pouco, há que mostrar as vísceras” (p. 143). 93 Assim como os sentidos não estão subordinados ao cérebro, a memória também não depende da ordenação de um aparelho central. Se o cérebro fosse o ponto de ancoragem de uma mente desencarnada, onde as recordações como que baixariam, a cabeça seria o lugar privilegiado da memória. Entretanto, como estamos tratando de uma memória encarnada, mais sensória e afetiva do que intelectual, é pelo corpo todo que ela se distribui: “... a memória, / sentindo-a da cabeça aos rins” (p. 75). Mesmo quando se manifesta na cabeça, é menos como uma recordação de ordem mental do que como uma sensação corpórea - que, aliás, se alastra a outras partes do corpo: “às vezes acontece eu sentir, mesmo / por baixo dos cabelos, a memória aligeirar-se e arderem / nas mãos os dedos em desordem” (p. 59). A memória se espalha desde a superfície dos corpos - “onde há quem tenha a pele tenho a memória” (p. 94) – até as suas camadas mais profundas: “colou-se-me às entranhas a memória” (p. 198). Ou seja, o corpo inteiro se constitui de memória, a profundidade orgânica sendo o seu fundo e a pele sua camada superficial. Para ter acesso às suas paisagens, o poeta empreende uma descida aos abismos viscerais, ou fica à espreita daquilo que, irremediavelmente, lhe sobe à superfície. Através da boca, das narinas, dos ouvidos, dos olhos e dos poros da pele, o mundo adentra a profundidade orgânica. Aí o coração, o sangue, as vísceras e entranhas encarregam-se de absorvê - lo. Poder-se- ia inferir que todos os indivíduos, sendo dotados de bocas, narinas, ouvidos, olhos, pele, coração, sangue, vísceras e entranhas, percebem o mundo da mesma maneira. Se isso não acontece é porque cada corpo tem uma consistência ou textura material que lhe é única. Diremos que cada corpo tem a sua memória. E a memória não consiste senão na própria matéria do mundo absorvida e assimilada pelo organismo. 94 Se, por um lado, a memória compõe-se de tudo aquilo que foi percebido e interiorizado pelo corpo, por outro, ela condiciona aquilo que o corpo percebe e interioriza. Como se procurou mostrar anteriormente, a matéria interiorizada se confunde com o corpo a tal ponto que passa a intervir também nos processos perceptivos. Portanto, cada percepção presente é, de certo modo, condicionada por todas as percepções passadas 19 . Isso significa que, em última instância, é a memória quem percebe: “a rua / por onde agora eu sigo / vai só até onde a memória a conseguir abrir” (p. 140). Ou seja, aquilo que chamamos de sujeito da percepção não é senão um corpo de memória: “Eu mais não sou do que um embrulho de memória, atado pelas veias e lacrado pelo espírito” (p. 193). Qualquer idéia de sujeito originário cai por terra. São os trajetos de vida empreendidos por cada corpo que vão modulando o que chamamos de eu. Assim nos dá a entender, por exemplo, o poema “Regresso”: Vim para vender um prédio, a casa onde cresci, cujas janelas, através das quais primeiro apreendi o mundo, de tal forma então se confundiram com os meus olhos que se me entranharam nos sentidos. Não vai ser fácil arrancá-la agora às profundidades da alma, donde como uma planta parece ter brotado até me submergir na sua sombra. (p. 183) As paisagens outrora percebidas e interiorizadas ao corpo se consubstanciam aos órgãos dos sentidos. Portanto, são elas o ponto de vista, a perspectiva a partir da qual se observa o mundo. A matéria incorporada pela memória acaba por ofuscar o sujeito, aquele que se pretende piloto da experiência. Cada corpo traça um percurso distinto no mundo, e, a 19 Não podemos deixar de notar as ressonâncias entre a concepção de memória que aflora da poética naviana e aquela desenvolvida pelo filósofo Henri Bergson, em seu livro Matéria e Memória. No que se refere à relação entre memória e percepção, leia-se, por exemplo, esta passagem: “Na verdade, não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. Aos dados imediatos e presentes de nossos sentidos misturamos milhares de detalhes de nossas experiências passadas” (BERGSON, 1999, p. 30). O diálogo entre o filósofo e o poeta mereceria um estudo mais aprofundado. 95 partir dos encontros que vai realizando, das paisagens que vai apreendendo, conforma o seu corpo de memória, que não coincide com nenhum outro. É porque não existe nenhuma memória igual a outra que as percepções se diferem todas umas das outras. Isso nos explica o texto autobiográfico “As escadas”: A minha visão das cidades onde, depois de sair de Viseu, tenho vivido, nomeadamente a de Bruxelas onde actualmente me encontro, é condicionada pela imagem que desse espaço guardo na memória como uma matriz necessária à intelecção do mundo. Ao atravessar locais tão conhecidos como a Grande Place ou as Galerias St. Hubert, [...] sinto que a percepção que deles tenho difere da de qualquer outra pessoa pelo simples fato de no meu espírito se recortar contra a memória de Viseu. [...] Olhando para trás, apercebe-me duma linha em função da qual as coisas ganham todas um relevo específico e que faz das diversas cidades onde tenho residido – Viseu, Lisboa, Oxford, Bruxelas – espaços que a partir das relações que entre si mantêm se iluminam duma luz que está dentro de mim e a que jamais conseguirei que qualquer outra pessoa igualmente possa contemplá -los. (1995: 7) Importa ressaltar, contudo, que as paisagens da memória – a lembrança de Viseu, por exemplo – não permanecem para sempre idênticas. Já sabemos que essas paisagens, interiorizadas ao corpo, não são a cópia fiel de paisagens exteriores – são apenas “o desenho que se esboça sobre o vidro do que somos”. Há que acrescentar, então, que, uma vez desenhadas sobre a memória, entranhadas ao corpo, essas paisagens não permanecem intocadas, conservadas para todo o sempre. O corpo está continuamente fazendo novas assimilações, e cada nova paisagem absorvida acaba por transformar as anteriores. Em função das associações que estabelecem com as sempre novas aquisições da memória, algumas lembranças se apagam, outras se alteram de forma mais ou menos radical. Costumamos atribuir a defasagem entre o percebido e o lembrado a uma falha da memória. Se esquecemos das coisas, é porque não temos uma boa memória. Ou porque a memória é, 96 a todo título, defeituosa. Ora, de acordo com o que se lê ainda em “As escadas”, Nava compreende o esquecimento não como uma falha, mas como uma atividade: Se é verdade que freqüentemente a existência de certos espaços em branco se deixa adivinhar, como o das superfícies a que a tinta da memória se recusa a aderir, nada garante que eles resultem dum efectivo enfraquecimento da lembrança, sendo antes de admitir que constituem, também eles, uma ficção ainda do meu espírito. (1995: 7) Os brancos da memória, ou o esquecimento, são atribuídos a uma ficção do espírito. Todavia, a reverberação dessa afirmativa atinge tão mais longo alcance quanto compreendermos que essa ficção não depende de uma elaboração intelectual e que o espírito não remete a um plano imaterial ou a uma mente descorporificada. A assertiva nietzschiana valeria aqui: “o espírito é um estômago” (NIETZSCHE, 1995, p. 212). Os mecanismos da memória, em Nava, se assemelham mais a um procedimento fisiológico do que intelectivo. E, dentre as funções orgânicas, é certamente a digestão a que mais propriamente lhe diz respeito 20 . É o poema “O ouvido” que melhor nos dá conta dessa aproximação, referindo-se aos brancos da memória, pelos quais ele, logo de manhã, às vezes se embrenhava ao ponto de, por fim, neles se perderem mesmo os alimentos que ao longo do dia ia ingurgitando. A memória parecia, aliás, ter mais poder de intervenção nas suas digestões que propriamente os órgãos do aparelho digestivo. (p. 246) Os espaços em branco, as áreas que se diriam mergulhadas no esquecimento, parecem constituir o fundo da memória e não o seu reverso. A continuação do mesmo 20 As relações entre memória, esquecimento e função digestiva, foram também pensadas por Nietzsche. A esse respeito, conferir “Memória, esquecimento e corpo em Nietzsche”, de Maria Cristina Franco Ferraz: “O esquecimento não é, portanto, comparável a um processo de digestão, mas, como atividade do corpo, se confunde com a digestão, que deixa, por sua vez, de ser pensável apenas no campo da fisiologia, como função de um corpo, por assim dizer, ‘desespiritualizado’”; “espírito e estômago se fundem” (FRANCO FERRAZ, 2002, pp. 62-63). 97 poema nos leva a considerar a existência de diferentes graus de memória, como numa escala. As lembranças que se encontram à superfície seriam as mais vivas e coloridas. Descendo às camadas mais profundas, as imagens iriam esmaecendo, perdendo cor, até de todo embranquecerem. Assim acontecia com “as ervas que, de cada vez que ele nelas punha os pés, se lhe enterravam na memória, onde de imediato embranqueciam” (p. 246). É então no final do texto que se elucida o papel da digestão nesse desbotamento das imagens: “o próprio céu, que sobre as suas digestões se conservava dum azul incólume, acabava, também ele, por nelas se envolver e consumir” (p. 246). Também se referindo ao céu, o poema “Até a infância” nos diz: “O certo é que, ao atingir maior profundidade, a cor se lhe alterou sensivelmente, embora a natureza dessa mutação não fosse propriamente de ordem física. Foi como se ao chegar a esse ponto, tendo a bomba da memória começado a trabalhar, a luz que sobre ele este mecanismo vomitava lhe alterasse a própria consistência” (p. 107). As aproximações entre memória e digestão ecoam em passagens de mais dois poemas. No primeiro, embora os alimentos já se tenham sumido na profundidade do corpo, a lembrança deles se mantém à tona, nas malhas do que se pode ainda chamar a realidade do presente: “O que do almoço lhe restava na lembrança era mais real do que o que dele trazia no estômago” (p. 272). No outro, os gases liberados pelos alimentos ingeridos irrompem, trazendo sua lembrança para a camada mais superficial e vívida da memória: “Ela arrotou. O que comera ao meio-dia encostou-se-lhe à memória” (p. 261). Porém, se há ocasiões em que as lembranças permanecem mais tempo na superfície, e outras em que subitamente a ela retornam, antes de se afundarem definitivamente, há aquelas também em que a ação do esquecimento se faz mais veloz e implacável, como quando se vê “o branco 98 da memória a alastrar-se pelo corpo” (p. 249), ou quando se abriam “dois buracos na memória, e através dos quais as imagens redemoinhavam até ao centro do seu corpo” (2005b: 17). Aquilo que fica à superfície ou se afunda na memória parece depender de uma seleção, passando por um crivo provavelmente mais afetivo do que racional. O poema intitulado “Um gesto” coloca em cena o processo seletivo da memória, relatando o momento em que a persona gem Matilde se lembrou de uma mulher que vira três ou quatro dias antes, ao volante de um carro que pararia junto ao seu, esperando que o sinal abrisse. Aproveitando aqueles breves momentos, a mulher mirara-se no retrovisor e, depois de levar um dedo aos lábios e o molhar com a língua, passara-o pelas sobrancelhas. [...] Tinha a certeza de que, enquanto se lembrasse daquele gesto e da mulher que o executara, o instante em que o captara continuaria a existir, tal como ela naquele preciso momento existia ali [...]. As feições da mulher haviam começado, é certo, a diluir-se-lhe na memória, onde, de resto, o automóvel em que ela se encontrava e mesmo seu cabelo já não tinham qualquer cor. [...] Matilde estava certa de que isso pouco importaria. Fosse a mulher loira ou morena, gorda ou magra, o que na realidade havia de marcante é que levara um dedo à boca e às sobrancelhas e que, sem disso poder ter tido consciência, colocara assim, ali, um travão no tempo [...]. (pp. 274-275) As imagens da memória, enquanto permanecem à tona, pertencem ao presente, existem como o próprio corpo que as evoca. Não são fantasmas de imagens do passado. Entretanto não é toda a paisagem, na sua integralidade, que se faz presente. A memória opera um recorte. Alguns elementos perdem a cor ou embranquecem, descendo à camada mais profunda. Enquanto outros, descolados do seu entorno, guardam por mais tempo o seu colorido. Aqui, é o gesto, na sua impessoalidade, que persiste. Os traços pessoais da mulher que o executara se somem. Há, porém, nesse recorte, algo de significativo quanto àquilo que, nesse universo poético, faz apelo aos afetos. O que havíamos analisado a respeito do erotismo se confirma aqui. O interesse pelo outro não passa por nenhuma tentativa de fixação identitária. Assim como à pessoalidade do rapaz se sobrepunha o acontecimento 99 erótico, figurado no rapaz-relâmpago, às características da mulher se sobrepõe o acontecimento mulher, figurado no gesto. No poema “Borrasca”, também se observa o processo de seleção das imagens da memória. E esse se confirma como uma atividade não intelectiva, posto que não há nenhum aparelho central a decidir dos destinos das lembranças. Como se tivessem vida própria, as imagens, sentindo-se arrastar para o fundo, relutam, tentando escapar da dissolução ou embranquecimento, como alimentos que buscassem fugir da ação do suco gástrico: Tudo isso mais não eram, entretanto, do que imagens em apuros, imagens atacadas por memórias em conflito com o presente, ou mesmo com o passado onde pareciam radicar, e que, esbeiçando-se nos bordos, davam lugar a que o esquecimento sobre elas actuasse como uma espécie de ácido sulfúrico. (p. 245) Aquilo que permanece na lembrança ou se dissolve no esquecimento depende de um processo de seleção natural. As imagens lutam instintivamente entre si, como as espécies animais. Aquelas que não se adequam ao habitat, se extinguem. Veremos que essa extinção, no entanto, não soa como uma perda, mas como uma demanda de reorganização. Um novo ambiente se configura, onde nada falta. É o que se constata a partir de dois fragmentos de “Há uma espécie de asma mental, em que sufoco” e de mais um trecho de “As escadas”: A memória é um espesso líquido de imagens, onde, mesmo que dele desapareça uma, as outras voltam a fechar-se sobre o espaço que por ela era ocupado, mantendo entre si uma harmonia que nos faz passar despercebida a ausência das que desapareceram e, simultaneamente, altera a percepção global que dela temos. (1997a: 9) De cada vez que uma coisa é suprimida da memória, as que nela permanecem unem-se de novo, como as águas sobre o sítio onde qualquer volume se afundou; mas o que nisto há de impressionante é que as coisas que ficam fazem sentido entre si, dispensando por completo as que se somem, embora seja um sentido novo, diferente, que não existia enquanto o elemento suprimido se situava entre elas. (1997a: 10) 100 Lembram no seu conjunto um puzzle, concebido de tal forma que, perdidas algumas das peças, as restantes pudessem continuar a articular entre si, formando figuras obviamente diversas das que resultariam duma composição onde nenhuma delas faltasse, mas que nem por isso deixam de fazer sentido. (1995: 7) O puzzle que reveste a camada superficial da memória está a todo o momento se reconfigurando, prescindindo das imagens que descem às camadas mais profundas. Parece, no entanto, que as imagens que se afundam não se somem completamente, podendo, ao apelo das situações que afrontam o presente, aceder novamente à superfície: “A minha memória é composta de folhas sobrepostas, por qualquer das quais, se se rasgasse, o que nas outras se encontra irromperia” (1997a: 10). E se, no fundo da memória, as paisagens vão se alterando, afastando-se da feição com que inicialmente ali mergulharam, isso não significa que percam o interesse. Assim, o poeta alude a “imagens que no fogo / lento da memória se apuraram / de dia para dia e que o passado / nos serve agora como uma iguaria (p. 202)”. Basta que retornem à superfície, para que, à luz do dia, recuperem brilho e cor, pouco importando que não sejam brilho e cor idênticos aos do passado: “Dir-se-ia que a minha vida é composta de sucessivas camadas dum solo à superfície do qual me obstino em trazer à luz do dia essas imagens que, recozidas pelo tempo, ao longo dos anos se foram transformando” (1995: 7). No fundo da memória, as imagens se redistribuem numa disposição espacial que em nada respeita a suposta linearidade temporal em que imaginamos se ordenarem. Se seguissem uma lógica linear, conforme a ordem dos acontecimentos, as imagens mais remotas se situariam no plano mais profundo e as mais recentes se encontrariam nas camadas mais superficiais. Comporiam, assim, uma configuração muito distinta da do “céu que o passado aos poucos vai compondo dentro de nós, onde cada lembrança é um astro, 101 uma concentração de luz, e onde todas as estrelas, embora as saibamos a distâncias diferentes e de grandezas diferentes, nos parecem estar à mesma distância” (1997a: 14). As imagens, quando porventura se dispõem em série, acabam por simular “uma cronologia o mais das vezes falsa, numa ordem que raramente corresponde à dos factos que reflectem, estabelecendo entre si associações que têm a ver mais com os humores onde mergulham do que com o que se passou na realidade” (1995: 7). O que se passou na realidade parece ter muito pouco peso para a escrita de Luís Miguel Nava. Se, algumas vezes, ela parece contornada por uma áurea de realismo, trata-se de uma realidade interna, recriada pela memória. É o que o poeta explica a respeito dos poemas intitulados “Manuel” e “Virgínia”. Em entrevista, Nava é perguntado se “sente que são poemas mais realistas”, já que, ao aludirem a nomes de pessoas que participaram de sua vida, sugerem uma maior carga referencial. Ao que responde: Bom, em nenhum dos casos a situação descrita corresponde exactamente à realidade. No primeiro, houve efectivamente uma viagem a Sintra, mas o local do encontro não foi a Feira Popular. Para lhe dizer a verdade, já nem sei onde foi... Mas a ida à Feira Popular, que, por acaso também se realizou, foi noutra altura, umas semanas antes... Quanto à Virgínia, era uma mulher que, quando eu era miúdo, vinha às vezes ajudar nos trabalhos de casa. A situação descrita no poema é totalmente elaborada a partir de uma série de elementos que lhe dizem respeito, mas não corresponde a uma circunstância exacta que eu me recorde de ter vivido. (1997: 152-153) O que o poema retrata não são as imagens de um momento vivido no passado, mas o puzzle que as imagens da memória compõem no momento em que se escreve. O tempo da escrita é sempre o presente. De resto, quando busca fazer do passado o tempo da escrita, o poeta não empreende mais do que uma tentativa frustrada, constatando que o valor do que 102 é dito só pode advir das próprias palavras que dizem e não daquilo a que supostamente referem: O simples fato de pensar que o que eu escrever agora difere do que sobre o mesmo assunto escreveria dentro de alguns dias é já por si suficiente para me desencorajar. Que valor terá algo que se presta a ser dito de tantas formas quantos os momentos em que eu proponha referi-lo? Não será isso uma prova de que eu mais não capto do fenômeno do que uma superficialidade que só ilusoriamente tem a ver com uma essência que, essa sim, se plasmaria sempre nas mesmas palavras, qualquer que fosse a altura em que eu as proferisse? (será que, por idêntica razão, as dessemelhanças existentes entre os homens resultam do fato de, sendo Deus tão imperfeito quanto as suas criaturas, as ir concebendo em momentos diferentes, obedecendo embora sempre à mesma idéia?). (1995: 7-8) A imperfeição de Deus adviria de sua mutabilidade, de sua vulnerabilidade à ação do tempo. A hipótese que se esboça é a seguinte: Deus concebeu uma primeira imagem de homem. Porém, essa imagem, guardada em sua memória, se foi transformando, apesar de manter-se essencialmente a mesma. Ou seja, se os homens criados por Deus não são todos iguais e idênticos a uma imagem primeira, não é porque Ele se esqueceu do projeto inicial, mas porque o projeto se foi modificando em sua memória. As cria turas são todas diferentes porque o criador, ele próprio, difere de si mesmo a cada instante. A idéia de uma essência, imutável, dos fenômenos ou das imagens, acaba por se revelar novamente falaciosa, já que não há, no mundo, nenhum porto seguro, nenhum lu gar onde se possa abrigar contra o fluxo do tempo, contra “a presença do futuro”. Deparando-se com a impossibilidade de conservar as imagens da memória, o poeta se confronta com uma espécie de saudade bastante particular: Pressentindo as saudades que vou ter de Oxford, ou da imagem que desta cidade o facto de já cá não me encontrar vai construir, procuro – tentando imaginar o que essa imagem possa vir a ser – fazê-la coincidir com o que, atravessando as suas ruas, agora se oferece à minha percepção. Mas não consigo. (1997a: 9) 103 O poeta pressente que vai ter saudades não de Oxford propriamente, mas da imagem de Oxford que vai ficar em sua memória. É como se Oxford mesmo não existisse enquanto tal, enquanto uma cidade exterior ao sujeito. Oxford existe enquanto imagem interiorizada ao corpo. Uma imagem mutável que, incorporada à memória, afasta-se cada vez mais daquela percebida pelos sentidos. Fazer coincidir a imagem que futuramente haverá em sua memória com a que no presente se percebe é o mesmo que fazer coincidir um instante passado com um instante futuro, isto é, abolir o tempo. Obviamente, ele não consegue. A primeira particularidade dessa espécie de saudade reside, portanto, no fato de que se refere às paisagens interiores e não àquelas do mundo exterio r, que foram ficando para trás. Uma segunda peculiaridade deve-se a esse sentimento não se confundir com o desejo de se recuperar um passado idílico. É curioso que o poeta pressinta ter saudades de um lugar onde admite não se sentir bem: “Às vezes, para me reconciliar com Oxford – este espaço onde nunca fui capaz de me sentir pleno [...] – procuro imaginar o que desta cidade terei no espírito quando de vez dela tiver partido. Como é que eu posso não me sentir bem num sítio de que sei que vou sentir falta?” (1997a: 12). Para se sentir bem em Oxford, o poeta procura se transportar para um futuro em que essa cidade só existirá na memória. Ou seja, as paisagens da memória se afiguram mais atraentes do que as que se ofereceram à percepção. O mesmo vale para as lembranças da infância e o próprio poeta se indaga quanto ao motivo de tal prevalência: “Como explicar que, tendo eu tido uma infância sem dúvida bastante infeliz, a olhe hoje com tanta nostalgia?” (1997: 152). Parece-nos, então, que é de um interesse literário que se está a falar. Ao menos, é o que o poeta nos dá a entender quando comenta as lembranças que guarda de Viseu: 104 A impossibilidade de confrontar essas imagens com o que é hoje o espaço que lhes está na origem, bem como a vastidão de tempo que tenho estado sem lá ir desde que, aos dezoito anos, me mudei para Lisboa, tudo isso contribui para que na minha memória tanto a casa como as próprias ruas da cidade surjam envolvidas duma aura que só por si já lhes confere qualquer coisa de literário. (1995: 7) De novo, o diálogo com Camilo Pessanha se afigura profícuo. Para ele, também não reside na distância de um tempo feliz e irrecuperável o motivo da saudade. Pessanha admitia ter saudades mesmo de lugares onde nenhum laço afetivo se tivesse criado: “E eu, que tinha saudades de quanto ia deixando, até de Barcelona, onde estive cinco dias, até de Colombo onde estive duas horas. Porque a gente é bem um grumo de sangue, que por toda a parte se vai desfazendo e vai ficando” (Apud FRANCHETTI, 2001, p. 15). Pessanha pressente que, no percurso do sujeito pelo mundo há uma perda irremediável de substância. O sujeito, grumo de sangue que é, vai progressivamente se desfazendo e impregnando o mundo, se perdendo pelas cidades. A saudade se confunde, então, com o desespero frente à impossibilidade de se conservar. E a poesia aparece como “um lugar onde alguma coisa afinal se preserva” pois “são os versos que surgem como forma de fixação daquilo que é transitório” (FRANCHETTI, 2001, pp. 70 e 84). De acordo com o que viemos analisando, o percurso naviano pelo mundo sugere mais um acréscimo do que uma perda, já que o sujeito absorve todas as paisagens por onde passa. Não é o sujeito que se evade pelo mundo, é o mundo que invade o sujeito, incorporando-se ao sangue – “um sangue onde o mundo se reflectia e através do qual as imagens das coisas se escapavam como se ele as engolisse” (2005b: 14). Guardando o mundo dentro de si - “fazendo a casa e a cidade (a Figueira da Foz, por exemplo) parte do nosso sangue” (1997a: 13) -, não haveria motivos para sentir saudades. Porém, dentro do corpo, as paisagens não cessam de se transformar. E também aí, o poeta se depara com a 105 impossibilidade de conservação, contra a qual a escrita poderia lutar: “bastaria que para tanto se encontrasse uma forma, um estilo (diria o poeta), algo que nos seus moldes contivesse o esparramar da vida” (p. 273). Segundo Paulo Franchetti, o exílio se faz doloroso para Pessanha porque, à medida que se afasta da terra natal, a sensação de perda de substância e enfraquecimento vai aumentando. Entretanto, ao retornar à pátria, o poeta recobraria a energia perdida, como se tivesse podido recuperar a substância deixada ao longo do caminho. A proximidade da pátria tem, aliás, relação direta com a inspiração poética, já que Pessanha a entende como “emotividade, educada desde a infância e com profundas raízes, no húmus do solo natal” (Apud FRANCHETTI: 2001, p. 23). Como bem explica Franchetti, a educação, nessa perspectiva, “se processa pela absorção da particularidade nacio nal ou regional, pela apropriação daquilo que constituiu a vida pretérita do lugar a que se filia o novo poeta” (FRANCHETTI: 2001, p. 24). No exílio, o poeta precisa esforçar-se por manter vivos os costumes, a língua e a paisagem natal, sem os quais a inspiração poética se desvaneceria. Ora, em Nava, já que a saudade diz respeito às paisagens interiores, não seria o afastamento de outro espaço a provocar a sensação dolorosa do exílio: “o nosso exílio interior é sempre maior do que qualquer afastamento físico da pátria. Este pode, quando muito, dar-lhe um substracto concreto, tornando-o, digamos, mais palpável. Mas o solo onde é necessário enraizarmo-nos, ou de cujo desenraizamento pode resultar um verdadeiro sofrimento, está dentro de nós” (1997: 149-150). Um quer fincar raízes no solo natal; outro, na própria profundidade orgânica. Se Pessanha deseja absorver aquilo que constitui a memória ou a vida pretérita do país, Nava buscaria extrair aquilo que constitui a memória ou a vida pretérita do próprio corpo, o que, obviamente não exclui a língua e a paisagem 106 natal, posto que essas lhe são interiorizadas. Mas enquanto Pessanha se preocupa com a memória de um tipo específico de homem, o português, Nava compreenderia esse mesmo homem dentro de um universo que em muito ultrapassa a história e a geografia de Portugal. Perscrutando as entrelinhas, podemos ir além do que textualmente Nava nos diz e afirmar que a memória de um corpo se constitui não só dos encontros que esse realiza ao longo do seu percurso de vida, ma s também daqueles que os seus antepassados efetuaram. Nesse sentido, o passado do corpo conformaria também o passado do país e, mais do que isso, todo o passado do mundo. Ajuda-nos a desenvolver essa reflexão o poema “A cor dos ossos”: É muito pouco, geralmente, o que sabemos quer dos nossos órgãos, quer do nosso sangue. Comparável a essa ignorância, só muitas vezes a que diz respeito à nossa genealogia, a qual a vários títulos – e não por isso apenas – deveria ser relacionada com o nosso corpo. Um dia, num programa de rádio em que falavam dos ciganos, ouvi um, ao ser entrevistado, responder que não sabia nada sobre a sua origem. O problema provavelmente nem sequer se lhe chegara alguma vez a pôr. O facto impressionoume, e não tardou que viesse a pressentir a ligação que existe entre ele e o desconhecimento em que, não raro, mergulhamos no que toca ao nosso corpo. Se me fosse possível ver na rua um osso ou um órgão meu, dificilmente o distinguiria dos de outras pessoas junto dos quais ele estivesse, do mesmo modo que não conheceria o meu antepassado de quem nunca me chegou às mãos qualquer retrato. A nossa anatomia é uma terra enigmática e longínqua sobre cujo mapa jamais pensamos debruçar-nos. Carregamos connosco, desde que nascemos, montes e caudalosos rios de cujo crescimento temos uma idéia exterior, ligada sobretudo ao peso que do conjunto periodicamente acusa o mostrador duma balança anônima. Das fontes que dentro de nós muitos anos brotam e depois se apagam lentamente, não temos a mínima noção, nem do que dentro de nós se passa em processos aparentemente tão simples e correntes como as digestões diárias. Os ossos são, no entanto, o que, de tudo isso, mais me preocupa. Desconhecemos deles a própria cor. Talvez haja quem os tenha coloridos, uns deles azuis, os outros cor-de-rosa, e atravesse a vida, às vezes longa, sem que do facto se chegue a aperceber. Há talvez mesmo quem não dê, durante a vida inteira, por ter ossos, carregando-os consigo várias dezenas de anos como se eles não existissem. O problema que daqui decorre é o de saber se o facto de a cor deles divergir altera a relação que, mesmo que o ignore, com eles tem quem o possui; ou seja, o de saber se alguém, por tê-los verdes, ou verdes alguns deles e outros azuis, se sente, por exemplo, mais feliz – ainda que, repito, essa questão se lhe não ponha – do que quem os tem castanhos, ou pura e simplesmente duma cor que como tal se não 107 chegue a definir, como se só em dadas circunstâncias se justificasse que a questão da cor fosse encarada [...]. (pp. 174-175) O poema indica a relação entre a genealogia e o corpo, apontando a ignorância em que mergulhamos a respeito de ambos. Sem nos dizer quais são, o poeta afirma haver outras questões a relacionar as duas instâncias. A primeira que nos vem em mente diz respeito à carga genética, que nos informa ser a anatomia um desdobramento da genealogia. Diríamos estar em jogo, então, uma memória corporal, pois não é a outra coisa que nos referimos quando dizemos que alguém tem sangue A ou B, mas também quando dizemo s que certa aptidão ou preferência está no sangue. Os antepassados nos transmitiriam tanto os seus genes quanto os seus gostos e dons. Mas o poeta deixa de lado o problema dos antepassados e se detém apenas sobre o estranhamento que lhe provoca o desconhecimento da anatomia, pondo-se a especular sobre possíveis vínculos entre aquilo que se encontra na profundidade orgânica e o comportamento de vida de cada um. Deixa, assim, um caminho aberto para o leitor fazer suas próprias suposições quanto à genealogia. Pois, façamos as nossas. Da mesma forma que se aventa a hipótese de a cor dos ossos influenciar nos modos de vida de quem os possui, podemos especular se a conformação dos antepassados – não apenas no que respeita à cor, mas também à raça, aos costumes, à língua, às vivências, enfim, às suas memórias – não intercederiam aí igualmente. A questão que se coloca é a de saber se, mesmo que não tenhamos visto o retrato de nossos antepassados, mesmo que não tenhamos conhecimento de seus costumes ou de sua língua, se, ainda assim, guardando algo desse passado no interior do nosso corpo, nossas percepções e ações não estariam, a um certo nível, por esse algo condicionadas. 108 Os registros de nossos antepassados, embora se situando num fundo imperscrutável da memória, reverberariam em nossa maneira de estar no mundo, como aquelas “imagens cujo brilho, tal como com as estrelas acontece, se mantém por algum tempo depois de elas se extinguirem” (1995: 7). Tratar-se- ia de imagens “que deixando de exibir forma concreta, como que se diluem ou desfibram em finíssimas raízes que se espalham através das outras, passando a constituir uma espécie de substrato mais ou menos luminoso que tudo contamina e nos leva a atitudes de adesão ou rejeição para com certas situações sem que saibamos explicar as razões de tal comportamento” (1995: 7). “O meu corpo divide-se entre a História e a atmosfera” (p. 195), lemos num poema. E, naquele que o poeta dispôs, em livro, imediatamente após, acrescenta-se: “o corpo surge entre o passado e a natureza unido à sua própria transcrição ” (p. 196, grifo nosso). É como se o corpo fosse atravessado por dois planos: um, que diríamos horizontal, o plano espacial, que engloba todo o em-redor, a natureza, as paisagens e a atmosfera; outro, que diríamos vertical, o plano temporal, que abarca a genealogia e o passado histórico. A profundidade orgânica, ou a memória, seria o lugar onde esses dois planos se cruzam, procedendo a uma indistinção entre o espaço e o tempo. A escrita poética seria responsável por fazer surgir o corpo, transcrevendo para o papel sua profundidade espaço-temporal. No ensaio “Do sangue à tinta: a escrita como exsudação do corpo”, sobre a poética de Luís Miguel Nava, José Pedro Ferreira compara o poema a uma sala de partos: “assistimos ao nascimento de alguém e, em simultâneo, tornam-se visíveis as entranhas do corpo que acaba de dar à luz” (FERREIRA, 2005: 40). Ou seja, o corpo que surge, corpo do poema, dá a ver o corpo do poeta. Seguindo um efeito de mise en abyme, diremos que o corpo do poeta, que se dá a ver no corpo do poema, dá a ver, por sua vez, os corpos que lhe 109 antecederam, o corpo da mãe, mas também de todos os antepassados. O corpo que dá a luz seria, em última instância, a profundidade espaço-temporal infinita que compõe a memória de cada um. Precisamos analisar, agora, o trabalho do parto, o modo como a profundidade da memória expele suas imagens à superfície do corpo ou da página. Assim que percebido pelos sentidos, o mundo se encaminha para o interior orgânico. Ao ser aí absorvido, se junta a todas as outras paisagens anteriormente apreendidas, isto é, incorpora-se à memória: “ao respirar o ar comunica com a memória” (p. 68); “... o pão / divide-se entre os dentes e a memória” (p. 79). Não apenas o que vem de fora se encaminha à memória, mas também aquilo que, embora já fazendo parte do corpo, passa de uma camada superficial a outra mais profunda: “é quando ao engolirmo-la a saliva / nos vai para a memória / que todo o nosso coração fica à mercê das águas” (p. 126). O trânsito se dá igualmente no sentido contrário, muitas vezes facilitado pela “boca, e o seu particular comércio com as entranhas” (2005b: 19). Observamos, então, que, longe de constituir uma matéria morna, vestígio esmaecido de um passado outrora vivaz, a memória guarda, aceso, aquilo que se chama de “o calor da hora”, reativando, ao retornar à boca, sabor e temperatura: “escalda- me a saliva onde a memória a surpreende” (p. 146), “como se à boca / nos viesse o sabor do nosso próprio coração” (p. 91), “a boca, onde a memória vem levantar fervura” (p. 126). No poema “Não muita vez”, a memória se assemelha também a um registro vivo e, aqui, é à superfície da pele que ela vem aflorar: “Os dedos com que me tocou / persistem sob a pele, onde a memória os move. / Tacteiam, impolutos. Tantas vezes / o suor os traz consigo da memória, que não tenho / na pele poro através / do qual eles não procurem / sair quando transpiro. A pele é o espelho da memória” (p. 61). Tudo se passa como se a 110 sensação provocada pelas carícias na superfície da pele se tivesse interiorizado e prolongado por dentro ao corpo, restando à memória o papel de ativá- la. De todo modo, importa ressaltar que a relação do corpo com o mundo se dá num trânsito de mão dupla. As mesmas carícias que atravessaram os poros e passaram ao espaço subcutâneo, agora, pegando carona na transpiração, retornam à superfície 21 . Se a pele, constituindo a fronteira entre o dentro e o fora, constitui, para o processo de interiorização das paisagens, um instrumento privilegiado, quando se trata de conduzir ao exterior as paisagens internas, seu papel se afirma não menos importante: Mas é na pele que tudo se reflete com maior intensidade – a memória abre um sulco através dela – espalha-se à tona com tudo o que da terra atrás de si carrega até se misturar com a saliva, a qual – completamente subterrânea – é o que por fim lhe serve de coroa, aquilo a que chamamos, referindo ao mar, rebentação. Vem sempre dar à pele o que a memória carregou, da mesma forma que, depois de revolvidos, os destroços vêm dar à praia. (p. 97) A memória, matéria que habita o fundo dos corpos, é a um só tempo assimilada à profundidade da terra e do mar, a pele equivalendo às respectivas superfícies. O mundo subcutâneo, confundindo-se com o subterrâneo ou subaquático, revela-se de uma natureza mais impetuosa do que pacífica e inerte. Fosse menos revolta, a matéria da memória se sedimentaria, estagnando na profundidade, sem se comunicar com a superfície. No entanto, animada por uma força vulcânica, a memória entra em erupção e irrompe através da pele. O mesmo vulcanismo se pressente no poema “Apenas a folhagem”, sendo que, dessa vez, é pelos olhos que a matéria da memória alcança o exterior: 21 Curioso atentar para a relação que a memória estabelece com a saliva ou o suor. Esses líquidos segregados pelo corpo constituiriam como que a faceta mais palpável, visível e concreta do que aqui se entende por memória - uma matéria apreendida pelo corpo, trabalhada e alterada em seu interior, e devolvida à superfície. Transpiramos ou salivamos porque, outrora, ingerimos algum líquido, que fora assimilado e distribuído pelo organismo. 111 De novo o encontro onde as linguagens abrem umas sobre as outras, o rapaz. Da árvore encarnada, meio dentro da memória , apenas a folhagem salta pelos olhos e se espalha pelo rosto, o que me põe a braços com as palavras. As raízes entram-lhe no sangue, abrem-lhe internos focos de paixão, não tarda que penetrem pela terra a cujos intestin os vão buscar com que saciar-lhe os olhos – as visões ascendem tumultuosamente, como seiva a ferver, creio que por vezes trazem pedra misturada. Lembro-me de o ver assim, todo ele tomado pela força da folhagem. (p. 50) Assim como se diz das linguagens, os corpos, o humano e o da árvore, abrem-se uns sobre os outros. Incorporada à memória, convertida em carne, a árvore continua a desempenhar suas funções de árvore - “as árvores nos crescem / por dentro da memória” (p. 222), lemos em outro poema. As raízes entram no sangue e penetram a profundidade da terra, coincidindo essa com a da própria memória. Aquilo que trazem do mundo subterrâneo são as visões que, como a seiva, desembocam na folhagem, saltando então pelos olhos. Tratando das visões que emergem da profundidade, um mecanismo similar se esboça em três outras circunstâncias, embora nessas não se faça menção à árvore. A primeira diz respeito à origem das visões: “foi nessa altura que a visão se começou a fazer pelas raízes” (p. 220). A segunda, à interface por onde se exteriorizam: “... pedreiras de que, tendo-as / ouvido rebentar na minha infância, ainda / agora me saltam estilhaços pelos olhos” (p. 76). Na terceira, além de serem de novo as raízes as responsáveis por prover as paisagens da memória, essas, na tentativa de alcançar o mundo exterior, extravasam a abertura dos olhos e abrem caminho até os ouvidos: “Das perdidas manhãs da sua infância, de que lhe restavam agora escassos farrapos presos às raízes, libertava-se por vezes um clarão, desesperado apelo em direção à realidade, rasgando- lhe dos olhos aos ouvidos” (p. 245). 112 Interessa-nos insistir na impetuosidade com que as paisagens internas irrompem ao exterior. O próprio poeta, comentando o poema “Apenas a folhagem”, ressalta aí o fato de as visões surgirem “como algo que não vêm de fora, mas do interior do corpo”. E, referindo-se à ascensão tumultuosa da seiva a ferver, afirma: “Há nisto algo de vulcânico” (1997: 150). No poema “Recônditas palavras”, as imagens efetuam o mesmo percurso invertido. Não partem do mundo para penetrar o corpo, mas partem da profundidade do corpo para se derramar no mundo. E, dessa vez, o aspecto vulcânico se faz ainda mais explícito. Os sentidos são assimilados a “tenebrosas // crateras escavadas / no espírito e através / das quais, incandescentes, as imagens / do mundo sobre ele próprio se derramam // como uma lava espessa” (p. 227). As imagens do mundo a ele retornam pela mesma via por onde adentraram no corpo, ou seja, pelos sentidos. Apesar de, nesses versos, o espaço de onde essas imagens vêm não ser nomeado como memória, é provavelmente a ela que estão se referindo. Ao menos, essa hipótese se parece confirmar no poema “O abismo”, em que se diz de “uma memória onde fulgura a lava dos sentidos que entram em atividade” (p. 249). Tudo indica estarmos em vista de uma memória involuntária. Ou seja, pisamos um terreno em todas as feições distante do domínio de um sujeito consciencioso e voluntarista, desejoso de evocar e ordenar lembranças do passado. A esse respeito, afirma o escritor: “Suponho que as imagens têm uma vida própria e que, apesar de em certas circunstâncias se dizer que há as que nunca esqueceremos, aquilo de que nos lembramos ao cabo de algum tempo já não é o que temos em mente quando proferimos tal juízo” (1995: 7). As imagens da memória não dependem de um desejo do sujeito e é por isso que, apesar de remeterem a fatos da vida pessoal, elas podem alçar vôo para um plano impessoal, o plano da arte. É 113 nesse sentido que o poeta alude à “indecisa / maneira de as imagens / do mundo se guindarem / mais alto do que a alma ou o alento / de quem dentro de nós / aviva a sua chama. O que nos sai / do coração vem a ferver” (p. 228). As imagens que buscamos trazer à lembrança à revelia de seus destinos particulares acabam por perder em força e encanto daquelas que, por conta própria, ascendem à superfície: “Havia imagens que, de quando em quando, lhe subiam em desordem à cabeça, outras onde se diria que ele imbuíra pedaços de algodão que, enfiados nos terminais dos seus sentidos, através deles lhe destilavam esfiapadas sensações na alma” (p. 240). A destilação se afigura um procedimento muito mais ameno do que a ebulição e os fiapos de sensações quase anódinos frente à lava espessa da memória vulcânica. O tópico da memória aparece em toda a obra, do primeiro ao último livro, e se isso não transforma essa escrita em prisioneira do passado, é porque, longe de se apresentar como um reservatório de imagens, a memória se assemelha a um mecanismo pelo qual o próprio passado se transforma, mantendo-se presente. Nesse sentido, vale observar aquilo que o poeta diz em ensaio a respeito da obra de Luiza Neto Jorge e que, acreditamos, tanto se coaduna à sua própria: “Digamos apenas que não se trata de um tempo linear, mas visceral (vertiginoso), como visceral é aliás tudo nesta obra”. E mais à frente: “A escrita de Luiza Neto Jorge, dada a força vulcânica que a anima, [...] é assim, [...] o exemplo de uma escrita sem passado, onde as palavras fulgem num momento de explosão” (2004, p. 238, grifo nosso). É também um tempo visceral que move o universo naviano, tal como se faz notar, por exemplo, no poema “O tímpano e a pupila”. Aqui, o tempo ganha uma inscrição material, atravessando o corpo, ao invés de submergi-lo em seu curso: “[...] o tempo, que já 114 tanto/ compararam a um rio, mais/ não é do que uma leve exsudação nos muros,/ nas mãos [...]” (p. 221). O passar do tempo não descreve uma linha reta, com direção e sentido único, nem o espaço em que se desdobra é o abstrato da geometria euclidia na. O tempo se espraia, num espaço topológico. O que poderíamos denominar como passado não é algo anterior, mas interior, assim como o que entenderíamos como futuro não é algo posterior, mas exterior. E o presente concentra-se todo na pele ou nos seus poro s, na abertura do dentro ao fora, na passagem do passado ao futuro, do futuro ao passado. Quando, das crateras da memória, as paisagens do passado irrompem, subindo à superfície, ganhando o exterior, é para o futuro que se encaminham, carregando para essa dimensão temporal todo o sentido que extraem do presente. uma palavra escrita no início reaparecia agora como se, tendo atravessado toda a narrativa, ali de súbito emergisse [...], era a palavra ‘mar’, uma palavra que, imbuída de passado e de futuro, detonava no presente, a força que os primeiros lhe inculcavam era uma pilha carregada na memória, uma pilha entre os seus poros. (2005b: 25) Algo parece assimilar as superfícies do mar, da pele, da memória, da página. A palavra mar estava deveras “escrita no início”, no primeiro poema do primeiro livro: “[...] entra / nesta página o mar da minha infância, meigo / no modo de lembrá- lo, lê- lo, de acender / de carícias um texto na memória [...]” (p. 37). E desde então já vinha associado à página, à memória e - indiretamente, pressentida na palavra “carícias” - à pele. Em ensaio dedicado à poética de Nuno Júdice, Nava diz acreditar “que todos os aspectos essenciais” dessa poesia “poderiam ser abordados através da referência à água” (2004, p. 287). No que diz respeito à sua própria poética, podemos dizer o mesmo em relação ao mar. “Do mar, 115 para não dar senão um exemplo, fiz minha máscara integral” (p. 106). Se essa é indubitavelmente uma poesia do corpo, é também, inextricavelmente, uma poesia do mar, pois “o mar es tá-nos no corpo” (p. 136). E o mar está tanto na profundidade do corpo, “onde se vê o sangue rebentar contra os rochedos”22 (p. 145), quanto na sua superfície. Não é outra coisa que se constata quando, referindo-se ao “homem que nos barcos sobe à gávea”, o poeta afirma: “É pelo menos desse homem que eu me lembro sempre que sobre a minha pele, inquieto, me debruço, a avaliar os mais leves prenúncios de intempéries” (p. 108). E se é verdade que se poderia buscar nessa referência “a ancestral associação do mar à mãe”, o poeta explica: “Aqui, contudo, isso tem também a ver com razões de caráter pessoal, dado o fascínio que a minha mãe tinha pelo mar e que creio ter-me comunicado desde muito cedo” (1997: 151). É sob esse prisma que deveríamos ler versos como: “... a minha própria mãe poderá vir / sentar-se onde por ora se não vê sequer o mar // ... até de novo o mar se lhe adiantar no rosto” (p. 74). Ou ainda: “O céu recua, da memória eu já não sinto / senão as mais violentas cristas nas gengivas, / a minha mãe regressa, é pelos dentes que a memória / recomeça a subir como a maré” (p. 98). Se quisermos ler essa obra a partir do papel que nela desempenha o erotismo, também o mar se faz aí uma referência incontornável. Em capítulo anterior já examinamos a assimilação entre a energia do movimento das marés e aquela dos encontros eróticos. Tendo em vista o percurso percorrido por este trabalho, vale rever essa aproximação à luz 22 A título de curiosidade - e já apontando para o que, mais à frente, trataremos a respeito de coincidências entre imagens em obras de diferentes poetas -, assinalamos a ressonância dessa com a seguinte imagem do poema “Look back in anger”, de Carlos de Oliveira: “O sangue bate [...] e ele sabe que é o mar contra os rochedos” (1992). 116 das relações entre superfície e profundidade. A superfície da pele se assemelharia à praia, aonde o mar - a potência erótica – vem rebentar: “... percorro assim a praia ao longo do seu braço” (p. 69); “... a pele, sentindo ao fundo / de cada poro seu o mar rebentar” (p. 73). Os encontros eróticos são aqueles capazes de trazer à tona a potência marítima do fundo dos corpos. Assim se diz da particularidade de uma mão que podia “fazer o mar vir à superfície daquilo em que tocava” (p. 150), e de um amigo: “o que no fundo / dele é marítimo corria à superfície” (p. 122). E, porque a pele mantém estreita relação com os “nossos corações”, é “sempre o mar o que, quem por eles / descer faz vir à superfície” (p. 128). Os encontros eróticos começam a rarear até não conformarem mais do que lembranças. Referindo-se, talvez, a “esse rapaz / ao espírito do qual as ondas vinham rebentar” (p. 72), se constata: “As ondas que se encontram / ainda agora em formação no espírito / dele já não vêm rebentar no meu” (p. 90). E, referindo-se a “dois ou três amigos”, se especula: “Não sei se quando o mar lhes vier ao espírito o ouviremos rebentar” (p. 110). O poeta então anuncia: “Poder- me-ão encontrar, trago um rapaz na minha / memória [...]” (p. 85). A partir de agora, é, pois, na memória que o mar vem se agitar: “... o mar de que deflagram / as ondas por acção da memória” (p. 75); “O mar rebenta-me / de novo na memória” (p. 199). Se lhe chegam “ondas memória salpicando-lhe os sentidos” (2005b: 13), o coração também não fica imune: “É como se [...] o mar viesse estilhaçar-se ao fundo da memória, onde se encontra o coração” (p. 55); “agora que se o mar ainda / rebenta é por acção da memória, arrancam-me basalto ao coração ondas fortíssimas” (p. 91). “Vem sempre dar à pele o que a memória carregou, da mesma forma que, depois de revolvidos, os destroços vêm dar à praia”, havíamos lido. Pois bem, homologam-se mar e memória, de um lado, pele e praia, de outro. Acrescentaríamos ao segundo par um terceiro 117 termo, a página. Diríamos então: vem sempre dar à página o que a memória carregou. Ou, como memória e mar se homologam, arriscaríamos: vem sempre dar à página o que o mar carregou. A equiparação entre praia e pele já foi assinalada num verso supracitado. A aproximação entre praia e página também não parece despropositada, tendo aliás sido notada por Nava no ensaio sobre o livro Navegações, de Sophia de Mello Breyner Andressen: Há pouco, folheando a edição bilíngüe que deste mesmo livro se publicou em França, deparei com uma gralha na versão francesa do poema I da segunda parte: um l saltara e onde deveria estar escrito “plage ” estava “page”. É provável que poucos ou nenhuns leitores desconhecedores da língua portuguesa tenham dado pelo lapso: o próprio universo metafórico da poesia de Sophia admitiria que “page” fosse ali o termo certo. (2004, p. 177) E esse não seria certamente o único caso na poesia portuguesa. Citado pelo poeta em ensaio dedicado a Fiama Hasse Pais Brandão, embora sem que nessa ocasião se chamasse atenção para isso, um poema dessa autora indica similar aproximação: “Passando à orla marítima, que está à beira / de todas as frases que compõem o poema, / encontro o meio próprio para a semelhança / entre a figura visível do poema / e o seu caminho rastejante ao longo das letras” (Apud NAVA, 2004, p. 224). O universo poético de Nava também parece admitir a permutabilidade entre essas duas imagens, insinuando-se mais incisivamente em pelo menos dois poemas: “Mas creio já ter visto um livro brilhar como / se fosse o mar quem nele ao rebentar depositasse o texto” (p. 99); “Aqui, como se o livro, onde o atingisse o mar, se desfize sse e refizesse e nele por fim a letra errante, essa insidiosa letra tantos anos à deriva, achasse o espaço onde coubesse, principio” (p. 116). 118 As ressonâncias entre imagens de sua obra e da de outros poetas foram motivo de reflexão levada a cabo no ensaio “Algumas coincidências”. Baseando-se em sua experiência pessoal, o poeta se refere “a ecos de que o autor não está consciente no momento em que escreve”, dividindo-os “em dois grupos: aqueles em que, sem que o autor de tal se aperceba, intervém a memória de uma leitura mais ou menos recente, aqueles em que se manifesta como uma coincidência e em que, se há alguma intervenção da memória, esta adquire um caráter colectivo e não já meramente individual” (2004, p. 327). Há circunstâncias em que a memória se manifesta inconscientemente. Sem dar-se conta, o poeta transpõe para o papel certas imagens ou disposições de palavras senão idênticas muito semelhantes às que de outra obra se tinham incorporado à sua memória. Mais uma vez constatamos que aquilo que vem à superfície e se exterioriza independe do desejo de um sujeito consciente. Os ecos que pertencem ao segundo grupo remetem, entretanto, a “situações em que encontramos algo muito semelhante ao que escrevemos em autores que antes desconhecíamos, não se podendo portanto a tal respeito falar já de memorização inconsciente” (2004, p. 329). Tudo se passa como se houvesse uma memória impessoal a atravessar todos os corpos e que, em função dos cruzamentos que realiza com as paisagens interiorizadas a cada corpo, deflagrasse aí uma ou outra sua faceta. Assim sucederia a certas imagens do mar, que, navegando pela memória impessoal, acabasse por aportar à sua própria “memória, ela também marítima e por isso pronta a recebê-las” (2004, p. 332). Como é que eu poderei sintonizar o poema de maneira a que a espessura do papel não se insinue entre as suas inflexões e, a coberto da leve desfocagem a que a página o submete, o não invadam ruídos doutros textos? Eu sintonizo a página à memória, por cujas estrias as lembranças parecem ficar eléctricas quando se vêm colar como adesivos ao avesso das palavras ou irradiar, sabe-se lá onde, uma luz 119 que, projectada sobre a página, me faz de novo aproximar do mar com passos vacilantes, dando ao meu pai uma das mãos e a outra ao terror de me saber tragado em breve por aquela imensa massa de água a espumejar à minha frente. (p. 212) Quando sintoniza a página à memória, é o mar que vem aí deflagrar. Além de ter crescido em meio à paisagem dos mares portugueses, Luís Miguel Nava é também um grande leitor da poesia portuguesa, onde essa paisagem se faz não menos presente. Tudo isso contribuiria para conformar uma memória marítima e explicar a presença do “mar, de que toda a minha poesia está tão impregnada” (2004, p. 332). A memória e o mar que vêm dar à página de Luís Miguel Nava se revolvem num espaço que em muito ultrapassa os contornos do sujeito -poeta. E talvez por isso sua escrita transborda as molduras do tempo em que se fez; mais, seu excesso de sentido transborda todos os limites da linguagem. 120 5. CONCLUSÃO Poder-me-ão entender todos aqueles de quem o coração for a roldana do poço que lhes desce na memória. Se alguma coisa vi foi com o sangue. De alguém a quem o sangue serviu de olhos poderá falar quem o fizer de mim. (p. 133) Iniciamos esta dissertação apresentando uma concepção de sentido desenvolvida por Nava: “Sentido será, nesta perspectiva, tudo o que nós percebemos, quer por via intelectual, quer através da pele ou através do coração”. Faz-se o momento de observar o alargamento que o próprio poeta efetua nessa concepção: “Às três acepções que a palavra sentido [...] possui (mental, sensorial e afectiva), há a juntar uma outra ainda, de ordem, digamos, espacial. É aquela para referir a qual também se emprega o termo direcção ” (2004, p. 27). Tendo em vista nosso percurso de análise, compreendemos que o sentido, no que se refere à sua acepção espacial, será tudo o que apreendermos através do duplo movimento que o corpo empreende ao mundo: uma descida à profundidade visceral, um retorno à superfície da pele. Mostramos que a esse movimento se deve a derrubada da dicotomia sujeito/objeto. Os objetos do mundo só ganham sentido se interiorizando e consubstanciando ao corpo. E o corpo, assolado pelo movimento incessante do mundo, está longe de configurar uma identidade passível de assegurar pertinência a um sujeito fixo e centrado. Corpo confundese com memória e a memória só se constitui assimilando a multiplicidade de forças que 121 compõem o mundo. Em última instância, é a memória, corporal, aquilo que confere sentido ao que percebemos por via intelectual, afetiva e sensorial. Tudo se passa como se, movimentando-se através da matéria orgânica, o mundo fizesse e refizesse seu próprio sentido. O conhecimento consistiria no desposar desse mo vimento, enfrentando o seu excesso e transmutando-o na criação poética. Verifica-se estarmos em todos os aspectos distante da arena do conhecimento tradicionalmente científico, em que se coloca em cena um sujeito conhecedor em busca da verdade de um objeto a ser conhecido. A esse respeito, o pensamento naviano vai ao encontro da filosofia de Deleuze: “Não há mais forma invariável nem ponto de vista sobre uma forma. Há um ponto de vista que pertence tanto à coisa que a coisa não cessa de se transformar num devir idêntico ao ponto de vista. Metamorfose do verdadeiro. O que o artista é, é criador de verdade, pois a verdade não tem que ser atingida, encontrada ou reproduzida, ela deve ser criada”23. O “Poema inicial”, transformado em epígrafe desta conclusão, ind ica as condições para a compreensão da escrita poética de Luís Miguel Nava, pois remete-nos para todas as quatro acepções da palavra sentido: “Poder- me-ão entender [mental] todos aqueles / de quem o coração [afetiva] for a roldana / do poço que lhes desce [espacial] na memória. // Se alguma coisa vi [sensorial] foi com o sangue. / De alguém a quem o sangue serviu de olhos / poderá falar quem o fizer de mim”. Percebe-se que esse entendimento está longe de se reduzir ao que Nava havia chamado de sentido instituído pelo texto. Ou seja, mesmo que 23 Tradução nossa para a seguinte passagem: “Il n’y a plus forme invariable ni point de vue sur une forme. Il y a un point de vue qui appartient si bien à la chose que la chose ne cesse de se transformer dans un devenir identique au point de vue. Métamorphose du vrai. Ce que l’artiste est, c’est créateur de vérité, car la vérité n’a pas à être atteinte, trouvée ni reproduite, elle doit être créée” (DELEUZE, 1985, p. 191). 122 haja um sentido instituído - uma narratividade ou um fim para o qual o autor nos direciona, aquilo que quer contar ou especular - há sempre um excesso de sentido, o lírico. E o lírico, como vimos, “apela para muito do que por via emocional a nossa memória guarda”. Mais adequado seria, portanto, falar de sentido instituidor, posto que não se institui senão mergulhando na memória afetiva e sensorial de algum leitor, transformado-a. Embora sua poética não dê relevo à acepção mental do sentido, nota-se que não se refuta a participação do intelecto. Tratar-se-ia, antes, de subverter a hierarquia: ao invés de subordinar o sensível à razão, fazer a razão trabalhar em consonância com o sensível. Nesse viés, ouvimos ecoar a declaração de Nietzsche/Zaratustra: “Amo aquele cujo espírito e coração são livres: assim, nele, a cabeça é apenas uma víscera do coração” (1995, p. 33). A fim de apreendermos o sentido da poética de Luís Miguel Nava, tentamos amarrála ao coração, descê- la pelo poço de nossa memória, e devolvê- la à superfície das páginas que aqui escrevemos. Compreendendo que, impregnado por um excesso, o sentido dessa escrita, instituidor e não instituído, está longe de ser um único e mesmo para todos e para sempre, resta-nos admitir: “é chegada a altura de o leitor baralhar tudo o que eu disse e dar de novo as cartas” (NAVA, 2004, p. 268). 123 6. BIBLIOGRAFIA 6.1. D e Luís Miguel Nava NAVA, Luís Miguel. As escadas. Jornal de Letras, Artes e Ideias de Lisboa – JL: 6-8, 16 de agosto de 1995. ______. Carta a Paulo Silveira, Oxford, 1985. Revista Relâmpago n° 16: 78-81. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, 2005. ______. Ensaios reunidos. Lisboa: Assírio e Alvim, 2004. ______. Entrevista. Revista Relâmpago, n°1. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava e Relógio d’Água, 1997. ______. Fragmento inédito. Revista Relâmpago n° 16: 1. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, 2005a. ______. Há uma espécie de asma mental em que sufoco. Revista Relâmpago, n°1. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava e Relógio d’Água, 1997a. _____ . O livro de Samuel – fragmentos. Revista Relâmpago n° 16. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, 2005b. ______ . O pão a culpa a escrita e outros textos. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1982. ______. Poesia Completa. Lisboa: Dom Quixote, 2002. 124 6.2. De outros poetas ELIOT, T.S. Poesia. [Tradução de Ivan Junqueira]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. OLIVEIRA, Carlos de. Sobre o lado esquerdo. Obras de. Lisboa: Caminho, 1992. PESSANHA, Camilo. Clepsidra. São Paulo: Princípio, 1989. 6.3. Fontes teórico-críticas ADORNO, Theodor. O ensaio como forma. Notas de Literatura I. São Paulo: Ed. 34 e Duas Cidades, 2003. ALVES, Ida Ferreira. Diálogos e confrontos na poesia portuguesa pós-60. Revista Gragoatá n° 12 : 179-195. Niterói: EdUFF, 2002. AMARAL, Fernando Pinto do. O mosaico fluido. Modernidade e pós-modernidade na poesia portuguesa mais recente. Lisboa: Assírio e Alvim, 1991. BATAILLE, Georges. O erotismo. São Paulo: Arx, 2004. ______ . A experiência interior. São Paulo: Ática, 1992. BERSON, Henri. Matéria e memória. Ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. CANTINHO, Maria João. Luís Miguel Nava ou o corpo do excesso. Polichinelo Revista Literária n° 2. s.l: M.M & Lima, 2004. CASTRO, E. M. de Mello e. Projecto: poesia. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1984. 125 CHAUÍ, Marilena. “Janela da alma, espelho do mundo”. NOVAES, Adauto (org.). O olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 31-64. COMBE, Dominique. Poésie et récit, une rhétorique des genres. Paris: José Corti, 1989. COSTA, João Pedro da. Corpo e natureza ou o sublime reversível. Revista Relâmpago n° 11. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, 2002. CRUZ, Gastão. Dos relâmpagos às trevas na poesia de Luís Miguel Nava. Posfácio à Poesia Completa de Luís Miguel Nava. Lisboa: Dom Quixote, 2002. ______. A poesia portuguesa hoje. 2.ed. corr. e aum. Lisboa: Relógio d’Água, 1999. [1. ed. Lisboa: Plátano, 1973]. DELEUZE, Gilles. Cinema 2. L’image-temps. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985. ______. Crítica e Clínica. São Paulo: Ed. 34, 1997. ______ . Logique de la sensation. Paris: Éditions de la différence, 1996. ______ . O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992. DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Como criar para si um corpo sem órgãos? Mil Platôs, v.3. São Paulo: Ed. 34, 1996. DELEUZE, Gilles e PARNET, Claire. Diálogos. São Paulo: Escuta, 1998. FERRAZ, Eucanaã. Luís Miguel Nava: sinais de uma ciência. Revista Metamorfoses 5: 97108. Lisboa: Caminho e Cátedra Jorge de Sena, 2004. FERREIRA, José Pedro. Do sangue à tinta: a escrita como exsudação do corpo. Revista Relâmpago n° 16: 39-50. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, 2005. FRANCHETTI, Paulo. Nostalgia, exílio e melancolia. Leituras de Camilo Pessanha. São Paulo: Edusp, 2001. 126 FRANCO FERRAZ, Maria Cristina. Nove variações sobre temas nietzschianos. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. GARCIA MARTIN, José Luís. La Poesia Figurativa. Crónica parcial de quince años de poesía española. Sevilha: Renacimiento, 1992. GIL, José. Abrir o corpo. Corpo, arte e clínica, p. 13-28. Porto Alegre: EdUFRGS, 2004. ______ . Metamorfoses do corpo. Lisboa: Relógio D’Água, 1997. ______ . Movimento total. O corpo e a dança. Lisboa: Relógio D’Água, 2001. GUIMARÃES, Fernando. O modernismo português e a sua poética. Porto: Lello, 1999. JAY, Martin. Campos de fuerza – Entre la historia intelectual y la critica cultural. Buenos Aires, Argentina, Mexico, Barcelona: Paidós, 2003. JÚDICE, Nuno. As máscaras do poema. Lisboa: Aríon, 1998. LINS, Daniel. Antonin Artaud. O artesão do corpo sem órgãos. Rio de janeiro: Relume Dumará, 1999. LINS, Daniel; GADELHA, Sylvio (orgs). Nietzsche e Deleuze. O que pode um corpo? Rio de Janeiro: Relume Dumará; Fortaleza, CE: Secretaria da Cultura e Desporto, 2002. LOPES SABINO, Amadeu. Cavaleiro de Marrocos. Jornal de Letras, Artes e Ideias de Lisboa – JL: 4-6, 16 de agosto de 1995. MAGALHÃES, Joaquim Manuel. Os dois crepúsculos – sobre poesia portuguesa actual e outras crónicas. Lisboa: A Regra do Jogo, 1981. MARTELO, Rosa Maria. Em parte incerta. Estudos de poesia portuguesa moderna e contemporânea. Porto: Campo das Letras, 2004. ______. “O mar no conjuntivo” e a fulguração sublime. Nexos a partir da poesia de Luís Miguel Nava. Revista Relâmpago n° 3. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, 1998. 127 MORAES, Eliane Robert. O corpo impossível. São Paulo: Iluminuras, 2002. NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. ______ . Crepúsculo dos Ídolos. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. ______ . A genealogia da moral. s. l.: Ediouro, s. d.. ______ . O nascimento da tragédia . São Paulo: Companhia das Letras, 1998. REVISTA INIMIGO RUMOR, n° 14. Rio de Janeiro, São Paulo, Lisboa: Viveiros de Castro, Cosac & Naify, Cotovia, 2003. REVISTA RELÂMPAGO n° 1. [Luís Miguel Nava]. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava e Relógio d’Água, 1997. ______. n° 2. [O lugar da poesia]. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, 1998. ______. n° 12. [Nova poesia portuguesa]. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, 2003. ______. n° 16. [Luís Miguel Nava]. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, 2005. SELIGMANN-SILVA, Márcio. “Introdução/Intradução: mimesis, tradução, enargéia e a tradição da ut pictura poesis”. Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia. São Paulo: Iluminuras, 1998. SILVESTRE, Osvaldo Manuel. Luís Miguel Nava ou o modernismo tardio de um discurso crítico. Revista Relâmpago n° 1: 125-143. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava e Relógio d’Água, 1997. SOUSA, Carlos Mendes de. A coroação das vísceras. Revista Relâmpago n° 1: 31-55. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava e Relógio d’Água, 1997. ______. Prefácio a Ensaios reunidos de Luís Miguel Nava. Lisboa: Assírio e Alvim, 2004. 128 SOUZA, José Cavalcante de. Pré-socráticos. [Coleção “Os pensadores”]. São Paulo: Nova cultural, 1996. VALÉRY, Paul. Introduction à la poétique. Paris: Gallimard, 1938. ______ . Poesia e Pensamento abstrato. São Paulo: Iluminuras, 1999. VASCONCELOS, Ricardo. Fixar o olhar. Revista Relâmpago n° 16. Lisboa: Fundação Luís Miguel Nava, 2005.
Baixar