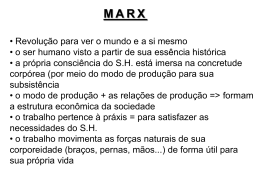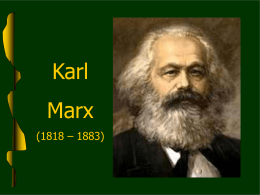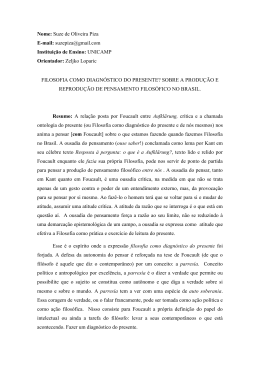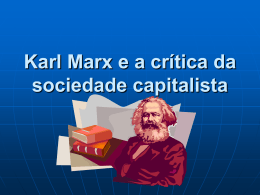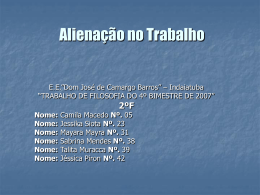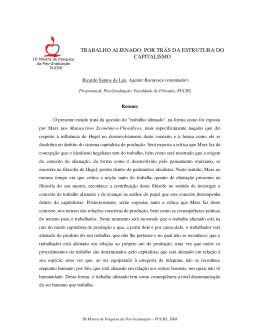A palavra trabalho deriva do latim tripaliare, que nomeava o tripálio, um instrumento formado por três paus, próprio para atar condenados ou para manter presos os animais difíceis de ferrar. A origem comum identifica o trabalho à tortura. Se a vida humana depende do trabalho, e este causa tanto desprazer, só podemos concluir que o ser humano está condenado à infelicidade. É pelo trabalho que a natureza é transformada mediante o esforço coletivo para arar a terra, colher seus frutos, domesticar animais, modificar paisagens e construir cidades. Pelo trabalho surgem instituições como a família, o Estado, a escola; obras de pensamento como o mito, a ciência, a arte, a filosofia. O ser humano se faz pelo trabalho, porque ao mesmo tempo que produz coisas, torna-se humano, constrói a própria subjetividade. O trabalho liberta ao viabilizar projetos e concretizar sonhos. Nem sempre prevalece essa concepção positiva, sobretudo quando as pessoas são obrigadas a viver do trabalho alienado, que resulta de relações de exploração. O trabalho é tortura ou emancipação? Nas sociedades tribais, as pessoas dividem tarefas de acordo com sua força e capacidade. Como a divisão das tarefas se baseia na cooperação e na complementação e não na exploração, tanto a terra como os frutos do trabalho pertencem a toda a comunidade. Para Jean-Jacques Rousseau, filósofo do século XVIII, a desigualdade surgiu quando alguém, ao cercar um terreno, lembrou-se de dizer: “Isto é meu”, criando assim a propriedade privada. Desde as mais antigas civilizações existe a divisão entre aqueles que mandam e os que só obedecem e executam. Há aqueles que até hoje admitem ser “natural” essa divisão de funções, pois alguns teriam mais talento para o pensar; enquanto outros só seriam capazes de atividades braçais. Um olhar mais atento constata que a sociedade descobre mecanismos para manter a divisão, não conforme a capacidade, mas sim de acordo com a classe a que cada um pertence. Entre os antigos gregos e romanos era nítida a divisão entre atividades intelectuais e braçais. A palavra escola na Grécia antiga significava literalmente o “lugar do ócio”, onde as crianças se dedicavam à ginástica, aprendiam jogos, música e retórica. Até a Idade Média, a riqueza se restringia à posse de terras, mas ao final desse período e durante a Idade Moderna, as atividades mercantis e manufatureiras desenvolveram-se a tal ponto que a riqueza passou a significar também a posse do dinheiro, provocando a expansão das fábricas que culminou com a Revolução Industrial no século XVIII. Esses acontecimentos decorreram da ascensão da burguesia enriquecida, que valorizava a técnica e o trabalho. A máquina começou a exercer grande fascínio. No século XVII, Pascal inventou a primeira máquina de calcular. Torricelli construiu o barômetro. Surgiu o tear mecânico. Galileu inaugurou o método das ciências da natureza, que se baseava no uso da técnica e da experimentação. Francis Bacon (1561-1626), com o seu lema “Saber é poder”, critica a base metafísica da física grega e medieval e realça o papel histórico da ciência e do saber instrumental, capaz de dominar a natureza. Rejeita as concepções tradicionais de pensadores “sempre prontos a tagarelar”, mas que “são incapazes de gerar pois sua sabedoria é farta de palavras, mas estéril em obras”. Numa linha semelhante, Descartes (1596-1650) afirma: “Pois elas [as noções gerais da física] me fizeram ver que é possível chegar a conhecimentos que sejam muito úteis à vida, e que, em vez dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas, se pode encontrar uma outra prática, pela qual [...] poderíamos empregá-los da mesma maneira em todos os usos para os quais são próprios, e assim nos tornar como que senhores e possuidores da natureza.” No campo político e econômico, estavam sendo elaborados os princípios do liberalismo. Foi instituído o contrato de trabalho entre indivíduos livres, o que significa o reconhecimento do trabalhador no campo jurídico. Uma das novidades das ideias liberais é a valorização do trabalho. No século XIX, o filósofo alemão Hegel faz uma leitura otimista da função do trabalho na célebre passagem “do senhor e do escravo”, descrita na fenomenologia do espírito: dois indivíduos lutam entre si e um deles sai vencedor, podendo matar o vencido. Este, no entanto, prefere submeter-se, para poupar a própria vida. A fim de ser reconhecido como senhor, o vencedor conserva o outro como servo. O servo submetido tudo faz para o senhor, mas com o tempo o senhor descobre que não sabe fazer mais nada, porque, entre ele e o mundo, colocou o servo, e é ele que domina a natureza. Desse modo, o servo recupera a liberdade, porque o trabalho se torna a expressão da liberdade reconquistada. A exploração dos operários fica explícita em extensas jornadas de trabalho em péssimas instalações, salários baixos, arregimentação de crianças e mulheres como mão de obra mais barata. Esse estado de coisas desencadeou os movimentos socialistas e anarquistas. Karl Marx (1818-1883) vê o trabalho como condição de liberdade. A pessoa deve trabalhar para si, no sentido de que deve trabalhar para fazer-se a si mesma um ser humano. Marx nega que a nova ordem econômica do liberalismo fosse capaz de possibilitar a igualdade entre as partes, porque o trabalhador perde mais do que ganha. O resultado é a pessoa tornar-se “estranha”, “alheia” a si própria: é o fenômeno da alienação. Há vários sentidos para a palavra alienação. Do ponto de vista jurídico, perde-se a posse de um bem; para a psiquiatria, o alienado mental perde a dimensão de si na relação com os outros; segundo Rousseau, o poder do povo é inalienável; na linguagem comum, a pessoa alienada perde a compreensão do mundo em que vive. Para Marx, a alienação acontece quando o produto do trabalho deixa de pertencer a quem o produziu. Prevalece a lógica do mercado, onde tudo tem um preço, adquire um valor de troca. No novo contexto capitalista, ao vender sua força de trabalho mediante salário, o operário também se transforma em mercadoria. Ocorre o que Marx chama de fetichismo da mercadoria e reificação do trabalhador. O fetichismo é o processo pelo qual a mercadoria, um ser inanimado, adquire “vida” porque os valores de troca tornam-se superiores aos valores de uso e passam a determinar as relações humanas. A reificação é a transformação dos seres humanos em coisas. Em consequência, a “humanização” da mercadoria leva à desumanização da pessoa, à sua coisificação. Segundo Michel Foucault um novo tipo de disciplina facilitou a dominação mediante a “docilização” do corpo. Michel Foucault (1926-1984) – filósofo francês, desenvolveu um método de investigação histórica e filosófica que chamou de genealogia. Examinando a mudança dos comportamentos no início da Idade Moderna, sobretudo nas instituições prisionais e nos hospícios, buscou compreender os processos da produção dos saberes que tornaram possível o controle difuso e tematizado, que chamou de microfísica do poder. Foucault aproveita a Penitenciária de Stateville, inspirada no Panopticon, de Jeremy Bentham.Estadis Ybudis, 2002. descrição que o jurista Jeremy Bentham (séc. XVIII) fez de um projeto denominado Panopticon (literalmente, “ver tudo”), em que imagina uma construção de vidro, em anel, para alojar loucos, doentes, prisioneiros, estudantes ou operários. Controlados de uma torre central com absoluta visibilidade, o resultado é a interiorização do olhar que vigia, de modo que cada um não perceba a própria sujeição. Para refletir: E hoje, como vive o cidadão comum? Os sistemas eletrônicos de vigilância estão em todos os lugares: nos prédios residenciais, empresariais, nas lojas, nos shoppings, nas ruas e estradas. Quais as vantagens desse aparato e quais os riscos de expor nossa privacidade? Na nova estrutura, o “olhar vigilante” sobressai de maneira decisiva. A organização do tempo e do espaço imposta na fábrica não é, porém, um fenômeno isolado. Nos séculos XVII e XVIII, formou-se a chamada “sociedade disciplinar”, com a criação de instituições fechadas, voltadas para o controle social, tais como prisões, orfanatos, reformatórios, asilos de miseráveis e “vagabundos”, hospícios, quartéis e escolas. Assim diz Michel Foucault: “Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidadeutilidade, são o que podemos chamar as ‘disciplinas’. Muitos processos disciplinares existiam há muito tempo [...]. Mas as disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos XVII e XVIII fórmulas gerais de dominação. [...] O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. [...] A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência).” O poeta brasileiro Mário Quintana, em Das ampulhetas e das clepsidras, diz o seguinte: “Antes havia os relógios d’água, antes havia os relógios de areia. O Tempo fazia parte da natureza. Agora é uma abstração – unicamente denunciada por um tic-tac mecânico, como o acionar contínuo de um gatilho numa espécie de roleta-russa. Por isso é que os antigos aceitavam mais naturalmente a morte.” Dialogando com o poeta, acrescentamos que somos “feitos” de tempo: sem a memória e sem os projetos, o nosso presente deixaria de ser propriamente humano. Se artificializamos demais os ritmos vitais, nem poderemos “morrer bem”, já que vivemos tão mal! Frederick Taylor, no início do séc. XX, elaborou uma teoria conhecida como “taylorismo”. Estabeleceu um “controle científico”, por meio da medição por cronômetros, para que a produção fabril fosse cada vez mais simples e rápida. A mesma intenção de aumentar a produtividade levou Henry Ford, também norte-americano, a introduzir a esteira da linha de montagem e o processo de padronização da produção em série na sua fábrica de automóveis. O parcelamento das tarefas reduz a atividade a gestos mínimos, o que aumenta a produção de maneira incrível, mas também transforma o trabalho “em migalhas”: cada operário produz apenas uma parte do produto. Aliado à lógica da produção em série, o investimento em publicidade visava a provocar artificialmente a “necessidade” da compra. Estava nascendo a sociedade de consumo. Com a implantação de tecnologia de automação, robótica e microeletrônica, surgiram novos padrões de produtividade. A tendência nas fábricas foi de quebrar a rigidez do fordismo e do taylorismo. Implantado por diversas empresas, o sistema ficou conhecido como toyotismo. O novo sistema de produção é mais flexível por atender aos pedidos à medida da demanda, com planejamento a curto prazo. É privilegiado o trabalho em equipe. Em julho de 2008, as autoridades do trabalho japonesas reconheceram que um importante funcionário da Toyota, de 45 anos, morreu devido ao excesso de trabalho, um mal conhecido no país como ‘karoshi’. Ele teve uma isquemia cardíaca em janeiro de 2006 [...]. A vítima era o engenheiro-chefe do projeto da versão híbrida do sedã Camry. Ele teria trabalhado ao menos 80 horas extras mensais em novembro e dezembro de 2005. Essa carga a mais de trabalho incluía jornadas noturnas e finais de semana, além de frequentes viagens para o exterior. [...] De acordo com a agência Associated Press, a empresa soltou uma nota de pêsames e afirmou que vai melhorar o controle sobre a saúde de seus profissionais.” (UOL Notícias, 9 jul. 2008.) Outra característica dos novos tempos na fábrica foi o enfraquecimento dos sindicatos desde o final da década de 1980, o que repercutiu negativamente na capacidade de reivindicação de novos direitos e manutenção das conquistas realizadas. Na segunda metade do século XX, notou-se o deslocamento da mão de obra para o setor de serviços. Há mais trabalhadores no comércio, transporte e serviços de escritório em geral do que nas fábricas ou no campo. No nosso cotidiano, consumimos serviços de publicidade, pesquisa, comércio, finanças, saúde, educação, lazer, turismo etc. Os recursos da microeletrônica têm facilitado a nova estrutura do tele trabalho que possibilita maior autonomia e flexibilidade de horário. O consumo consciente – consumir é um ato humano por excelência, que nos permite atender a necessidades vitais. Abrange também tudo o que estimula o crescimento humano em suas múltiplas e imprevisíveis direções. Não comemos e bebemos apenas para saciar a fome ou a sede, mas temos preferências que o paladar apura, e usamos de criatividade para inventar novos pratos e bebidas saborosos. O consumo alienado – a produção em massa tem por corolário o consumo de massa, porque as necessidades artificialmente estimuladas levam os indivíduos a consumir sempre mais. O consumo alienado degenera em consumismo provocando desejos nunca satisfeitos. O comércio facilita a realização dos desejos ao possibilitar o parcelamento das compras, promover liquidações e ofertas de ocasião, estimular o uso de cartões de crédito, de compras pela internet. As mercadorias são rapidamente postas “fora de moda”. Sobre a questão da produção e do consumo, debruçaram-se inúmeros filósofos, entre os quais os pensadores da Escola de Frankfurt, movimento que surgiu na Alemanha na década de 1930. Segundo os mesmos, chegamos ao impasse que nos deixa perplexos diante da técnica – apresentada de início como libertadora – e que pode se mostrar, afinal, artífice de uma ordem tecnocrática opressora. A exaltação do progresso indiscriminado não tem respeitado o que hoje chamamos de desenvolvimento sustentável. Max Horkheimer acrescenta que a “doença da razão está no fato que ela nasceu da necessidade humana de dominar a natureza”. E mais, que “a história dos esforços humanos para subjugar a natureza é também a história da subjugação do homem pelo homem. Serve para qualquer fim, sem averiguar se é bom ou mau. Na sociedade capitalista, os interesses definem-se pelo critério da eficácia. Na sociedade da total administração, segundo a expressão de Horkheimer e Adorno, os conflitos são dissimulados e a oposição desaparece. Herbert Marcuse chama unidimensionalidade à perda da dimensão crítica, pela qual o trabalhador não percebe a exploração de que é vítima. O filósofo alerta sobre a distinção entre necessidades vitais e falsas necessidades. A questão fundamental está na reflexão moral e política sobre os fins das ações humanas no trabalho, no consumo, no lazer, nas relações afetivas, a fim de observar se estão a serviço do ser humano ou de sua alienação. O lazer é uma criação da civilização industrial e apareceu como fenômeno de massa. As reivindicações dos trabalhadores sobre o alargamento do tempo de lazer obtiveram alguns êxitos: descanso semanal, diminuição da jornada de trabalho para oito horas, semana de cinco dias, férias. Estava sendo gestada a “civilização do lazer”. O tempo propriamente livre, de lazer, é aquele que sobra após a realização de todas as funções que exigem obrigatoriedade. O que é lazer, então? O sociólogo francês Joffre dumazedier diz: “[...] o lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.” Será que a indústria cultural propicia alternativas de escolhas e as cidades oferecem infraestrutura que garanta aos mais pobres a ocupação do seu tempo livre em atividades gratuitas ou menos dispendiosas? Está distante a possibilidade de expandir o tempo de lazer. As empresas têm feito reestruturações severas terceirizando tarefas (perda de benefícios); os programas de enxugamento do quadro de pessoal sobrecarrega os funcionários que, sob o risco de desemprego, sentem-se obrigados a jornadas fatigantes; o tele trabalho confunde horários de trabalho e momentos de lazer; a flexibilização do contrato de trabalho faz com que o trabalhador assuma vários empregos de “jornadas curtas”. Além de tudo isso, os sindicatos, defensores dos interesses dos trabalhadores, têm se enfraquecido. O filósofo francês Gilles Lipovetsky prefere não demonizar o consumo, mas aceitá-lo como fenômeno do nosso tempo. Recusa-se a aplicar à sociedade pós-moderna o conceito marcuseano de unidimensionalidade. Também critica Foucault, identificando que houve uma redução progressiva do processo disciplinar no trabalho. No rastro da extrema diversificação da oferta, da democratização do conforto e dos lazeres, o acesso às novidades mercantis tornou-se mais comum, diluindo-se de certo modo as regulações de classe. Apesar de considerar o consumidor mais crítico, Lipovetsky reconhece o poder massificante da publicidade e os malefícios do hiperconsumismo, entendido como a ilusão de que a mercadoria nos garantiria a felicidade. O risco é deixar que o consumo se converta no sentido principal da vida das pessoas. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman não é tão otimista e diz que o consumismo “aposta na irracionalidade dos consumidores, e não em suas estimativas sóbrias e bem informadas. “A sociedade do consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação de seus membros.”
Baixar