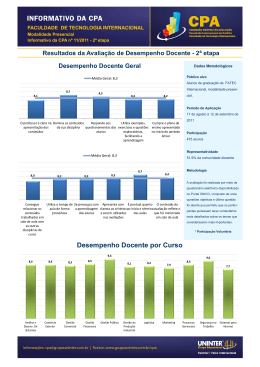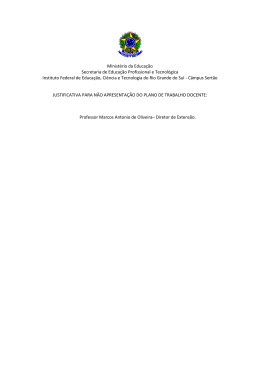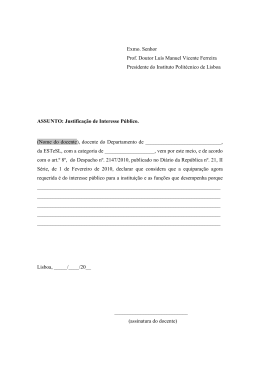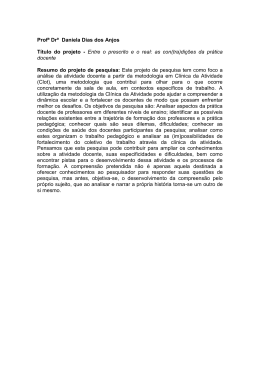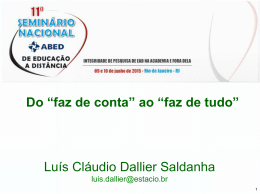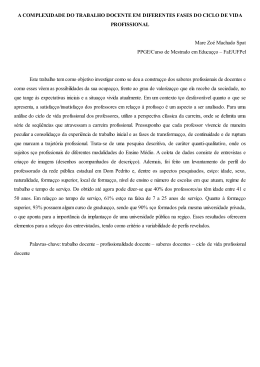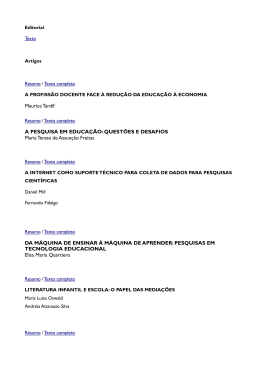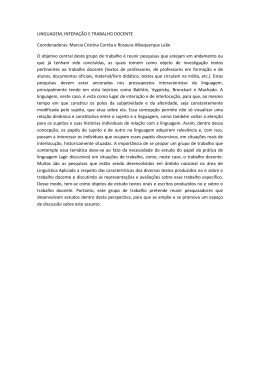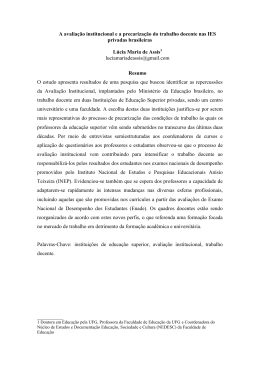ÉTICA, EDUCAÇÃO E CIDADANIA - REFLEXÃO A PARTIR DE UM CASO PORTUGUÊS Odília Gontardo Freitas Licenciada em História (Universidade de Lisboa), Pós-Graduada em Supervisão Pedagógica (Universidade Aberta) e Professora do Ensino Secundário (Palmela – Portugal) [email protected] Resumo O objectivo deste ensaio é reflectir sobre a exigência ética da educação e o modo como a escola pode contribuir para formar cidadãos adaptados à sociedade do conhecimento numa era de globalização. Na primeira parte irei clarificar os conceitos de moral, ética e deontologia. Depois tentarei abordar a especificidade da profissão docente, apresentando o conceito de educação tal como é visto hoje, para se perceber que paradigma deontológico deve ser seguido. Após a apresentação de situações-problemas de carácter ético mais comuns nas nossas escolas, a terceira parte será dedicada a um caso real, analisado numa perspectiva poliédrica, para o qual será proposta uma solução, tanto quanto possível enquadrada no contexto de uma Deontologia da Responsabilidade. Palavras-chave Moral, Ética, Deontologia, Educação, Cidadania, Autonomia Revista Cogitationes || ISSN 2177-6946 Vol. II, Nº 5 Juiz de Fora, ago.-nov./2011 1. Consideração inicial Muito se tem dito e escrito sobre as diferenças entre moral e ética, conceitos que têm, afinal, a mesma raiz etimológica. Moral vem do latim mores e ética, do grego ethos, remetendo ambas para a ideia de costumes. No entanto, é mais ou menos consensual que a ética corresponde à base normativa da moral. Quer a aceitemos como ciência, quer não, a verdade é que a ética corresponde ao que deveria ser (a reflexão) e a moral, ao que acontece (a acção). Porém, como nos adverte Pedro D’Orey Cunha (1996: 22-24), “a distinção entre o absoluto da ética e o relativo da moral” não poderá conduzir ao “relativismo estéril” nem ao “desenraizamento cultural”, pois “a ética só se realiza em acção se passar pela cultura”. É neste sentido também que Isabel Baptista (2005: 40, 141) afirma que “os partidários do relativismo e do universalismo pecam pelo mesmo defeito – a desvalorização das potencialidades do diálogo intercultural (…), confundindo ética com cristalização de regras abstractas, burocraticamente decididas no exterior da profissão, sem qualquer ligação com os tempos e os lugares onde se vivem, se sentem e se pensam os problemas”. Esta problemática conduz à inevitabilidade de equacionar a profissão docente à luz das características específicas da sociedade portuguesa actual, que é o âmbito da presente análise, não esquecendo a sua dimensão europeia num contexto de globalização e transição para a sociedade do conhecimento. 2. A especificidade da profissão docente – que deontologia? Como todas as profissões, também a profissão docente tem um sentido diacrónico. Podemos afirmar que até à “era industrial” a docência era vista como uma missão/vocação. Com os processos de laicização encetados na Europa desde finais do século XVIII, a ideia de profissão começa a ganhar corpo, associando-se à formação profissional, ao associativismo e ao recurso à investigação. Esta evolução remete-nos para o conceito de Deontologia, termo criado por Jeremy Benthan, no século XIX, cujo étimo latino resulta da junção de to déon (dever) com logía (doutrina, tratado). Barros Dias define Deontologia (2004: 167) como “o conjunto normativo de imposições que deve nortear uma qualquer actividade profissional, em ordem ao tratamento equânime a todos aqueles que recorrem ao fornecimento de um http://www.cogitationes.org 19 Revista Cogitationes || ISSN 2177-6946 Vol. II, Nº 5 Juiz de Fora, ago.-nov./2011 bem e/ou serviço”, ou seja, a sistematização dos deveres específicos da profissão docente, quer se materialize num código, quer não, pois muitas vezes os códigos funcionam como instrumentos de disciplinação da classe e meio de legitimar poderes corporativos. E aqui o problema que se coloca é exactamente o da especificidade da profissão docente. Que paradigma deve nortear a sua actuação como classe profissional? O aluno é o seu cliente, mas, enquanto a um médico ou a um advogado, como profissionais liberais ou não, não se pede essencialmente que sejam um exemplo, mas apenas que tecnicamente sejam eficazes, ao professor pede-se que se descentre de si mesmo “para concentrar o olhar, tanto dele como do aluno, em algo maior do que os dois: a verdade, a ciência, o Bem”, pois todos sabemos que as crianças “imitam (…) muito mais do que cumprem” (Cunha: 1996, 112113). É neste sentido que este autor defende uma Deontologia da Profissão Docente que harmonize o Paradigma Deontológico de Direitos com o Paradigma Deontológico de Responsabilidades, admitindo mesmo que, por vezes, se tenha que transgredir normas e esquecer interesses corporativos, quando o Bem educativo dos alunos assim o exigir. Esta perspectiva prende-se com o abandono da visão do ensino como exclusiva instrução e acumulação de informação (o que não implica necessariamente uma exigência ética) e a emergência de um paradigma que vê a Educação como um processo complexo e sempre inacabado. 3. O professor da era pós-moderna – o que significa educar, hoje? A etimologia aponta para a origem latina de educar, cuja raiz estaria em educere que significava fazer sair, pôr fora ou em educare que significava criar animais ou plantas e, por extensão, cuidar de crianças. Num sentido ou noutro, está implícita a ideia de que a “aprendizagem profunda é aquela que modifica radicalmente as estruturas automáticas do nosso corpo ou da nossa mente” (Cunha: 1996, 40) e que não se educa sem apontar referências, sem dar orientações. Hoje em dia, entende-se o acto de educar como um enorme desafio ético, o que leva Manuel Patrício a afirmar que nem faz sentido falar em educação ética, pois “todo o acto educativo compromete a totalidade do sujeito” e “a finalidade da educação é a apropriação http://www.cogitationes.org 20 Revista Cogitationes || ISSN 2177-6946 Vol. II, Nº 5 Juiz de Fora, ago.-nov./2011 por cada educando da cultura, na sua unidade e integridade e na diversidade das suas formas”, sendo “toda a educação integralmente axiológica” (1993: 160 e 288). A educação acompanha toda a vida dos indivíduos, sendo um processo com um carácter pluridimensional e intersubjectivo, sempre inacabado, não havendo “diploma da humanidade que considere concluída a educação” (Reboul: 2000, 24). Apesar de não se restringir à escola, nem poder ficar indiferente a outros modos de aprender, é na escola que se joga grande parte da formação dos cidadãos. Por isso, a escola deve estar atenta à mudança e promover uma aprendizagem orientada por uma ética do futuro. A Declaração Internacional da Educação (IE) consagra, entre outros, os seguintes compromissos sobre ética profissional: ajudar os alunos a desenvolver um conjunto de valores de acordo com os padrões internacionais de direitos humanos e proporcionar aos alunos o sentido de pertença a uma comunidade, assente no compromisso com a existência de um lugar para todos (Baptista: 2005, 89). Edgar Morin define sete saberes que, na sua opinião, são necessários à educação do futuro: a) entender o que é o conhecimento, estar consciente de que conhecer é percepcionar subjectivamente e reconstruir, é não confundir “o mapa com o terreno”, é saber explorar as possibilidades do erro; b) chamar a atenção para a importância do contexto, para as conexões invisíveis, saber ligar as partes ao todo e o todo às partes; c) sensibilizar para a complexidade e diversidade do humano, para o carácter trinitário da identidade humana (indivíduo-sociedade-espécie); d) ensinar a compreensão humana como compaixão e auto-exame permanente, combatendo a indiferença e o egocentrismo; e) educar para a incerteza e o inesperado utilizando exemplos históricos que comprovem a inexistência de determinismo no progresso; f) vincar a condição planetária, mostrando que é necessário uma certa distância em relação ao imediato para poder compreendê-lo, o que é muito difícil hoje, num mundo global e onde tudo acontece a um ritmo vertiginoso; g) assumir uma vertente antropo-ética, porque os problemas da moral e da ética diferem entre culturas, mas todos partilhamos um destino comum, por isso, devemos desenvolver e ao mesmo tempo, uma autonomia pessoal e uma participação social “para que possamos superar esse estado de caos e começar, talvez, a civilizar a terra” (Morin, texto online http://www.cogitationes.org 21 Revista Cogitationes || ISSN 2177-6946 Vol. II, Nº 5 Juiz de Fora, ago.-nov./2011 referido na Sitografia). Assim, nesta linha de raciocínio, Manuel Patrício (1993: 307) defende que “a escola não existe apenas, nem principalmente, para resolver problemas conjunturais da sociedade concreta em que está inserida (…), mas para resolver o problema da própria construção humana do homem”. No mesmo sentido, Pedro D’Orey Cunha (1996: 59-68) concebe a relação pedagógica como orientada pelos Pressupostos da Autonomia, mais concretamente, os seguintes Dez Princípios: Princípio da Fascinação (apresentar as matérias de tal modo que o aluno se interesse e estude, não por obrigação, mas porque se sente fascinado); Princípio da Expectativa (se transmito ao aluno sinais de que acredito nele, ele sentir-se-á capaz, mas o inverso também é verdadeiro); Princípio do Respeito (ver em cada aluno um ser único, com as suas características próprias, estádios de desenvolvimento diferentes e interesses diversos); Princípio do Encorajamento (o docente que não se põe à cabeça, ilumina o objectivo, põe-se detrás e vai desaparecendo à medida que o aluno vai crescendo); Princípio da Compreensão (pensar primeiro em quem tem um problema, quem está em sofrimento? O aluno transgressor? O professor queixoso? Os colegas? Não aplicar a teoria indiscriminadamente a todas as situações); Princípio da Confrontação (se se tem a certeza que o aluno errou, a confrontação irá ajudá-lo a crescer, mas ter o cuidado de colocar o problema no efeito da sua acção e não no próprio aluno); Princípio das Consequências (levar o aluno a saber assumir os seus actos); Princípio da Negociação Criativa (evitar soluções em que só um dos lados vença, mas sem cair em situações em que todos percam; tentar que todos ganhem algo); Princípio do Diálogo (estimular a partilha de ideias, opiniões e sentimentos) e Princípio da Exigência (não facilitar a vida às crianças, impedindo-as de se superarem e de ganharem autonomia). Mas estaremos preparados para assumir um Paradigma Deontológico desta natureza? Estarão os docentes portugueses actuais dispostos a superar os seus traumas históricos? Temos apostado numa actualização permanente como é nosso dever ético? http://www.cogitationes.org 22 Revista Cogitationes || ISSN 2177-6946 Vol. II, Nº 5 Juiz de Fora, ago.-nov./2011 4. Situações de carácter ético mais comuns Segundo Manuel Patrício (1993: 161), “a escola é um sistema ecológico: nela tudo tem que ver com tudo”. Realmente nas nossas escolas, surgem todos os dias situaçõesproblemas de carácter ético que têm que ser resolvidos no momento e nem sempre os actores/decisores estão à altura de optar por soluções deontologicamente aceitáveis. As situações mais comuns podem ser agrupadas do seguinte modos: as que se prendem directamente com a relação pedagógica, professor-aluno-professor (incluindo, não só as estritamente curriculares, como as extracurriculares e extralectivas, a interacção entre as duas e as que resultam do efeito global do funcionamento sistémico entre todas essas dimensões); as que se estabelecem entre os próprios professores e/ou entre os docentes e as chefias e vice-versa (aspectos que hoje estão na ordem do dia devido à implementação dos novos modelos de avaliação do desempenho); docentes-funcionários-docentes e encarregados de educação-docentes-encarregados de educação. Os docentes confrontam-se com temas ético-pedagógicos que vão da disciplina, ao respeito pelos outros, droga, sexo, violência, tolerância/intolerância, egoísmo/altruísmo, hedonismo, democracia, cidadania… Como nos diz Pedro D’Orey Cunha (1996; 107-108), “Na sua vida quotidiana, os professores são bombardeados pelo apelo, por vezes lancinante, das necessidades dos alunos (…), chamando-o à responsabilidade de um desempenho profissional, muitas vezes para além do que ficou estabelecido em estatutos e contratos (…), a experiência (…) fá-los muitas vezes adoptar, na prática, um paradigma de responsabilidade, mesmo quando, em teoria, defendem um paradigma de justiça”. Cabe aqui recordar que a escola de massas só se expandiu em Portugal após a Revolução de 25 de Abril de 1974, o que significa que as mudanças ainda não estão totalmente interiorizadas, coexistindo o paradigma deontológico do passado com o actual em muitos sectores do professorado. A rapidez e a precipitação com que se deu a expansão da escolaridade provocaram desajustes que ainda são visíveis em muitas escolas, cuja degradação física das instalações ajuda, por vezes, a potenciar a violência juvenil. Por outro lado, do ponto de vista cultural, a rejeição sistemática dos valores do regime político português do Estado Novo autoritário e antiliberal, consignados na célebre tríade http://www.cogitationes.org 23 Revista Cogitationes || ISSN 2177-6946 Vol. II, Nº 5 Juiz de Fora, ago.-nov./2011 Deus/Pátria/Família, conduziu a um relativismo cultural e a novas formas de intolerância que “tornam compreensível o desenvolvimento de um paradigma deontológico marcado pela insatisfação, a dúvida e a ambiguidade” (Cunha: 1996, 75). A entrada massiva de professores sem formação para colmatar a extensão da escolaridade também criou problemas que ainda hoje são visíveis. A profunda instabilidade política em Portugal, desde 1974, conduziu a uma grande alteração de Ministros da Educação e das políticas educativas, conduzindo a uma legislação quase caótica, uma espécie de manta de retalhos sem grande consistência, imitando modelos transplantados de países com raízes culturais diferentes. Estes são alguns dos factores que explicam as dificuldades hoje sentidas quando se pretende afinar a Educação pela bitola europeia, sobretudo a partir da Estratégia de Lisboa (2000-2010). A melhoria das práticas e as novas formas de avaliação das escolas e do sistema educativo em geral exigem o desenvolvimento de novas competências, tanto científicas, como técnicas, pedagógicas e, essencialmente, éticas. Estará a classe docente à altura das mudanças? Estaremos preparados para formar os cidadãos do futuro? A escola está consciente dos valores que deve ajudar os alunos a construir – cidadania, liberdade, democracia, justiça, solidariedade, autonomia? 5. Um caso real – descrições subjectivas Decidi apresentar este caso porque acho que nele se encontram quase todos os ingredientes da sociedade de transição em que nos encontramos em Portugal e, como tal, ainda há muita insegurança e até uma enorme sensação de angústia. Por outro lado, na linha daquilo a que Reboul chama a “boa-subjectividade”, esta situação que vou relatar prestou-se a versões diferentes consoante a posição dos actores envolvidos, o que a tornou muito mais complexa e aliciante. Vejamos, então, o que se passou. Numa turma do ensino secundário português, há uma aluna considerada problemática, cujo aspecto suscita normalmente perplexidade devido ao modo como se veste, baralhando toda a gente sobre o género. A primeira impressão é quase sempre de que é um rapaz e, como normalmente “pisa o risco”, acontece sempre o mesmo: funcionários e docentes dirigem-lhe a palavra como se de um rapaz se tratasse e há sempre alguém que, http://www.cogitationes.org 24 Revista Cogitationes || ISSN 2177-6946 Vol. II, Nº 5 Juiz de Fora, ago.-nov./2011 mais ou menos sarcasticamente, emenda, dizendo que é uma rapariga. A situação gera espanto e risos e uma espiral de asneiras a agravar o episódio inicial, na maior parte das vezes, pouco relevante à partida. A miúda é espertíssima, escreve muito bem, interpreta lindamente, tem uma mãe atenta e interessada, mas dificilmente se concentra nas aulas e/ou se organiza no cumprimento das tarefas a apresentar. Um pormenor que talvez interesse (ou talvez não!): é de etnia africana. De entre as inúmeras situações criadas durante o tempo em que a aluna frequenta a escola, a que quero aqui descrever passou-se numa aula de substituição de Filosofia, assegurada por uma docente de Biologia. Como ainda não está encerrado o caso, vou apresentar, sinteticamente, as quatro versões que conheço, colocando-as pela ordem cronológica da recolha: – Versão da aluna e de metade da turma: a docente de substituição informou que, como o professor titular adoecera, não havia plano de aula, pelo que poderiam fazer o que entendessem, desde que não fizessem barulho. Uns alunos estudavam, outros ouviam música, outros jogavam ao stop. A referida aluna encontrava-se neste grupo e, às tantas, quando decidiam qual a categoria que iriam escolher, disse em voz alta «animais». A docente, talvez por não a conhecer, achou que ela estava a insultar alguém e deu ordem de saída, tendo a aluna recusado. Gerou-se confusão e decide-se chamar o Presidente do Conselho Executivo, o qual, sem saber bem o que se passara, ordenou que todo o grupo que estava a jogar saísse, pois “as aulas de substituição não são para jogar”. Todos os alunos que abandonaram a aula tiveram falta e alguns deles já estavam quase tapados. - Versão da outra metade da turma: os alunos que continuaram na aula descreveram a situação de um modo muito idêntico, acrescentando apenas que o grupo que optou pelo jogo era constituído, maioritariamente, por alunos que tinham chegado tarde e perturbado, o que tinha alterado logo a postura da professora, a qual, até então parecia uma pessoa dócil, mas “depois ficou outra!”. Também referiram que a professora errou ao deixar o Presidente acreditar que havia alunos a jogar na aula, por iniciativa própria. http://www.cogitationes.org 25 Revista Cogitationes || ISSN 2177-6946 Vol. II, Nº 5 Juiz de Fora, ago.-nov./2011 - Versão da docente que assegurou a aula de substituição: os factos relatados são essencialmente os mesmos, acrescentando, porém, que a aluna em questão, além de ter chamado os colegas de “animais”, vociferou palavrões e recusou-se a sair. Omitiu que dera permissão para jogarem. - Versão do Presidente do Conselho Executivo: apenas disse que, tendo sido chamado àquela turma por haver uma aluna que recusava obedecer a uma ordem de saída (acrescentando que essa situação é muito frequente), terá percebido que a mesma se inseria num grupo que estava a jogar. Deu, então, ordem de saída a todo o grupo e a situação resolveu-se. 6. Tentativa de análise crítica / proposta de solução ética Este caso que acabo de descrever ilustra bem, a meu ver, aquela máxima de que “não basta melhorar o funcionamento da escola, sendo também necessário mudar a visão que os diferentes actores sociais têm da escola, como a olham, o que esperam dela, o que lhe dão e o que lhe querem dar de melhor” (Azevedo: 2003; citado por Baptista: 2005, 103). Apesar das várias versões (ou talvez, por isso!) é possível perceber que houve falhas a todos os níveis: 1. Falharam os alunos que já chegaram atrasados à aula! Terão falhado? Como adolescentes, é até saudável que contestem as regras e, evidentemente, as aulas de substituição “estragaram” um dos melhores momentos da escola, na perspectiva do aluno: o dos furos! Cabe à escola, pela via do diálogo e da negociação criativa, aproveitar crises como esta para enriquecer a relação pedagógica e fazer os alunos crescer! 2. Falhou a docente de substituição, uma vez que ignorou um dos seus deveres éticos, colocando o seu bem acima do bem dos alunos (obviamente, não se trata aqui do bem imediato e pragmático dos alunos, mas do bem como valor supremo, visto no longo prazo). Por muito que se ache que substituir um colega é uma sobrecarga de trabalho para nós, a Deontologia da Responsabilidade dita que os interesses profissionais não subjuguem os outros. Além do mais, já que tinha mesmo que estar com a turma, teria sido muito mais enriquecedor para ambas as partes, aproveitar o facto de não haver plano de aula para http://www.cogitationes.org 26 Revista Cogitationes || ISSN 2177-6946 Vol. II, Nº 5 Juiz de Fora, ago.-nov./2011 colmatar uma lacuna de que todos nos queixamos: a falta de oportunidade para investir da formação cívica. Uma simples conversa, bem conduzida, podia ter levado à criação de um clima de debate sobre questões que interessam aos adolescentes. Sendo a colega de Biologia, poderia até ter começado por aí e, informalmente, chegaria à Educação Sexual, por exemplo, o que envolveria toda a turma e preveniria problemas. Mas, mesmo depois da situação despoletada, houve outro erro: o recurso ao Presidente foi um sinal de fraqueza e de impotência perante a situação. A docente devia ter explorado estratégias que a dignificassem perante os alunos, os quais perceberam perfeitamente a sua incapacidade de lidar com situações adversas. 3. Falhou o Presidente que, uma vez chamado ao local, devia induzir a colega a resolver o problema, em vez de alimentar situações de demonstração de poder. Mas, já que optou por ir, não devia ter tomado nenhuma decisão levianamente, sem se inteirar de todos os dados, nomeadamente, o “pormenor” de que os alunos estavam a jogar, com o consentimento da docente. Assim, quanto a mim, agravou a situação, pois cometeu uma injustiça. Aqui, é oportuno referir também que, mais uma vez, a professora de substituição teve uma atitude pouco ética, ao ocultar que dera permissão para jogarem. Depois de todas as outras falhas, tinha aqui uma oportunidade para se redimir, sendo verdadeira perante toda a turma. Foi aqui que metade da turma começou a interiorizar um julgamento negativo sobre a referida docente! Que solução se deve tomar perante esta complexa situação? Deve-se ponderar muito bem para que não seja cometido mais nenhum erro. Seguindo os Princípios enunciados por Pedro D’Orey e referidos anteriormente, a solução deve ser no sentido de o sujeito ético se afastar da zona de conflito e organizar a situação de modo a que os alunos sejam confrontados com as suas próprias acções, sem se revoltarem contra os docentes, nem uns contra os outros. O ideal é que ninguém saia prejudicado, mas, essencialmente, que todos os actores aproveitem este incidente para repensarem a sua postura perante a escola e a sociedade. Correndo-se o risco de se ser mal interpretado, deve-se assumir o papel de elemento da gestão intermédia e, aplicando os mesmos princípios que defendo para a relação http://www.cogitationes.org 27 Revista Cogitationes || ISSN 2177-6946 Vol. II, Nº 5 Juiz de Fora, ago.-nov./2011 pedagógica, deve-se tecer críticas construtivas junto do próprio Presidente e da docente de substituição, enfrentando o mito das hierarquias e da superioridade etária. Aliás, este será um pequeno contributo para a mudança de paradigma, em direcção a uma escola que aprende e onde a formação entre pares tem que ser uma realidade. Enfrentar-se-á as devidas consequências deste acto e, ciente da actual cultura de escola, sabemos que, a curto prazo, poderá ter consequências negativas (pior horário, no próximo ano lectivo, talvez o dobro do serviço de exames, em Julho!). Porém, deve acreditar-se que, a médio e longo prazo, tudo mudará e, sobretudo, sentir-se-á a satisfação de se estar a ser coerente com o Paradigma da Responsabilidade. Um “pormenor”, que não se deve ignorar no diálogo com o Presidente, terá a ver com o facto de se considerar que a aluna mais problemática do grupo, por ser diferente, não pode arcar sempre com todas as “culpas”, mostrando-se a preocupação com o facto de até as funcionárias se referirem a ela como “aquela miúda que parece um rapaz!”. Em conjunto, deve pensar-se na implementação de medidas no sentido de uma verdadeira integração de todos os alunos e de um tratamento em pé de igualdade e sem preconceitos. Junto dos alunos e respectivos encarregados de educação, deve manter-se as faltas marcadas, usando o argumento de terem chegado tarde, comprometendo-se, porém, a não deixar que essas faltas conduzam a situações de reprovação. 7. Consideração final A terminar este modesto ensaio, limitar-me-ei a invocar a necessidade de implementar urgentemente os seguintes princípios de uma gestão ética da escola: 1. Compromisso incondicional com a educabilidade de todas as pessoas – educandos, encarregados de educação e demais actores da comunidade educativa; 2. Reconhecimento da centralidade do humano em todas as dimensões da vida organizacional, procurando valorizar, simultaneamente, a unicidade pessoal e os espaços de encontro e de relação; 3. Defesa do primado dos critérios pedagógicos sobre os de ordem financeira ou administrativa, afirmando permanentemente uma cultura de inquietude, busca, reflexão e http://www.cogitationes.org 28 Revista Cogitationes || ISSN 2177-6946 Vol. II, Nº 5 Juiz de Fora, ago.-nov./2011 avaliação; 4. Valorização da escola como laboratório cívico de liberdade e de democracia, animado pela participação empenhada e responsável de todos os actores e pela promoção de um ambiente relacional assente em práticas de cooperação, de proximidade e de responsabilidade; 5. Ênfase na componente axiológica dos Projectos Educativos, evidenciada em todos os documentos expressivos da personalidade de cada estabelecimento e traduzida em compromissos de acção muito concretos, segundo uma lógica de congruência institucional; 6. Concepção de uma escola como unidade social plural, como comunidade estruturada em torno de valores, relacionamentos e ideais, e não como organização formal inscrita num determinado sistema burocrático; 7. Entendimento da escola como instituição aprendente, prospectivamente orientada por uma ética da liberdade, do bem comum, da solidariedade, da paz, da esperança e da justiça. Só assim poderemos formar cidadãos preparados para a Liberdade, para a Autonomia e para a Responsabilidade, conscientes de que “A autonomia é mais funda, mais radical que a liberdade. A liberdade é o poder de escolher dentro de uma legalidade constituída. A autonomia é o poder de constituir a própria liberdade (…), é a liberdade da liberdade” (Patrício: 1993, 159). Referências bibliográficas e sitografia BAPTISTA, Isabel. Dar Rosto ao Futuro. A Educação como Compromisso Ético. Porto: Profedições, 2005. CUNHA, Pedro d’Orey da. Ética e Educação. Lisboa: Universidade Católica Editora, 1996. DIAS, J. M. Barros. Ética e Educação. Lisboa: Universidade Aberta, 2004. NÓVOA, António (ed.). Profissão Professor. Porto: Porto Editora, 1991. http://www.cogitationes.org 29 Revista Cogitationes || ISSN 2177-6946 Vol. II, Nº 5 Juiz de Fora, ago.-nov./2011 PATRÍCIO, Manuel. Lições de Axiologia Educacional. Lisboa: Universidade Aberta, 1993. POURTOIS, Pierre, DESMET, Huguette. A Educação Pós-Moderna. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. REBOUL, Olivier. A Filosofia da Educação. Lisboa: Edições 70, 2000. <http://www.scielo.br/pdf/ep/v30n1/a06v30n1.pdf> <http://www.eses.pt/usr/ramiro/index.htm> <http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/meio_ambiente/umapaz/files/Mori n.pdf> http://www.cogitationes.org 30
Download