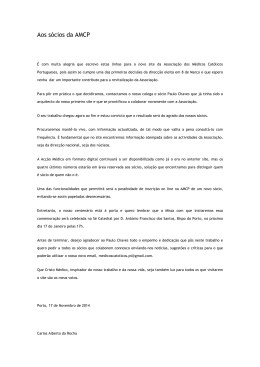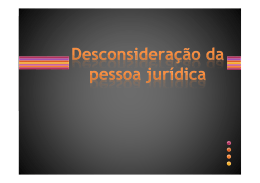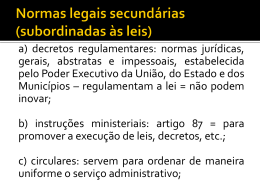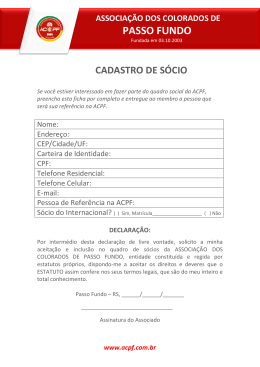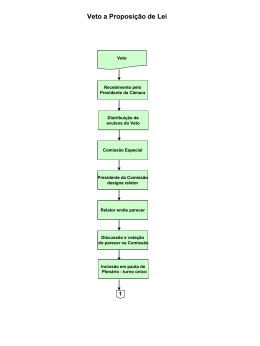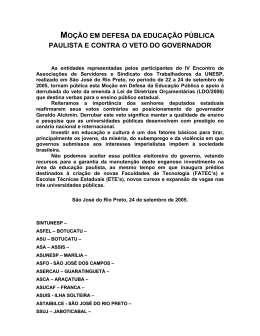A banalização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica Raul Moreira Pinto – Juiz do Trabalho Aposentado – 3ª Região Tem-se percebido em numerosos julgados a utilização desse importante instituto - banalizando-o com sua aplicação indiscriminada e sem critério - como uma das muitas panacéias criadas para os males de execuções frustradas pela inexistência de bens de empresas, constituídas sob a forma de sociedade de capital. Todos os que lidam com as coisas da Justiça sabem que há um número imenso de questões intrincadas, de dificílima solução. Mas é certo que as soluções não podem sair à força de fórceps; na aplicação do Direito, os nós górdios são muitos, mas, nessa ciência, não há lugar para espadas alexandrinas. O mais preocupante é que, dando extensão certamente jamais imaginada pelos legisladores e doutrinadores, decisões judiciais, especialmente, da Justiça do Trabalho, tem responsabilizado pessoalmente sócios minoritários, não participantes da administração da sociedade. Cria-se, assim, uma responsabilidade pela simples participação - in participando - o que é extremamente perigoso, pois pode ser que se sucumba à tentação de ampliar ainda mais o campo da responsabilização, com a criação de uma culpa – objetiva, naturalmente – in essendo: bastaria existir para ter de responder por alguma coisa. A autonomia patrimonial, com afetação exclusiva dos bens da pessoa jurídica, é conquista antiga do capitalismo, própria da economia de mercado; o aumento dos riscos naturais do empreendimento impede, ou no mínimo dificulta, a criação de novos negócios e a ampliação dos existentes. O instituto da desconsideração é antigo; lecionam os doutos que ele tem origem inglesa e foi desenvolvido mais amplamente no direito norte-americano, com contornos precisos, bem delineados. A decisão mais citada pelos antigos comercialistas se funda na idéia de que, se houver desvirtuamento dos objetivos de uma sociedade de capital, desviando-se do interesse público, ou por prática de fraude ou de crime, a lei considerará aquela corporação como uma sociedade de pessoas (the law will regard the corporation as an association of persons). Como se percebe, a idéia é da indispensabilidade da presença de um ilícito, originado, sempre, do abuso de direito de associação, e que seja gerador de prejuízos a terceiros. Menezes Cordeiro reforça esse entendimento, afirmando que o abuso do instituto da personalidade jurídica coletiva é abuso de direito, correlacionando-o aos institutos do venire contra factum proprium, supressio, surrectio e tu quoque. Nota-se que o instituto visa a responsabilização de partícipes - obviamente, ativos - da sociedade de capital, tipo em que, de ordinário, os sócios não respondem pessoalmente pelas dívidas dela, ante a autonomia patrimonial dessa espécie de associação. No Brasil, segundo alguns autores, decisão pioneira acolhendo a doutrina da desconsideração ocorreu em 1960, pela 11ª. Vara Cível do Distrito Federal. Registre-se que, no âmbito da Justiça do Trabalho da 3ª. Região, há uma sentença da então J.C.J. de Itajubá, do ano de 1981, com fundamento explícito na teoria, enfocando um caso em que o proprietário rural constituiu uma sociedade limitada para prestação de serviços, dizendo-se sucessora daquele, com absorção de todos os empregados, a maioria com estabilidade decenal, então existente; por óbvio, tal sociedade não tinha patrimônio. No plano do direito positivo, o instituto foi cuidado pela primeira vez no Código de Defesa do Consumidor, especificamente, no seu artigo 28. Depois, foram editadas as Leis 8.884/94 (infração à ordem econômica) e 9.605/98 (crimes ambientais). Finalmente, com alcance maior, evidentemente, veio o Código Civil, com seu artigo 50. Tanto o artigo 28, do C.D.C., como o artigo 50, do Código Civil, tornaram mais amplos os limites do instituto, introduzindo outros requisitos desconhecidos na gênese desse, como má administração e confusão patrimonial. O artigo 50, do Código Civil, estatui que o abuso da personalidade jurídica se revela pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial; por isso que a extensão da execução aos bens particulares dos sócios somente é possível quando se faz mau uso daquela ficção, seja já na sua instituição, como ocorreu no caso acima mencionado do proprietário rural, seja em momento posterior. A má administração, referida no artigo 28, caput, do C.D.C., há de ser entendida como uma gerência ruinosa, temerária, desalinhada dos mais elementares princípios que orientam a boa condução dos negócios; não há assim de ser considerado eventual fracasso do empreendimento, derivado de causas que fazem parte de toda atividade empresarial, que, por sua natureza e definição, é de risco. Considerar-se, sempre, que o insucesso do negócio decorreu de má administração é fechar os olhos para o fenômeno da atividade econômica. A responsabilização, por regra, do sócio administrador por malogro do negócio significa desprezar todo o progresso e modernização do direito de empresa, ocorrido ao longo de séculos, alinhado com os princípios capitalistas. Em posição mais extremada, há alguns julgados que entendem responsáveis quaisquer dos sócios – ativos e não ativos, majoritários ou não - pela inexistência de encerramento formal da sociedade, desconhecendo que, até mesmo pela ausência de poderes dos partícipes não ativos para administrá-la, torna-se quase impossível a esses a iniciativa para dissolução da associação. Por outro lado, o encerramento das atividades, segundo o modelo da lei, é uma formalidade, não parecendo que a inobservância dessa possa acarretar a grave conseqüência de responsabilização de sócios por dívidas da sociedade; vale dizer, não é a realização ou a ausência do procedimento que definirá a existência ou não de ilícitos por parte dos sócios. Com relação à confusão patrimonial, cuidada no artigo 50, do C.C., a bem da verdade, não parece que seja essa uma categoria à parte e distinta, pois essa confusão, caracterizada pela desafetação do patrimônio da pessoa jurídica, com a incorporação dele ao do sócio, nada mais significa do que um desvio da finalidade daquela. Trabalhos levados a cabo por estudiosos sobre o tema enfocado nestes escritos colocam como a grande dificuldade, na aplicação do instituto relativamente ao sócio não administrador, ou não ativo, e minoritário, o disposto no parágrafo quinto, do artigo 28, do C.D.C.. Ao dispor esse parágrafo que a desconsideração poderá ocorrer sempre que a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento do credor, simplesmente afastou os requisitos necessários a tal desconsideração arrolados no caput, do citado artigo 28, do C.D.C.; isto é, para ocorrência dessa, não é preciso a presença de abuso de direito, de excesso de poder, de infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação da lei ou contrato social, além de danos causados por má administração. Na verdade, esse parágrafo deveria ser vetado, mas por um lapso do Presidente da República, uma “aberratio ictus da caneta presidencial”, no dizer de Zelmo Denari, vetou-se o parágrafo primeiro, que dispunha sobre a necessidade da iniciativa do interessado para que o juiz responsabilizasse o sócio. É fácil perceber-se o equívoco: a razão do veto foi a constatação de que o caput do artigo 28, do Código, já conteria “todos os elementos necessários à aplicação da desconsideração”. Esse equívoco gerou duas sérias dificuldades. Como o parágrafo formalmente vetado delimitava – e corretamente – o alcance da responsabilização do sócio, atingindo o controlador, o sócio majoritário, os sócios-gerentes e os administradores, tornou-se, em tese, possível sustentar que todos os sócios podem ser responsabilizados, inclusive os minoritários e os não administradores. A segunda conseqüência foi possibilitar ao juiz decretar a desconsideração de ofício, dispensando o requerimento do interessado (voluntatem partis novit curia?), que bem pode não desejar, por razões várias, executar um ou outro sócio, gerando uma nova lide não querida pelo credor, com consequente desprezo ao secular princípio dispositivo, muito caro ao direito processual. A questão, então, resvala inexoravelmente para o campo da interpretação das leis. De um lado, tem-se um patente equívoco no direcionamento do veto, a sugerir a não aplicação do dispositivo que deveria ser vetado; de outro, a rigidez da letra da lei. É certo que o veto busca eliminar regra eventualmente inconstitucional ou que não atenda ao interesse público. Daí, verem alguns autores, no veto, um controle prévio de constitucionalidade, exercido pelo Executivo. Fábio Ulhoa Cintra observa que, no embate entre o artigo 28 e seu parágrafo, se “algum tiver de ceder, será o parágrafo”, porque, na interpretação contrária, serão postos de lado os fundamentos teóricos da desconsideração, além de tornar letra morta o caput do artigo e de desconhecer, definitivamente, o princípio da existência distinta da pessoa jurídica da de seus sócios. Uma das regras de interpretação da jurisprudência, coletada por Washington Monteiro de Barros, dita que deve ser afastada a exegese que conduz ao contraditório. Também é princípio que a lei não contém palavras inúteis, a impedir o total esvaziamento do caput do artigo 28, do C.D.C.. Acresça-se ainda que, segundo a boa técnica legislativa, o artigo deve conter um único comando normativo, posto no seu caput; já o parágrafo deve completar o sentido ou abrir exceções à regra lançada na cabeça dele; isto é, o parágrafo não pode estabelecer regra geral, que excepcione ou mesmo elimine o comando da cabeça do artigo. É geralmente aceito que o veto faz parte do processo legislativo, ainda que se mostre num aspecto negativo. Com efeito, se há alguma norma inconstitucional ou que não atenda ao interesse público no projeto levado à sanção e ela é extirpada do texto pelo veto, é imperioso concluir que efetivamente esse ato é parte do processo legislativo. Luiz Guilherme Marinoni até sustenta o entendimento sobre a possibilidade de se argüir, judicialmente, a inconstitucionalidade do veto. É enfático Ives Gandra da Silva Martins ao afirmar que o veto do Presidente é um ato legislativo e não administrativo, e o chefe do Executivo não o pratica na condição de chefe da Administração Pública, mas na de legislador delegado constitucionalmente. Tem-se que, se há erro ou desvio no processo legislativo, no caso, veto dirigido equivocadamente a um dispositivo necessário à boa aplicação da lei, é possível ao juiz não considerar a disposição viciosa, trocando o útil pelo inútil. Vale dizer, pode, até em nome do malferimento ao princípio do devido processo legislativo, verificado por erro, não aplicar o dispositivo que era o destinatário do veto e não o sofreu. Como parte do processo legislativo, o veto carrega em si, ainda que na sua face negativa, a vontade do legislador e essa vontade pode ser objeto de consideração na aplicação da lei. Ademais, embora o método de interpretação pela mens legislatoris não goze mais de prestígio, há de se reconhecer que, no mínimo, é ele útil para entendimento e alcance da lei. Na mesma linha, observa-se que, no trabalho interpretativo, é válido se recorrer aos trabalhos legislativos. Resumindo: se o veto é fase do processo legislativo, as razões dele hão de ser consideradas na interpretação da lei por aquele gerada. Outro aspecto que se observa no procedimento da desconsideração da personalidade jurídica é a total ausência de bilateralidade. Ordinariamente, o sócio envolvido somente vem a saber da decisão judicial, que lançou aos seus ombros a responsabilidade pela dívida da sociedade, quando é intimado da penhora. Não é dada ao sócio a oportunidade de discutir a questão, senão depois de ter bens constritados, ostentando, assim, situação pior do que a da sociedade devedora, que teve todas as chances de se defender no processo de conhecimento, sem ter seu patrimônio agredido. Isto é, litiga o sócio como se já existisse um titulo executivo judicial reconhecendo sua responsabilidade, derivado de sentença com trânsito em julgado, obtido segundo o devido processo legal, e com rigorosa observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos moldes preconizados pela Constituição Federal. Não há nada que justifique esse tratamento que, além de não dar obediência ao princípio da isonomia, torna a defesa bastante comprometida, ante as limitações da resposta pela via dos embargos à execução. Finalmente, encerrando-se estes escritos, há uma questão não menos grave envolvendo a problemática da desconsideração da personalidade jurídica: a oportunidade da decretação dessa. Ordinariamente, passam-se anos até que se chegue à conclusão de que os bens penhorados da pessoa jurídica não foram suficientes ou que já não mais existiam, quando do início da execução. Clito Fornaciari Junior relata um caso julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. Região, em que o sócio teve bens penhorados vinte e cinco anos após a sua retirada da sociedade. Nem mesmo crimes graves, tipificados no direito pátrio, tem prazo prescricional tão longo. A estabilidade dos negócios jurídicos é extremamente importante; sem sua proteção, não se tem segurança jurídica. Distribuir justiça e garantir a estabilidade jurídica talvez sejam as duas únicas razões a, efetivamente, legitimar a existência do Poder Judiciário. E sempre se optou, entre um e outro, pela segurança jurídica, o que se comprova pelo mais do que viçoso, embora milenar, instituto da prescrição. Interessante a opinião do processualista de São Paulo, que coloca a satisfação do julgado no plano do interesse particular, de natureza patrimonial, e por isso disponível, devendo ser “devidamente temperado com a preservação da segurança jurídica, que, essa sim, é de natureza coletiva e, pois, indisponível.” Revolver fatos de um passado remoto, retirando deles conseqüências jurídicas que já não são oportunas, é conduta geradora incertezas e de intranqüilidade no seio da sociedade, solapando a árdua e permanente busca pela paz social. Como a lei não tem oculos retro, como também não é de seu agrado o peculiar atributo bifacial de Jano, a Justiça igualmente deve preservar situações antigas, estratificadas e já consolidadas pelo tempo. Embora se referisse ao tema da irretroatividade das leis, um dos mentores do Código Napoleão, Portalis, em citação de Vicente Ráo, registra, de forma elegante, o que o tempo representa na vida social do homem; talvez seja a mais candente defesa da necessidade de segurança jurídica para a convivência dos homens. “O passado”, diz o jurista do Código francês, “pode deixar dissabores, mas põe termo a todas as incertezas; na ordem da natureza só o futuro é incerto e esta própria incerteza é suavizada pela esperança, a fiel companheira de nossa fraqueza. Seria agravar a triste condição da humanidade querer mudar, através do sistema de legislação, o sistema da natureza, procurando, para o tempo que já se foi, fazer reviver as nossas dores, sem nos restituir as nossas esperanças”.
Baixar