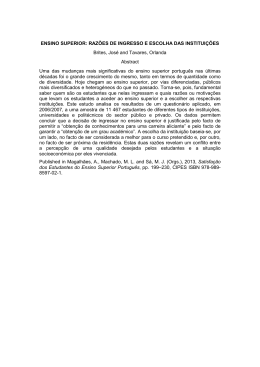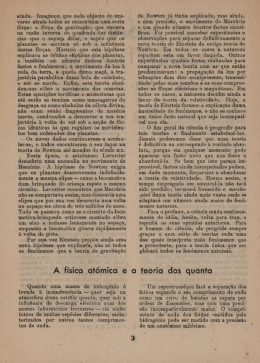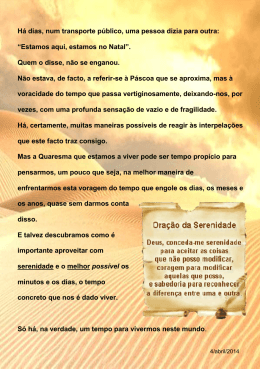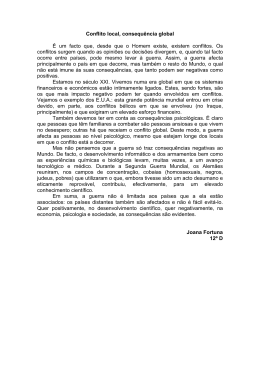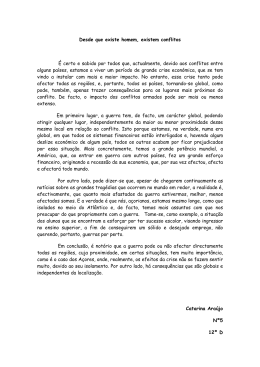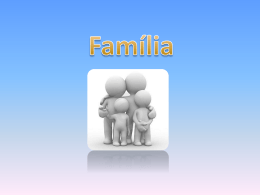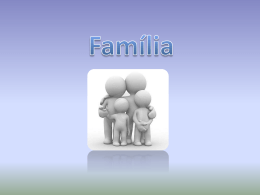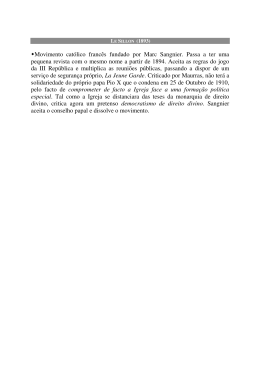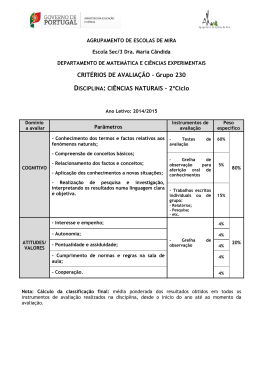Title: " Verdade e Política"
Author: Hannah Arendt
Translator: Manuel Alberto
Date: 1967
[]
Título: Verdade e Política
Título original: «Truth and Politics». Este texto foi publicado pela primeira vez em The New Yorker, em
Fevereiro de 1967 e integrado no livro «Between Past and Future», editado no ano seguinte. Autor: Hannah
Arendt Tradução: Manuel Alberto Capa: Fernando Mateus sobre quadro de Chirico
*****
Hannah Arendt
Verdade e Política
Tradução de Manuel Alberto
*****
NOTA
O motivo deste ensaio foi a pretensa polémica surgida depois da publicação de
«Eichmann em Jerusalém».(*) O seu objectivo é clarificar dois problemas diferentes,
ainda que intimamente ligados, de que não tivera consciência antes, e cuja importância
parec ultraassar as circnstâncias daquela polémica. O primeiro diz respeito à questão
de saber se é sempre legítimo dizer a verdade - acreditaria, sem reservas, no «Fiat
ventas, et pereat mundus» ? O segundo nasceu da espantosa quantidade de mentiras
utilizadas na «polémica» - mentiras sobre aquilo que eu escrevera, por um lado, e sobre
os factos que relatara, por outro. As reflexões que se seguem tentam enfrentar esses dois
problemas. Podem também servir de exemplo do que acontece a um assunto
eminentemente actual quando é conduzido nessa brecha entre o passado e o futuro que
é, talvez, o habitat próprio de qualquer reflexão.
***
{*} 1963
***
I
O objecto destas reflexões é um lugar comum. Nunca ninguém teve dúvidas que a
verdade e a política estão em bastante más relações, e ninguém, tanto quanto saiba,
contou alguma vez a boa fé no número das virtudes políticas. As mentiras foram sempre
consideradas como instrumentos necessários e legítimos, não apenas na profissão de
político ou demagogo, mas também na de homem de estado. Por que será assim? E o
que é que isso significa no que se refere à natureza e à dignidade do domínio político,
por um lado, e à natureza e à dignidade da verdade e da boa-fé, por outro? Será da
própria essência da verdade ser impotente e da própria essência do poder enganar? E
que espécie de realidade possui a verdade se não tem poder no domínio público, o qual,
mais do que qualquer outra esfera da vida humana, garante a realidade da existência aos
homens que nascem e morrem - quer dizer, seres que sabem que surgiram do não-ser e
que voltarão para aí depois de um breve momento? Finalmente, a verdade impotente
não será tão desprezível como o poder despreocupado com a verdade? Estas são
questões embaraçosas, mas que as nossas convicções correntes sobre a matéria
necessariamente suscitam.
O que torna este lugar comum altamente plausível pode ainda resumir-se no velho
adágio latino: «Fiat justitia, et pereat mundus» («Faça-se justiça, ainda que o mundo
acabe»). Exceptuando o seu provável autor do século XVI (Fernando I, sucessor de
Carlos V), ninguém dele fez uso a não ser como de uma questão retórica: deverá ser
feita justiça se a sobrevivência do mundo estiver em causa? E o único grande pensador
que ousou tomar a questão a contrapelo foi Emmanuel Kant, que explicou
audaciosamente que a «sentença proverbial... significa em linguagem simples: "A
justiça deve prevalecer, mesmo que daí resulte o desaparecimento de toda a canalha do
mundo!"». Como os homens acham que não vale a pena viver num mundo inteiramente
desprovido de justiça, esse «direito humano deve ser considerado sagrado, sem ter em
conta a quantidade de sacrifício exigido aos poderes... sem ter em conta aquilo que daí
poderia resultar em termos de consequências físicas(1)». Mas não será esta resposta
absurda? A preocupação pela existência não terá primazia nítida em relação ao resto qualquer virtude e qualquer princípio? Não é evidente que estes se tornariam puras
quimeras se o mundo, sem o qual não poderiam manifestar-se, estiver em perigo? Não
teria o século XVII razão quando era quase unânime em declarar que toda a
comunidade tem o dever imperioso de reconhecer, de acordo com a palavra de
Espinosa, «que não existe lei mais alta que a sua própria segurança(2)»? Porque
certamente todo o princípio que transcende a simples existência pode ser colocado em
lugar da justiça, e se nós aí colocarmos a verdade - «Fiat veritas, et pereat mundus» -, a
velha sentença parece-nos ainda mais plau***
{1} Paz Perpétua, Apêndice l (Edições 70, 1988).
{2} Eu cito o Tratado Político de Espinosa (Estampa, 1978) porque é notável que mesmo Espinosa, para
quem a libertas philosophandi era o verdadeiro fim do governo, tivesse tido que tomar uma posição tão
radical.
***
sível. Se concebemos a acção política em termos de meios e de fins, podemos mesmo
chegar à conclusão, só na aparência paradoxal, que a mentira pode muito bem servir
para estabelecer ou salvaguardar as condições da procura da verdade - tal como há
muito assinalou Hobbes, cuja lógica implacável nunca deixa de levar os argumentos
para esses extremos em que o seu absurdo se torna evidente(1). E as mentiras,
precisamente porque são muitas vezes utilizadas como substitutos de meios mais
violentos, podem facilmente ser consideradas como instrumentos relativamente
inofensivos do arsenal da acção política.
No caso de ser reconsiderada a velha sentença latina, parecerá um pouco
surpreendente que o sacrifício da verdade à sobrevivência do mundo seja menos grave
que o sacrifício de qualquer outro princípio ou virtude. Porque, enquanto se pode ir até
recusar a pergunta de se a vida valeria a pena ser vi***
{1} No Leviatã (cap. XLVI) Hobbes explica que «a desobediência pode legitimamente ser punida
naqueles que contra as leis ensinam a verdade filosófica». Porque o «lazer» não é a «mãe da filosofia; e a
República (Commonwealth) a mãe da paz e do lazer»? E não resulta daí que a República age no interesse
da filosofia quando suprime uma verdade que mina a paz? Por consequência aquele que diz a verdade,
para cooperar com um empreendimento que é tão necessário à paz do seu próprio corpo e da sua própria
alma, decide escrever o que sabe «ser falsa filosofia». Hobbes suspeitava que era isso o que fez Aristóteles
e todos os que, como ele, «escreviam [uma filosofia] em consonância com a religião [dos gregos], e vem
corroborá-la - temendo o destino de Sócrates». Hobbes nunca notou que toda a procura da verdade se
destruiria ela própria se as suas condições só podem ser garantidas através de mentiras deliberadas. Então,
certamente, toda a gente poderia revelar-se mentiroso, como o Aristóteles de Hobbes. Diferente desse
produto da fantasia lógica de Hobbes, o verdadeiro Aristóteles era certamente suficientemente razoável
para deixar Atenas quando começou a recear ter o destino de Sócrates; e ele não era suficientemente
perverso para escrever aquilo que sabia ser falso, nem suficientemente estúpido para resolver o seu
problema de sobrevivência destruindo tudo aquilo que contava para ele.
***
vida num mundo privado de noções como a justiça e a liberdade, o mesmo,
estranhamente, não é possível relativamente à ideia, na aparência muito menos política,
de verdade. O que está em causa é a sobrevivência, a perseverança na existência (in suo
esse perseverare), e nenhum mundo humano destinado a durar mais tempo que a breve
vida dos mortais nele, poderá alguma vez sobreviver sem homens que queiram fazer o
que Heródoto foi o primeiro a empreender conscientemente - a saber,
,
dizer o que é. Nenhuma permanência, nenhuma persistência no ser podem sequer ser
imaginadas sem homens querendo testemunhar aquilo que é e lhes parece ser porque é.
É uma velha e complicada história a do conflito entre a verdade e a política, e a
simplificação ou a predicação moral de nada serviriam. No decurso da história, os
investigadores e aqueles que dizem a verdade estiveram sempre conscientes dos riscos
que corriam; enquanto não se misturavam nos negócios do mundo eram cobertos de
ridículo, mas aquele dentre eles que forçava os seus concidadãos a toma-lo a sério
procurando livrá-los da falsidade e da ilusão, esse arriscava a vida: «Se lhe fosse
possível pôr a mão num tal homem... matá-lo-iam», diz Platão na última frase da
alegoria da caverna. O conflito platónico que opõe os que dizem a verdade e os
cidadãos não pode explicar-se pelo adágio latino, nem por nenhuma das teorias
posteriores que, implícita ou explicitamente, justificam entre outras faltas, a mentira, se
a sobrevivência da cidade está em causa. Não é feita qualquer menção a um inimigo na
história de Platão; todos vivem entre si pacificamente, simples espectadores de
imagens; não estão envolvidos em nenhuma acção e, por isso, ameaçados por ninguém.
Os membros desta comunidade não têm qualquer razão para considerar a verdade e os
que dizem a verdade como os seus piores inimigos e Platão não fornece nenhuma
explicação do seu amor perverso pelo erro e a falsidade. Se pudéssemos confrontá-lo
com um dos seus colegas ulteriores em filosofia política - e, nomeadamente, com
Hobbes que defendia que «uma verdade que não se opõe a nenhum interesse ou prazer
humano recebe bom acolhimento de todos os homens» (afirmação evidente que, no
entanto, ele julgou ser bastante importante pois com ela termina o seu Leviatã) - ele
estaria talvez de acordo em relação ao lucro e ao prazer, mas não com a asserção que
possa existir uma espécie de verdade bem acolhida por todos os homens. A existência
de uma verdade indiferente, a existência de «assuntos» com os quais os homens não se
preocupam - por exemplo a verdade matemática, «a doutrina das linhas e das figuras»
que não «contraria nenhuma ambição, nenhum lucro, nem nenhuma cobiça», consolava
Hobbes, mas não Platão. Porque, escrevia Hobbes, «não duvido que, se fosse coisa
contrária ao direito de um homem à dominação, ou ao interesse dos homens que detêm
a dominação, que os três ângulos de um triângulo sejam iguais a dois ângulos de um
quadrado, esta doutrina teria sido, se não contestada, pelo menos suprimida pelo
lançamento à fogueira de todos os livros de geometria, se aquele a quem ela dizia
respeito tivesse meios para isso(1)».
Existe, sem dúvida, uma diferença decisiva entre a evidência matemática de Hobbes e
a norma verdadeira da conduta humana que é suposto a filosofia de Platão trazer da sua
viagem ao céu das ideias, ainda que Platão, que acreditava que a verdade matemática
abria os olhos do espírito a todas as verdades, disso não tivesse consciência. O exemplo
de Hobbes impressiona-nos pelo seu carácter relativamente inofensivo. Estamos
inclinados a supor que o espírito será sempre capaz de reproduzir enunciados tão
evidentes como «os três ângu***
{1} Ibid., cap. XI
***
los de um triângulo devem ser iguais a dois ângulos de um quadrado» e concluímos
que o «lançamento à fogueira de todos os livros de geometria» não teria qualquer efeito
radical. O perigo seria consideravelmente maior no que diz respeito às afirmações
científicas; se a história tivesse seguido um outro curso, todo o desenvolvimento
científico moderno desde Galileu até Einstein poderia não ter tido lugar. E certamente,
numa tal ordem a verdade mais vulnerável seria a desses edifícios do pensamento
altamente diferenciados e sempre únicos - de que a doutrina das ideias de Platão é um
exemplo eminente - através dos quais, desde tempos imemoriais, os homens
procuraram pensar racionalmente para além dos limites do conhecimento humano.
A época moderna, que acredita que a verdade não é nem dada, nem revelada ao
espírito humano, mas produzida por ele tem, desde Leibniz, reconduzido as verdades
matemáticas, científicas e filosóficas ao género comum da verdade da razão, diferente
da verdade de facto. Utilizarei esta distinção por preocupação de comodidade sem
discutir a sua legitimidade intrínseca. No desejo de descobrir o prejuízo que o poder
político é capaz de causar à verdade, examinaremos os problemas por razões mais
políticas que filosóficas, e, por isso, podemos permitir-nos negligenciar a questão de
saber o que é a verdade, contentando-nos em tomar a palavra no sentido em que os
homens comummente a entendem. E se pensamos agora em verdades de facto - em
verdades tão modestas como o papel, durante a revolução russa, de um homem de
nome Trotsky que não surge em nenhum dos livros da história da revolução soviética vemos imediatamente como elas são mais vulneráveis que todas as espécies de
verdades racionais tomadas no seu conjunto. Além disso, como os factos e os
acontecimentos - que são sempre engendrados pelos homens vivendo e agindo em
conjunto - constituem a própria textura do domínio político, é, naturalmente, a verdade
de facto que nos interessa mais aqui. Quando combate a verdade racional, a
dominação(*) (para usar a linguagem de Hobbes), ultrapassa, por assim dizer, os seus
limites. Mas trava batalha no seu próprio terreno quando falsifica e apaga os factos. São
efectivamente muito ténues as possibilidades que a verdade de facto tem de sobreviver
ao assalto do poder; ela corre o constante perigo de ser colocada fora do mundo, através
de manobras, não apenas por algum tempo, mas, virtualmente, para sempre. Os factos e
os acontecimentos são coisas infinitamente mais frágeis que os axiomas, as descobertas
e as teorias - mesmo as mais loucamente especulativas - produzidas pelo espírito
humano; ocorrem no campo perpetuamente modificável dos assuntos humanos, no seu
fluxo em que nada é mais permanente que a permanência, relativa, como se sabe, da
estrutura do espírito humano. Uma vez perdidos, nenhum esforço racional poderá fazêlos voltar. Talvez as possibilidades de que as matemáticas euclidianas ou a teoria da
relatividade de Einstein - já para não falar da filosofia de Platão - fossem reproduzidas
com o tempo se os seus autores tivessem sido impedidos de as transmitir à posteridade,
também não fossem muito boas. Mas mesmo assim são infinitamente melhores que as
possibilidades de um facto de importância esquecido ou, mais verosimilmente,
apagado, ser um dia redescoberto.
II
Ainda que as verdades politicamente mais importantes sejam verdades de facto, o
conflito entre a verdade e a política foi descoberto e articulado pela primeira vez
relativamente à
***
{*} Dominion (N.T.)
***
verdade racional. O contrário de uma afirmação racionalmente verdadeira é, ou o erro e
a ignorância, nas ciências, ou a ilusão e a opinião, em filosofia. A falsidade deliberada,
a vulgar mentira, desempenha apenas o seu papel no domínio dos enunciados de facto,
e parece significativo, ou melhor, bizarro que no longo debate que incide sobre o
antagonismo da verdade e da política, de Platão a Hobbes, aparentemente ninguém
tenha acreditado que a mentira organizada, tal como hoje a conhecemos, pudesse ser
uma arma apropriada contra a verdade. Em Platão aquele que diz a verdade põe a sua
vida em perigo, e em Hobbes onde ele se tornou autor, é ameaçado de ver os seus livros
lançados à fogueira; a mentira pura e simples não é um problema. O sofista e o
ignorante ocupam mais o pensamento de Platão que o mentiroso, e quando ele distingue
entre o erro e a mentira - quer dizer, entre o «
involuntário e voluntário» - é, de
modo significativo, mais duro em relação àqueles que «chafurdam na ignorância de
porcos», que em relação aos mentirosos(1). Terá isso
***
{1} Espero que ninguém me venha mais dizer que Platão foi o inventor da «mentira nobre».
Essa crença repousa numa interpretação errónea de uma passagem crucial (414 c) da República
onde Platão fala de um dos seus mitos - «uma lenda fenícia» - como de um
. Como a
mesma palavra grega significa «ficção», «erro» e «mentira» de acordo com o contexto - quando
Platão quer distinguir entre erro e mentira, a língua grega constrange-o a falar de
«involuntária» e «voluntária» - o texto pode querer dizer, como na tradução de Cornford,
«Audacioso desenvolvimento da imaginação», ou pode-se, com Eric Voegelin (Order and
History: Plato and Aristotle, Louisiana State University, 1957, t. III, p. 106) atribuir-lhe uma
intenção satírica; em caso algum pode ser entendido como um convite a mentir, no sentido em
que compreendemos essa palavra. Platão, certamente, tolerava mentiras de circunstância,
destinadas a enganar o inimigo ou então loucos - A República, 382; são «úteis... à maneira de
um remédio... que só o médico deve manejar», e o médico da polis é aquele que governa (388).
Mas contrariamente à alegoria da caverna, estas passagens não elaboram nenhum princípio.
***
acontecido porque era ainda desconhecida a mentira organizada, que domina a coisa
pública, à diferença do mentiroso privado que tenta a sua sorte por sua própria conta?
Ou terá isso alguma coisa a ver com o facto surpreendente de que, à excepção do
zoroastrismo, nenhuma das grandes religiões incluiu a mentira enquanto tal, e ao
contrário do que sucede em relação ao falso testemunho, no seu catálogo de pecados
mortais? Foi apenas com o surgimento da moral puritana, que coincide com a da
ciência organizada, cujo progresso deveria ser assegurado no terreno firme da confiança
na absoluta sinceridade de todos os sábios, que as mentiras foram consideradas
infracções sérias.
Como quer que seja, historicamente o conflito entre a verdade e a política surge de
dois modos de vida diametralmente opostos - a vida do filósofo tal como foi
inicialmente interpretado por Parménides e em seguida por Platão, e o modo de vida do
cidadão. Às opiniões sempre mutáveis do cidadão sobre os assuntos humanos, eles
próprios num estado de constante fluxo, o filósofo opôs a verdade sobre as coisas que
são por sua própria natureza eternas e de onde, por consequência, é possível derivar
princípios para estabilizar os assuntos humanos. Daí resultou que o contrário da
verdade foi a simples opinião, apresentada como equivalente da ilusão, e é esta
degradação da opinião que dá ao conflito a sua acuidade política; porque a opinião e
não a verdade, é uma das bases indispensáveis de todo o poder. «Todos os governos se
baseiam na opinião», diz James Madison, e mesmo o mais autocrático dos soberanos ou
dos tiranos nunca poderia aceder ao poder - a questão da conservação do poder é outra
coisa - sem apoio daqueles que são do mesmo parecer. Além disso, a pretensão, no
domínio dos assuntos humanos, a uma verdade absoluta, cuja validade não necessita de
apoio por parte da opinião, abala os fundamentos de qualquer política e de qualquer
regime. O antagonismo entre a verdade e a opinião foi prolongado por Platão
(especialmente no Górgias) num antagonismo entre a comunicação sobre a forma de
«diálogo», discurso apropriado à verdade filosófica, e a comunicação sobre a forma da
«retórica», através da qual o demagogo, como o diríamos hoje, persuade a multidão.
Traços deste conflito original podem ainda ser observados nos primeiros tempos da
época moderna, mas mais dificilmente no mundo em que vivemos. Em Hobbes, por
exemplo, encontramos ainda uma oposição de duas «faculdades contrárias», o
«raciocínio sólido» e a «eloquência poderosa», sendo a primeira fundada nos princípios
da verdade, e a outra sobre as opiniões e as paixões e os interesses humanos que são
diferentes e variáveis(1). Mais de um século depois, na época das luzes, estes aspectos
quase desapareceram mas não completamente, e quando o antigo antagonismo
sobrevive, o acento é colocado noutro lado. De acordo com a filosofia pré-moderna, o
magnífico Sage jeder, was ihm Wahrheit dünkt, und die Wahrheit selbst sei Gott
empfohlen («Que cada um diga o que lhe parece a verdade, e que a autêntica verdade
seja recomendada a Deus») de Lessing teria muito simplesmente querido dizer: o
homem não é capaz de verdade, todas as verdades, são
, simples opiniões,
enquanto que para Lessing isso significava pelo contrário: Devemos dar graças a Deus
por não conhecermos a verdade. E mesmo que a nota de regozijo - a intuição que, para
os homens vivendo em comunidade, a inesgotável riqueza do discurso humano é
infinitamente mais significativa e rica de sentido que qualquer verdade única poderá
alguma vez ser - esteja ausente, a consciência da fragilidade da razão humana
prevaleceu a partir do século XVIII, sem suscitar queixas nem lamenta***
{1} Leviatã, Conclusão.
***
ções. Está presente na grandiosa Crítica da razão pura(1) de Kant, onde a razão é levada
a reconhecer os seus próprios limites, como nas palavras de Madison que sublinha,
mais de uma vez, que «a razão do homem, como o próprio homem, é tímida e
circunspecta quando é abandonada a si própria; adquire firmeza e confiança em
proporção do número a que está associada(2)». Considerações desta ordem, bem mais do
que ideias sobre o direito do indivíduo a exprimir-se, desempenharam um papel
decisivo na luta, que acabou por ser mais ou menos coroada de sucesso, para obter a
liberdade de pensamento para a palavra dita e escrita.
Assim, Espinosa, que acreditava ainda na infalibilidade da razão humana e que é
muitas vezes erradamente exaltado como um campeão da liberdade de pensamento e de
palavra, sustentava que «todo o homem é, por direito natural e imprescritível, o senhor
dos seus próprios pensamentos», que «cada qual segue o seu próprio parecer e que a
diferença entre as cabeças é tão grande como entre os palácios», concluindo que «é
preferível concordar com aquilo que não pode ser abolido» e que as leis que proíbem o
livre pensamento apenas podem ter como resultado que «os homens pensem uma coisa
e digam outra», e além disso levar à «corrupção da boa fé» e ao «encorajamento da
perfídia». No entanto, Espinosa não pede nunca a liberdade da palavra; o argumento
segundo o qual a razão humana tem necessidade de entrar em comunicação com os
outros e por consequência de ser tornada pública no seu próprio interesse, brilha pela
ausência. Ele conta mesmo a necessidade de comunicação do homem, a sua
incapacidade em ocultar os seus pensamentos e permanecer silencioso, entre os defeitos
comuns que o filósofo não parti***
{1} Edições Fundação Calouste Gulbenkian, 1985.
{2} The Federalist, n° 49
***
lha(1). Kant, pelo contrário, afirmava que «o poder exterior que priva o homem da
liberdade de comunicar os seus pensamentos publicamente, priva-o ao mesmo tempo
da sua liberdade de pensar» (o sublinhado é nosso), e que a única garantia da
«correcção» dos nossos pensamentos está em «pensarmos, por assim dizer, em
comunidade com os outros, a quem comunicamos os nossos pensamentos como eles
nos comunicam os seus». Dado que a razão do homem é falível, não pode funcionar a
não ser que dela se possa fazer um «uso público», e isso é igualmente verdadeiro para
aqueles que, ainda num estado de «tutela», são incapazes de se servir do seu
pensamento «sem a direcção de outra pessoa», e também para o «letrado» que tem
necessidade de «todos aqueles que lêem» a fim de examinar e de controlar os seus
resultados(2).
Neste contexto, a questão do número, mencionado por Ma-dison, é de particular
importância. A passagem da verdade racional à opinião implica uma passagem do
homem no singular aos homens no plural; o que quer dizer uma passagem de um
domínio em que, de acordo com Madison, apenas se conta o «sólido raciocínio» de um
espírito, para um domínio em que «a força da opinião» é determinada pela confiança
do indivíduo no «número que é suposto ter as mesmas opiniões» - número que, seja
dito de passagem, não está necessariamente limitado aos seus contemporâneos.
Madison distingue ainda esta vida no plural, que é a vida do cidadão, da vida do
filósofo para quem tais considerações devem ser «negligenciadas», mas esta distinção
não tem consequências práticas porque uma nação de filósofos é tão pouco verosímil
como a raça filosófica dos reis desejada por Platão(3). Podemos notar
***
{1} Tratado Teológico-Político, cap. XX (Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988).
{2} Ver «O que são as luzes?» e «O que é orientar-se no pensamento?»
{3} The Federalist, nº 49.
***
de passagem que a própria ideia de uma nação de filósofos teria sido uma contradição
nos termos para Platão cuja filosofia política, com os seus aspectos abertamente
tirânicos, repousa na convicção que a verdade não pode vir da massa, nem ser-lhe
comunicada.
No mundo em que vivemos, os últimos traços deste antigo antagonismo entre a
verdade do filósofo e as opiniões expressas na praça pública, desapareceram. Nem a
verdade da religião revelada, que os pensadores políticos do século XVII tratavam
ainda como um obstáculo maior, nem a verdade do filósofo revelada ao homem na
solidão, influenciam os assuntos do mundo. No que diz respeito à primeira, a separação
da Igreja e do Estado deu-nos a paz, e quanto à outra, há muito tempo que cessou de ter
pretensões à dominação - a menos que se considere seriamente as ideologias modernas
como filosofias, o que é verdadeiramente difícil, a partir do momento em que os seus
aderentes proclamam abertamente que elas são armas políticas e consideram
despropositada toda a questão da verdade e da boa fé. A pensar de acordo com a
tradição, podemo-nos sentir autorizados a concluir deste estado de coisas que o velho
conflito foi finalmente resolvido, e especialmente que a sua causa original, o conflito
entre a verdade racional e a opinião, desapareceu.
Estranhamente, no entanto, não é esse o caso, pois o conflito entre a verdade de facto
e a política, que se produz hoje sob os nossos olhos numa tão vasta escala, tem - pelo
menos sobre certos aspectos - traços muito semelhantes. Provavelmente nenhuma época
passada tolerou tantas opiniões diversas sobre as questões religiosas ou filosóficas. Mas
a verdade de facto, quando lhe sucede opor-se ao lucro e ao prazer de um dado grupo, é
hoje acolhida com uma hostilidade maior do que alguma vez o foi. Certamente que
existiram sempre os segredos de estado; todo o governo deve classificar certas
informações, subtraí-las ao conhecimento do público, e aquele que revela autênticos
segredos foi sempre tratado como um traidor. Não me ocuparei disso aqui. Os factos
que tenho em vista são conhecidos do público, e no entanto esse mesmo público que os
conhece pode com sucesso e muitas vezes continuamente proibir a sua discussão
pública e tratá--los como se fossem aquilo que não são - a saber, segredos. Que o seu
enunciado possa revelar-se tão perigoso como, por exemplo, o facto de outrora se
pregar o ateísmo ou qualquer outra heresia, parece um fenómeno curioso, e adquire
importância quando o reencontramos em países que são dirigidos tiranicamente por um
poder ideológico. (Mesmo na Alemanha hitleriana e na Rússia estalinista, era mais
perigoso falar de campos de concentração e de extermínio, cuja existência não era um
segredo, do que exprimir pontos de vista «heréticos» sobre o antisemitismo, o racismo
e o comunismo.) O que parece ainda mais perturbante é que as verdades de facto
incómodas são toleradas nos países livres, mas ao preço de serem muitas vezes,
consciente ou inconscientemente, transformadas em opiniões - como se factos como o
apoio de Hi-tler pela Alemanha ou o desmoronamento da França diante dos exércitos
alemães em 1940, ou a política do Vaticano durante a segunda guerra mundial, não
fossem da ordem da história mas da ordem da opinião. Dado que estas verdades de
facto dizem respeito a problemas cuja importância política é imediata, o que está em
causa aqui é muito mais do que a tensão, talvez inevitável, entre dois modos de vida no
quadro de uma realidade comum e comummente reconhecida. O que está em jogo aqui,
é essa própria realidade comum e efectiva, tratando-se verdadeiramente de um
problema político de primeira ordem. E dado que a verdade de facto, ainda que se
preste muito menos à discussão do que a verdade filosófica e seja tão manifestamente
algo que a todos pertence, parece muitas vezes sofrer um destino similar quando é
exposta na praça pública - quer dizer ser contraditada não através de mentiras e de
falsificações deliberadas, mas pela opinião - vale talvez a pena reabrir a antiga e
aparentemente antiquada questão da relação entre a verdade e a opinião.
Pois, do ponto de vista daquele que diz a verdade, a tendência para se transformar o
facto em opinião, para apagar a linha de demarcação que as separa, não é menos
embaraçosa que a situação difícil e mais antiga daquele que diz a verdade tão
vigorosamente expressa na alegoria da caverna, em que o filósofo, num regresso da sua
viagem solitária pelo céu das ideias eternas, tenta comunicar a sua verdade à multidão,
com o resultado de a ver desaparecer na diversidade dos pontos de vista que para ele
são ilusões e em que ela é rebaixada ao nível incerto da opinião, de tal modo que agora,
de regresso à caverna, a própria verdade assume o aspecto de
(«parece-me»)
- dos
que os filósofos tinham esperado abandonar de uma vez por todas.
Contudo, a situação daquele que apresenta a verdade de facto é ainda pior. Ele não
regressa de uma viagem por regiões situadas para além do domínio dos assuntos
humanos e não pode consolar-se pensando que se tornou um estranho neste mundo. Do
mesmo modo, não temos o direito de nos consolar com a ideia que a sua verdade, se
verdade aí houver, não é deste mundo. Se os simples factos que ele enuncia não são
aceites - as verdades vistas e atestadas pelos olhos do corpo, e não pelos olhos do
espírito - surge a suspeita de que é talvez da natureza do domínio político negar ou
perverter toda a espécie de verdade, como se os homens fossem incapazes de se
entender com a sua inflexibilidade obstinada, gritante e que desdenha convencer. Se
fosse esse o caso, as coisas pareceriam ainda mais desesperadas do que Platão as
supunha, porque a verdade de Platão descoberta na solidão transcende, por definição, o
domínio da multidão e o mundo dos assuntos humanos. (Pode-se compreender que o
filósofo, no seu isolamento, ceda à tentação de utilizar a verdade como uma norma que
é necessário impor aos assuntos humanos, quer dizer de igualar a transcendência
inerente à verdade filosófica como a «transcendência» de um tipo completamente
diferente pelo qual o metro e os outros padrões de medida são separados da multidão de
objectos que devem medir, e pode-se igualmente compreender bem que a multidão
recuse essa norma na medida em que ela deriva realmente de uma esfera estranha ao
domínio dos assuntos humanos e cuja ligação com ela só pode ser justificada por uma
confusão.) A verdade filosófica, quando surge na praça, muda de natureza e torna-se
opinião, porque se produz uma verdadeira
, um
deslocamento não apenas de uma espécie de raciocínio para outro, mas de um modo de
existência humano para outro.
A verdade de facto, pelo contrário, é sempre relativa a várias pessoas: ela diz respeito
a acontecimentos e circunstâncias nos quais muitos estiveram implicados; é
estabelecida por testemunhas e repousa em testemunhos; existe apenas na medida em
que se fala dela, mesmo que se passe em privado. É política por natureza. Ainda que se
deva distingui-los, os factos e as opiniões não se opõem uns aos outros, pertencem ao
mesmo domínio. Os factos são a matéria das opiniões, e as opiniões, inspiradas por
diferentes interesses e diferentes paixões, podem diferir largamente e permanecer
legítimas enquanto respeitarem a verdade de facto. A liberdade de opinião é uma farsa
se a informação sobre os factos não estiver garantida e se não forem os próprios factos
o objecto do debate. Por outras palavras, a verdade de facto fornece informações ao
pensamento político tal como a verdade racional fornece as suas à especulação
filosófica.
Mas existirá algum facto independente da opinião e da interpretação? Não
demonstraram gerações de historiadores e filósofos da história a impossibilidade de
constatar factos sem os interpretar, na medida em que têm de começar por ser extraídos
de um caos de puros acontecimentos (e os princípios de escolha não são certamente
dados de facto), serem em seguida organizados numa história que não pode ser contada
a não ser numa certa perspectiva, que nada tem a ver com o que aconteceu
originalmente? Não há dúvida que estas dificuldades e muitas outras ainda, inerentes às
ciências históricas, são reais, mas não constituem uma prova contra a existência da
matéria factual, tal como não podem servir de justificação para o esbatimento das linhas
de demarcação entre o facto, a opinião e a interpretação, nem de desculpa ao historiador
para manipular os factos a seu bel--prazer. Mesmo se admitirmos que cada geração tem
o direito de escrever a sua própria história, recusamo-nos a admitir que cada geração
tenha o direito de recompor os factos de harmonia com a sua própria perspectiva; não
admitimos o direito de se atentar contra a própria matéria factual. Para ilustrar este
ponto e desculparmo-nos por não levar a questão mais longe: nos anos vinte,
Clemenceau, pouco antes da sua morte, estava envolvido numa conversa amistosa com
um representante da República de Weimar sobre as respon-sabilidades quanto ao
desencadeamento da Primeira Guerra mundial. Perguntaram a Clemenceau: «Na sua
opinião, o que é que os historiadores futuros pensarão deste problema embaraçoso e
controverso?» Ele respondeu: «Sobre isso nada sei, mas do que estou certo é que eles
não dirão que a Bélgica invadiu a Alemanha». Ocupamo-nos aqui de dados elementares
brutais desse género, cujo carácter inatacável foi admitido até pelos partidários mais
convictos e sofisticados do historicismo.
É verdade que seria necessário muito mais do que os caprichos de um historiador para
eliminar da história o facto de que na noite de 4 de Agosto de 1914, as tropas alemãs
franquearam a fronteira belga; isso exigiria, nada mais nada menos, do que o monopólio
do poder sobre a totalidade do mundo civilizado. Ora um tal monopólio do poder está
longe de ser inconcebível, e não é difícil imaginar qual seria o destino da verdade de
facto se o interesse do poder, quer seja nacional ou social, tivesse a última palavra em
tais questões. O que nos reconduz à nossa suspeita de que possa ser da natureza do
domínio político estar em guerra contra a verdade em todas as suas formas, e daí à
questão de saber por que é que uma submissão, mesmo em relação à verdade de facto, é
sentida como uma atitude antipolítica.
III
Quando eu dizia que a verdade de facto, ao contrário da verdade racional, não se opõe
à opinião, enunciava uma se-miverdade. Todas as verdades - não apenas as diferentes
espécies de verdade racional mas também de verdade de facto - são opostas à opinião
no seu modo de asserção da validade. A verdade contém em si mesma um elemento de
coerção e as tendências frequentemente tirânicas que tão deploravel-mente se
manifestam nos que dizem a verdade por profissão podem dever-se menos a uma falta
de carácter que ao seu esforço para viver habitualmente sob uma espécie de
constrangimento. Afirmações como «A soma dos ângulos de um triângulo é igual a dois
ângulos rectos», «A terra gira em torno do sol», «É preferível sofrer o mal que fazer o
mal», «Em Agosto de 1914 a Alemanha invadiu a Bélgica» são muito diferentes pelo
modo como foram estabelecidas, mas, uma vez entendidas como verdadeiras e
declaradas tais, têm em comum estar para lá do acordo, da discussão, da opinião, do
consentimento. Para aqueles que as aceitam, não são alteradas por ser maior ou menor o
número daqueles que admitem a mesma proposição; a persuasão ou a dissuasão são
inúteis porque o conteúdo da afirmação não é de natureza persuasiva mas coerciva.
(Assim Platão, no Timeu, traça uma linha de separação entre os homens capazes de
perceber a verdade e aqueles que conseguem defender opiniões justas. Nos primeiros, o
órgão de percepção da verdade [
] é despertado graças à instrução, que implica, é
claro, a desigualdade e em relação à qual podemos dizer que é uma forma suave da
coerção, enquanto que os outros foram simplesmente persuadidos. Os pontos de vista
dos primeiros são imutáveis, diz Platão, enquanto é sempre possível persuadir os outros
a mudar de parecer(1).) O que Mercier de la Rivière observou um dia a propósito da
verdade matemática aplica-se a todas as espécies de verdade: «Euclide est un véritable
despote; et lês vérités géométriques qu'il nous a transmises sont des lois vé-ritablement
despotiques(*).» Na mesma ordem de ideias, Grotius, aproximadamente cem anos mais
tarde - desejando limitar o poder do monarca absoluto -, insistira no facto que «nem
sequer Deus pode fazer que duas vezes dois não sejam quatro». Invocava a força
constrangedora da verdade face ao poder político; a limitação da omnipotência divina
que isso implicava não o interessava. Estas duas observações ilustram como a verdade
surge na perspectiva puramente política, do ponto de vista do poder, e a questão é a de
saber se o poder
***
{l} Timeu, 51d-52.
(*) Em francês no texto (N.T.)- «Euclides é um verdadeiro déspota; e as verdades geométricas que nos
transmitiu são leis verdadeiramente despóticas.»
***
pode e deve ser controlado não apenas por uma constituição, uma carta, e por uma
multiplicidade de poderes como no sistema de «freios e contrapesos» onde, segundo
Montesquieu: «le pouvoir arrete le pouvoir(*)» - quer dizer por factores que nascem do
domínio próprio do político e lhe pertencem - mas também por qualquer coisa que
nasce do exterior, que tem a sua origem fora do domínio da política, e é tão
independente dos votos e dos desejos dos cidadãos como da vontade do pior dos
tiranos.
Considerada de um ponto de vista político, a verdade tem um carácter despótico. Ela
é por isso odiada pelos tiranos, que temem, com razão, a concorrência de uma força
coerciva que não podem monopolizar; e goza de um estatuto relativamente precário aos
olhos dos governos que repousam sobre o consentimento e que dispensam a coerção.
Os factos estão para além do acordo e do consentimento, e toda a discussão acerca deles
- toda a troca de opiniões que se funda sobre uma informação exacta - em nada
contribuirá para o seu estabelecimento. Pode-se discutir uma opinião importuna, rejeitála ou transigir com ela, mas os factos importunos têm a exaspe-rante tenacidade que
nada pode abalar a não ser as mentiras puras e simples. O aborrecido é que a verdade de
facto, como toda a verdade, exige peremptoriamente o reconhecimento e recusa a
discussão enquanto que a discussão constitui a própria essência da vida política. Os
modos de pensamento e de comunicação que têm a ver com a verdade são, quando
considerados na perspectiva política, necessariamente tirânicos; não têm em conta
opiniões de outros, quando esse ter em conta é a marca de todo o pensamento
estritamente político.
O pensamento político é representativo. Eu formo uma opinião considerando uma
questão dada sob diferentes pon***
{*} Em francês no texto (N.T.). «O poder trava o poder.»
***
tos de vista, e tendo presente ao espírito as posições daqueles que estão ausentes; quer
dizer represento-os. Este processo de representação não adopta cegamente os pontos de
vista reais daqueles que estão algures e olham o mundo numa perspectiva diferente; não
se trata de simpatia, como se procurasse ser ou sentir como outra pessoa, nem
contabilizar os votos de uma maioria para me juntar a ela, mas de ser e de pensar na
minha própria identidade onde eu não estou realmente. Quanto mais numerosas forem
as posições das pessoas que trouxer ao espírito quando refuto sobre uma questão dada,
tanto mais posso imaginar como me sentiria e pensaria se estivesse no seu lugar, mais
forte será a minha capacidade de pensamento representativa e mais válidas serão as
minhas conclusões finais, a minha opinião. (É esta aptidão para uma «mentalidade
alargada» que torna os homens capazes de julgar; como tal, foi descoberta por Kant na
primeira parte da sua Crítica do Juízo, ainda que ele não reconhecesse as implicações
políticas e morais da sua descoberta.) O verdadeiro processo de formação de opinião é
determinado por aqueles em lugar dos quais alguém pensa e usa o próprio espírito, e a
única condição para esse emprego da imaginação é a de ser desinteressado, estar liberto
dos seus interesses privados. Por isso, mesmo que evite toda a companhia e mesmo que
esteja completamente isolado enquanto formo uma opinião, não estou simplesmente
sozinho comigo na solidão do pensamento filosófico, permaneço nesse mundo de
universal interdependência onde me posso fazer representante de qualquer outra pessoa.
Posso, bem entendido, recusar-me a isso e formar uma opinião que tenha apenas em
conta os meus próprios interesses ou os interesses do grupo ao qual pertenço; nada é
evidentemente mais comum, mesmo em pessoas altamente sofisticadas, do que a
obstinação cega que se manifesta na falta de imaginação e na incapacidade de julgar.
Mas a própria qualidade de uma opinião, tanto como a de um julgamento, depende do
seu grau de imparcialidade.
Nenhuma opinião é evidente ou se impõe por si. Em matéria de opinião, mas não em
matéria de verdade, o nosso pensamento é verdadeiramente discursivo, correndo por
assim dizer, de um lugar para o outro, de uma parte do mundo para outra, passando por
todas as espécies de pontos de vista antagónicos, até que finalmente se eleva das suas
particularidades até a uma generalidade imparcial. Comparada a este processo, no qual
uma questão particular é trazida com esforço ao dia claro, para poder mostrar-se sob
todos os seus aspectos e em todas as perspectivas possíveis até estar inundada de luz e
se tornar transparente para a plena luz da compreensão humana, a afirmação de uma
verdade possui uma singular opacidade. A verdade racional ilumina o entendimento
humano, e a verdade de facto deve servir de matéria às opiniões, mas estas verdades,
ainda que não sejam nunca obscuras, não são transparentes por isso, e está na sua
própria natureza recusar--se a uma elucidação ulterior, como é da natureza da luz
recusar-se a ser iluminada.
Em nenhum lado, de resto, essa opacidade é mais evidente e mais irritante do que nos
casos em que somos confrontados com os factos e com a verdade de facto, pois não há
nenhuma razão decisiva para os factos serem aquilo que são; teriam podido sempre ser
outros e esta incómoda contingência é literalmente ilimitada. É devido ao carácter
ocasional dos factos que a filosofia pré-moderna se recusou a tomar a sério o domínio
dos assuntos humanos, impregnado como está de factualidade, ou acreditar que alguma
verdade importante possa ser descoberta na «desolante contingência» (Kant) de uma
série de acontecimentos que constitui o curso do mundo. De igual modo, nenhuma
filosofia moderna da história foi capaz de se reconciliar com a tenacidade intratável e
irracional da pura factualidade; os filósofos modernos evocaram todos os géneros de
necessidade, desde a necessidade dialéctica de um espírito do mundo ou das condições
materiais, até às necessidades de uma natureza humana conhecida e pretensamente
imutável, com o objectivo de expurgar os últimos vestígios do aparentemente arbitrário
«isso teria podido ser de outro modo» (que é o preço da liberdade) do único domínio
em que os homens são verdadeiramente livres. É verdade que retrospectivamente - quer
dizer na perspectiva histórica - toda a sucessão de acontecimentos permite pensar que
ela teria podido produzir-se de outro modo, mas é uma ilusão de óptica, ou melhor uma
ilusão existencial: nada poderia acontecer se a realidade, por definição, não suprimisse
as outras possibilidades originalmente inerentes a uma qualquer situação dada.
Por outras palavras, a verdade de facto não é mais evidente que a opinião, e essa é
talvez uma das razões pelas quais os detentores de opinião consideram relativamente
fácil rejeitar a verdade de facto como se fosse uma outra opinião. A evidência factual,
além disso, é estabelecida graças ao testemunho de testemunhas oculares - sujeitas a
caução como se sabe - e graças a arquivos, documentos e monumentos - de cuja
falsidade pode sempre suspeitar-se. Em casos de contestação, só é possível invocar
outros testemunhos, mas não uma terceira e mais alta instância e a decisão é em geral o
resultado de uma maioria; quer dizer, o que acontece é o mesmo que para a solução dos
conflitos de opinião - processo totalmente insatisfatório, pois nada impede uma maioria
de testemunhos de ser uma maioria de falsos testemunhos. Pelo contrário, em certas
circunstâncias o sentimento de pertencer a uma maioria pode até favorecer o falso
testemunho. Por outras palavras, na medida em que a verdade de facto está exposta à
hostilidade dos detentores de opinião, ela é pelo menos tão vulnerável como a verdade
filosófica racional.
Fiz mais acima a observação de que aquele que diz a verdade se encontra numa
situação pior que o filósofo de Platão - que a sua verdade não tem origem transcendente
e não possui sequer as qualidades relativamente transcendentes de princípios políticos
tais como a liberdade, a justiça, a honra, a coragem, todas elas podendo inspirar a acção
humana e, a partir daí, tornar-se manifestas nela. Vamos ver agora que essa
desvantagem tem consequências mais sérias do que aquilo que tínhamos pensado; a
saber, consequências que dizem respeito não apenas à pessoa que diz a verdade, mas - o
que é mais importante - às possibilidades de sobrevivência da sua verdade. O facto de
inspirar a acção humana e de se manifestar nela pode ser incapaz de fazer concorrência
à evidência constrangedora da verdade, mas pode rivalizar como adiante veremos, com
a força de persuasão inerente à opinião. Tomei a proposição socrática: «é preferível
sofrer o mal do que fazer o mal» como exemplo de uma tese filosófica que diz respeito
à conduta humana e tem, por consequência, implicações políticas. A razão porque o fiz
foi a de que por um lado, esta frase se tornou o início do pensamento ético ocidental e,
por outro lado, que, tanto quanto eu sei, permaneceu a única proposição ética que pode
ser derivada directamente da experiência especificamente filosófica. (Poder-se-ia
despojar o imperativo categórico de Kant, seu único rival neste campo, dos seus
elementos judaico-cristãos, que explicam a sua formação como imperativo e não como
simples proposição. O princípio que lhe está subjacente é o axioma da não-contradi-ção
- o ladrão contradiz-se a si próprio porque quer guardar na sua propriedade bens que
roubou - e esse axioma deve a sua validade às condições do pensamento que Sócrates
foi o primeiro a descobrir.)
Os diálogos de Platão dizem-nos com muita frequência como a tese socrática
(proposição e não imperativo) parecia paradoxal, como era facilmente refutada na praça
do mercado em que a opinião se erguia contra a opinião e como Sócrates era incapaz de
a provar e de a demonstrar de maneira a satisfazer não apenas os seus adversários mas
também os seus amigos e os discípulos. (Pode-se encontrar a mais dramática dessas
passagens no início da República(1).) Tendo tentado em vão convencer o seu adversário
Trasimaco que a justiça vale mais que a injustiça, Sócrates ouviu dizer os seus
discípulos, Glaucon e Adimante, que a sua prova estava longe de convencer. Sócrates
exprime a sua admiração pelos seus discursos: «É preciso que haja em vós qualquer
coisa de verdadeiramente divino, para que possam defender tão eloquentemente a causa
da injustiça sem no entanto estarem convencidos que vale mais que a justiça». Por
outras palavras, eles estavam convencidos antes do início da discussão, e tudo isso era
dito para mostrar que a verdade da proposição não apenas falhava na sua tentativa da
convencer os não convencidos, como não tinha sequer força suficiente para reforçar a
sua convicção.) Tudo aquilo que pode ser dito em sua defesa encontramo-lo nos
diferentes diálogos de Platão. O argumento principal sustenta que para o homem, cujo
ser é ser um, é preferível estar indisposto com o mundo inteiro do que estar indisposto e
em contradição consigo próprio(2) - argumento
***
{1} Ver A República (Guimarães Editores, 1971). Cf. também Criton: «Porque eu sei que apenas um
pequeno número de homens são e serão alguma vez dessa opinião. Entre aqueles que são dessa opinião e
aqueles que o não são, não pode haver deliberação comum; consideram-se necessariamente uns aos outros
com desprezo em relação aos seus diferentes objectivos.
{2} Ver Gorgias, em que Sócrates diz ao seu adversário Calicles que «não concordará nunca consigo
próprio, antes se contradirá a si próprio durante toda a vida». E acrescenta então: «Eu prefiro de longe que
o mundo inteiro esteja em desacordo comigo e fale contra mim do que encontrar-me, eu, que sou um, em
desacordo comigo próprio e contradizer-me.»
***
que é na verdade irresistível para o filósofo, cujo pensamento é caracterizado por Platão
como um diálogo silencioso consigo próprio, e cuja existência depende de uma relação
cons-tantemente articulada consigo mesmo - de uma cisão em dois do um que ele no
entanto é; porque uma contradição fundamental entre os dois parceiros que prosseguem
o diálogo pensante destruiria as próprias condições do filósofo(1). Por outras palavras, já
que o homem contém em si mesmo um parceiro de que não pode nunca libertar-se, o
seu interesse é o de não viver em companhia de um assassino ou de um mentiroso. Ou
ainda, já que o pensamento é o diálogo silencioso perseguido entre mim e eu mesmo,
devo ter o cuidado de preservar a integridade desse parceiro; de outro modo perderia
certamente por completo a capacidade de pensar.
Para o filósofo - ou melhor, para o homem na medida em que é um ser pensante - esta
proposição ética relativa ao mal feito e sofrido não é menos constrangedora do que a
verdade matemática. Mas para o homem na medida em que ele é um cidadão, um ser
actuante relacionado com o mundo e o bem público mais do que no seu próprio bem
estar - incluindo, por exemplo, a sua «alma imortal», cuja «saúde» deveria prevalecer
sobre as necessidades do corpo perecível - a tese socrática não é verdadeira de todo. As
consequências desastrosas para toda a comunidade que começou com uma total
seriedade a seguir os preceitos éticos derivados do homem no singular - quer sejam
socráticas, platónicas ou cristãs - foram já muitas vezes evidenciadas. Muito antes de
Maquiavel recomendar que se protegesse o domínio público contra o princípio puro da
fé cristã (aqueles que recusavam
***
{l} Por uma definição do pensamento como diálogo silencioso entre mim e eu próprio, ver sobretudo
Teeteto (Inquérito, 1985), e O Sofista. É no fio desta tradição que Aristóteles chama ao amigo com o qual
fala sobre a forma de um diálogo um
, um outro eu.
***
resistir ao mal permitiam aos maus «fazer tanto mal quanto quisessem») já Aristóteles
prevenia contra a outorgação da palavra ao filósofo nas coisas políticas. (Aos homens
que por razões profissionais devem preocupar-se tão pouco «com aquilo que é bom para
eles próprios» não se poderia confiar o que é bom para os outros, e menos que tudo o
«bem comum», os vulgares interesses da comunidade(1).)
Como a verdade filosófica diz respeito ao homem na sua singularidade, ela é não
política por natureza. Se apesar disso o filósofo deseja ver prevalecer a sua verdade
sobre as opiniões da multidão, sofrerá uma derrota, e é susceptível de concluir dessa
derrota que a verdade é impotente - truísmo tão pleno de sentido como o do
matemático, que incapaz de realizar a quadratura do círculo, lamentasse o facto de o
círculo não ser um quadrado. Pode então ser tentado, como Platão, a tornar-se
conselheiro de um qualquer tirano de tendência filosófica, e no caso, por felicidade,
altamente improvável de um sucesso poderia instituir uma dessas tiranias da «verdade»
que conhecemos principalmente graças às diferentes utopias políticas, e que certamente,
e falando politicamente, são tão tirânicas como quaisquer outras formas de despotismo.
No caso, ligeiramente menos improvável, da sua verdade vencer sem recurso à
violência, simplesmente porque os homens se puseram de acordo para isso, teria obtido
uma vitória a Pirros. Porque a verdade deveria então o seu triunfo não à sua própria
essência constrangedora mas à concordância da maioria, que poderia mudar de ideia no
dia seguinte e chegar a acordo sobre qualquer outra coisa diferente; o que tinha sido
verdade filosófica ter-se-ia tornado simples opinião.
Mas como a verdade filosófica traz em si um elemento de constrangimento, pode
tentar o homem de Estado em certas
***
{l} Ética a Nicomaco, liv. VI.
***
condições, tal como o poder da opinião pode tentar o filósofo! Assim, na Declaração
da Independência, Jefferson afirma que «certas verdades são evidentes por si» porque
desejava colocar fora do litígio e fora do debate a unanimidade fundamental dos
homens da revolução; tal como os axiomas matemáticos, deveriam exprimir «crenças
dos homens» que «não dependem da sua vontade, mas seguem involuntariamente a
evidência proposta aos seus espíritos»(1).
Mas ao dizer «consideramos essas verdades evidentes», reconhecia, sem se dar conta
disso, que a afirmação «todos os homens nascem iguais» não é evidente mas exige o
acordo e o assentimento - que a igualdade, a ter um significado político, é um assunto
de opinião, e não de «verdade». Existem, por outro lado, teses filosóficas ou religiosas
que correspondem a essa opinião - por exemplo que todos os homens são iguais perante
Deus, perante a morte, ou na medida em que pertencem todos à mesma espécie de
animal racional - mas nenhuma delas foi alguma vez de importância política prática,
porque o nivelador, quer se trate de Deus, da morte ou da natureza, transcendia o
domínio em que têm lugar as relações humanas e permanecia exterior a elas. Tais
«verdades» não têm lugar entre os homens mas acima deles, e nada se encontra delas
por detrás da aquiescência moderna ou antiga - em particular grega - à igualdade. Que
todos os homens nasçam iguais não é nem evidente em si nem demonstrável. Fazemos
nossa essa opinião porque a liberdade é possível apenas entre os iguais, e acreditamos
que as alegrias e as satisfações da livre companhia devem ser preferíveis aos duvidosos
prazeres da existência da dominação. Tais preferências são politicamente da maior
importância, e há poucas coisas pelas quais os homens
***
{l} Ver o «Projecto de preâmbulo para a lei da Virginia estabelecendo a liberdade religiosa».
***
se distinguem tão profundamente uns dos outros. Estamos inclinados a dizer que a sua
qualidade humana, e certamente a qualidade de qualquer espécie de relação com eles
depende de tais escolhas. Contudo, trata-se aqui de opiniões e não de verdade - como
Jefferson, bem apesar dele, o admitiu, a sua validade depende do livre acordo e do livre
consentimento; são o resultado de um pensamento discursivo, representativo; e são
comunicadas através da persuasão e da dissuasão.
A proposição socrática «É preferível sofrer o mal a fazer o mal» não é uma opinião
mas pretende ser a verdade, e ainda que se possa duvidar que tenha tido alguma vez
uma consequência política directa, é inegável o seu impacto como preceito ético sobre a
conduta prática; só os mandamentos religiosos, absolutamente obrigatórios para a
comunidade dos crentes, podem ter pretensões a um tão grande reconhecimento. Não
estará este facto em clara contradição com a impotência geralmente admitida da
verdade filosófica? E já que sabemos pelos diálogos de Platão como a tese de Sócrates
era pouco convincente tanto para os seus amigos como para os seus inimigos de cada
vez que tentava demonstrá-la, é necessário interrogarmo-nos sobre como poderá ela ter
obtido o seu elevado grau de validade. Manifestamente, isso ficou a dever--se a um
modo bastante invulgar de persuasão; Sócrates decidiu apostar a sua vida nesta verdade,
para dar o exemplo, não quando compareceu diante do tribunal ateniense, mas ao
recusar-se a escapar à sentença de morte. Este ensinamento pelo exemplo é, de facto, a
única forma de «persuasão» de que a verdade filosófica é capaz sem perversão nem
alteração(1); além disso, a verdade filosófica pode tornar-se «prática» e
***
{l} É essa a razão da observação de Nietzsche no «Schopenhauer als Er-zieher»: «Ich mache mir aus
einem Philosophen gerade so viel, als er imstande ist, ein Beispiel zu geben».
***
inspirar a acção sem violar as regras do domínio político quando é feita de modo a
tornar-se manifesta sobre a forma de exemplo. É a única oportunidade para um
princípio ético ser provado e validado. Assim, para provar, por exemplo, a noção de
coragem, podemos lembrar Aquiles e para provar a noção de bondade estamos
inclinados a pensar em Jesus da Nazaré ou em S. Francisco; estes exemplos ensinam ou
persuadem pela inspiração, de tal modo que de cada vez que tentamos concretizar um
acto de coragem ou de bondade é como se imitássemos outro - imitatio Christi, por
exemplo. Foi muitas vezes observado que, como diz Jefferson, «um sentido vivo e
durável do dever filial é mais eficazmente impresso no espírito de um filho ou de uma
filha pela leitura do Rei Lear que por todos os volumes áridos de ética e de teologia que
até agora foram escritos(1)», e que, como diz Kant, «os preceitos gerais que se vão
buscar a padres ou a filósofos ou mesmo aos recursos próprios, nunca são tão eficazes
como um exemplo de virtude ou de santidade(2)». A razão, como explica Kant, está em
que temos sempre necessidade de «intuições... para confirmar a realidade dos nossos
conceitos». «Se se trata de puros conceitos do entendimento», tais como o conceito de
triângulo, «as intuições tomam o nome de esquemas», como o triângulo ideal,
perseguido apenas pelos olhos do espírito e no entanto indispensável ao reconhecimento
de todos os triângulos reais; se, no entanto, os conceitos são de ordem prática e se
relacionam com a conduta, «as intuições serão chamadas exemplos(3)». E,
diferentemente dos esquemas que o nosso espírito cria espontaneamente através da
imaginação, estes exemplos provêm da história e da poesia, graças às quais, como
sublinhou Jefferson, «se abre para nosso uso um campo de imaginação inteiramente
diferente».
Esta transformação de uma afirmação teórica ou especulativa numa verdade exemplar
- transformação de que só a filosofia moral é capaz - é uma experiência limite para a
filosofia: estabelecendo um exemplo e «persuadindo» a multidão pela única via que lhe
está aberta, começou a agir. Hoje quando quase nenhuma afirmação filosófica, por mais
audaciosa que seja, será tomada suficientemente a sério para colocar em perigo a vida
do filósofo, desapareceu a própria e rara oportunidade de ver uma verdade filosófica
politicamente verificada. No nosso contexto é, pelo menos, importante observar que
existe uma tal possibilidade para aquele que diz a verdade racional; porque ela não
existe, quaisquer que sejam as circunstâncias, para aquele que diz a verdade de facto,
que a esse respeito, como de outros, se encontra numa situação bem pior. Não apenas as
afirmações factuais não contêm princípios a partir dos quais os homens possam agir
tornando-os assim manifestos no mundo, mas também o seu próprio conteúdo recusa-se
a esse género de verificação. Aquele que diz a verdade de facto, na improvável
eventualidade de querer arriscar a vida por um facto particular, cometeria apenas uma
espécie de erro. O que se tornaria manifesto no seu acto seria a sua coragem, ou talvez a
sua tenacidade, mas não a verdade do que ele tinha a dizer, nem mesmo a sua boa fé.
Pois porque não preservaria um mentiroso nas suas mentiras com grande coragem,
sobretudo em política, onde poderia eventualmente ser motivado pelo patriotismo ou
qualquer outra espécie de legítima parcialidade de grupo?
***
{1} Numa carta a W. Smith, 13 de Novembro de 1787.
{2} «Crítica do Juízo», § 32.
{3} Ibid, § 59.
***
IV
A marca distintiva da verdade de facto está em que o seu contrário não é nem o erro
nem a ilusão, nem a opinião, nenhuma delas tendo a ver com a boa fé pessoal, mas a
falsidade deliberada ou a mentira. O erro é evidentemente possível, e mesmo corrente,
em relação à verdade de facto, e neste caso esse tipo de verdade não é de modo algum
diferente da verdade científica ou racional. Mas o importante é que naquilo que diz
respeito aos factos existe uma outra possibilidade, e que esta possibilidade, a falsidade
deliberada, não pertence à mesma espécie de proposições que, justas ou erradas,
pretendem apenas dizer o que é, ou de como qualquer coisa que é me aparece. Uma
afirmação factual - a Alemanha invadiu a Bélgica no mês de Agosto de 1914 - só
adquire as suas implicações políticas se for colocada num contexto interpre-tativo. Mas
a proposição contrária, que Clemenceau, ainda ignorante da arte de reescrever a
história, julgava absurda, não necessita de nenhum contexto para ter uma incidência
política. É claramente uma tentativa de mudar a narrativa da história e enquanto tal, é
uma forma de acção. Acontece o mesmo quando um mentiroso, não dispondo do poder
necessário para impor as suas mentiras, não insiste no carácter evangélico da sua
afirmação, mas pretende que se trata da sua «opinião» para a qual invoca o seu direito
constitucional. Isso é frequentemente praticado pelos grupos subversivos, e num
público politicamente imaturo pode ser considerável a confusão que daí resulta. O
esbatimento da linha de demarcação que separa a verdade de facto e a opinião pertence
às numerosas formas que a mentira pode assumir, todas elas sendo formas de acção.
Enquanto o mentiroso é um homem de acção, o que diz a verdade, quer diga a
verdade racional ou a científica, nunca o é. Se aquele que diz a verdade de facto quer
desempenhar um papel político, e por isso ser persuasivo, irá, quase sempre, proceder a
consideráveis desvios para explicar por que é que a sua verdade serve melhor os
interesses de qualquer grupo. E, tal como o filósofo obtém uma vitória à Pirros quando
a sua verdade se torna uma opinião dominante entre os que são opinião, aquele que diz
a verdade de facto, quando penetra no domínio político e se identifica com qualquer
interesse particular e com qualquer grupo de poder, compromete a única qualidade que
teria podido tornar a sua verdade plausível, a saber, a sua boa fé pessoal, cuja garantia é
a imparcialidade, a integridade e a independência. Não há figura política mais
susceptível de despertar uma suspeita justificada que o dizedor profissional da verdade
que descobriu uma qualquer feliz coincidência entre a verdade e o interesse. Pelo
contrário, o mentiroso, não tem necessidade desses arranjos duvidosos para aparecer na
cena política; tem a grande vantagem de estar desde sempre, por assim dizer, em pleno
meio. É actor por natureza; diz aquilo que não é porque quer que as coisas sejam
diferentes daquilo que são - ou seja, quer mudar o mundo. Tira partido da inegável
afinidade da nossa capacidade de agir, de mudar a realidade, com essa outra misteriosa
faculdade que temos, que nos permite dizer «O sol brilha» quando chove a potes. Se o
nosso comportamento fosse tão profundamente condicionado como certos filósofos
desejaram que fosse, nunca seríamos capazes de realizar esse pequeno milagre. Por
outras palavras, a nossa capacidade para mentir - mas não necessariamente a nossa
capacidade para dizer a verdade - faz parte dos dados manifestos e demonstráveis que
confirmam a existência da liberdade humana. O facto de podermos mudar as
circunstâncias nas quais vivemos deve-se ao facto de sermos relativamente livres em
relação a elas, e é essa liberdade que é subutilizada e desnaturada pela mentira. Se é
uma tentação quase irresistível do historiador profissional cair na ratoeira da
necessidade e negar implicitamente a liberdade de acção, é igualmente uma tentação
quase tão irresistível do político profissional sobrestimar as possibilidades dessa
liberdade e encontrar implicitamente desculpas para a denegação mentirosa ou a
desnaturação dos factos.
Certamente, que quando se trata da acção, a mentira organizada é um fenómeno
marginal, mas a dificuldade está em que o seu oposto, a simples narração dos factos,
não leva a nenhuma espécie de acção; ela tende mesmo, em circunstâncias normais,
para a aceitação das coisas tais como são (isto, naturalmente, não é dito para negar que
a revelação dos factos possa ser legitimamente utilizada por organizações políticas ou
que, em certas circunstâncias, factos trazidos à atenção do público possam encorajar ou
reforçar consideravel-mente as exigências de grupos étnicos e sociais). A boa fé nunca
se contou entre o número das virtudes políticas, porque ela tem, na verdade, pouco com
que contribuir para essa mudança do mundo e das circunstâncias que são parte
integrante das actividades políticas mais legítimas. É só quando a comunidade está
lançada na mentira organizada principial-mente, e não unicamente nos detalhes, que a
boa fé como tal pode, desapoiada como está pelas forças desnaturantes do poder e do
interesse, tornar-se um factor político de primeira ordem. Onde toda a gente mente
sobre tudo o que é importante, aquele que diz a verdade, quer o saiba ou não, começou
a agir; também ele se envolveu no trabalho político, pois, no improvável caso de
sobreviver, deu um primeiro passo para a mudança do mundo.
Nesta situação, depressa se encontrará, porém, em desagradável desvantagem.
Mencionei mais acima o carácter contingente dos factos, que teriam podido sempre
passar-se de outro modo, e que por isso não possuem por si nenhum traço de evidência
ou de plausibilidade para o espírito humano. Como o mentiroso é livre de acomodar os
seus «factos» ao benefício e ao prazer, ou mesmo às simples esperanças do seu público,
pode apostar-se que será mais convincente do que aquele que diz a verdade. Terá
mesmo, em geral, a verosimilhança do seu lado; a sua exposição parecerá mais lógica,
por assim dizer, pois que o elemento surpresa - um dos traços mais impressionantes de
todos os acontecimentos - desapareceu providencialmente. Não é apenas a verdade
racional que, na frase hegeliana, inverte o sentido comum; muito frequentemente a
realidade não perturba menos a tranquilidade do raciocínio do bom senso do que o faz
ao interesse e ao prazer.
Devemos agora voltar a nossa atenção para o fenómeno relativamente recente da
manipulação de massa do facto e da opinião tal como se tornou evidente na reescrita da
história, no fabrico de imagens e na política dos governos. A mentira política
tradicional, tão manifesta na história da diplomacia e da habilidade política, incidia
habitualmente ou sobre segredos autênticos - dados que nunca tinham sido tornados
públicos - ou sobre intenções que, de qualquer modo, não possuem o mesmo grau de
certeza que os factos concretiza-dos; como tudo o que se passa apenas no interior de
nós mesmos, as intenções, são apenas potencialidades, e aquilo que queria ser uma
mentira pode sempre revelar-se finalimente verdade. Inversamente, as mentiras
políticas modernas tratam eficazmente as coisas que não são de modo nenhum segredos
mas são conhecidas praticamente de toda a gente. Isso é evidente no caso da reescrita
da história contemporânea sob os olhos daqueles que dela foram testemunhas, mas é
igualmente verdadeiro para o fabrico de imagens de todo o género, onde, de novo, todo
o facto conhecido e estabelecido pode ser negado ou negligenciado se for susceptível
de atentar contra essas imagens; porque à diferença do que se passava com um retrato à
moda antiga, não se espera que uma imagem torne mais agradável a realidade, mas que
dela ofereça um substituto completo. E esse substituto, devido às técnicas modernas e
dos mass-media é, certamente, muito mais acessível do que alguma vez o foi o original.
Encontramo-nos, afinal de contas, na presença de homens de estado altamente
respeitados que, como de Gaulle e Adenauer, foram capazes de edificar as suas
políticas de base sobre não-factos tão evidentes como estes: a França faz parte dos
vencedores da última guerra e é pois uma das grandes potências, e «a barbárie do
nacional-socialismo tinha afectado apenas uma percentagem relativamente fraca do
país»(1). Todas estas mentiras, quer os seus autores o saibam ou não, encerram um
elemento de violência; a mentira organizada tende sempre a destruir tudo o que decidiu
negar, ainda que só os governos totalitários tenham conscientemente adoptado a
mentira como primeiro passo para a morte. Quando Trotsky tomou conhecimento de
que nunca tinha desempenhado qualquer papel na revolução russa, deve ter sabido que
a sua condenação à morte fora assinada. É claro que é mais fácil eliminar dos arquivos
da história uma figura pública se ela for eliminada ao mesmo tempo do mundo dos
vivos. Noutros termos, a diferença entre a mentira tradicional e a mentira moderna
remete o mais das vezes para a diferença entre ocultar e destruir.
Além disso, a mentira tradicional, implicava apenas particulares e nunca visava
enganar literalmente toda a gente; di***
{1} No que diz respeito à França, ver o excelente artigo «De Gaulle: pose et politique», in Foreign
Affairs, Julho de 1965. A citação de Adenauer é retirada das suas Memórias 1945-1953, Chicago, 1966,
p. 89, onde, no entanto, coloca essa ideia no espírito das autoridades de ocupação. Mas repetiu muitas
vezes o essencial dessa ideia quando era chanceler.
***
rigia-se ao inimigo e só a ele queria enganar. Estas duas limitações restringiam o
prejuízo infligido à verdade em tal medida que, retrospectivamente, ele nos pode
parecer quase anódino. Como os factos se produzem sempre num contexto, uma
mentira particular - quer dizer, uma falsificação que não se esforça por alterar todo o
contexto - faz por assim dizer um buraco no tecido dos factos. Como todo o historiador
sabe, pode-se detectar urna mentira observando incongruências, buracos, ou junturas
dos espaços consertados. Enquanto a textura no seu todo for conservada intacta,a
mentira mostrar-se-á imediatamente de modo espontâneo. A segunda limitação diz
respeito àqueles que estão envolvidos na actividade de engano. Pertencem em geral ao
círculo restrito dos homens de Estado e dos diplomatas que, entre si, conhecem ainda e
podem preservar a verdade. Não estavam dispostos a tornar-se vítimas das suas próprias
falsificações; podiam enganar os outros sem se enganarem a si próprios. Estas duas
circunstâncias atenuantes da velha arte de mentir estão notavelmente ausentes da
manipulação dos factos com que hoje estamos confrontados.
Qual é, pois, o significado dessas limitações, e por que é que estamos justificados
quando lhes chamamos circunstâncias atenuantes? Por que é que o engano de si próprio
se tornou um instrumento indispensável no empreendimento da fabricação de imagens,
e por que é que deverá ser considerado pior para o mundo mas também para o próprio
mentiroso, quando se engana com as suas próprias mentiras, do que quando se limita a
enganar os outros? Que melhor desculpa moral poderia oferecer um mentiroso do que
afirmar que a sua aversão pela mentira era tão grande que teve de se convencer ele
próprio antes de poder mentir aos outros, que, corno António na Tempestade, teve de
fazer «da sua própria memória uma pecadora para acreditar na sua própria mentira»?
E, finalmente, e de modo talvez ainda mais perturbante, se as mentiras políticas
modernas são tão grandes que requerem um completo rearranjo de toda a textura
factual - o fabrico de uma outra realidade, por assim dizer na qual se encaixam sem
costuras, fendas nem fissuras, exactamente como os factos encaixavam no seu contexto
original - o que é que impede estas histórias, imagens e não factos novos de se tornarem
um substituto adequado da realidade e da factualidade?
Uma anedota medieval ilustra a dificuldade que pode haver em mentir aos outros sem
se o fazer a si próprio. É a história do que aconteceu uma noite numa cidade: uma
sentinela estava postada na guarida noite e dia para prevenir as pessoas da aproximação
do inimigo. A sentinela era um homem dado às brincadeiras de mau gosto e naquela
noite tocou o alarme apenas para causar algum medo às pessoas da cidade. Teve um
sucesso espantoso: toda a gente se lançou para as muralhas e a nossa sentinela acabou
por fazer o mesmo. Esta história mostra como a nossa apreensão da realidade depende
da nossa partilha do mundo com os outros homens, e que força do carácter é necessário
para nos atermos a qualquer coisa, verdade ou mentira, que não é partilhada. Por outras
palavras, quanto mais um mentiroso tem êxito, mais verosímil é que seja vítima das
suas próprias invenções. De resto, o brincalhão preso na sua própria mentira, que
embarca no mesmo navio que as suas vítimas, parecerá infinitamente mais digno de
confiança que o mentiroso de sangue frio que se permite saborear a sua farsa do
exterior. Só o engano de si é susceptível de criar uma aparência de credibilidade e, num
debate sobre os factos, o único factor persuasivo que tem, por vezes, uma possibilidade
de prevalecer sobre o prazer, o medo e o interesse, é a aparência pessoal.
O preconceito moral corrente tende a ser mais severo em relação ao mentiroso de
sangue frio, enquanto que a arte muitas vezes altamente desenvolvida do engano de si é
habitualmente considerada com grande tolerância e indulgência. Entre os vários
exemplos que é possível citar na literatura contra esta avaliação corrente, há a célebre
cena no mosteiro no início dos Irmãos Karamazov. O pai, mentiroso inveterado,
pergunta ao Starets: «E o que é que devo fazer para obter a salvação?» e o Starets
replica: «Sobretudo, nunca minta a si próprio!» Dostoïevski não acrescenta qualquer
explicação ou desenvolvimento. Os argumentos destinados a sustentar a afirmação: «É
melhor mentir aos outros do que enganar-se a si próprio» deviam sublinhar que o
mentiroso de sangue frio permanece consciente da distinção entre o verdadeiro e o
falso, e que desse modo a verdade que ele está a ocultar aos outros não é
completamente eliminada do mundo; encontrou o seu último refúgio no mentiroso. A
ofensa feita à realidade não é completa nem definitiva e, ao mesmo tempo, a ofensa
feita ao próprio mentiroso não é nem completa nem definitiva. Ele mentiu, mas não é,
no entanto, um mentiroso. Ele próprio e o mundo que enganou não estão ao mesmo
tempo para além da «salvação» - para usar a linguagem de Starets. A possibilidade da
mentira completa e definitiva, ainda desconhecida nas épocas anteriores, é o perigo que
nasce da manipulação moderna dos factos. Mesmo no mundo livre onde o governo não
monopolizou o poder de decidir ou de dizer o que é ou o que não é factualmente,
gigantescas organizações de interesses generalizaram uma espécie de mentalidade da
raison d'état(*) que estava antes limitada ao tratamento dos assuntos estrangeiros e, nos
seus piores excessos, às situações de perigo claro e actual. E a propaganda à escala
governamental aprendeu mais de uma habilidade com os usos do mundo dos negócios e
os métodos da Madison Avenue. Dife***
{*} Em francês no texto (N.T.)
***
rentemente das mentiras que se dirigiam a um adversário estrangeiro, as imagens
fabricadas para consumo doméstico, podem tornar-se uma realidade para todos, e antes
de mais para os próprios fabricantes de imagens que, enquanto estão ainda a preparar
os seus «produtos» ficam esmagados só ao pensarem no número das suas possíveis
vítimas. Não há dúvida que aqueles que estão na origem da imagem mentirosa
«inspirada» pelos persuasores ocultos, sabem ainda que querem enganar o inimigo à
escala social ou nacional, mas o resultado é que todo um grupo de pessoas, mesmo de
nações inteiras, pode orientar-se de acordo com um encadeamento de enganos aos
quais os dirigentes desejavam submeter os opositores.
O que então acontece surge quase automaticamente. O esforço principal, ao mesmo
tempo do grupo enganado e daqueles que enganam, terá como objectivo a conservação
intacta da imagem de propaganda, e esta imagem é ameaçada menos por um inimigo e
os interesses verdadeiramente hostis do que pelos que, no interior do próprio grupo,
conseguiram escapar à sua influência e se obstinam em falar dos factos e dos
acontecimentos que não se harmonizam com essa imagem. A história contemporânea
está cheia de exemplos em que aqueles que dizem a verdade de facto passaram por ser
mais perigosos, e mesmo mais hostis, que os opositores reais. Estes argumentos contra
o engano de si não devem ser confundidos com os protestos dos «idealistas», qualquer
que seja o seu mérito, contra a mentira considerada má por princípio e contra a
imemorial arte de enganar o inimigo. Politicamente, o importante é que a arte moderna
do engano de si próprio é susceptível de transformar um problema exterior em questão
interior, de tal modo que o conflito entre nações ou entre grupos retroage sobre a cena
da política interna. Os enganos de si praticados dos dois lados durante o período da
guerra fria são demasiado numerosos para poderem ser enumerados, mas é claro que
são um caso desse género. Os críticos conservadores da democracia de massa
sublinharam muitas vezes os perigos que esta forma de governo introduz nos assuntos
internacionais - sem, no entanto, mencionar os peri-gos particulares das monarquias ou
oligarquias. A força dos seus argumentos reside no facto inegável que em condições
plenamente democráticas, um engano sem engano de si próprio é quase impossível.
No nosso sistema actual de comunicação à escala planetária que cobre um grande
número de nações independentes, nenhum poder existente é suficientemente grande
para tornar a sua «imagem» definitivamente mistificadora. De igual modo as imagens
têm uma esperança de vida relativamente curta; acontece-lhes explodir não apenas
quando se partem em pedaços e a realidade faz a sua reaparição pública, mas mesmo
antes disso, porque fragmentos de factos perturbam cons-tantemente e arruinam a
guerra de propaganda entre imagens adversas. No entanto, essa não é a única maneira,
nem sequer a maneira mais significativa com que a realidade se vinga dos que ousam
desafiá-la. A esperança de vida das imagens não podia sequer ser aumentada de modo
significativo sob um governo mundial ou qualquer outra versão moderna da Pax
Romana. Isso é bem mostrado pelos sistemas relativamente fechados dos governos
totalitários e das ditaduras de partido único que são, certamente, de longe, os agentes
mais eficazes para proteger as ideologias e as imagens do impacto da realidade e da
verdade. (E uma tal correcção dos factos passados nunca se verifica sem dificuldade.
Vemos, num memorando de 1935, encontrado nos Arquivos de Smolensk as inúmeras
dificuldades que rodeiam este género de empreendimentos. Por exemplo, «que fazer
dos discursos de Zino-viev, Kamenev, Rykov, Boukharine, et al., nos congressos do
Partido, aos plenários do Comité central, ao Komintern, ao Congresso dos Sovietes,
etc.? Das antologias do marxismo... escritas ou editadas conjuntamente por Lenin,
Zino-viev,... e outros? Dos escritos de Lenin editados por Kame-nev?... Que fazer
quando Trotsky... escreveu um artigo num número do Communiste International?
Confiscar toda a tiragem?»(1). São questões certamente embaraçosas, acerca das quais
estes Arquivos não contêm resposta.) A dificuldade está em que têm de alterar
constantemente as falsificações que oferecem como substitutos da história real;
circunstâncias mutáveis requerem a substituição de um livro de história por outro, a
substituição de páginas nas enciclopédias e livros de referência, o desaparecimento de
certos nomes em benefício de outros desconhecidos ou pouco conhecidos antes. E
ainda que esta instabilidade permanente não dê nenhuma indicação daquilo que a
verdade poderá ser, é em si própria uma indicação, e uma poderosa indicação, do
carácter mentiroso de todas as afirmações publicadas sobre o mundo factual. Observouse com frequência que o resultado a longo prazo mais seguro da lavagem do cérebro é
um género particular de cinismo - uma recusa absoluta de acreditar na verdade de
qualquer coisa, por mais bem estabelecida que possa estar essa verdade. Por outras
palavras, o resultado de uma substituição coerente e total de mentiras à verdade de
facto não é as mentiras passarem a ser aceites como verdade, nem que a verdade seja
difamada como mentira, mas que o sentido através do qual nos orientamos no mundo
real - e a categoria da verdade relativamente à falsidade conta-se entre os recursos
mentais para prosseguir esse objectivo - fique destruído.
***
{l} Uma parte dos arquivos foi publicada em Merle Fainsod, Smolensk under Soviet Rule, Cambridge,
Mass., 1958. Ver p. 374.
***
E para essa dificuldade não existe remédio. É tão só o reverso da perturbante
contingência de toda a realidade factual. Já que tudo o que é efectivamente produzido
no domínio dos assuntos humanos teria podido acontecer de modo diferente, as
possibilidades de mentir são ilimitadas, e esta ausência de limites vai no sentido da
autodestruição. Só o mentiroso de ocasião achará possível ater-se a uma mentira
particular com uma coerência inabalável; os que ajustam imagens e histórias a
circunstâncias perpetuamente mutáveis sentir-se-ão eles próprios flutuando sobre o
largo horizonte aberto da potencialidade, derivando de uma possibilidade para a
seguinte, incapazes de se aterem a uma qualquer das suas próprias invenções. Longe de
realizarem um substituto adequado da realidade e da factualidade, fizeram regressar os
factos e os acontecimentos à potencialidade de que originalmente saíram. E o sinal mais
seguro da factualidade dos factos e dos acontecimentos é precisamente esse obstinado
estar lá, cuja contingência intrínseca desafia, afinal de contas, todas a tentativas de
explicação definitiva. As imagens, pelo contrário, podem sempre ser explicadas e
tornadas plausíveis - o que lhe dá a sua momentânea vantagem sobre a verdade de facto
- mas não podem nunca rivalizar em estabilidade com o que é, simplesmente porque
acontece que é assim e não de outro modo. E essa a razão por que a mentira coerente,
metaforicamente falando, desmorona o solo sob os nossos pés sem fornecer outro sobre
o qual seja possível apoiarmo-nos. (Nas palavras de Montaigne: «Se, como acontece
com a verdade, a mentira tivesse apenas um rosto, estaríamos em melhor situação.
Porque tomaríamos por certo o oposto daquilo que dissesse o mentiroso. Mas o reverso
da verdade tem cem mil figuras e um campo indefinido.») A experiência de um
estremecimento e da vacilação de tudo aquilo em que baseávamos o nosso sentido de
orientação e da realidade conta-se no número das experiências mais comuns e mais
vivas dos homens sobre o domínio totalitário.
Em consequência, a inegável afinidade da mentira com a acção, com a mudança do
mundo - em resumo, com a política - está limitada pela própria natureza das coisas que
estão abertas à faculdade humana da acção. O convencido fabricante de imagens
engana-se quando acredita que pode antecipar as mudanças mentindo sobre aspectos
factuais que toda a gente deseja de qualquer modo eliminar. A edificação das aldeias de
Potemkine, tão cara aos políticos e propagandistas dos países subdesenvolvidos, não
conduz nunca ao estabelecimento de algo real mas apenas a uma proliferação e a uma
perfeição da ilusão. Não é o passado - e toda a verdade de facto, como é evidente, diz
respeito ao passado - mas o futuro que está aberto à acção. Se o passado e o presente
são tratados como categorias do futuro - quer dizer, reconduzidos ao seu anterior estado
de potencialidade.- o domínio político fica privado não apenas da sua principal força
estabilizadora, mas ainda do ponto de partida a partir do qual poderia mudar, começar
qualquer coisa de novo. O que então começa é essa constante fuga em frente na
completa esterilidade que é característica de muitas nações novas que tiveram o azar de
nascer numa época de propaganda.
É evidente que os factos não estão seguros nas mãos do poder. Mas o importante é
que aqui o poder, pela sua própria natureza, não pode nunca produzir um substituto para
a sólida estabilidade da realidade factual que, por ser passado, cresceu até a uma
dimensão fora do nosso alcance. Os factos afirmam-se a si próprios pela sua obstinação
e a sua fragilidade está estranhamente combinada com uma grande resistência à
distorção - essa mesma irreversibilidade que é o cunho de toda a acção humana. Na sua
obstinação, os factos são superiores ao poder; são menos passageiros que as formações
do poder, que surgem quando os homens se reúnem com um objectivo, mas
desaparecem quando esse objectivo é alcançado ou fracassa. Esse carácter transitório
faz do poder um instrumento altamente incerto para levar a bom termo uma
permanência seja ela qual for e, por consequência, não apenas a verdade e os factos não
estão em segurança entre as suas mãos, mas também a não verdade e os não factos. A
atitude política em relação aos factos deve, com efeito, seguir o caminho muito estreito
que existe entre o perigo de os tomar como resultado de qualquer desenvolvimento
necessário que os homens não podem impedir, e sobre o qual não podem pois ter
qualquer influência, e o perigo de os negar, ou tentar eliminar do mundo manipulandoos.
V
Em conclusão, regresso às questões que suscitei no início destas reflexões. A
verdade, ainda que sem poder e sempre derrotada quando choca de frente com os
poderes existentes quaisquer que eles sejam, possui uma força própria: sejam quais
forem as combinações dos que estão no poder, são incapazes de descobrir ou inventar
um substituto viável. A persuasão e a violência podem destruir a verdade, mas não
podem substituí-la. Isto vale para a verdade racional e religiosa, tanto como, de um
modo mais evidente, para a verdade de facto. Considerar a política na perspectiva da
verdade, como o fiz aqui, quer dizer lançar pé fora do domínio do político. Esta posição
é a posição do dizedor da verdade que transgride a sua posição - e com ela a validade
do que tem a dizer - se tenta intervir directamente nos assuntos humanos e falar a
linguagem da persuasão ou da violência. E para esta posição e a sua importância para o
domínio político que devemos voltar agora a nossa atenção.
A posição no exterior do domínio político - no exterior da comunidade à qual
pertencemos e da companhia dos nossos pares - é claramente caracterizada como um
dos diferentes modos de estar só. Eminentes entre os modos essenciais do dizer-averdade são a solidão do filósofo, o isolamento do sábio e do artista, a imparcialidade
do historiador e do juiz, e a independência do descobridor de facto, da testemunha e do
repórter. (Esta imparcialidade difere da que tem a opinião qualificada, representativa,
mencionada atrás, na medida em que não é adquirida no interior do domínio político,
mas é inerente à posição de estranho requerida por tais ocupações.) Estes modos de sersó diferem sob muitos aspectos, mas têm em comum que durante tanto tempo quanto
um deles dure, nenhum compromisso político, nenhuma adesão a uma causa, é possível.
Eles são, certamente, comuns a todos os homens; são os modos de existência humana
como tal. No entanto, quando um deles é adoptado como modo de vida - e mesmo então
a vida não é vivida numa solidão, um isolamento ou uma independência completos - é
susceptível de entrar em conflito com as exigências do político.
É absolutamente natural que tomemos consciência da natureza não política e,
virtualmente, antipolítica, da verdade - Fiat veritas, et pereat mundus - apenas em caso
de conflito, e até agora coloquei o assento tónico nesse aspecto da questão. Mas isso
não pode realmente explicar toda a história. Deixa fora de consideração algumas
instituições públicas, estabelecidas e sustentadas pelos poderes existentes, nas quais,
contrariamente a todas as regras políticas, a verdade e a boa fé sempre constituíram o
mais alto critério da palavra e do esforço. Entre elas encontramos nomeadamente o
judiciário que, seja como ramo do governo, seja como administração directa da justiça,
é cuidadosamente protegido contra o poder social e político, assim como todas as
instituições de ensino superior, às quais o Estado confia a educação dos seus futuros
cidadãos. Na medida em que a Academia se lembra das suas origens antigas, deve saber
que foi fundada pelo mais resoluto e o mais influente dos opositores da polis.
Certamente, o sonho de Platão não se realizou: a Academia nunca se tornou uma
contra-sociedade, e em lado algum ouvimos falar de uma tentativa das universidades
para tomar o poder. Mas aquilo com que Platão nunca tinha sonhado tornou-se verdade:
o domínio político reconheceu que tinha necessidade de uma instituição exterior à luta
do poder acrescentando--se à imparcialidade requerida na aplicação da justiça; o facto
desses lugares de ensino superior estarem em mãos privadas ou entre as mãos públicas
tem pouca importância; a sua integridade como a sua própria existência dependem de
qualquer modo da boa vontade do governo. Verdades inoportunas emergiram das
universidades e o anfiteatro produziu inúmeras vezes verdades inoportunas; e essas
instituições, tal como outros refúgios da verdade, permaneceram expostas a todos os
perigos que nascem do poder social e político. De qualquer modo, as possibilidades da
verdade prevalecer em público são, certamente, altamente favorecidas pela simples
existência de tais locais e pela organização dos homens de ciências independentes, em
princípio desinteressados, que lhe estão associados. E não se pode de modo algum
negar, que, pelo menos nos países governados constitucionalmente, o domínio político
reconheceu, mesmo em caso de conflito, que tem interesse na existência de homens e
instituições sobre os quais não tem poder.
Este significado autenticamente político da Academia é hoje facilmente
negligenciado devido ao surgimento em primeiro plano das suas escolas especializadas
e ao desenvolvimento das suas divisões consagradas às ciências da natureza, onde, de
uma forma inesperada, a investigação pura teve tantos resultados decisivos que se
revelaram vitais para todos os países. Não é possível a ninguém negar a utilidade social
e técnica das universidades, mas essa importância não é política. As ciências históricas
e as humanidades, que supostamen-te devem estabelecer, assumir, e interpretar a
verdade de facto e os documentos humanos, são politicamente de uma importância
maior. O facto de dizer a verdade de facto compreende muito mais que a informação
quotidiana fornecida pelos jornalistas, ainda que sem eles nunca nos pudéssemos situar
num mundo em mudança perpétua, e no sentido mais literal, não soubéssemos nunca
onde estávamos. Isso é, certamente, da mais imediata importância política; mas se a
imprensa se tornasse alguma vez realmente o «quarto poder» deveria ser protegida
contra todo o governo e agressão social ainda mais cuidadosamente do que o é o poder
judicial. Porque essa função política muito importante que consiste em divulgar a
informação é exercida do exterior do domínio político propriamente dito; nenhuma
acção nem nenhuma decisão políticas estão, ou deveriam estar, implicadas.
A realidade é diferente da totalidade dos factos e dos acontecimentos e é mais do que
esta, que, de qualquer modo, não pode ser determinada. Aquele que diz o que é - conta sempre uma história, e nessa história os factos particulares
perdem a sua contingência e adquirem um significado humanamente compreensível. É
perfeitamente verdade que «todas as dores podem ser suportadas se as transformarmos
em história ou se contarmos uma história sobre elas», de acordo com as palavras de
Karen Blixen, que não foi apenas uma das maiores contistas do nosso tempo mas
também - e nesse aspecto foi quase única - sabia aquilo que fazia. Ela teria podido
acrescentar que, igualmente, a alegria e a felicidade apenas se tornam suportáveis e
significativas para os homens quando eles podem falar delas e contá-las como uma
história. Na medida em que aquele que diz a verdade de facto é também um contador de
histórias, realiza essa «reconciliação com a realidade» que Hegel, o filósofo da história
par excellence(*), entende ser o fim último de todo o pensamento filosófico, e que,
certamente, foi o motor secreto de toda a historiografia que transcende a pura erudição.
A transformação do material bruto dos simples acontecimentos que o historiador, como
o romancista (um bom romance não é de modo algum uma simples concocção nem
uma ficção puramente fantasista), deve efectuar é estritamente aparentada com a
transfiguração poética dos estados de alma ou dos movimentos do coração - a
transformação da dor em lamento ou da alegria em celebração. Nós podemos ver, com
Aristóteles, na função política do poeta, a realização de uma catarsis, purificação ou
purgação de todas as paixões que podem impedir o homem de agir. A função política
do contador de histórias - historiador ou romancista - consiste em ensinar a aceitação
das coisas tais como elas são. Desta aceitação, que pode também chamar-se boa fé,
surge a faculdade de julgar - que, de novo nas palavras de Karen Blixen, «no fim
teremos o privilégio de ver e rever isso - e é aquilo a que chamamos o dia do juízo».
Está fora de dúvida que todas estas funções politicamente importantes são realizadas
do exterior do domínio político. Requerem o não-envolvimento e a imparcialidade, a
libertação do interesse pessoal no pensamento e no juízo. A procura desinteressada da
verdade tem uma longa história; a sua origem precede, de modo característico, todas as
nossas tradições teóricas e científicas, incluindo a nossa tradição do pensamento
filosófico e político. Penso que é possível fazê-la remontar ao momento em que
Homero decidiu cantar as acções
***
{*} Em francês no texto (N.T.)
***
dos Troianos não menos que a dos Aqueus, e celebrar a glória de Heitor, o adversário e
o vencido, não menos que a glória de Aquiles, o herói do seu povo. Isso nunca se tinha
verificado antes; nenhuma outra civilização, qualquer que fosse o seu esplendor, tinha
sido capaz de considerar com igual olhar o amigo e o inimigo, o êxito e a derrota - que,
desde Homero, não foram reconhecidos como critérios decisivos do juízo dos homens,
mesmo que sejam decisivos para os destinos humanos. A imparcialidade homérica ecoa
através de toda a história grega e inspirou o primeiro grande contador da verdade de
facto, que se tornou o pai da história: Heródoto conta-nos em todas as frases iniciais das
suas histórias que tem o objectivo de «impedir as grandes e gloriosas acções dos Gregos
e dos Bárbaros de perderem o tributo de glória que lhes é devido». Isso é a raiz daquilo
a que se chama objectividade - essa paixão curiosa, desconhecida fora da civilização
ocidental, pela integridade intelectual a qualquer preço. Sem ela nenhuma ciência teria
podido existir.
Dado que tratei aqui da política na perspectiva da verdade, e por consequência de um
ponto de vista exterior ao domínio político, omiti a referência, mesmo que de
passagem, à grandeza e à dignidade do que nela se passa. Falei como se o domínio
político não fosse mais do que um campo de batalha de interesses parciais e adversos,
onde nada contaria além do prazer e do lucro, do espírito partidário e do desejo de
dominação. Em resumo, falei da política como se, também eu, acreditasse que todos os
assuntos públicos são governados pelo interesse e o poder, e não existisse, em caso
algum, domínio político se fôssemos obrigados a preocupar-nos com as necessidades da
vida. A razão desta deformação é que a verdade de facto entra em conflito com a
política apenas a esse nível mais baixo dos assuntos humanos, tal como a verdade
filosófica de Platão chocou com a política ao nível consideravelmente mais elevado da
opinião e do acordo. Nesta perspectiva, permanecemos na ignorância do conteúdo real
da vida política - da alegria e da satisfação que nascem do facto de estarmos em
companhia dos nossos semelhantes, de agir em conjunto e de aparecermos em público,
de nos inserirmos no mundo pela palavra e pela acção, e assim adquirirmos e
sustentarmos a nossa identidade pessoal e começarmos qualquer coisa inteiramente
nova. Contudo, aquilo que pretendia mostrar aqui é que toda essa esfera, apesar da sua
grandeza, é limitada - que não envolve a totalidade da existência do homem e do
mundo. É limitada por coisas que os homens não podem mudar à vontade. E é apenas
respeitando os seus próprios limites que esse domínio, em que somos livres de agír e de
transformar, pode permanecer intacto, conservar a sua integridade e manter as suas
promessas. Conceptualmente, podemos chamar verdade àquilo que não podemos
mudar; metaforicamente, ela é o solo sobre o qual nos mantemos e o céu que se estende
por cima de nós.
[]
/\\//\
Download