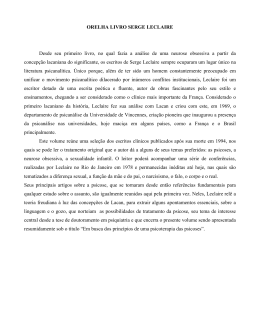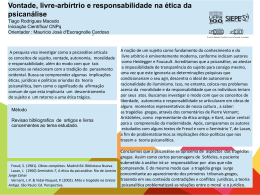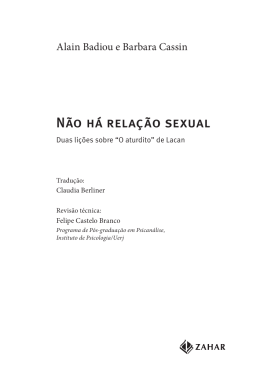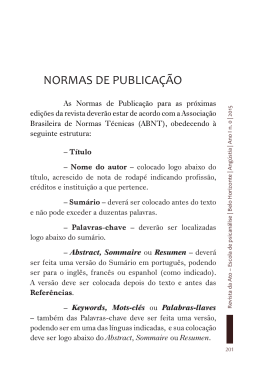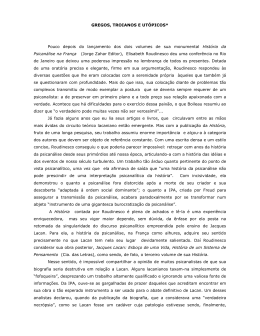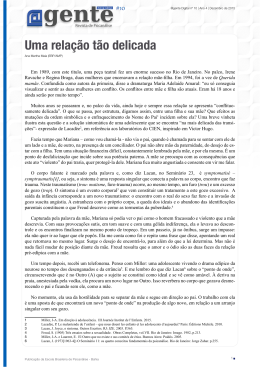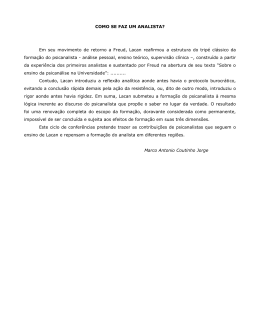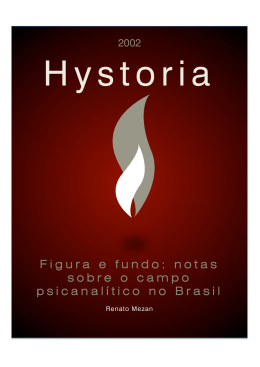EDITORIAL
A
alteridade em que uma língua qualquer suporta sua função tende a
afunilar, inevitavelmente, o lugar do Outro como chave de toda significação. É nessa univocidade que reside a esperança de reduzir a
zero qualquer mal-entendido. Mas, também seria nessa unicidade que ficaria cancelado qualquer divertimento, qualquer criatividade, qualquer invenção, qualquer liberdade. Os descobrimentos não teriam acontecido. Mesmo
as viagens careceriam de sentido.
Dito de outro modo, Marco Polo não teria trazido os macarrões da
China e o tomate jamais teria chegado à Europa. Ou seja, nem pizza nem
spaghetti al filetto.
Curioso é constatarmos, por outro lado, que, se o mal-entendido ficasse reduzido a zero – o que em termos de estrutura corresponderia a uma
versão única do que nomeia o lugar do Outro, ou seja o que Lacan designou
como Nome-do-Pai –, a função mesma de significância desapareceria, já
que a língua se transformaria num sistema de signos de referência ineqüívoca.
Nesse viés, o Nome-do-Pai, sendo único, perderia sua condição de
Nome e se tornaria real. Nenhuma distância haveria entre o nome e o nomeado, suprimindo, então, sua dimensão simbólica. Não havendo outro a nomear, nenhum semelhante teria qualquer valor diferencial, não havendo assim Outredade alguma. Tomado nesse ponto de “unicato”, o Pai, em lugar da
posição de Nome, ocuparia novamente a posição que correspondeu ao pai
da horda primitiva.
Tais as razões que inclinaram a evolução do conceito lacaniano de
Nome-do-Pai na direção de se tornar plural. Mas, qual o limite desse plural?
Visto que a errância infinita e indefinida da posição do Outro cancelaria a
razão de sua escrita em maiúsculo, a saber: constituir referente diferencial
das funções de significância.
Num plural, qualquer significante teria um valor de significação em si,
onde a função se detonaria de modo simultâneo em toda a extensão do
universo significante, fazendo da palavra uma expressão absolutamente confusa. Já que, na hipótese da extensão extrema da variabilidade do Nome-doPai (ou seja, estando ele constituído em cada e em todo significante), todos
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
1
AGENDA
AGENDA
os significantes teriam a um único e mesmo tempo todas as significações
possíveis, em total equivalência para todos eles.
Se, de um lado, teríamos o totalitarismo (o pai da horda primitiva com
suas vestes modernas de pensamento universal), do outro, teríamos que
“tudo termina em pizza”, sem referência certa e sem lei.
Entre o valor universal do tomate e o spaghetti al filetto, anda a humanidade em busca da medida certa de variabilidade dos Nomes-do-Pai.
2
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
BRASIL – DESCOBERTA v INVENÇÃO
CONGRESSO DE PSICANÁLISE DA APPOA
De 26 a 29 de outubro, passado, a APPOA realizou, nas dependências da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Congresso
de Psicanálise: Brasil – descoberta v invenção. Podemos, de início, noticiar
que este congresso reuniu psicanalistas que, em torno desse tema, colocaram em jogo os efeitos de sua formação, os limites de sua escuta, discutindo entre si e com antropólogos, artistas plásticos, historiadores, jornalistas,
arquitetos, interessados pela literatura e música, etc... sobre questões basicamente éticas da subjetividade do brasileiro, atravessada por determinações históricas e da atualidade.
Tomar este tema se fazia imprescindível, neste momento, apesar da
dificuldade. Tenha-se em mente, por exemplo, todas as atribulações que
cercaram as comemorações, no mês de abril. Além disto, no decorrer deste
ano ocorreram poucos eventos e falas significativas, que tomassem a responsabilidade de reunir os brasileiros (ao invés de exclui-los ou ignorá-los)
em torno, pelo menos, de dificuldades comuns, para não falar de comemorações comuns. Encontros que de alguma forma aproveitassem este momento, que constituía um marco importante, para situá-lo numa história mais
ampla, produzindo assim elaborações e deslizamentos, que operassem algum tipo de reconhecimento dos desejos e saberes que nos constituem e
atravessam nossos atos, individuais ou coletivos.
A conferência de abertura – “Brasileiro: profissão desejante”, proferida
por Robson Pereira – já situava, entre outras coisas, o mal-estar como ponto
de partida, relativo ao confronto com o impasse, às contradições que abrem
para o desejo e não se resolvem de forma maniqueísta, e mencionava também a necessidade de abandonar a busca das origens, para que se produza
algo de interessante.
Pois bem, quanto ao mal-estar, ele parece ter sido suficientemente
partilhado e cedeu lugar à presença e inscrição de trabalhos de psicanalis-
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
3
NOTÍCIAS
NOTÍCIAS
tas de diferentes momentos de formação e de profissionais de outras áreas,
de muitos lugares do Brasil (além de POA e interior do RS, Rio de Janeiro,
São Paulo, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Brasília...) e de outros países (França, Argentina, EUA, Colômbia, Portugal, Itália) interessados na
discussão dos impasses que perpassam tanto o discurso do sujeito que
acorre à clínica atualmente, quanto à posição do analista. Esse interesse,
por um lado, diz das transferências de trabalho que a APPOA vem consolidando ao longo de sua trajetória. Por outro lado, se foi possível e necessário
a todos, singularmente, percorrer o insondável das origens, perguntando, por
exemplo, “Que origem?”, que mitos compartilhamos e podendo ultrapassar a
pura repetição ou ilusão de encontro com causas últimas, talvez tenha sido,
justamente, porque foi de uma perspectiva analítica que esse tema foi proposto. Ou seja, dando espaço à atualização não de saberes acumulados,
mas ao risco de colocar os significantes e as falhas de nosso saber em
circulação, na transferência com os colegas que, nesse congresso – ao
contrário dos anteriores – não foram convidados, mas inscreveram seus trabalhos, suas preocupações e formulações, já durante a preparação e também depois, nas discussões e na realização do encontro.
Essa diferença é marcante, porque não diz de uma tentativa de diferenciação em relação aos eventos anteriores, mas presentifica uma aposta
que a APPOA preza muito: da psicanálise como reinventada constantemente, a partir de uma herança simbólica que possa ser partilhada no interior do
movimento psicanalítico, independente de fronteiras territoriais e deste com
a cultura onde se inscreve.
Quanto a esse partilhamento, Dóris Rinaldi, psicanalista do Rio de
Janeiro, falou justamente do efeito hipnótico, de encantamento pelo nome do
Um do mestre que, ao mesmo tempo que dá um nome, também aliena. A
autora considera necessário reinventar o sonho, os Uns, a liberdade posta
pela prevalência do saber inconsciente, em contraposição à servidão, que
apaga o passado em prol da palavra vinda de um Outro imaginariamente
pleno. Nesse sentido, nossa história, nosso passado colonial, nossas formas de organização social – a escravatura, o racismo e a exclusão social
mais recente – o discurso científico e os ideais que lhes sucedem foram
tomados como marcas de nossas referências simbólicas, mas que não respondem inteiramente como determinantes de nossa identidade nacional ou
de nossa condição de sujeitos.
Maria Belo, psicanalista de Portugal, trouxe em sua conferência, a
dificuldade relativa ao fato de que, se não somos sequer o centro de nossa
própria história, mas um elo na cadeia significante, resta-nos trabalhar num
certo intervalo entre a possibilidade da construção ficcional e o irrecuperável,
deixando em aberto a importante indagação quanto ao que fazemos, como
analistas, quando perseguimos a cultura, como buscamos hoje. Que investigação é essa, quais as confusões que se colocam nesse movimento? O
que buscamos nesse encontro com o significante? Seria recuperar a função
do pai, salvar a dimensão do desejo, fazendo e refazendo sempre algo novo?
Como vemos, a questão da transmissão perpassou muitos trabalhos
permitindo abordar aspectos importantes do que está jogado entre a impotência e o totalitarismo, seja na língua, na religião ou na ciência e como o
desejo aí faz função.
Nesse viés, a partir da literatura, por exemplo, Ana Costa, abordando
o patriarcado e o trabalho das passagens indagou sobre a dificuldade de
produzir paternidade na atualidade. Situou o agregado como figura típica da
nossa modernidade, tomado nesse trabalho permanente, por vezes excessivo, de alienação e separação, sem saber ao certo quem é, de onde vem,
para onde vai, o que quer, servo da impossibilidade de fazer uma escolha.
Alfredo Jerusalinsy trabalhou igualmente a questão do pai, e não deixou por
menos, parafraseando o enunciado popular, no final de sua conferência: “Se
pai não houve, vai haver”. Aposta que reafirma a confiança no humano como
ser de linguagem, capaz de produzir marcas significantes, descobrindo e/ou
inventando Nomes-do-pai, onde de início podia tratar-se de uma encruzilhada, perdida no meio do nada. É nessa tarefa que pode situar-se a contribuição maior do psicanalista frente aos limites e ao sofrimento humano e a
justificativa de seu interesse pela cultura. Se o congresso, a princípio, não
revelava uma relação explícita à psicanálise, nessas elaborações denunciou
que esse foi seu mote.
Assim, a estrutura de ficção da linguagem, as múltiplas escrituras
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
4
5
NOTÍCIAS
NOTÍCIAS
tomadas para falar do descobrimento, ou mesmo de uma parte de nossa
realidade, circularam amplamente nos trabalhos que trataram do laço social
e identitário, do que constitui memória e experiência, do lugar da tradição e
do desenraizamento do sujeito da modernidade, do que se expressa como
sintoma ou não, seja nas artes, na arquitetura, na culinária ou no discurso –
sobre o índio, o imigrante, o corpo feminino, o lugar do analista – na música,
na religião e na cultura do futebol, por exemplo.
Das hipóteses que surgem da mitologia que tenta responder ao que é
ser brasileiro parece ter sido importante discutir duas versões: a do brasileiro
como perverso, sem pai, que apontaria para a existência de uma falta de
origem intransponível e condenaria a um gozo sem limites; e a versão da
melancolia, que pareceria dizer mais da ilusão de perda de um objeto ideal,
situado no colonizador, ilusão relativa ao paraíso que jamais encontramos,
que fala de uma vida não de sombra e água fresca, mas da vida à sombra
desse objeto ideal, que impede de reconhecer o novo já constituído e realizar
atos de nomeação a partir do que nos reúne, já distintos da posição de
colonizados; questão contundente, acentuada por Miriam Chnaiderman, psicanalista paulista.
O que fazer com o sintoma que responde ao desconhecido da origem,
à inexistência da relação sexual, sem ficarmos presos num fantasma? Ou,
colocado de outra forma, como “afastar os maus espíritos?” Como responder
ao mandato de ser diferente, exótico (Octávio de Souza, psicanalista do Rio
de Janeiro) ou ao ideal impossível de liberdade e sedentariedade (Contardo
Calligaris) que habitou o espaço intra-psíquico do navegador e se mantém no
imaginário da modernidade? Ou, ainda, com que roupa eu vou? Os que estiveram presentes reconhecerão essas indagações. Aqui atualizamos apenas
algumas, a título de notícia acerca do que discutimos, mas muitas outras
poderiam ser lembradas e certamente serão retomadas nos desdobramentos desse trabalho.
A APPOA também lançou, novas publicações durante o Congresso e
na Feira do Livro, reiterando a intenção de procimidade às instituições e aos
espaços culturais da cidade. Foram lançados os livros “Imigrações e fundações”, “O valor simbólico do trabalho e o sujeito contemporâneo”, ambos
resultantes de jornadas e congressos anteriores e também o livro “Um inconsciente pós-colonial, se é que ele existe”, efeito do trabalho conjunto
realizado com a Associação freudiana internacional, de Paris.
Não sabemos ainda dos efeitos mais amplos desse encontro. Muitas
perguntas e hipóteses ficaram no ar, indicando impasses e vias possíveis de
investigação, para reuniões posteriores. Muitas travessias foram feitas e talvez tenhamos produzido também algumas rupturas, com nossa posição e
forma de trabalho na instituição e no movimento psicanalítico.
De resto, aproveitando uma das expressões marcantes desse encontro, expressão de Élida Tessler, artista plástica de Porto Alegre, ao falar
do fio que se tece na procura e na relação ao objeto, ficou a impressão de
termos avançado na abordagem da sensação de “desterro em nossa própria
terra”. O que não é pouco, para as características peculiares do momento,
em que havia uma demanda social não explícita de falar sobre o assunto –
mesmo que este não apresentasse aparentemente uma vinculação maior
com a psicanálise – e devido também às características do projeto que propusemos, de falarmos desde a condição de brasileiros, na apropriação de
um espaço de discussão que não é fácil, justamente por estarmos nele
incluídos, sofrendo os efeitos da condição que buscamos discutir. Mesmo
merecendo maior discussão, a questão da relação clínica/social não se apresenta de uma forma dicotômica e neste evento alargou-se a prática que os
psicanalistas já consolidaram, de tratar essa divisão como sendo derivada
muito mais do exercício da linguagem e da dinâmica de funcionamento do
inconsciente, do que como campos diversos de inserção para o psicanalista.
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
6
Liz Nunes Ramos
7
NOTÍCIAS
NOTÍCIAS
COLÓQUIO: QUESTÕES SOBRE O OUTRO
NEUROSE OBSESSIVA
Nos dias 30 e 31 de outubro passado, aconteceu este Colóquio que
reuniu produções de colegas da APPOA e da Associação Freudiana Internacional. Foi resultado de uma tradição conjunta de trabalho, que se situa
desde a fundação da APPOA.
Uma relação de tão longa data evidencia, certamente, bases sólidas.
No entanto, traz junto seus fantasmas. Tal evento, ao enlaçar-se como continuidade ao Congresso Brasil: descoberta v invenção, colocou desafios
bem particulares à produção conjunta. Um deles, como desdobramento
temático, dizia respeito à indagação se seria possível ocupar lugares
enunciativos diferentes, produzir uma organização discursiva diferente, que
não a força histórica de colonizadores/colonizados.
Assim, testemunhamos, mais uma vez, que o trabalho na psicanálise
é sempre um trabalho com o inconsciente. Foi possível constatar que cada
um, dos que participamos do evento, fazia um esforço por ressituar-se em
relação à banalidade da sustentação imaginária das relações de todos nós,
independente da geografia: seja a da demanda de discípulos; seja a da sedução, com a oferta de “colônias”. Uns e outros somente atualizam (no sentido
lacaniano: de pôr em ato) marcas de fundações, de cujo apagamento os
sintomas são resultantes. Por essa razão é que, pelo percurso de formação
como psicanalistas, aprendemos a não desconhecer os efeitos sintomáticos que nos capturam, desde a história que nos constitui. É na transposição
desses efeitos que se produzem as condições de transmissão. Afinal, sabemos, desde Freud, que a produção na psicanálise não é nada “teórica”: ela é
uma resultante do lugar discursivo em que estamos situados. É aqui onde
retornamos a um tema que nos trabalha há algum tempo, que não está
resolvido e que sempre será atual: quais são os destinos da transferência na
transmissão da psicanálise que produzimos?
A Comissão de Aperiódicos está preparando a publicação do livro
“Neurose Obsessiva”, a ser lançado no próximo ano.
Lembramos que a discussão sobre este tema teve um de seus momentos importantes nas “Jornadas da Clínica Psicanalítica: a neurose obsessiva”, em 19 e 20 de novembro do ano passado, cuja convocação na
época começava com o dizer “A peculiaridade com que a neurose obsessiva
tem se imposto ao trabalho clínico, fez com que este fosse o tema escolhido
para nossas jornadas”. Cremos que se mantém sua atualidade.
Convidamos os colegas que estiverem trabalhando sobre este tema, e
que queiram publicar seus trabalhos, a encaminharem seus textos para apreciação pela Comissão de Aperiódicos até 15/01/2000. Os textos podem ser
encaminhados por e-mail, com o documento anexado, para a Secretaria da
APPOA, aos cuidados de Carmen Backes e Ubirajara Cardoso.
Comissão de Aperiódicos
Ana Maria Madeiros da Costa
8
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
9
SEÇÃO TEMÁTICA
RUFFINO, R. O que está em jogo...
O QUE ESTÁ EM JOGO
NA ADOLESCÊNCIA DE NOSSOS FILHOS?1
A
função do pai tem sido um tema central na teoria psicanalítica, desde seus primórdios. Ao percorrermos os textos de Freud, verificamos
a insistência da questão, desde A interpretação dos sonhos, até sua
obra derradeira, O homem Moisés e a religião monoteísta, eixo de nossas
discussões no último Relendo Freud e conversando sobre a APPOA, realizado em maio deste ano.
Na obra de Lacan, o conceito de Nome-do-Pai tornou possível abordar
a função paterna enquanto efeito de um significante (simbólico, imaginário
ou real). A partir daí, esta formulação passou a ser uma ferramenta teórica
fundamental na direção da cura, permitindo enlaçar o sujeito e o desejo ao
conjunto de significantes que os determinam e colocam em movimento.
A formulação feita por Lacan do Nome-do-Pai, enquanto conceito,
aconteceu no ano de 1956, durante o seminário sobre as psicoses. Porém,
a expressão nome do pai já havia sido utilizada em 1953, na exposição O
mito individual do neurótico. Desde então, os Nomes-do-pai ocupam lugar
central nas formulações psicanalíticas, constituindo um dos pilares teóricos
da obra psicanalítica.
Os quatro textos que compõem a sessão temática deste número do
Correio da APPOA abordam o conceito Nome-do-Pai, levantando novas questões em torno do tema. Esperamos que estes escritos tragam a todos seus
leitores a oportunidade para um produtivo momento de reflexão e discussão.
Gerson Smiech Pinho
Luzimar Stricher
Rodolpho Ruffino
À dizibilidade dos jovens
e ao descegueiramento dos pais.
S
uponhamos que um amigo seu não esteja conseguindo compreender
algo que para você não representa nenhum mistério. Digamos, então, que esse amigo peça a você que o ajude a entender melhor o
que nisso se lhe oculta ao olhar. Talvez você tenha a impressão de que
bastaria usar palavras já existentes e já previamente disponíveis ao seu domínio e, organizando-as numa frase, pronto, já teria dito tudo! Será mesmo
assim?
Penso que não. E penso que você já sabe disso. No seu dia-a-dia,
você já lida com assuntos onde o olhar voltado ao aparente não lhe basta.
Você há muito já sabe que “as aparências enganam”. Imagine que você esteja por decidir sobre uma aplicação financeira. Não bastaria a você para isso,
você já o reconhece, que você apenas se inteirasse do que se diz sobre isso
à sua volta. Você desconfiará dos simples ditos e, além de tantos outros
expedientes dos quais você possa lançar mão, procurará nas entrelinhas
dos ditos um instante no qual uma verdade, que não pode ser dita, venha
recontextualizar significativamente o conjunto desses ditos e lhe dar, então,
finalmente, a entrever alguma chave para a sua própria leitura dessa informação. Neste momento, você poderá não ter todas as garantias prévias de que
gostaria, mas estará confiante para arriscar e assumir sua responsabilidade
sobre esse ato. Só aí você se decidirá.
1
Texto redigido em março de 1997 e anteriormente publicado em Resenha Judaica, ano 27,
nº 673, 20 de junho de 1997 - 15 de Sivan de 5757, São Paulo, p. 2.
10
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
11
SEÇÃO TEMÁTICA
Esquecemo-nos com facilidade, entretanto, que é também deste modo,
e só deste modo, que podemos entrever o que se passa com as coisas da
vida. Esquecemo-nos, em especial, que é apenas desse modo que podemos inclusive entrever o que se passa com os nossos filhos adolescentes.
Não nos basta olharmos para eles, ou pior, ouvirmos o que outros teriam a
falar sobre eles, para virmos a compreendê-los. Não nos será o bastante,
também, perguntarmos a eles. Para além de não quererem dizer tudo o que
poderiam nos dizer, há ainda – e isto é o mais importante – o que eles não
podem ou não sabem como dizer, por mais que o quisessem. Isto deve ficar
bem claro, eles nem sempre querem nos enganar. Com freqüência, eles não
sabem como nos dizer sobre si. Eles não sabem como se dizer à nós.
É por isso que eu não comecei este texto perguntando sobre o que
vemos na adolescência de nossos filhos. Eu quero, isto sim, que possamos
entrever que na adolescência o que mais importa é o que está em jogo, de
forma encoberta, por trás do que as aparências nos mostram. Isso que está
invisível no jogo é também aquilo que sustenta e pode oferecer uma lógica ao
enigma que o visível nos apresenta. Em uma palavra, o que está em jogo na
adolescência é exatamente isso: o que o adolescente não pode dizer.
O sujeito infantil, apesar de experienciar o indizível, o limite da
dizibilidade das coisas, é exatamente aquele que sempre crê dizer aquilo
que ele vê. O limite da dizibilidade não é para a criança um problema que se
põe à sua consciência. O sujeito adulto, ao contrário, é aquele que não quer
dizer tudo, pois ele caracteriza sua existência pela construção, na sua vida,
de um espaço de reserva e discrição, um espaço do seu privado que ele não
quer levar ao público. Já o adolescente, ao menos aquele que atravessa
esses dois ou três primeiros anos após a eclosão de sua puberdade, nem
sempre consegue dizer muito do que ele mesmo gostaria de poder dizer.
Ele, na verdade, não pode dizer o suficiente de si ao outro. Não porque
sempre o que ele tivesse a dizer escapasse logicamente ao próprio limite
gramatical da dizibilidade, ou porque ele tivesse decidido, em todas as vezes, enganar seu interlocutor ou porque em todas as circunstâncias fosse o
seu inconsciente que quisesse lhe censurar, a ele mesmo, as intimidades.
Ao adolescente é claro que, como a qualquer sujeito, o seu desejo de dizer,
12
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
RUFFINO, R. O que está em jogo...
às vezes, possa esbarrar no inefável; como é óbvio, ele também está submetido a um inconsciente capaz de lhe produzir recalques e supressões; e é
evidente, também, que ele tem todo o direito, como todo mundo, de escolher
não dizer de si alguma coisa do que lhe pede um outro. Mas, dentro ainda da
dizibilidade gramaticalmente garantida, para aquém desses processos inconscientes de censura e para além das auto-decisões pela reserva de si,
há uma outra ordem de não poder dizer que se apresenta especialmente a
um adolescente que ultrapassa essas três mencionadas categorias de limite ao dizer.
Isto, não obstante, lhe incomoda muito mais do que costuma incomodar a um adulto quando este esbarra nesses limites do dizível. E por qual
razão? Porque, a um adolescente, ao contrário do adulto, não estando ainda
disponibilizado esse espaço bem delimitado e muitas vezes voluntariamente
requerido de reserva, não se apresentará nem mesmo a expectativa
reconfortadora, ainda que muitas vezes apenas ilusória, de que haverá um
segundo momento garantido onde ele poderá tornar patente, a ele mesmo e
a quem mais ele quiser, isso que no presente ficou posto a si mesmo sob
reserva, como se se tratasse de uma reserva a favor de um Outro, como de
fato o é.
Se ao adulto a disponibilidade efetiva desse espaço de reserva pessoal em respeito ao qual ele pode não querer dizer coisas aos demais, vem
permitir a privacidade de sua vida, ou até mesmo manter sob certa clandestinidade setores inteiros de sua existência, essa mesma disponibilidade lhe
franqueia o acesso fácil a uma ilusão. Qualquer ilusão, nós o sabemos, tem
pelo menos duas faces: uma que se apresenta imediatamente, reconfortadora
e prenhe de promessas; e outra, cuja presença só se fará sentir depois,
decepcionante e implacavelmente cobradora-usurária do preço, preço com
ágio, que o usufruir prévio de um conforto indevido exige daqueles que o
aceitaram.
Qual é a ilusão que a disponibilidade a um espaço de reserva à privacidade de um adulto pode lhe provocar? A disponibilidade à reserva voluntária
para um adulto é, ela mesma, efetiva e não inteiramente ilusória, mas ela
porta o acesso a uma ilusão e porta também o fascínio de fazer o sujeito a
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
13
SEÇÃO TEMÁTICA
RUFFINO, R. O que está em jogo...
quem ela se apresenta se deixar por ela levar. E essa ilusão veicula uma
“propaganda enganosa”, ligada às dimensões da área dessa reserva e à
magnitude de poder a que acederia aquele a quem essa reserva se fez disponível.
Bem, essa ilusão com freqüência seduz e, em seguida, vitima os
adultos que se deixaram por ela seduzir. No entanto, a vitimização que ela
vem a impor não liqüida as miragens de uma ilusão, se ela está bem
estabelecida. Se, por instantes, o sujeito se vê forçado a curvar-se aos caprichos do cruel credor, ele não mantém para si o reconhecimento atento, na
continuidade de seus dias, do quanto, da agiotagem exercida pelo seu credor, a sua existência tem se tornado o efeito. A ilusão de não ter perdido o
domínio, ou ao menos a de que em breve ele irá retomá-lo, persiste ao longo
de boa parte do tempo fenomênico vivido do homem sob ilusão, entre um
instante ou outro de desespero e insônia – efeitos pontuais das intermitentes
e efêmeras tomadas de consciência.
Assim, o fato de que há, para um adulto, uma disponibilidade de reserva de dizibilidade assegurada ao seu controle voluntário vem quase sempre acompanhado da ilusão de que quase todas as suas experiências com a
limitação de seu dizer de si, mesmo quando ela se manifesta limitando-o em
seu dizer inclusive a si mesmo, não seriam mais do que casos particulares
do exercício de fazer a guarda atenta de um preservar-se à reserva que é,
antes de tudo, vivido como expressão de seu direito e de seu poder. Espoliado pelo agiota e enganado peoa fingimento enganador, o adulto iludido,
entretanto, supõe a si mesmo em um sempre presente conforto, no qual ele
pode manter a crença de nunca estar sob um limite que lhe pareça verdadeiro no que se refere à capacidade de seus recursos, quando ele se vê diante
de um limite de sua dizibilidade. Para ele, conseqüentemente, tanto a ação
do inconsciente quanto o limite de uma língua poderão passar como algo
nada heterogêneo ao limite, que ele simula como seu apenas por estar diante do outro, diante do público, frente ao qual ele queria manter-se em reserva.
Talvez essa ilusão não seja senão um efeito retroativo de uma identificação ao outro a quem ele se expõe, um erro perceptivo que ele se impõe
como um preço para preservar a si mesmo a idéia de que ele aspira se
manter sob a mesma transparência que ele exige dos demais: um caso a
mais de um desmentido perverso. Importa marcar aqui, entretanto, que este
desmentido pode preservar o adulto iludido do sofrimento diante de um limite
à dizibilidade e o quanto esse acesso ao que pudesse desmentir a presença
de um sofrimento é o que vem a distinguir os modos adulto e adolescente de
se verem a si mesmos quando diante desse limite em dizer-se.
Há a dissimulação no adolescente, mas, antes disso vir a se impor,
muito do que o adolescente não diz, não é porque ele escolheu não dizê-lo,
nem porque o assunto seja logicamente indizível e nem sempre se trata do
que os analistas reconhecemos como efeito de um recalcamento. Há o indizível imposto pela língua, há o interditado a dizer que vem das operações do
inconsciente e há o que ele queira não dizer, porém, o mais importante nisso
que ele não diz é de outra ordem. Digo aqui “o mais importante” em relação
ao que de fato importa tanto para se situar o lugar do sofrimento adolescente
quanto para que ao adulto ocupado em com ele se relacionar venha a ser
possível ler o oculto nesse jogo em que o visível e o invisível, o dizível e o
indizível vem a poder confundir todos os que nele estão envolvidos. O que
mais importa do que o adolescente não diz se situa no que ele não pode
dizer nem a si mesmo, bem como tem a maior relevância sabermos que
essa impossibilidade de dizer do adolescente sobre si mesmo, aos demais
ou a si mesmo, é devida ao fato de que nele, nesse tempo pós-pubertário,
periclita tudo o que concerne aos limites do si mesmo, limite que a
pubescência, como um trauma, veio a embaralhar. Bem que ele quereria, se
isso fosse possível, até mesmo dizer tudo ao adulto, caso através desse
dizer tudo, ele conseguisse dar a si mesmo algo do dizer de si a si a que ele
não pode acessar. Admitamos, então, que ele até não queira mesmo dizer
muito do que um outro quisesse saber sobre ele: ainda assim ele, antes
disso e com mais sofrimento pessoal ainda, não pode, também, dizer muito
do que ele mesmo queria imensamente dizer de si ao outro. Este é o drama:
o adolescente, mesmo que não queira dizer tudo, ele quer dizer mais do que
pode fazê-lo.
Vejamos uma conversa familiar típica e, nela, o lugar do adolescente e
seus pais:
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
14
15
SEÇÃO TEMÁTICA
RUFFINO, R. O que está em jogo...
“– Como foi a escola hoje, filho?”
“– Legal.”
“– E a festa de ontem?”
“– Normal.”
(Poderíamos dizer que nesse “diálogo”, o “interrogatório” do pai quase
nos faz pensar que ele talvez não queira escutar a seu filho, ou mesmo que
ele – também ele, o pai – talvez não saiba como dizer de seu desejo; mas,
tomemos aqui, no momento, outra direção para o nosso comentário.)
Os pais se decepcionam. Perguntam qualquer coisa, não pela resposta a essa coisa, mas para dar início a uma conversação que, conforme
pensam, poderá avançar por outros e mais interessantes assuntos. (Mas
como seria possível se desembocar em assuntos interessantes, iniciando a
conversa com “qualquer coisa” como seu disparador?) A resposta do jovem,
entretanto, é cortante. (Não poderia ser diferente, é a mais adequada resposta que alguém possa dar a quem pensa que possa bastar “qualquer coisa”
para dele se lhe capturar uma interlocução verdadeira.) Com o menor número
possível de sílabas, a resposta do adolescente, não sem razão, se precipita
ao ponto final. E conversa encerrada.
Os pais se ressentem: o seu filho adolescente, parece-lhes, parou de
lhes falar de si. Na verdade, dada a situação, os adolescentes não podem,
antes de não quererem, eles não podem, nestas circunstâncias, isto é, neste estado do campo transferencial entre pai e filho, eles não podem dizer
mais do que isso. Eles já não podem conversar como antes. Isto é, eles já
não podem conversar como antes se esta conversação tiver que se dar no
interior do mesmo campo transferencial que, para os tempos anteriores, para
os tempos que antecederam a emergência da puberdade, até parecia ainda
funcionar. No fundo disso tudo, a questão é: o que está em jogo nesse não
poder dizer de nossos adolescentes?
Num ponto logicamente anterior àquele onde se distingue a singularidade de cada adolescente, há o que constitui a adolescência como tal. O
que despertou o jovem para sair da sua infância não se deu como um avanço
gradativo que o jovem pudesse dominar pelos sentidos; e nem foi esse avançar dos seus anos diante da finalização da infância um amadurecimento
sem perdas rumo a uma maior adaptabilidade. Esse despertar do sujeito e
essa transformação no sujeito, na verdade, foram como um empurrão que
chegou sem ter sido suficientemente anunciado. Um empurrão que se chama puberdade. Um empurrão pelo qual ele foi retirado de um estado onde
tudo era conhecido e portava um sentido, e, imediatamente depois, foi levado
bruscamente a estar sob um outro estado no qual ele, inicialmente, estará
desentendido, confuso, siderado.
Desentendido porque seu corpo vem mudando, e não só na forma.
Impõem-se a ele novas sensações e seu desejo se transforma. Estupefato
com isso, e, antes que possa compreender o que se passa, eis que inclusive
o olhar que o outro tem para ele também já não será o mesmo. É para se
entender com esse desentendimento que o jovem adolesce.
Em tempos passados, a eficácia simbólica presente nos ritos tradicionais de passagem provia o jovem de referenciais com os quais alguém
pudesse se entender com a puberdade, e desse entendimento surgiria o
jovem adulto a ser contado como um entre os outros respeitáveis membros
de sua comunidade, comunidade que pudesse contar com ele tanto quanto
ele passava a contar com ela – em ambas as direções, sem mais a tutela
mediadora presente do pai familiar, mas em meio a um consórcio de adultos,
todos articulados a um mesmo pai simbólico. Nossos jovens contemporâneos, em meio aos nossos impessoais e imensos centros urbanos, são forçados a adolescer, isto é, a ter que deglutir por duas décadas e meia o desentendimento antes de se verem como candidato à condição de adultos, candidato porque a decisão de confirmá-lo ou não nesse lugar, até que, por prova
em contrário, desse posto ele possa ser destituído, é do Outro social, se não
do Outro cartorial.
No consultório algo vem chamando minha atenção. Falarei aqui das
adolescentes mais velhas (as e os adolescentes mais velhos, como eu provisoriamente os chamo, são aqueles que, começando, ao redor dos dezesseis
anos, a sair de um certo mutismo pós-pubertário, podem já encontrar o que
dizer de si de modo historicizado, narrativo. Distinção que na clínica, para a
direção do tratamento, faz toda a diferença). No relato de todas as adolescentes mais velhas é mencionado um acontecimento relacionado à época
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
16
17
SEÇÃO TEMÁTICA
RUFFINO, R. O que está em jogo...
de seu já pretérito mutismo pós-pubertário, acontecimento este que a elas
lhes aparece, hoje, como tendo sido o marco do início de sua adolescência:
houve um dia em que, sem esperar, elas experenciaram um olhar diferente.
Esse olhar lhes era dirigido, às vezes, por jovens mais velhos, mas, com
maior freqüência, ele vinha de um adulto. Não era, tal como ele aparece na
maioria das ocorrências, um olhar agressivo e nem insistente, e, se ele pode
ser captado pela adolescente que o experiencia como algo que convoca
certa tonalidade próxima ao anseio pelo “sacana” de uma leve perversão, ele
não é sempre decididamente perverso, sendo que o mínimo de perversão,
que por um breve instante por ele se insinua, é quase sempre seguido por
um desvio em relação ao foco que, em seu silêncio, quase diria “O que foi
isso que estava prestes a fazer? Por favor me perdoe”. Era um olhar, enfim,
que apenas se deixava escapar por uma fração de segundos. Mas era um
olhar que, por ter ocorrido, denunciava às adolescentes que, pela primeira
vez, elas eram vistas como mulher. Observemos: como a mulher que elas
ainda não eram e nem se supunham ser. O acontecimento desse olhar,
antecipando-se, portanto, à condição de mulher da menina, vem inicializar
nela, no entanto, o processo de seu tornar-se mulher. Por meio da experiência desse olhar a jovem é posta em contato – e se assusta com essa descoberta – com uma potência que, apesar de si mesma, já está presente na sua
imagem: a potência de engatar no outro o desejo deste sobre ela.
Nós sabemos que mais tarde elas não só lidarão com mestria com
esse tipo de olhar do outro, como também saberão muito bem como provocálo ou como tornar impossível a sua presença. Mas esse olhar, antes de tudo,
primeiramente encabulou-as. E diante dele, na primeira vez, elas só podiam
se sentir desentendidas. Este olhar lhes convocava o desejo e as convocava
ao desejo do Outro. Disso, se elas não podiam, como qualquer um, se furtar,
elas também não podiam, no momento, dispor de recursos para lhe opor
qualquer resposta. Por isso as meninas adolescem.
A seqüência de experiências de desentendimento que os adolescentes vivem impõe-lhes um quase mutismo – característico do primeiro momento da adolescência –, que se manifesta tanto mais fortemente quanto
mais o assunto de uma conversa lhes parece se encaminhar para as ques-
tões mais cruciais da vida nesse momento: amor, escolhas pessoais, ou os
valores de tudo aquilo que mais parece lhes concernir.
Aquilo que o jovem não pode entender, ele não pode pôr em palavras.
No entanto, aquilo que eles não podem dizer, eles procurarão encenar. E
encenarão como podem, com atos freqüentemente desajeitados ou chocantes. Atos com os quais eles esperam poder ser compreendidos pelo outro.
Eles aguardam, então, que lhes seja devolvido, pela compreensão do outro,
o sentido do segredo que eles carregam em si, sem poderem compreender
ou dizê-lo, nem mesmo para eles próprios.
É isto o que o jovem espera de seus pais, de seus mestres, e, inclusive de seus analistas: que estes possam ler o jogo que sustenta esse
semblante que, apesar dele mesmo, nele se instalou, formatando-lhe a aparência e a lógica que se encobre por sob o manifesto de suas cenas. Ele, o
adolescente, exibe uma encenação, às vezes, bizarra, às vezes rebelde, às
vezes teimosa, para que seu pai ou mãe, seu professor ou seu analista
possa saber atravessá-la e lê-la. Lê-la não pela cena, sempre enganosa,
mas pelo seus bastidores, pelo jogo significante pelo qual ela está velada e
montada.
E nós, nós pais e mães, mestres e analistas, não podemos avaliar o
quanto perdemos de crédito diante deles quando somos flagrados podendo
nos enganar com o próprio engano deles. Isto acontece sempre que respondemos às cenas pelas próprias cenas.
Respondemos a uma cena pela própria cena quando sublinhamos
nos adolescentes o ridículo de um novo modo de rir, o extravagante de um
novo modo de se vestir, o estereotipado de uma nova gestualidade, a estranheza que nos provoca uma nova linguagem, antes de querermos ler o que,
através dessas novas mostrações e sem o saber, eles querem nos dizer,
antes de desejarmos oferecer a eles a mostração, a nossa, de que podemos
lhes devolver o que mais importa: o nosso interesse em estarmos ao lado
deles para colaborarmos na construção do como dizer o que a mostração
deles quis nos dizer sem que eles soubessem como dizê-lo. Os adolescentes, impedidos que estão de nos dizer com palavras o que neles queima
(“Pai, não vês que estou queimando?” – com esta palavra filial, é, em sonho,
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
18
19
SEÇÃO TEMÁTICA
RUFFINO, R. O que está em jogo...
bruscamente de seu sono despertado, despertado tarde demais, um pai, na
noite do velório de seu filho morto), com suas encenações, tentam desesperadamente o mostrar.
O jovem sabe que só pela palavra e na palavra ele pode dizer e se
entender com isso que nele queima, mas ele, siderado, não dispõe no momento de como aceder a ela. Quanto mais ela se torna urgente, menos ele a
alcança. Ele então apela, em transferência, ao adulto que ele ainda supõe
dotado de certa grandeza – ao pai, à mãe, aos mestres, ao analista. O que
ele quer? Que lhe marquemos o quanto consideramos espalhafatosos os
seus meios? Não, ele deseja que sejamos capazes de os ler, e seremos
capazes de os ler, perguntando-nos: “o que estará ele nos dizendo com isso
que ele nos está dizendo? Através desse meio-dizer? Desse dizer como
meio? Desse mutismo? Dessas encenações? Dessas mostrações?”.
O adolescente se apresenta a nós, com suas mostrações, como o
artista se apresenta, com sua obra, diante do público. E para quê um artista
cria uma obra e a leva ao público? De onde vem o combustível que constrange uns de nós a ser artistas e outros não? Por que um artista não pode
senão sê-lo? O artista cria o belo e todos nós ganhamos com isso; mas,
quanto a ele, por que ele precisa seguir essa via, malgrado o gozo que ele
nisso encontra, tão difícil, dispendiosa, trabalhosa, tortuosa, para se situar
no mundo do trabalho, do sustento, do reconhecimento? E se ele aí goza, de
quê ele, afinal, goza nisso? De que Necessidade a Criatividade é a filha? O
artista precisa tornar-se artista porque ele é aquele que tem um dizer a produzir e uma inscrição a cumprir com esse dizer, mas esse dizer a cumprir,
para ele, é da ordem de um dizer que, no entanto, não pode ser alcançado,
por ele mesmo, de modo direto. Ele deve, então, produzir, a partir dessa
urgência, uma obra e, em seguida, ofertá-la a um público. Aí lhe resta aguardar que não haja uma defasagem muito longa entre a oferta sua de sua obra
ao público e o retorno deste a ele sob a forma de dizeres. Dentre esses
dizeres, há de se aguardar por aquele que possa devolver ao artista, sob uma
forma, para ele, audível e inscriturável, o dizer implícito e não-sabido de que
ele próprio, apesar de si e sem o saber, investiu à sua obra como a portadora. Só ele poderá reconhecê-lo quando isto vier a lhe retornar do lugar Outro.
Mas só procedendo do lugar do Outro como resposta à sua obra isto poderá
operar para o seu reconhecimento do dizer não dito que sua obra porta.
O artista e o adolescente tem algo muito em comum: ambos estão
impelidos a encenar ao Outro, na espera de que deste lhe retorne não a
palavra que caberá ao artista e ao adolescente inventar, mas o acesso que
lhes torne possível a construção de sua dizibilidade. O limite de dizibilidade
que neles mais importa não corresponde nem ao que lhes vem da vontade de
reserva, nem dos limites de sua língua e nem da barra que o recalque lhes
impõe a uma representação. O limite de dizibilidade, que desespera tanto o
artista quanto o adolescente e que, por desesperá-los, lhes faz necessário a
figura do público a quem se dirigem, é o limite da representabilidade, a
presentificação do não inscriturável do trauma pelo qual alguém adolesce e
se faz artista. O trauma é esse acontecimento contingente que vem a se
tornar fundador de um novo percurso ao se impor a uma subjetividade pelo
fato mesmo de se apresentar como esburacador no tecido significante pelo
qual a subjetividade, ela mesma, estava tecida. O artista e o adolescente,
cada um a seu modo, são alguns dos efeitos mais benignos que a
presentificação do real do trauma veio a produzir em nossa cultura na
contemporaneidade. Esses efeitos não são mutuamente exclusivos (pode
haver alguém que é simultaneamente adolescente e artista); mas, se, por
outro lado, também não estarão necessariamente sempre mutuamente implicados (há adolescentes não artistas e há artistas que podem deixar de ser
adolescentes), há uma implicação indireta que se não exige que todo adolescente seja artista, ao menos espera algo artístico de toda a adolescência
enquanto esta não sucumbir à inibição que, infelizmente, a espreita a cada
instante neste nosso mundo ávido por fabricar adultos (mero particípio passado, em latim, do verbo adolescer) “feitos às pressas”, como diria Schreber
em seu delírio não de todo insano.
O que querem o artista e o adolescente de seu público? Que ele leia
o que se oculta a eles nas cenas que eles montam em substituição à palavra
que não pôde ser dita, para que eles venham a saber o que quiseram, ali,
dizer. Nem um e nem outro esperam de seu público que ele seja o adulto
capaz de encarnar a potência paterna, pois isso não é digno de ser esperado
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
20
21
SEÇÃO TEMÁTICA
nem por quem, crê-se, já tenha ultrapassado o fim da infância e nem pela
humanidade que, supostamente, já ultrapassou a idolatria. Entretanto, se o
público não pode ser qualquer um, dele então, também se espera algo de
especial, se não alguma arte, a capacidade, ao menos, de também ser “arteiro” para que ele, com esta habilidade, ao ler o que atravessa a cena que se
lhe põe, possa apresentar-se como esse que se posiciona como um objeto
pelo qual o Nome-do-pai, como pura função para além de qualquer versão,
se presentifica para franquear a arte da construção da Palavra que escapa.
Eis o lugar de um adulto capaz de merecer a confiabilidade destes, o artista
ou o adolescente, estas figuras da civilização ocidental contemporânea que
põem sob suspeita a potência paterna de quaisquer versões que o mercado
familiar ou mundano ofereça.
Desconhecendo a lógica que, simultaneamente, sustenta o jogo e
nele se oculta, e insistindo em supor que tudo o que é do jogo só se esgota
no que ele se expõe como cena, mostrar-nos-emos míopes e capazes de
“cairmos como patos” nas enganações da vida. Entretanto, é exatamente
aqui que nossos jovens gostariam de nos ver com perspicácia e esperteza.
Nosso jovem, em seu íntimo, poderá pensar: “Se eles se deixam enganar até
por mim, que não queria enganá-los, quanto mais não serão enganados pelas traiçoeiras armadilhas propositais da vida cotidiana! Estarão, então, eles
à altura do que eu espero de um adulto, não de um envelhecido, mas daquele que porta a grandeza de um grande, para que neles eu me fie ou para que
a eles eu queira dirigir as minhas questões?”
Os jovens nos impõem uma prova dura, mas querem que passemos
nela. E torcem para poderem, novamente, nos reconfirmar como seus guias
confiáveis. A questão, a nossa, aqui, é: podemos vir a estar à altura do que
eles nos pedem?
22
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
VÍCTORA, L. G. Se é possível escrevê-lo...
SE É POSSÍVEL ESCREVÊ-LO... 1
Ligia Gomes Víctora
Quando Tyson, num ginete,
Entrava em Jerusalém,
Tibum! Caiu, descadeirando,
O Alec Cafusalém.2
O
“sinthoma” 3 de Joyce, joga com sua arte – a escrita. Para suprir a
sua carência paterna (mas também para não enlouquecer), Joyce
teve que reescrever sua história, reinventando sua língua. Para lidar
com a questão de se fazer pai, praticava um pouco de telepatia com sua
filha, Lucia... Lacan jogou com o sintoma de Joyce, e com sua escritura no
Real.
Quando a cadeia R.S.I. está escrita da maneira “tradicional”, os três
elos estão em lugares idênticos: eles se equivalem. Quando entra na cadeia
um quarto elo, a cadeia, agora a quatro nós, pode assumir diferentes formações.
A suplência à cadeia R. S. I. é necessária sempre que o nó estrutural
falha: assim, o quarto elo vem “socorrer” a escritura fundamental que está
“mal-amarrada” (Fig. 1). Seja como apelo ao significante do Nome-do-pai, ou
à “realidade psíquica” freudiana, ou como um retorno ao Édipo. Ou criando
1
Esta é a transcrição de parte de uma aula do Seminário de Topologia, ministrada na APPOA,
em setembro de 2000.
2
JOYCE, J. Retratro do artista quando jovem. São Paulo : Ed. Abril, 1971.
3
Como sabemos, Lacan utilizava a grafia arcaica “sinthome” quando queria designar a
estrutura do sintoma, fazendo uma diferenciação com symptôme, o sintoma clínico. A propósito da tradução do termo “sinthome” para o português, costumo traduzir para “sinthoma”,
respeitando a grafia antiga de “sintoma”. Porém, na reunião dos Cartéis de traduções Francês/Português da AFI e da APPOA, durante o Colóquio Questões sobre o Outro, Ângela
Jesuíno-Ferretto chamou a atenção para as homofonias que se perdem em português, como
“saint-homme” (“santo-homem”), e “saint Thomas” (“Santo Tomás”), sugerindo que se mantivesse “sinthomen”.
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
23
SEÇÃO TEMÁTICA
um sintoma, dependendo da estrutura particular da amarração de cada um.
Ou ainda, em forma de delírio, no caso da psicose (isto, vamos ver mais
adiante). Esse quarto elo (Nome-do-pai, realidade psíquica, Édipo ou sintoma) viria, então, amarrando os três da cadeia inicial, que estão desatados.4
VÍCTORA, L. G. Se é possível escrevê-lo...
deixaria escapar os outros elos da cadeia, se não fosse o recurso do quarto
nó, o nó do sintoma – no caso, a sua “arte”. Assim, Joyce jogava, com as
palavras, com seus pensamentos, com os versos, com a música, com as
epifanias...
Figura 2
Figura 1 - A amarração falha e o 4o elo vem socorrer.
A cadeia não falha “em qualquer lugar”, mas em “um determinado
lugar” da estrutura – por exemplo: pode ser o elo do Real que se abre, ou o
do Simbólico, ou o do Imaginário. Dependendo de onde se dá a falha, algo se
perde, seja da ordem do gozo fálico (entre Real e Simbólico), que neste caso
envolveria algo da fala; seja do sentido (entre Simbólico e Imaginário); ou do
gozo Outro (entre Imaginário e Real). Podemos pensar também em uma
suplência específica para cada caso (Fig. 2).
No caso de Joyce adolescente5, por exemplo, segundo Lacan, a amarração da estrutura falhou justamente no elo do Imaginário, que se “abriu”, e
Qual misericórdia o quê?
Não escapas duma tunda!
Vai descendo logo as calças
E vira pra cima a bunda.6
A partir dessa hipótese, como podemos pensar o papel do analista na
cura do seu analisante? A idéia é que o analista possa dirigir o tratamento,
fazendo uma intervenção diretamente na estrutura da cadeia { R+ S+ I+ Σ }
(Real + Simbólico + Imaginário + Sinthoma).
No caso de uma interpretação, haveria, a meu entender, um momento
intermediário, em que o analista opera o corte na cadeia. Para isso é neces-
4
Como já explicamos, por exemplo, no artigo: Entre o céu e o inferno, no livro Adolescência:
entre o passado e o futuro. Porto Alegre : Artes e Ofícios, 1998.
5
JOYCE, op. cit.
24
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
6
Idem, ibidem.
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
25
SEÇÃO TEMÁTICA
VÍCTORA, L. G. Se é possível escrevê-lo...
sário que ele esteja incluído, transferencialmente, na estrutura do seu paciente. “Operar o corte”, como em uma operação cirúrgica, trata-se de isolar o
campo a ser tratado, limpando-o de todo resíduo de imaginário possível, para
fazer uma incisão precisa no local exato. Neste momento, há uma ruptura,
ou uma liberdade temporária, dos elos. É o momento confusional, em que
muitas vezes nosso analisante nos diz – “Não estou entendendo nada!”, ou:
“Como assim?”. Podemos pensar nisso como um estágio em que os nós se
abrem, e o sentido se perde.
É que a análise é isto. É a resposta a um enigma... se não se tem
idéia de onde nos conduz a corda, ao nó da não-relação sexual...7
Figura 3
Blém! Blão! Blém! Blão!
O sino do castelo.
Oh! Adeus para sempre minha mãe.
Sepultem-me no claustro da abadia,
Bem ao lado do meu irmão...8
Imaginemos agora a transformação da cadeia borromeana aplainada,
em um nó de trevo 9 (Fig. 3).
Para isso, é preciso cortar os elos da cadeia, em determinados pontos, como mostra a figura.
No caso de Joyce, não é “por acaso” que Lacan deixou o trevo aberto
justamente no lugar que caberia ao Gozo Outro (Fig. 4).
7
LACAN, J. Séminaire: Le sinthome. Edição interna da Association freudienne internationale.
Aula IV (13 de janeiro de 1976). Tradução da autora.
8
JOYCE, J. op. cit.
9
Ou, se considerarmos a superfície toda no espaço que este nó delimita, uma “superfície de
Boy”.
26
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
Figura 4
No próximo estágio, a tendência do analisante é de fazer uma espécie
de “sutura”: de “costurar” os três elos em continuidade uns com os outros. O
resultado disto seria um nó de trevo, também chamado por Lacan de nó-detrês, formado pelo “coração” da cadeia borromeana (Fig. 5). Tudo isso para
obter um sentido – isso que é o objeto da resposta do analista à exposição
do analisante, ao longo do seu sintoma. 10
Ao longo do Seminário, Lacan sugeriu esta estrutura do nó de trevo
(que na neurose eu pensaria como um passo intermediário, dentro da análise), para a psicose paranóica.
Mesmo o nó de trevo pode estar “mal-amarrado”. Então, um elo, como
o analista, poderá ser colocado – pelo analisante – na estrutura, temporariamente, para dar suporte neste momento crítico (Fig. 6).
Desta mesma forma, como um momento transitório da análise, eu
pensaria a trança de seis cruzamentos que resulta na cadeia borromeana
(Seminário R.S.I.), ou a polêmica passagem onde o nó borromeu é composto por quatro-nós-de-três (apresentada na terceira aula do Seminário Le
sinthome)11. A respeito desta passagem, estive discutindo longamente com
10
11
LACAN, op. cit., aula de 13 de janeiro de 1976.
LACAN, op. cit., aula de 16 de dezembro de 1975.
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
27
SEÇÃO TEMÁTICA
Figura 5
VÍCTORA, L. G. Se é possível escrevê-lo...
Figura 6
Marc Darmon, pois sempre me intrigou o porquê da preocupação de Lacan,
que me parecia um tanto deslocada do fio do seminário – com isso, de ser
ou não possível obter-se um nó borromeu composto por quatro-nós-de-três.
Para M. Darmon, a questão de Lacan naquele momento era apenas essa: se
era possível escrevê-lo.
Temos insistido este ano nesta questão – se é possível escrever – ao
trabalharmos o Seminário sobre o “sinthoma”, e ainda mais com os nós e as
cadeias a dois, a três, a quatro, a infinitos elos. Se isso é possível, então é
porque eles existem realmente. Porque o que é possível, nós já sabemos, é
o que pode se escrever, e que, por isso mesmo, pode deixar de se escrever
(enquanto que o real, embora possa ser escrito, é um impossível: de ser
tocado, de ser abordado diretamente, então, que não deixa de não se escrever).
Assim, diz-se que a relação sexual é um impossível: não se pode
escrevê-la matematicamente, não há uma função {f(x)} entre os dois lados
da sexuação, masculino e feminino. Para dar conta disso, o ser-falante inventou a linguagem, e, a cada vez que se depara com essa falha – ou com
esse “enigma”, o enigma da impossibilidade de se escrever a relação entre
os sexos – ele vai tentar tapar esse buraco, como já vimos antes, produzindo
algo, como um quarto elo, como um sintoma, ou como Joyce, uma “arte”.
28
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
No caso de Joyce, Lacan se perguntava se ele era ou não era “louco”:
por sua maneira de expressar seu pensamento, ou porque acreditava sua
filha telepata – já que na telepatia, a palavra falada se impõe no pensamento,
mas é pela escritura – ou seja, pelas letras – que as palavras se decompõem
para se impor. Assim como para Joyce os pensamentos e as palavras vinham aos borbotões e se colavam uns aos outros, nos discursos dos nossos pacientes encontramos também Simbólico, Imaginário e Real “embrulhados”, a ponto de se continuarem um no outro, se não existe operação que
faça uma distinção entre eles, dentro de uma cadeia borromeana. 12
Abril, 27.
Velho pai, velho artífice,
mantém-me, agora e sempre,
em boa forma.
Dublin, 1904,
Trieste, 1914.13
QUESTÃO:
Anna Callegari – “O nó da APPOA é o mesmo nó do fantasma?”
Não: não se trata de uma homotopia da cadeia do fantasma, nem é
uma “cadeia de Whitehead” (dois nós livres, encadeados a zero voltas). É
uma cadeia composta por um nó de trevo a 3 voltas, unido a um nó simples
que tem como uma função de suplemento, não de suplência, pois o primeiro
se mantém sozinho: não há uma falha que necessitaria de um outro elo para
se manter. Este nó foi apresentado por Lacan no Seminário A topologia e o
Tempo (78/79), como sendo as bordas da faixa de Mœbius tripla. Podemos
pensar que tipo de estrutura ele pode se referir... já que – ele é uma cadeia
possível de se escrever. (Talvez a função da arte, ou mesmo a da sublimação? Fica como questão a se trabalhar.)
12
13
LACAN, op. cit., aula de 17 de fevereiro de 1975.
JOYCE, op. cit.
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
29
SEÇÃO TEMÁTICA
PEREIRA, R. de F. Dialogo entre pai e filho...
DIALOGO ENTRE PAI E FILHO
iálogo entre pai e filho. O filho, agora adulto, resolve ter uma conversa íntima e importante com o pai. Dessas falas que podem nunca
acontecer pessoalmente, ou ficar num permanente entre parênteses, onde o tempo e as mazelas cotidianas ocupam o devido espaço. Mas,
se num momento da vida a conversa acontece, permite fazer uma daquelas
perguntas que só depois de muito tempo, ou no calor de uma briga (mas aí já
seria uma acusação e não somente uma pergunta), pode vir à tona do oceano de significações que compõe a relação pai e filho.
– “Pai, por que eu te sentia tão ausente durante a minha infância?”
O pai engole em seco, visivelmente surpreso pela interpelação.
– “A pergunta é constrangedora, mas vou te responder. Eu era jovem.
Me sentia jovem e queria viver a vida, além de trabalhar e das obrigações
familiares”.
O ditado popular diz que perguntar não ofende. A pergunta não foi
tomada como ofensa. Não desta vez. Uma resposta também pode ser ofensiva. Esta não tinha sido. Talvez tenha obrigado o filho a confrontar-se com
uma verdade que ele já conhecia, mas da qual não queria saber: os destinos
do desejo paterno não estavam direcionados somente para ele, ou para a
família. Um pai podia buscar a felicidade fora de sua casa.
Numa cultura como a nossa, onde as relações estão fundadas numa
promessa de amor perene, ou mesmo numa confusão entre amor e desejo,
reconhecer que o outro não nos ama exclusivamente é uma das tarefas
existenciais mais interessantes e difíceis (sejamos sinceros). Em outras
palavras, nossa existência é o grande valor, mas um valor de troca, leia-se de
reciprocidade narcísica: tu me amas, eu te amo também. Desde que o outro
seja o espelho particular de sustentação de nosso ideais. De preferência,
sem fraquejar na promessa de incondicionalidade; pois, supostamente, daí
adviria a felicidade.
Parece banal, mas um dos efeitos de uma análise pode ser justamente este; permitir que um sujeito possa relacionar-se diferente com sua filiação,
ou seja, com este amor/ódio ao pai. Sabe-se lá quem ou o quê este tenha
sido. Pai é sempre um enigma e/ou embrulho – para lembrar “Quase memória”, de Carlos Heitor Cony. Podemos reconhecê-lo pelo papel, a forma de
fazer o laço, a maneira particular de escrever sua letra e até o perfume. Mas
é melhor não abrir o pacote, se não quisermos nos perder na minúcia obsessiva, ou no fascínio dos objetos que não nos pertenceram.
A escrita é outra forma de fazer o diálogo. Permite re-escrever nome e
sobrenome. Possibilita tocar o real, dizia Lacan e acrescentava; “mas a verdade só se alcança com o dizer”. Um dizer que pode sustentar o fato de que
numa análise até o gosto se discute; pois achar mais bonito o sobrenome
materno pode não ser somente questão de sonoridade e beleza gramatical.
Pode explicitar toda a implicância da estética com o desejo.
Neste sentido, trata-se de permitir a abertura de um diálogo eminentemente simbólico e não só subjetivo – porque, de acordo com as situações
descritas acima, não é mais necessária a presença física do progenitor.
Quando ele está, melhor. O mais importante é que o interlocutor é que tem
que “bancar” a resposta. Quem diz o que quer, ouve o que não esperava.
Mas é destas surpresas que se faz a materialidade do inconsciente.
Este saber através do qual um sujeito pode se decifrar. Transformar a linguagem de maneira singular, permitindo esta materialidade de conversa entre
pai e filho é o que Os nomes do pai possibilita. Barthes incluiu a conversa
como um de seus fragmentos do discurso amoroso. A psicanálise embarca
no engano do amor para tentar ter acesso à verdade do sujeito.
Partindo da transferência imaginariamente dual, fazer o reconhecimento
das três dimensões que nomeiam o Nome-do-Pai: Real, Simbólico e Imaginário. Aqui outra surpresa: é da articulação das três letras que um nome se
sustenta. Das três dimensões, mais uma: seu intervalo, o buraco que sustenta o enlaçamento, lugar da falta de objeto que se assinala com uma letra:
a.
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
SEGUIDO DE ALGUMAS NOTAS
Robson de Freitas Pereira
D
30
31
SEÇÃO TEMÁTICA
PEREIRA, R. de F. Dialogo entre pai e filho...
Anotações sobre os Nomes-do-Pai
Lacan trabalha este tema ao longo de boa parte de sua obra – seja
para fazer um retorno a Freud, indo adiante das limitações do Édipo; seja em
seu trabalho de situar as psicoses como apreensíveis pela escuta psicanalítica até chegar à escrita do sintoma estrutural (sinthoma), para evidenciar o
quanto um sujeito é tributário da linguagem. Vamos fazer apenas algumas
observações sucintas. Reler notas é surpreender-se. Tanto com o encontro
de coisas novas; como com um re-encontro com coisas lidas, sublinhadas,
mas com as quais já se perdeu a intimidade anterior. Trata-se de uma estranha intimidade.
Esta extimidade, permite situar ao menos três momentos, escolhidos
forçadamente, ao longo dos seminários:
1) No seminário 3, “As psicoses”, busca-se diferenciar Real e Simbólico. O Real como esta dimensão a qual as palavras não conseguem cobrir
e, por isto mesmo, não cessa de não se inscrever. O significante paterno
está foracluído, não conseguindo operar a substituição do desejo materno
(esta operação de substituição poderá ser examinada com minúcias no seminário “As formações do inconsciente”). Apesar de não desenvolver o assunto, é interessante acrescentar que mais tarde, no seminário “Sinthoma”,
Lacan tentará responder a pergunta se haveriam outras forclusões além do
Nome-do-Pai.
2) No seminário 17, “O avesso da psicanálise”, mais precisamente na
aula “Do mito à estrutura”, podemos nos deparar com a afirmação de que o
Real é o impossível. Assim, o mítico pai morto – garantia da interdição do
gozo – assume esta condição de impossível. Condição de estrutura para
uma subjetividade que se esforça em desconhecer esta impossibilidade. As
conseqüências são todas sensíveis na clínica, onde nos deparamos com as
mais diversas tentativas de (re) encarnação do S1 e do Pai da Horda primitiva.
3) No seminário citado acima e seguintes, particularmente no 21 “Les
non-dupes errent” até chegar ao 24 “L’insu qui sait de l’une-bévue s’aile a
mourre” (grafados no original por seu deslizamento homofônico). Vamos acompanhar um exaustivo desenvolvimento a respeito de que a verdade surge do
eqüívoco. Das surpresas de um “diálogo” com o outro. Este é um momento
onde Lacan está dizendo: a transferência é o engano que permite ao sujeito
aceder à sua verdade. O título do seminário pode ser lido homofonicamente
– “L’insu qui sait de l’une-bevue s’aile a mourre” e “L’insu qui-sait de l’unebévue, c’est l’amour” –, sendo uma das traduções possíveis para a língua
portuguesa “O insucesso do inconsciente é o amor”.
Estes são apenas alguns tópicos de um ambicioso empreendimento
para demonstrar, via psicanálise, como um sujeito pode sustentar-se em
uma referência fundamental à linguagem, sem que seja somente a referência
religiosa ou científica. Melhor dizendo; como o sujeito pode se reconhecer a
partir destas referências fundamentais e ir adiante em sua travessia.
O jogo de palavras aponta para uma eqüivalência entre os três registros, e, aqui, o Imaginário cobra toda sua importância em sua relação com o
Real e o Simbólico, fazendo com que a topologia dos nós seja fundamental.
Pois, para poder operar analiticamente, fazer atos, atualização do inconsciente, temos que ser “bobos” do inconsciente. Fazer o exercício de um desejo. Neste caso desejo do analista. Daí a importância de um deciframento que
não se reduz a uma questão de lógica geométrica, nem de regras gramaticais. Necessita da palavra do outro, faz do dizer uma condição de estrutura.
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
32
O Seminário “Les non-dupes errent”
Lacan faz, logo de início, uma observação a respeito de “la passe” – o
recomeçar algo que se acreditava haver passado.
Isto é o que ele denomina “la passe”. Unicamente isso: esta crença,
uma crença que dá possibilidade de perceber alguma coisa. Um certo relevo,
colocar em relevo o que foi feito. Este relevo está expresso pelo título do
seminário:
Les non-dupes errent
Colocando em ato o que é relevante na obra lacaniana. Tem este “ar”,
esta homofonia entre air – erre
Desta homofonia, deste jogo de sentidos e de palavras, é que ele vai
tratar de dar conta para tentar dizer o que é da ordem do inconsciente e,
33
SEÇÃO TEMÁTICA
fundamentalmente, como situar um lugar num espaço, determinado pelas
três dimensões que habitam o sujeito “falante”.
Aqui, mais um passo na primeira definição de passe: uma errância.
Um errar.
Então “Os não-bobos erram” e “Os nomes do pai”. Nestes dois “termos” colocados em palavras – é importante notar a maneira de Lacan enunciar, antecipar algo que pretende dizer. Ele acaba de afirmar que estes “termos” tem a mesma estrutura do dito espirituoso.
Nestas duas expressões trata-se do mesmo saber. Mas não do mesmo sentido, e isto não é só por regras gramaticais (razões de ortografia).
Mas pela relação do escrito à linguagem.
Temos aqui uma definição de sujeito: o inconsciente é um saber a
partir do qual o sujeito pode se decifrar. Definição de sujeito, tal como o
constitui o inconsciente.
É importante que esta definição não se esgote em si mesma, que
tenha algo de enigmático; pois, o enigma tem uma função, na medida em
que ele é o cúmulo do sentido.
Mais uma razão de manter uma função para o enigma, porque isto
permite ao sujeito imaginar. Não se imaginar, mas imaginar um sentido. Imaginar, tentar começar a elaborar uma compreensão. E não é preciso compreender muito rápido. Pois o Imaginário é uma dit-mansion tão importante quanto
as outras duas. O Imaginário é sempre uma intuição do que está para ser
simbolizado, que algo precisa ser simbolizado. Aqui o valor da palavra no
que ela permite de deslizamento, de encontro com esta polissemia, onde
podemos re-encontrar uma possibilidade de articulação entre verdade e mentira
– verdadeiramente. O verdadeiro mente, como o sentimental-mente. Assim,
podemos retornar ao diálogo pai-filho.
PEREIRA, R. de F. Dialogo entre pai e filho...
aqueles enigmáticos. A elaboração escrita dá-se a partir do que foi escutado. Um outro tempo de elaboração, suscitado a partir do que foi escutado
vindo do campo do Outro, mas veiculado por um efeito de transferência.
O que permite a escrita da elaboração (sempre parcial) são três
letras RSI, tomadas como significantes, onde cada um colocará algo de seu
para poder elaborar, produzir um saber a respeito de sua história ou de sua
cultura. Estas três letras, ordenadas de uma certa maneira podem mostrar a
escrita de um Nome. Possibilita se fazer um nome, perceber a escrita do
nome nas letras que não estão indicadas explicitamente, mas pontilhadas.
Isto permite um diálogo.
RSI – três letras, dimensões que possibilitam a constituição de um
pai e de um nome próprio, ao qual o sujeito, após seu deciframento, assume
como próprio. Nestes momentos, raros, onde um silêncio é oportuno e a
solidão de uma palavra não se confunde com a morte.
RSI são os Nomes do Pai
Já não importa tanto o que deveria ficar esclarecido, ou se aquela
deveria ficar como a conversa mais importante na novela de cada um. Talvez
nem fosse. Importa trabalhar com os efeitos. Estes que fizeram surpresa,
34
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
35
SEÇÃO TEMÁTICA
JERUSALINSKY, A. Brasil: um caso de politeísmo...
BRASIL: UM CASO DE POLITEISMO BEM-SUCEDIDO1
Alfredo Jerusalinsky
“Acreditamos que o real não está empenhado
em fazer fracassar todos nossos aparelhos e
quebrar todas nossas máquinas...”
(Jacques Lacan)2
“Deus é astucioso, mas é honesto.”
(Albert Einstein)
O MONOTEÍSMO E O SUJEITO DO INCONSCIENTE
O
mundo pós-capitalista não parece funcionar em harmonia com as
religiões monoteístas, que ordenaram as crenças sobre a origem e
o destino, nas sociedades ocidentais, durante os dois mil anos precedentes. É, notadamente, uma característica da pós-modernidade, a multiplicação a esmo de seitas e novas igrejas; a tal ponto que dá a impressão
que, se não fosse pela necessidade própria do fenômeno religioso apoiar-se
num efeito de massa, estaríamos nos encaminhando para que cada um pudesse ter sua religião individual. Paradoxalmente, o conceito de “liberdade
religiosa”, que – concomitante com o surgimento do conceito das “liberdades individuais” como expressão do estado de direito próprio do mundo moderno – estava originalmente destinado a garantir a comunhão de cada um
com as grandes expressões monoteístas de Deus, parece ter aberto a porta
para um “retorno infantil ao totemismo”, multiplicando os deuses como se
multiplicam os objetos nas vitrines dos shoppings.
Certamente, essa declaração de “liberdade religiosa” – retomada da
antiga reivindicação do cristianismo diante do Império Romano – teve, durante o surgimento da modernidade, uma finalidade conciliatória.
Conciliação, em primeiro lugar, entre a ciência e o cristianismo3 – que
deteve a Inquisição –; e, em segundo, termo pacificação das relações entre
as diferentes igrejas cristãs – que deteve os confrontos causados pelo processo da Reforma4. Houve disso dois grandes resultados políticos: a coexistência do cristianismo em geral com os Estados Modernos, e a prevalência
de uma referência única (embora sem reconhecimento universal) de Deus na
Terra, o Papa.
Mas, além desses efeitos buscados e desejados pela Igreja Católica,
se produziram outros não tão cômodos. O Estado Moderno não teve como
manter a consistência de sua racionalidade sem que esse conceito de “liberdade religiosa” se generalizasse, ou seja, passasse a legitimar outras formas religiosas – islamismo, hinduísmo, e outras muitas – pouco ou nada
compatíveis com o capitalismo e, em geral, com os modos de organização
social considerados necessários para a produção industrial5 e economia de
mercado. Assim, esse conceito, que durante os últimos séculos se oferecia
como o resultado mais elaborado após uma longa travessia pelo monoteísmo,
passou a ser sinônimo de conflito ao mesmo tempo em quese tornou corrosivo para aquilo mesmo que parecia sustentar.
3
Texto originalmente publicado no Jornal Zero Hora, Caderno de Cultura, Porto Alegre, 21 de
outubro de 2000.
2
Cf. Jacques Lacan, Seminário 3, As Psicoses.
As recentes Encíclicas Papais, reabilitando a Galileu Galilei, são a melhor demonstração
de que o impasse de trezentos anos após a suspensão do julgamento inquisitório não
passou de ser mais do que uma longa trégua conciliatória.
4
Confrontos que se mantiveram acesos ou se re-editaram com toda virulência quando as
formas religiosas excêntricas ao Vaticano foram tomadas como versões autôctones
resistenciais à versão única de Deus. Referente único da verdade e do Bem Comum necessário para a unificação desse país como nação moderna, garantindo sua entrada no
sistema de valor único que rege a economia de mercado. Assim, muito além de nossas
simpatias ou antipatias, aconteceu com a Irlanda, África de Sul, Chipre e, mais recentemente, com os paises eslavos.
5
Temos como vivo exemplo disso as instrumentalizações de resistência ao mundo tanto
capitalista como socialista, que fizeram, respectivamente, Komehini e Gandhi.
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
1
36
37
SEÇÃO TEMÁTICA
A idéia de Freud de que o edifício de nossa civilização ocidental repousa sobre uma base monoteísta, e que nisso o judeu-cristianismo tem
grande responsabilidade, parece ter bom fundamento6. A substituição das
crenças sincréticas por formas mais abstratas e invisíveis de Deus parece
ter alentado o respeito por princípios que se encontram além das aparências
(princípios mais simbólicos do que baseados na imagem que oferecemos ou
que contemplamos em cada um). Ao mesmo tempo, a sustentação de uma
idéia de Deus único abriu o caminho para a procura de verdades universais.
Universalismo que encontrou em Santo Tomás de Aquino sua primeira formulação como causa divina, e em Descartes seu viés de causa real.
A idéia de um Outro abstrato e geral, concebido como um imperativo
que resume o conjunto social e o torna inconsciente – proposta pela psicanálise –, é muito mais compatível com o modo como o monoteísmo transforma em mito religioso o “fundo de verdade” que há, em cada um, além do visível. Certamente, é mais difícil essa conjugação nas culturas em que as crenças se ordenam na exterioridade do ser por meio de sinais que os diferentes
Deuses oferecem para cada um (ou para o conjunto social), através das substâncias, animais ou personagens, nos quais eles supostamente se encontrariam presentes. Se, nestas formas culturais, as curas psíquicas operam-se, em geral, por meio da sugestão; naquelas, os procedimentos transitam necessariamente pelo campo seja da revelação de uma verdade oculta
nas profundezas do ser (sob o modo religioso: o exorcismo e a confissão),
seja pela via mais racional da interpretação (a enunciação de uma significação esquecida ou rejeitada contida nas matrizes lingüísticas que organizam
as relações de cada sujeito). Percebe-se, então, que – embora a necessária
oposição entre uma concepção lógico-racional do fundamento do ser, sustentada pela psicanálise, e uma concepção místico-dogmática exercida pelas religiões – a formulação judaico-cristã, que propõe uma relação intimista
6
Veja-se Sigmund Freud, Moisés e o monoteísmo, in: Obras Completas, Rio de Janeiro,
Imago.
38
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
JERUSALINSKY, A. Brasil: um caso de politeísmo...
com um deus único, é bem mais prática para a psicanálise. Digamos que
um sujeito assim ordenado – baseado na suposição de ser o dono e construtor de seu próprio destino, e com uma relação totalmente pessoal com um
Deus suposto como constantemente verdadeiro7 – é o paciente mais cômodo para o divã do analista.
Mas, onde Deus, certamente, tornou-se mais imprescindível foi no
processo da colonização. Ali, se requeria que a forma de saber reconhecida
fosse única e tivesse como referente tanto lógico quanto simbólico uma única versão.
O DEUS COLONIZANTE (OU: DANÇA COMIGO)
Quando Francisco Pizarro desembarcou nas praias peruanas, o Inca
Capac foi recebê-lo com dois mil guerreiros, mas sem atacá-lo. Frei Vicente
de Valverde alcançou para o Inca um volume dos Evangelhos, assinalando
que ali dizia que seu Rei era o único Rei (leitura particular e astuciosa de
“Deus Rei”, que desloca o caráter único do termo Deus para o termo Rei),
com o que, automaticamente, o Inca ficava privado de qualquer autoridade
sobre essas terras. Não concordando, o Inca foi preso e seus dois mil guerreiros eliminados “... por ser contra nossa fé”.
O equívoco maior – e por tanto o mais frutífero – foi cometido pelos
Jesuítas que levaram demasiado a sério a tarefa da catequização. Em lugar
de tomar o saber de suas origens como única fonte de saber, reconheceram
nos tupi-guaranis certas formas de saber derivadas e sustentadas na sua
intimidade com a natureza (fonte de seu panteísmo). Articulando essa
polissemia cultural com um ponto de referência não único, mas central, nasce a harmonia do barroco e uma versão original do cristianismo, que empres-
7
Veja-se no Seminário 3 (supra, nota 2) de Jacques Lacan: De um Deus que engana e Outro
que não engana.
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
39
SEÇÃO TEMÁTICA
ta a plantas e animais uma condição espiritual8, que até então somente tinha
transitado pelas escuridões demoníacas 9. Mesmo a mulher, exposta na sua
nudez indígena, deixa de ser uma representação das tentações do “Maldito”,
para passar a ser uma expressão de uma espécie de “paixão pura”, presente
no natural das coisas 10.
Mas, a admiração de Pero Vaz de Caminha já tinha antecipado o deslocamento da visão do paraíso para o cálculo da incalculável riqueza que as
novas terras escondiam. Dito de outro modo, estavam ali para integrar as
novas terras na unificação de uma nação moderna (os bandeirantes eram
marcadores de suas fronteiras), ligando-as ao sistema de saber europeu, e
não para modernizar a nação guarani. Esta ameaçava a unicidade da autoridade do rei (necessariamente único como Frei Vicente de Valverde o tinha
antecipado) e diversificava as verdades em jogo, portanto, teve que desaparecer. O barroco ficou, assim, reduzido a uma expressão puramente estética, recusando-se o que nele revela – por certo de modo escancarado – uma
ética diferente: a combinação dos universais com a polissemia. Dito de outro
modo, que uma verdade universal – seja ela um princípio moral, um modo de
gozar ou uma simples técnica – não funciona para todos da mesma maneira,
pelo simples fato de que em diferentes culturas tem uma significação diferente. Isto não ocorre porque o sujeito não possa compreender o que o outro
quis dizer, mas porque – embora possa traduzir à sua própria língua a proposição originária da língua estrangeira – os atos tem, em diferentes culturas,
um valor simbólico diferente, o que transforma a significação mesma das
palavras.
8
A Inquisição negava, por conta de Igreja, qualquer condição espiritual a plantas e animais,
considerando tais crenças como paganismo. Porém, não vacilou em condenar à forca ou à
fogueira ao redor de quatrocentos animais (geralmente domésticos, como porcos, jegues e
galinhas) durante os séculos da Inquisição, por julgá-los possuídos pelo demônio.
9
Pode-se consultar o interessante trabalho sobre o barroco produzido por Mario Fleig e
Conceição Beltrão no livro Imigração e Fundações, que foi lançado pela Artes e Ofícios, na
coleção Letra Psicanalítica.
10
Cabe perguntar se a pintura de Paul Gauguin teria sido possível sem este efeito indianista
sobre o saber europeu.
40
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
JERUSALINSKY, A. Brasil: um caso de politeísmo...
CULTURALÍNGUA
Assim, por exemplo, a suspensão do tempo de espera entre um acontecimento e a transmissão da sua notícia pode precipitar um significado que
venha a adquirir proporções trágicas. O valor de ato que a palavra tem em
diversas culturas africanas, somado à aceleração de sua transmissão, tem
provocado efeitos aterradores. Do mesmo modo que a ferocidade necessária
para intimidar o inimigo, no exercício da guerra, quando se esgrimem armas
primitivas de escasso valor mortífero, aplicada ao uso de armas de refinada
tecnologia mórbida, provoca conseqüências na ordem do horror.
A persistente corrosão dos organizadores simbólicos da vida africana
praticada pelos colonizadores, que unificaram forçadamente em supostas
nações modernas tribos e países das mais heterogêneas formas culturais,
esteve baseada na suposição de que bastava a substituição daquelas formas de saber por outras, que os amos consideravam “mais avançadas” ou
“mais verdadeiras” – ou que, dito de forma mais direta, se traduz em mais
ligadas aos seus propósitos. Mas, essa substituição suprime a cadeia de
filiação que permite ao sujeito encontrar uma sentido para sua vida, respondendo aos ideais de seus antepassados; elimina as significações particulares que, em cada cultura, têm ser homem ou ser mulher, o que elimina as
significações simbólicas do ato sexual; destrói os sistemas de identificação,
o que apaga para o sujeito sua posição no conjunto social: ele não é ninguém e tem que conseguir ser alguém a qualquer custo.
Fica em evidência como essa substituição forçada de saber provoca
inusitadas condições de violência: apagam-se os signos que marcam a posição da qual parte cada um para se apropriar legitimamente das coisas que
precisa. Conjugada com essa ‘violência de ter’, articula-se a violência de
‘ser’: o sujeito não é nada nem ninguém, somente um instrumento do amo.
Urge, então, para o escravo apropriar-se de alguma forma de saber. O
que ele tem mais à mão, mais perto e mais acabado, é o saber que o amo
lhe oferece “graciosamente”. Passa, então, a vestir-se como a nobreza do
século XVII e XVIII... no Carnaval. Penas e ouro, sedas e brasões, constitu-
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
41
SEÇÃO TEMÁTICA
em a máscara onde o escravo adquire o semblante de amo. Apenas por uns
dias ele é Rei11. Desta posição, em contraste flagrante com seu quotidiano,
interroga suas origens e retoma o fio de seu saber: um politeísmo mágico.Sem
expulsar o Deus único, adquirido como sintoma de sua desgraça (afinal de
contas Jesus Cristo é um personagem bem adaptado à identificação do escravo no seu calvário), o escravo e seus herdeiros incorporam-no a uma
comunidade maior: a dos orixás.
A terminologia africana, que se conserva mais pela via do saber religioso do que pela via do sistema lingüístico, permeia o português e, conjuntamente com o tupi-guarani, torce sua fonética. Introduz nela um ritmo que
encanta o mundo todo: é um ritmo que simboliza a estranha coexistência
entre três deuses. Estranha porque essa coexistência, em outras latitudes,
tem assumido contornos de enfrentamentos trágicos ou, atualmente, formas
de racismo e discriminação oculta. Entre o panteísmo indígena, o politeísmo
africano e o Deus único europeu tem-se articulado uma teia simbólica que
reconhece diferentes posições de “arrebite”. Nós que funcionam como estações alternativas de decodificação, permitindo a coexistência de significações diversas e simultâneas, sem que cada uma pretenda eliminar o valor de
verdade da outra. O sujeito fica a salvo, por essa via, de lhe ser exigido que
seja um e somente um. O brasileiro cumpre, então, a consigna da modernidade, que o convoca a ser polissêmico ao mesmo tempo que universal,
mas se nega a obedecer à consigna do individualismo, e por isso é, antes do
que nada, cordial12.
JERUSALINSKY, A. Brasil: um caso de politeísmo...
O QUARTO DEUS NÃO É CORDIAL
Há algo que rompe a boa vizinhança entre imigrantes europeus, tupis
e herdeiros dos africanos deportados para este, nosso, país. É a obrigatoriedade de ser um e somente um, introduzida pela economia de mercado,
que requer a construção de um consumidor típico. Desconhecendo qualquer
diferença de filiação – o que leva à fantasia de autogeração –; qualquer diferença na simbolização dos sexos – o que leva à postura unissex, bissex ou
multissex –; e apagando o papel diferenciado de cada um – o que conduz a
valorizar os traços de aparência –, o imperativo de fazer da posse do objeto
o valor de qualquer sujeito apaga a cordialidade e devolve esse delicado
tecido, cuidadosamente trançado durante quinhentos anos, para o terreno
do real.
Saudades da época dos mil-réis, quando a moeda não era real, mas
simbólica, quando os reis eram plurais. Saudades, não porque aquela época
fosse necessariamente melhor, mas porque cumprir o imperativo de nos unificarmos como nação moderna, construir a imagem típica do consumidor
necessário à globalização, pode transformar um politeísmo, até aqui interessante e frutífero, num totemismo infantil e, por isso, cruelmente real.
11
A resistência dos escravos brasileiros atravessou o terreno da simbolização da postura
arrogante e supérflua do amo. Contrariamente à oposição extremamente real que, no Haiti,
desfechou a rebelião dos negros que eliminou todos os brancos. Como conseqüência disso,
os negros adotaram os nomes franceses de seus amos; enquanto, no Brasil, os brancos
adotaram práticas mágicas e africanistas.
12
Tomamos aqui o conceito de Sérgio Buarque de Hollanda, proposto no seu livro “Raízes do
Brasil”.
42
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
43
SEÇÃO DEBATES
MACCHI, F. Jandl não há mais.
JANDL NÃO HÁ MAIS
Fabiana Macchi1
Às vésperas de completar 75 anos,
morreu em Viena o poeta austríaco Ernst Jandl,
expoente da poesia experimental de língua alemã.
C
hamado de “acrobata da linguagem”, Ernst Jandl desenvolveu ao
longo de cinco décadas um trabalho denso e extremamente inovador. Escreveu radiopeças (um gênero esquecido e de pouca tradição
na literatura brasileira, mas fortemente presente nas literaturas de língua
alemã), peças de teatro, crítica e ensaios sobre literatura, estética e poética.
Traduziu para o alemão poetas como Robert Creeley, W. H. Auden e
Gertrude Stein, entre outros, além de ter gravado inúmeros discos e cds
juntamente com músicos de jazz. Mas foi com a poesia e suas leituras,
acompanhado por grupos de jazz, que Jandl alcançou grande popularidade.
Diz-se que um autor se torna um clássico quando se publicam suas obras
completas. Querelas à parte, Jandl é um clássico. E não apenas porque em
1985 saíram três grossos volumes – esgotados há muito – com suas obras
completas e, mais recentemente, em 1997, foram reeditados 11 volumes
com a obra completa atualizada, também já esgotados.
Autor várias vezes premiado, inclusive com o prêmio Georg Büchner,
o mais importante da literatura alemã, ele é o divisor de águas da poesia
alemã do pós-guerra. Suas leituras e performances, realizadas em grandes
teatros, lotavam a casa e deixavam muita gente do lado de fora. Um público
cativo e entusiasmado escutava o senhor corpulento e de baixa estatura ler
seus poemas com a precisão de um músico clássico e uma concentração
comovente, de quem está por inteiro naquilo que faz. E que não se pense em
show e altivez: num canto do palco mesa e cadeira, Herr Jandl chegava com
simplicidade, de terno sem gravata, tirava o paletó colocando-o no encosto
da cadeira, dobrava as mangas da camisa, arrumava cuidadosamente seus
poemas-partituras sobre a mesa e se transformava numa das coisas mais
fortes e impressionantes que vi na minha vida.
Sua popularidade, entretanto, não deixa de ser intrigante, pois Jandl
não fez concessões. Suas invenções com a linguagem são complexas e
sua ironia é acirrada. Jandl fala da guerra, critica e ironiza a sociedade burguesa, fala da morte, do cotidiano, da transitoriedade de tudo, de descrença.
Mas fala também de forma simples, sem contudo correr o risco de ser superficial.
É provavelmente o lirismo, o humor e o prazer lúdico dos jogos de
linguagem que cativam o público. No poema “dois gestos distintos”, tem-se
essa dimensão:
“eu me benzo
em frente a cada igreja
eu me ameixo
em frente a cada pomar
como faço o primeiro
qualquer católico sabe
como faço o último
só eu”
Tradutora, professora na Universidade de Mainz (Alemanha) e doutoranda em Germanística
Intercultural na mesma universidade. Todas as traduções são de autoria de Fabiana Macchi.
© Fabiana Macchi 2000.
A questão colocada por Adorno, da impossibilidade da poesia após
Auschwitz, referindo-se à necessidade de uma ruptura estética, de uma estética que não harmonizasse contradições, Jandl resolve corrompendo a língua alemã – de estrutura complexa e rígida –, ignorando declinações e classes de palavras, fazendo uso da linguagem falada, do dialeto, da fala errada
dos imigrantes estrangeiros, enfim, subvertendo e negando a poesia bemcomportada de valores burgueses. Jandl usava e abusava de onomatopéias
e jogos de palavras, destruía (ou, se quiserem, desconstruía) as palavras
para criar outras, multiplicando seus significados e remetendo-nos a um novo
universo de significação. Em alguns poemas ele reduzia as palavras a cacos
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
1
44
45
SEÇÃO DEBATES
MACCHI, F. Jandl não há mais.
(a sílabas, a letras) e as reencaixava em palavras-criações, fazendo – à
maneira de Joyce – com que o novo significado se construísse a partir de
associações, de assonâncias, de semelhanças.
Amante do jazz, algumas de suas poesias recriam os ritmos
jazzísticos, outras imitam o canto do jazz, sem a articulação de palavras,
mas apenas de sons e sílabas. A palavra se esfacela em mera massa sonora, sem significado direto, e constrói o poema através de ritmo e melodia,
como se fosse música. No poema “a love story”, por exemplo, Jandl usa a
língua como matéria sonora e visual e nos apresenta um caso amoroso em
onze capítulos, desde o início, passando pelo desgaste até a solidão do
adeus final: “a love story, pelo amor de deus p pe pel elo eloa mor mord rdeus
eus ss s”. Em sua opinião “não há alternativa para aquilo que se tem a dizer.
Já para a forma e a maneira de se dizer algo existe uma quantidade
indeterminada de possibilidades. Há poetas que dizem um mundo de coisas, e sempre da mesma forma. (...) Mas afinal só há uma coisa a ser dita,
e sempre de forma diversa”. E esta mesma idéia, poeticamente formulada –
o poema se chama “conteúdo” –, fica assim:
“para fazer um poema
eu não tenho nada
uma língua inteira
uma vida inteira
um pensamento inteiro
uma memória inteira
para fazer um poema
eu não tenho nada”
Nascido em Viena em 1925, foi exatamente num ambiente pequenoburguês que Jandl herdou o gosto e a sensibilidade pelas artes (o pai, bancário, desenhava e pintava nas horas vagas, e a mãe, professora, escrevia
poemas e pequenos contos), além de uma forte tradição católica, que mais
tarde se faria presente na sua obra em forma de ironia e negação.
Em 1938, quando a Áustria foi anexada ao Terceiro Reich, Jandl já
havia descoberto a poesia dos expressionistas, a pintura abstrata, o jazz e a
música atonal, elementos que viriam a desempenhar um papel fundamental
46
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
na sua poesia. Suas primeiras publicações datam de 1952. A partir de 1957,
publica “poesiasverbais”, e seu primeiro disco com leitura destes poemas
data de 1966.
Jandl viveu para a poesia. Não casou, não constituiu família. Escritor
politicamente engajado (não partidário!), quatro dias antes de sua morte participou de uma manifestação contra o corte de verbas para a literatura. “Escrever me interessa sobretudo como possibilidade de produzir arte”, diz. E
continua: “Em meus poemas a linguagem é utilizada de tal maneira que não
se tem a impressão de que nada aconteceu. Pelo menos era isso que eu
queria. Algo que arrancasse as pessoas de suas poltronas”. E arranca. Arranca a academia de suas certezas. Jandl não se deixa rotular. Exige repensarmos o metro.
Ele mesmo se situa:
“eu não quero ser
como vocês me querem
eu não quero ser vocês
como vocês me querem
eu não quero ser como vocês
como vocês me querem
eu não quero ser como vocês são
como vocês me querem
eu não quero ser como vocês querem ser...”
E ele mesmo nos consola no poema “um lema”:
“grandes vôos e
pequenos passos
não temo aqueles
e não desprezo estes
cada qual no seu
meu momento
que terá
fim”.
Silêncio na rua Wohllebgasse. Jandl morreu.
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
47
SEÇÃO DEBATES
RESENHA
O OBSTÁCULO DA TEORIA
LANDA, Fabio. Ensaio sobre a criação teorica em psicanálise: de Ferenczi a Nicolas Abraham e Maria Torok. São
Paulo : UNESP, 1999. 319p.
“Cuidado: de tanto brincar de fantasma
nos tornamos um”.
Roger Caillois
Ernst Jandl, o divisor de águas da poesia alemã contemporânea.
Jandl lia seus poemas acompanhado de músicos de jazz.
48
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C
ertamente todos os campos do conhecimento se confrontam, em maior ou
menor grau, com maior ou menor determinação, com o desafio de pensar o lugar da
teoria em sua prática. Esses pensamentos, se conduzidos ao limite de seus
efeitos, podem eventualmente revelar certas resistências da “teoria” em se
deixar interpelar pela clássica indagação: para que serve? Protege-se, muitas vezes, em silêncio, da revelação de uma genealogia de sua natureza.
Aliás, justamente pelo fato de ser, por vezes, vivida como natural por aqueles
que a praticam é que a dimensão crítica de seu estatuto se esvanece diante
da potência narcísica de seus adeptos. Em que a psicanálise poderia contribuir para essa reflexão?
Encontramos alguns esboços de resposta no excelente livro que nos
oferece Fábio Landa, “Ensaio sobre a criação teórica em Psicanálise – de
Ferenczi a Nicolas Abraham e Maria Torok” (Editora Unesp, 1999). Seu fio
condutor segue a trilha da porta aberta por Elias Canetti, em Massa e Poder:
“Não há nada que o homem tema mais que o contato com o desconhecido.
Quer ver o que vai tocá-lo, quer poder reconhecê-lo ou, em todo caso, classificálo. Sempre o homem se esquiva do contato insólito” (p. 9). O autor inicia seu
livro com este fragmento, e os desenvolvimentos que seguem mostram a
íntima relação entre teoria e resistência, revelando, de forma categórica, o
quanto o saber pela via do conhecimento vem inúmeras vezes fazer sombra
à verdade.
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
49
RESENHA
RESENHA
Essa é a grande inovação freudiana, à qual Fábio Landa vem apontar
inúmeras conseqüências. A ressonância particular que a psicanálise produz
no debate, evidencia, por exemplo, a riqueza de um conceito como o de
transferência, na medida em que este nos permite ver o quanto as densidades e espessuras teóricas podem funcionar como obstáculos ao olhar. É por
isso que podemos pensar a teoria no campo da psicanálise como uma formação do inconsciente e não nos surpreender quando identificamos a presença viva da fantasia de seus autores em muitos projetos teóricos da
metapsicologia. Freud, como sabemos, criou sua metapsicologia para dar
conta dos pontos cegos que encontrava na atividade de escuta de seus
pacientes. Podemos pensar, portanto, a teoria como metáfora da transferência.
O livro de Fabio Landa, assim como a casa de vidro construída por
Bruno Taut, em 1914, nos mostra a transparência opaca. A experiência da
criação teórica em psicanálise é muito bem definida por este oxímoro, pois
toda condição de visibilidade nesse campo só pode ser pensada a partir de
seus obstáculos, de sua opacidade ou, como queria Freud, pela via do sintoma.
Buscar a eloqüência do sintoma é restituir a palavra aprisionada e
reverter o silêncio que empobrece a experiência. A arquitetura de vidro, como
bem nos indica Walter Benjamin, veio contribuir para dar forma à subjetividade do homem moderno, denunciando com essas utopias a ficção do sonho
de transparência. Desta forma, seria interrogada de forma radical a “ilusão da
decifração” (p.145).
Se seguimos os desenvolvimentos de Ferenczi, Nicolas Abraham e
Maria Torok, não poderemos mais nos surpreender com o lado sombrio do
conhecimento. Essa cegueira subjetiva é que ilumina o objeto teórico que
vemos. É do reconhecimento e da crítica a essas posições que uma nova
nominação, quem sabe, pode advir. Jacques Derrida, em seu ensaio “Fora –
As palavras angulosas de Nicolas Abraham e Maria Torok”, que foi publicado
como posfácio ao livro, insiste sobre o quanto esse reconhecimento poderia
ser pensado como a introjeção que fala, à qual ele opõe a incorporação que
se cala.
Depois da leitura desse livro, não há como nos surpreender diante da
afirmação de Roger Caillois, quando este nos diz em “O mito e o homem”:
“O conhecimento tende à supressão de todas as distinções, à redução de
todas as oposições, de maneira que seu objetivo parece ser o de propor à
sensibilidade a solução ideal do seu conflito com o mundo exterior”. Poder
interrogar a teoria, não só no que ela ilumina, mas no que ela também esconde, é a aposta que Fábio Landa coloca em cena.
O autor percorre a obra de Ferenczi, Abraham e Torok, organizando
sua reflexão em quatro grandes capítulos e desenvolvendo, em cada qual,
um conceito-chave. Primeiramente, discorre sobre a distinção entre a introjeção
de pulsões e a incorporação de objeto; em seguida, desenvolve o conceito
de símbolo, fazendo sobretudo uma detalhada leitura do polêmico texto de
Ferenczi, “Thalassa”; em seguida ainda, apresenta e discute o conceito de
anasemia, que, segundo Landa, é o ponto de partida da teoria de Nicolas
Abraham ; e, finalmente, conclui seu percurso com uma reflexão sobre a
noção de cripta, que será amplamente retomada por Derrida no ensaio final
do livro.
Percorrer o livro de Fábio Landa é como entrar numa das passagens
parisenses, imortalizadas pelas palavras precisas de Benjamin. Encontramos o espaço do devaneio fundamental em toda reflexão que se pretende
criativa. A densidade teórica que apresenta não afugenta os espíritos da
poesia, pois, como ele mesmo lembra, a psicanálise tem que ser pensada
como “poética da auto-criação”. Privar a prática e a reflexão clínica deste
caminho é, sem sombra de dúvida, perder o essencial dessa experiência
que deveria caminhar no caminho contrário ao da “teologização do objeto da
psicanálise”, como sublinha Nicolas Abraham. Certamente, trata-se de uma
leitura essencial que vem nos trazer algumas luzes sobre nossos passos,
por vezes hesitantes, na construção de teoria em psicanálise.
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
50
Edson Luiz André de Sousa
51
RESENHA
RESENHA
SEM MEDO DA FRATRIA
KEHL, Maria Rita. (org.) Função fraterna. Rio de Janeiro :
Relume-Dumará, 2000. 244p.
E
xistem novos sintomas referentes ao
mal-estar civilizatório, isso qualquer clínico pode atestar, o que sim podemos
indagar é se são novas máscaras para velhas
angústias ou se temos de fato novos sintomas.
Outra forma para essa mesma questão é pensar se temos hoje novas formas de subjetivação.
Quem está acostumado com a contribuição da psicanálise na tentativa de entender as
mazelas contemporâneas é provável que já tenha ouvido a expressão “declínio da função paterna”. Lacan, que trabalhou
bem o tema, era mais preciso: “declínio social da Imago paterna”. Tal expressão geralmente é apresentada para dar suporte a interpretações das mais
variadas manifestações das novas formas de padecimento. Mas afinal o que
querem dizer com isso?
Alguns dos novos sintomas que nos afligem ocorreriam porque o pai
não seria mais o centro e o organizador das garantias da subjetividade, o pai
teria enfraquecido. Na verdade, não se trata do pai (esse homem que concebe e educa um filho). Releiam a expressão inteira: apenas o pai encarnaria
uma função, representaria uma espécie de articulador.
Modificando a Imago paterna, no sentido de uma perda de poder, força
ou efetividade, uma série de conseqüências subjetivas são esperadas. O
interesse dos psicanalistas se encaminha para novas formas de patologia,
ligadas principalmente às fragilidades: crises de pânico, maior número de
depressivos, personalidades boderline, etc. Enfim, a clínica produz novas
charadas, e a psicanálise lança-se no encalço de sua decifração.
Numa análise, verificamos o quanto um sujeito sua para viabilizar um
destino. Os sintomas se constróem em uma tênue margem de liberdade
52
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
frente aos grilhões com que uma rígida moral internalizada prende o sexo e,
com ele, toda a fertilidade de uma vida. O pai representa uma educação
limitadora. A mãe uma tentação ilimitada. Os sintomas, uma negociação
possível com estes parâmetros. Se num primeiro momento as neuroses estavam ligadas a uma inflação do lugar paterno, de um pai que asfixiava o
sujeito, opressivo na sua inflexibilidade, agora passam a ressentir-se e queixar-se de sua rarefação.
Na verdade, existe uma contrapartida leiga de tal compreensão, só
que toma o caminho inverso e cai numa melancolia queixosa pela falta que o
pai faria. Não é difícil escutar que “os bons tempos não voltam mais”. Tempos de cada coisa em seu lugar, um tempo em que a ambiguidade e a
relatividade não existiam. Homem era homem, mulher era mulher, Deus estava no lugar certo e o mundo sabia para onde ia.
Tendo compreendido sempre o “pai” como uma função, uma espécie de
cofre vazio, onde cada tempo guarda seus valores, não foi estranho aos
psicanalistas começar a escutar as queixas sobre o conteúdo e valor deste
tesouro. A psicanálise não pôde pegar o compasso nostálgico, pois nunca
acreditou nesse pai como uma entidade efetiva, ele nunca existiu, apenas
entende que faz parte da subjetividade moderna a ilusão de uma idade de
ouro do pai tradicional.
O próximo passo é perguntar o que se faz depois disso? Como lidar
com esse novo momento, se o pai não dá mais garantia para nossas parcas
certezas? Quem poderá fazê-lo? De onde podem vir novas formas de
subjetivação? Será que todos os laços sociais vão depender de um pai (vivo
ou morto) que faça de terceiro aos semelhantes? Estamos fadados a essa
única forma de subjetivação? Estimulada por esse tipo de perguntas Maria
Rita Kehl, psicanalista paulista, organizou um livro – “Função fraterna”. A
obra é o conjunto das respostas de alguns de seus colegas à pergunta que
ela faz: qual seria a função social possível dos irmãos? Qual o alcance possível do laço fraterno? Podem os irmãos, os semelhantes, os que são de
uma mesma geração ou experiência, criar laços que façam uma função, que
antes era paterna, com a mesma efetividade?
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
53
RESENHA
RESENHA
Trata-se de um projeto ambicioso. A pergunta desdobra-se: estamos
diante de novas possibilidades de subjetivação? Precisamos de um novo
paradigma para dar conta das subjetividades contemporâneas? Enfim, a função fraterna aponta para um novo conceito?
Os que respondem ao chamado são figuras representativas da renovação da psicanálise brasileira: Jurandir Freire Costa, Luis Cláudio Figueiredo,
Ana Costa (a única Porto-alegrense), Leandro de Lajonquiére e Joel Birman.
A própria organizadora também tenta definir o que seria esse laço fraterno.
Em excelente ensaio, analisa o grupo de rap Racionais MC’s como exemplo
do que ela anda querendo teorizar.
A idéia tem tudo para ser antipática aos analistas. Existe um consenso entre eles, mesmo entre as mais variadas tendências, de que, sem uma
referência paterna, os irmãos só fazem o pior. O edifício freudiano não pode
ser pensado sem uma figura central de pai. Começar a questionar isso é
pecado capital. A crítica vem rápida, sem alguém que faça a função paterna
o que temos é a psicose. Talvez essa seja a resistência mais difícil: fazer
crer aos analistas que uma iniciativa dos irmãos nem sempre seria parricida,
não necessariamente haveria um pai oculto e poderia não desembocar na
barbárie, na perversão, tampouco na psicose.
Na verdade, não se trata de substituir a função paterna pela fraterna,
mas de como a frágil amarração da função paterna pode ser escorada pelos
irmãos e quais as conseqüências desse apoio.
As instituições analíticas são a própria prova da dificuldade dos analistas em lidar com os iguais. Salvo raras exceções, as instituições só subsistem na medida em que se escoram num pai fundador. A dispersão atual
dos analistas é o fruto de não se entenderem enquanto pares, por isso as
associações de analistas se contam às centenas.
Para a psicanálise o nascimento subjetivo se dá quando alguém se
descola da “mãe”, também entendida aqui como um articulador que transcende à senhora que ocupa o cargo. A mãe é o lugar de origem, e o parto
não termina no centro obstétrico, é o longo e doloroso processo de construção de um ser humano diferente daquele que o gerou. Quem faz essa função
de separar mãe e bebê é que é chamado de “pai”, aliás pode nem ser um
homem, pode ser qualquer um, pode estar ausente mas presente na fala da
mãe.
Que as relações humanas continuem a ser pensadas a três não é
a questão desses autores, precisamos algo que opere o corte do cordão
umbilical neste outro parto, o subjetivo. A questão é se devemos esperar que
esse “terceiro” seja exclusivamente paterno ou se outra coisa possa surgir.
Haveria um novo laço social em curso?
A verdade é que somos todos órfãos. De deuses, de utopias, de ideologias, de alguma coisa que faça âncora. Uma das maneiras de definir nosso
momento histórico é o de falta de garantias. Não há nada nem ninguém que
aponte caminhos seguros. Será que não é tempo da psicanálise também
aventurar-se a relativizar suas certezas sobre a preponderância da função do
pai?
Mario Corso
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
54
55
AGENDA
Capa: Manuscrito de Freud (The Diary of Sigmund Freud 1929-1939. A chronicle of events
in the last decade. London, Hogarth, 1992.)
Criação da capa: Flávio Wild - Macchina
DEZEMBRO – 2000
Dia
02
Hora
9h-12h
Local
Novo Hamburgo
04
06, 13,
20 e 27
06,13
20 e 27
07
07 e 21
08
20h30min
18h30min
Sede da APPOA
Sede da APPOA
20h30min
Sede da APPOA
21h
20h
18h15min
Sede da APPOA
Sede da APPOA
Sede da APPOA
11 e 18 20h30min
12
20h30min
16
9h-14h
Sede da APPOA
Sede da APPOA
Sede da APPOA
21
Sede da APPOA
21h
Atividade
Seminário “A psicossomática: interdisciplina
e transdiciplina” - Responsável Jaime Betts
Reunião da Comissão da Home Page
Seminário “O método psicanalítico”- Responsável: José Luiz Caon
Seminário “A técnica psicanalítica”- Responsável: José Luiz Caon
Reunião da Mesa Diretiva
Reunião da Comissão de Biblioteca
Seminário “A topologia fundamental de
Jacques Lacan” - Responsável: Ligia Víctora
Reunião da Comissão do Correio da APPOA
Reunião do Serviço de Atendimento Clínico
Seminário “Teoria e clínica psicanalítica na
adolescência” - Responsável: Rodolpho
Ruffino
Reunião da Mesa Diretiva aberta aos membros da APPOA
ASSOCIAÇÃO PSICANALÍTICA DE PORTO ALEGRE
GESTÃO 1999/2000
Presidência - Alfredo Néstor Jerusalinsky
a
1 . Vice-Presidência - Lucia Serrano Pereira
2a. Vice-Presidência - Maria Ângela Brasil
1o. Tesoureiro - Carlos Henrique Kessler
2a. Tesoureira - Simone Moschen Rickes
1o. Secretário - Jaime Alberto Betts
2a.Secretária - Marta Pedó
MESA DIRETIVA
Ana Maria Gageiro, Ana Maria Medeiros da Costa, Ana Marta Goelzer Meira,
Cristian Giles, Edson Luiz André de Sousa,Gladys Wechsler Carnos,
Ieda Prates da Silva, Ligia Gomes Víctora, Liz Nunes Ramos,
Maria Auxiliadora Pastor Sudbrack, Mario Fleig, Robson de Freitas Pereira,
e Valéria Machado Rilho.
EXPEDIENTE
Órgão informativo da APPOA - Associação Psicanalítica de Porto Alegre
Rua Faria Santos, 258 CEP 90670-150 Porto Alegre - RS
Tel: (51) 333 2140 - Fax: (51) 333 7922
e-mail: [email protected] - home-page: www.appoa.com.br
Jornalista responsável: Jussara Porto - Reg. n0 3956
Impressão: Metrópole Indústria Gráfica Ltda.
Av. Eng. Ludolfo Boehl, 729 CEP 91720-150 Porto Alegre - RS - Tel: (051) 318 6355
PRÓXIMO NÚMERO
UMA ODISSÉIA NA LINGUAGEM
56
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
Comissão do Correio
Coordenação: Maria Ângela Brasil e Robson de Freitas Pereira
Integrantes: Ana Laura Giongo Vaccaro, Francisco Settineri, Gerson Smiech Pinho,
Henriete Karam, Liz Nunes Ramos, Luis Roberto Benia, Luzimar Stricher,
Marcia Helena Ribeiro e Maria Lúcia Müller Stein
S U M Á R I O
EDITORIAL
1
NOTÍCIAS
3
SEÇÃO TEMÁTICA
O QUE ESTÁ EM JOGO
NA ADOLESCÊNCIA DE
NOSSOS FILHOS?
Rodolpho Ruffino
SE É POSSÍVEL ESCREVÊ-LO...
Ligia Gomes Víctora
DIÁLOGO ENTRE PAI E FILHO
SEGUIDO DE ALGUMAS NOTAS
Robson de Freitas Pereira
BRASIL: UM CASO DE
POLITEÍSMO BEM-SUCEDIDO
Alfredo Jerusalinsky
10
SEÇÃO DEBATES
JANDL NÃO HÁ MAIS
Fabiana Macchi
44
RESENHAS
“ENSAIO SOBRE A CRIAÇÃO
TEÓRICA EM PSICANÁLISE”
“FUNÇÃO FRATERNA”
49
AGENDA
56
11
23
30
36
44
49
52
N° 86 – ANO IX
DEZEMBRO – 2000
OS NOMES-DO-PAI
SEÇÃO TEMÁTICA
60
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
61
SEÇÃO TEMÁTICA
62
C. da APPOA, Porto Alegre, n. 86, dez. 2000
Baixar