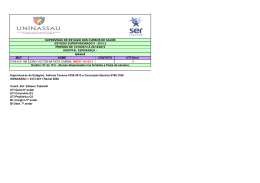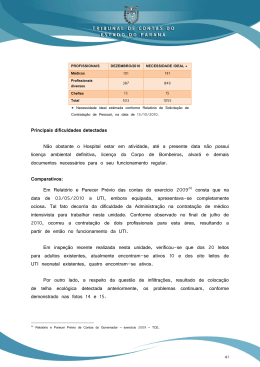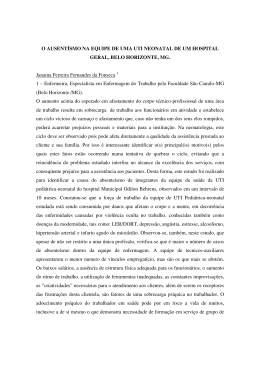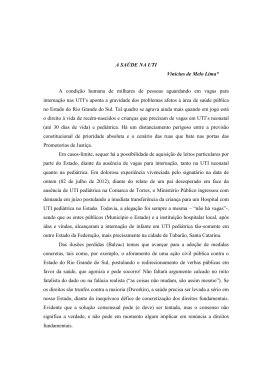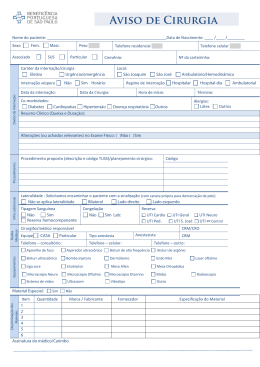Edição 2336 28/08/2013 Lições de uma vida na UTI Aos 69 anos, o cardiologista paulista Elias KnobeI acumula duas sólidas carreiras. Em 1972, fundou a UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde ocupou o cargo de diretor ao longo de 32 anos. Ele foi pioneiro ao liberar visitas na UTI, marco de humanização na área de medicina intensiva. Atualmente, ocupa a vice-presidência do hospital. Knobel é também um ótimo escritor. Com dezoito livros publicados, já vendeu 100000 exemplares e acaba de lançar Vivências e Confidências - Histôrias Médicas. Em entrevista a VEJA, Knobel faz uma análise delicada de sua profissão e relembra, com emoção, um dos momentos mais tocantes de seu mais recente trabalho - sua relação como médico com a morte do pai, vítima de problemas circulatórios. "MEDICINA BUSINESS" Meu maior patrimônio profissional é ter me formado no tempo em que cuidado central da medicina era paciente, e não o retorno financeiro trazido por um procedimento. Salvo em algumas situações, vivemos em um momento que defino como "medicina business". Os grandes centros médicos procuram, acima de tudo, bons resultados econômicos com rapidez e eficiência. O que interessa é atender um número enorme de pessoas ao mesmo tempo. Os tratamentos têm de ser extremamente objetivos. Os hospitais estão escravos das planilhas e os médicos cultuam exageradamente os protocolos. Costumo dizer que os problemas em minha profissão se explicam por meio de quatro palavras que começam com a letra "d", O paciente está despersonalizado, o médico está desprofissionalizado, a assistência médica está desumanizada e a medicina, descaracterizada. Essa é uma postura americana, que o Brasil adotou em cheio, sobretudo na última década. Não dá para ser poeta. Afinal, a medicina tem de ter um resultado financeiro para se sustentar e crescer. É possível ter lucro considerando o paciente não como um número - talvez um pouco menos de lucro, claro. É preciso encontrar um meio-termo. Caso contrário, a qualidade degringolará rapidamente. Em vez de salvar vidas, a medicina passará a pô-las em risco. O TOQUE DAS MÃOS O refinamento tecnológico ocorrido na área de diagnósticos nos últimos anos mudou o rumo da medicina, para melhor, evidentemente. Há aparelhos que identificam tumores minúsculos e evitam mortes. Há exames que detectam problemas que o toque da mão do médico e a conversa não conseguem. Mas os médicos estão abusando desses exames porque avaliar o paciente com o simples toque da mão não rende nada aos laboratórios e aos hospitais. Cerca de metade dos exames de ressonância magnética não precisaria ser feira - o resultado é absolutamente normal. Outro exemplo: 40% dos pacientes que chegam ao consultório com dor torácica não têm problemas de coração. Ou seja, não precisariam ser submetidos a exames de imagem. Uma conversa já bastaria. O VALOR DO TEMPO O maior defeito da "medicina business" é o desprezo pelo tempo. Uma consulta, por exemplo, seja ela no consultório ou no hospital, não deveria durar menos de trinta minutos. A média no Brasil e nos Estados Unidos, no entanto, é de quinze minutos. Outra situação inadequada é o modismo atual de os médicos encaminharem seu paciente para assistentes antes de chegar a ele. Eu poderia ter um, se quisesse. Conseguiria atender um número muito maior de pessoas, mas sem a mesma qualidade. Desse jeito, é praticamente impossível lidar com o emocional do paciente. Em muitos lugares, o médico virou um transcritor de receita médica. Em geral, um paciente que chega ao consultório com dor no peito é submetido apenas a uma avaliação mais óbvia e automática. Checam-se taxas de pressão arterial, colesterol, tabagismo e hábitos alimentares. Na maior parte dos casos, não se investiga uma questão tão ou mais perigosa ao coração - o fator emocional. O paciente está deprimido? Ansioso? Sofre de pânico? Tais fatores, por si só, aumentam o risco de infarto em cerca de 30%. Mas não há aparelho capaz de medi-los. É preciso ter tempo para isso. Nem sempre consigo manter essa postura, no entanto. Às vezes sou obrigado a pedir uma quantidade enorme de exames porque "não fica bem" não pedir. O paciente e os familiares insistem muito. MÉDICOS IMPORTADOS Muito se tem discutido sobre a nacionalidade dos médicos estrangeiros que virão trabalhar no Brasil sob a organização do governo federal. Cubanos? Espanhóis? Acredito até que os cubanos poderiam ter uma noção melhor da medicina de base do que os europeus. Mas a questão a ser tratada deve ser outra. Quais são as condições para esse médico trabalhar no Brasil? Apenas metade das cidades do interior brasileiro tem laboratórios e hospitais bem equipados. Se o médico for um bom profissional, não concordará em trabalhar em um lugar sem o mínimo de infraestrutura. Pode-se oferecer o salário que for que ele não vai. "UM PATIFE" Trabalhar em uma UTI transforma qualquer ser humano. No início, eu me sentia poderoso ao ser o responsável por decisões de vida ou morte, em um contexto extremado. Depois, no dia a dia, ao presenciar tantas perdas e sofrimentos, me tornei um chorão. Sou um patife. Certa vez, um grande amigo meu, dez anos mais novo, paciente da minha UTI, teve câncer de pulmão. Pouco ames de morrer, ele me chamou. Queria se despedir. Não fui. Não consegui. Às vezes cogito deixar de tratar pacientes graves para parar de ver o que vejo. Quando penso em fazer isso, porém, lembro do meu maior prazer na medicina. O tête-à-tête com o paciente. Qual é o meu círculo de amizades? Os pacientes. Costumo, inclusive, fazer uma coisa pouco ortodoxa. Eu me abro com eles. Digo que estou com enxaqueca, comento alguma viagem que fiz. E assim estabeleço relações de profunda amizade com eles. O CASO MAIS DELICADO A doença de meu pai me fez sentir profundamente impotente. Ele sempre falou para mim: "Estou tranquilo, você vai me ajudar no dia em que eu estiver mal". Meu pai morreu em 22 de maio de 2011, em decorrência de complicações circulatórias, aos 99 anos. Seria praticamente impossível viver além disso. Ele ficou quatro anos lutando contra a doença. Nos últimos meses, quando ele já estava semiconsciente, cheguei a autorizar uma transfusão de sangue para aplacar uma hemorragia intestinal, circunstância em que o procedimento não teria mais efeito algum. Ver meu pai naquela situação me fez refletir muito sobre o fim da vida. Não sou religioso. Mas passeia me perguntar: será que tenho direito de decidir sobre o fim de uma pessoa? Será que não há alguma razão para um paciente permanecer vivo mesmo sem condições de interagir? Não há um raciocínio cartesiano quando se lida com tais questões.
Baixar