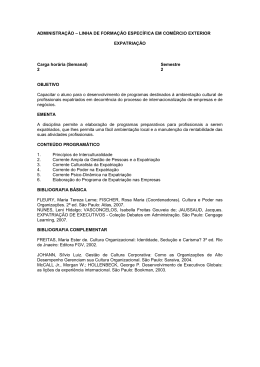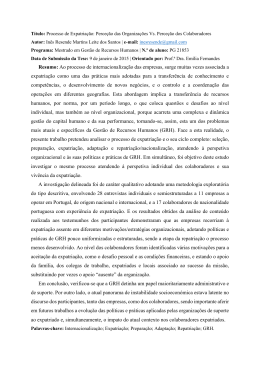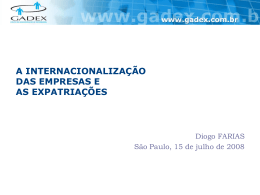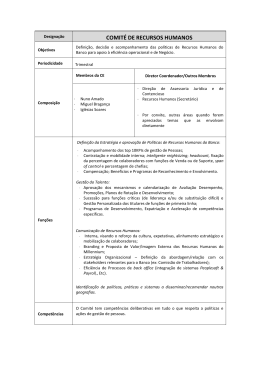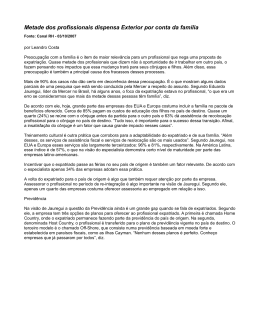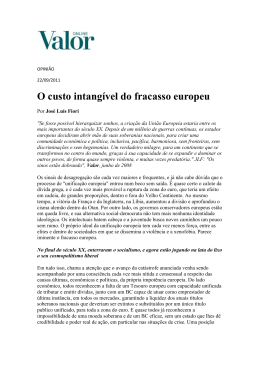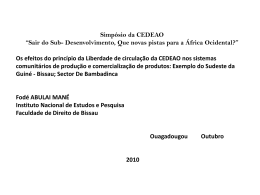Cabo Verde e CEDEAO – uma questão identitária 1 Por: Gabriel Fernandes Na actual configuração histórica mundial, é notório o ressurgimento dos debates em torno da identidade. Tanto no plano teórico quanto no político, esforços vêm sendo feitos no sentido de se compreender como identidades, pertenças e lealdades podem desenvolver-se e funcionar no âmbito da globalização. A este propósito, nota-se que, a despeito da existência de um amplo consenso sobre o quanto o mundo está cada vez mais interconectado, existe um substancial desacordo sobre o modo pelo qual essa interconexão possa ser conceptualizada, sobre como pensar suas dinâmicas causais ou como caracterizar suas consequências estruturais. Nessa busca de respostas aos novos apelos e configurações identitários advenientes da globalização, duas tendências divergentes ganharam proeminência: a primeira sugere uma progressiva unificação e homogeneização dos modos de vida, impulsionada por redes de interacção social e fluxos materiais e imateriais de toda ordem; a segunda aponta para a produção de novas formas de heterogeneidades e para o surgimento de reacções contraglobalizantes a partir das quais povos historicamente oprimidos inscrevem suas identidades, tornando-as visíveis na ordem mundial. No presente paper, tendo por base algumas mudanças em curso nos planos político e identitário, pretendo mapear alguns dos possíveis caminhos para escolhas políticas éticas, que, partindo das experiências dos povos colonizados, mas afastando-se das antigas estratégias identitárias, sirvam de referência para um novo “humanismo planetário”. Assim, e ancorado numa formação discursiva cosmopolita, exploro algumas das possíveis vias para se pensar uma acção estratégica no âmbito da CEDEAO não tanto a partir das tradicionais políticas de identidade e diferença quanto da exploração de novos rumos, orientados para um futuro colectivo a partilhar 2 . A era das incertezas Hoje, nas ciências sociais, assiste-se à progressiva passagem da noção de identidade para a da heterogeneidade, interculturalidade e hibridização. Como referido por Canclini, à medida que o mundo se interconecta com mais fluidez, as sedimentações identitárias organizadas em conjuntos históricos mais ou menos duráveis (etnias, nações, classes) vão se reestruturando em conjuntos interétnicos, transclassistas e transnacionais. De facto, se é verdade que as identidades individuais e colectivas foram largamente tributárias de um contexto cultural marcado pela religião e pelo nacionalismo, hoje o que se verifica é o progressivo recuo das fontes de significado colectivas e específicas do grupo e a exacerbação da individualização. Isso significa que indivíduos e grupos tendem a não mais se orientar a partir do leque de significados previamente seleccionados pelos construtores dos discursos públicos. Ao contrário, cabe a cada um de nós interpretar os sinais e deles tirar as ilações e ingredientes que ajudem na melhoria das suas condições sociais de existência. Nessa interpretação, nada é dado, tudo é construído e reconstruído. Ou seja, já não encontramos âncoras tão poderosas para as nossas identidades. Vivemos a era da intransparência e da incerteza. Uma era em que, como sugerido pelo sociólogo alemão, Ulrich Beck, o próprio eu tornou-se fragmentado em discursos fragmentados do eu (Beck, 1997, p. 19). 1 Versão provisória. Não publicar, nem citar. Não quero com isso sugerir que a CEDEAO se formatou numa base identitária, mas tão-somente mostrar que hoje, mais do que nunca, não se justifica aduzir essa base como critério de legitimação das pautas e nem dos supostos vínculos entre os Estados-membros. 2 1 Para Zygmunt Bauman, a incerteza e a ambivalência “que a mentalidade moderna acha difícil de tolerar e as instituições modernas se empenharam em aniquilar (1999, p. 60), reapareceram em grande peso, quebrando o discurso auto-referente, inequívoco e linear da modernidade. Existe, segundo ele, “uma área cinzenta habitada por estranhos, pelos ainda não-classificados por critérios semelhantes aos nossos, mas por nós desconhecidos” (idem, 67). Esses estranhos seriam “verdadeiros híbridos” que questionam “o próprio princípio da oposição, a plausibilidade da dicotomia que ela assegura e a factibilidade da separação que ela exige. Desmascaram a frágil artificialidade da divisão” (ibidem). Beck, por sua vez, ao caracterizar o quadro fronteiriço herdado da modernidade, faz uma interessante distinção entre diferenciações exclusivas, que “vêem o mundo como ordenação e subordinação de mundos separados cujas identidades e características são excludentes”, e diferenciações inclusivas, que “viabilizam fronteiras não marcadas pelo afastamento – exclusão – mas por formas já bastante arraigadas de ‘dupla inclusão” (1999, p. 100). Hoje, segundo Beck, a regra é “cair no vão entre duas categorias” (idem). Num contexto desses, importa perguntar sobre a viabilidade de uma estratégia políticoarticulatória assente na identidade; importa discutir antigas opções apoiadas pelo ideal da autenticidade; importa averiguar se uma orientação política ancorada no passado nos fornece insumos suficientes para vivermos o presente e nos projectarmos num futuro colectivo a partilhar. Para além da identidade: cosmopolitismo como novo humanismo A meu ver, no actual contexto global e de complexificação das relações societárias, qualquer política de identidade estrategicamente concebida corre o risco de fracassar, primeiro, por ser incapaz de funcionar como recurso mobilizatório e de responder ao vasto e diversificado leque de problemas com os quais a humanidade vem de defrontando; segundo, porque não conseguiria ser forte o suficiente para confrontar o neoliberalismo; terceiro, porque com a dinâmica de pluralização de fronteiras, fica difícil traçar um nós inequívoco e contrapô-lo aos outros, também inequívocos; fica difícil nos nortearmos pela lógica binária, tão cara à política identitária; fica difícil definirmos a política em termos de amigo/inimigo. Não por acaso, já se fala na imperiosa necessidade de um “terceiro espaço” (Bhabha), ou de um “referente vazio” (Laclau), a partir dos quais seria possível superar o ideal normativo da pureza racial e cultural e avançar com novas práticas articulatórias, nas quais não causaria repugnância a admissão do estranho, não provocaria horror o hibridismo e até seria chique ocupar o vão entre dois espaços. Trata-se de um ingente esforço tanto teórico quanto político, voltado para a busca de uma agenda mínima para um humanismo planetário, para uma cidadania global e para a celebração do pluralismo ecuménico. Uma busca que se justifica plenamente, se levarmos em conta a ampla reconfiguração das relações económicas, políticas e sociais que, atingindo os Estadosnações, se não os tornou obsoleto, pelo menos os redefine funcionalmente. Uma busca no âmbito da qual deparamo-nos com um novo antagonismo político: entre a democracia liberal universalista/cosmopolita (significando a força que corrói o Estado de cima para baixo) e o novo populismo-comunitarismo orgânico (significando a força que corrói o Estado de baixo para cima) (Moreiras, 2001, p. 328). Neste contexto de relativa fragilização dos Estados-nação, assiste-se a uma reabilitação do discurso cosmopolita. Não mais aquele discurso que funcionou como extensão do humanismo eurocêntrico, com seu senso de autoimportância, sua autocelebração e sua autoridade 2 universalista 3 , mas sim um outro, voltado para o desenvolvimento de formas diferentes de “humanismo planetário”, sensível às particularidades. Esse novo cosmopolitismo – que como bem observado por Beck, resulta de um cenário de incertezas - não pode mais apoiar-se no critério ou-ou, mas sim no tanto este quanto aquele. Ele possibilita e exige a coabitação e complementaridade das premissas da antiga lógica oposicional exclusivista, levando à revisão dos quadros de afiliação, pertenças e lealdades. A abertura requerida por este novo cosmopolitismo constitui de per se um rompimento com a tradição ocidental que não só pleiteava como ostentava uma posição cimeira e prototípica a partir da qual se deviam nortear os povos e culturas candidatos à inserção no mundo ocidentalizado. Segundo Beck, hoje as fronteiras tornaram-se plurais, tanto interna como externamente. Por isso, deixou de haver acordo tácito sobre os mecanismos de exclusão. As pautas são agora negociadas e jamais pressupostas. Isso leva a uma certa fragilização das instâncias tradicionais de normalização da vida política, cultural e económica e à consequente entrada em cena de novos actores, orientados para o futuro e não para o passado. Por seu turno, Bryan Turner entende que a nova ética cosmopolita requer um distanciamento irónico em relação à nossa própria cultura e uma abertura ao Outro. Em tese, isso significa que perderiam predilecção e força os mitos, rituais e discursos constitutivos da memória colectiva e da identidade nacional. A ironia, neste caso, deixa entender que não devemos levar tão a sério o que nos disseram sobre nós mesmos e sobre os outros. É provável que nenhum de nós seja o que julgava ser. E essa insegurança ontológica, em que se inclui a incerteza sobre os rumos da nossa existência e da nossa identidade, levaria ao reconhecimento da diversidade e da alteridade. A postura dialógica emergiria, assim, dum cenário de fragilidade do self e da confluência de alteridades e vivências por vezes contraditórias. Ora, isso representa um importante corte epistemológico e ético com o velho cosmopolitismo. Com efeito, se é verdade que a principal proposta do universalismo cosmopolita surgiu de um pretenso autoconhecimento do sujeito moderno, iluminado e livre de preconceitos, as novas propostas vêm se formulando a partir do reconhecimento seja da incerteza desse sujeito seja ainda da constatação de que um mundo partilhado é um mundo pontuado por ambivalências e em que se requer o concurso de todos; um mundo em que as antigas periferias coloniais, como o são os países membros da CEDEAO, teriam voz activa, já que partícipes de um projecto voltado para um futuro colectivo a partilhar. Expatriação e desterritorialização: as novas bases cosmopolitas Entendo que, quando se fala nesse novo tipo de cosmopolitismo, fundado na incerteza em relação a um futuro compartilhado, torna-se mister acautelar que o mesmo transcenda as velhas categorias do nacionalismo metodológico. Um nacionalismo que não raras vezes implicou imagens negativas dos outsiders e uma deliberada dinâmica de desumanização do inimigo. De igual modo, o esse novo cosmopolitismo não seria compatível com os tradicionais modelos classificatórios, no âmbito dos quais se erigiram culturas prototípicas a serem seguidas e imitadas pelos outros. De facto, se é verdade que o novo cosmopolitismo advém de um cenário de incertezas, de insegurança ontológica e de riscos, perante um futuro a partilhar, é fundamental que os novos cosmopolitas se imaginem em semelhante situação de exílio identitário e perda de referências. Nestas condições, as diversas alteridades se expressariam e seriam auscultadas a partir do que elas são, e não do que se determinou que fossem. À partida, 3 No Ocidente, o ideal político cosmopolita deriva da tradição kantiana que vincula a noção de uma polis estendida a todo o globo. Não obstante essa inspiração nacional, é de realçar que o cosmopolitismo constituía também, e acima de tudo, um esforço para se contornar as fronteiras nacionais, pela afirmação de um humanismo universal que transcendia o particularismo regional. 3 todos teriam a mesma probabilidade de imaginação, proposição e acção, não cabendo nenhum lugar cativo a discursos e actores cristalizados nos mais diversos espaços nacionais. A herança e a memória nacionais/locais só poderiam capitalizar-se e expressar-se como redutos subjectivos das subjectividade em presença, não possuindo nenhuma preferência sobre as demais e nem exercendo sobre elas influências decisivas. Esse cosmopolitismo alternativo implicaria expatriação, e não apenas distanciamento irónico em relação ao lugar. A expatriação propende para o (re)processamento do auto-entendimento do cidadão nacional e para a ressignificação do conceito de lugar. Ela significa auto-referencialidade perdida, passado esquecido, pátria desencarnada. Ou seja, é um recomeço, a única via viável para se instaurar uma verdadeira imaginação dialógica. Esta expatriação imaginada parece optimizadora de diálogo e sensível à partilha de um futuro imaginado. Com efeito, a predisposição a partilhar é normalmente acompanhada de um sentimento de companheirismo e familiaridade. A partilha faz-se entre pares - e de forma deliberada - ao contrário da doação e subtracção, que implicam uma certa univocidade de perspectivas; ela supõe que o outro com quem se partilha tenha algum direito sobre o que é partilhado. De certa forma, a ideia de expatriação parece mais tolerável para quem viveu longa experiência de expatriado, como o são os povos sujeitos à dominação colonial e de uma forma ainda mais incisiva os crioulos. No entanto, num contexto em que, como observado por Beck, os aspectos fundamentais da vida social dos indivíduos não podem mais ser determinados local ou nacionalmente, mas sim global ou glocalmente (Beck, 2001), todos têm seu quê de expatriado. É claro que isso não implica o abandono do lugar, que possibilita a memória, que subjaz às conexões políticas. Entrementes, a condição de expatriado constitui um importante mecanismo simbólico para que se saia do lugar, mesmo estando nele. Por outro lado, ela viabiliza a presença imaginada dum outro lugar ao mesmo tempo que consente a perda imaginada do nosso próprio lugar. Essa ruptura espacial imaginada, tornando imprevisível e incongruente a acção do sujeito nacional por referência aos antigos esquemas de afiliação, crença e relações societárias, é o que caracteriza a expatriação A partir dela, é natural que encontremos cosmopolitas sedentários, que tendem a sair do lugar mesmo estando nele, e nacionalistas nómadas, que permanecem no lugar, mesmo saindo dele. Isso também ajuda-nos a esclarecer um importante ponto em relação à noção de expatriação cosmopolita: ela não implica, necessariamente, a desterritorialização, no sentido antropológico ou geográfico. Um indivíduo pode considerar-se expatriado, mesmo estando conectado às redes de relações sociais do Estado-nacional. Aliás, regra geral, ele opera dentro da sociedade nacional estatal. O que muda é que ele já não se deixa nortear pela racionalidade e prática nacionais, inspirar-se nos seus ideais ou servir-se de seus instrumentos tradicionais. O território de um expatriado deixa de ser o velho território a que ele pertencia e possuía como seu. Doravante, ele está no território, mas não se sente e, de fato, não é exclusivamente do território e nem esse território é exclusivamente seu. Ser cosmopolita significa ter o mundo como território. Em termos de pertença nacional e posse territorial isso tem como implicação o fato de que o nosso próprio território deixa de ser só nosso para se tornar também do mundo, ou seja, apropriável pelo mundo, pelos outros. Cabo Verde: para uma simbologia da translocalidade e cosmopolitismo Partindo do caso cabo-verdiano, eu diria que aqui a formatação societária deu-se a partir de experiências, reais ou imaginadas, de expatriação. Isso significa que, a despeito das bases assimétricas de sua efectivação, a interacção social foi energizada pela tendencial pulverização dos aportes culturais originários dos grupos transplantados para o arquipélago. Embora em moldes diferentes, esses grupos ficaram sujeitos a algum tipo de perda, seja da memória seja do entorno originário ou de referências constitutivas do grupo. Em certa medida, essa experiência de expatriação fez do cabo-verdiano um andarilho, seja no sentido espiritual (identitário), ou material (sobrevivência física). Por conta disso, Cabo Verde 4 tem-se revelado um país com certas peculiaridades no contexto africano e não só. Trata-se dos raros casos no mundo em que a população emigrada estima-se superior à residente; dos raros casos em que a nação não cabe no território. Essa propensão translocalista dos cabo-verdianos também se nota no campo político-identitário. Prova disso é que nos momentos decisivos da história do arquipélago, os cabo-verdianos, ou mais especificamente os actores políticos e os construtores identitários, optaram por unir Cabo Verde aos outros povos, abrindo mão das suas fronteiras naturais, tanto geográficas quanto históricas. Esse sair de si, que também expressa uma consciência, mesmo que difusa, de uma cidadania mundial, parece estar associado à própria dificuldade de o ilhéu se prender a uma memória colectiva milenar ou a um espaço originário de interacção. Sua história de expatriação e hibridização confunde-lhe a consciência de lugar, impulsionando a marcha cosmopolita. Por isso, nas suas investidas político-identitárias, ele teve e tem dificuldades de encontrar um porto seguro. Entre o apego ao particular e a busca do universal, navegou quase à deriva, quando muitos o faziam em bases firmes. Todavia, essa opção translocalista dos ilhéus, longe de indiciar tensão na forma de o caboverdiano se autoperceber, sugere, a meu ver, o carácter aberto e cosmopolita de uma sociedade que se forja no bojo de uma experiência de expatriação e hibridização. Cabo Verde e a CEDEAO: potenciar historicidades Ao falar da hibridização não pretendo reivindicar um estatuto identitário sui generis para Cabo Verde, objectivando destoá-lo dos outros territórios e de outras formações históricas e discursivas. Eu entendo que toda a cultura, enquanto conceito analítico, é híbrida, pelo menos se compreendida como criação historicamente negociada de mundos simbólicos e sociais mais ou menos coerentes. Sabemos, outrossim, que, no sentido antropológico, culturas não são entidades dotadas de uma substância intemporal e permanente. Elas não constituem totalidades orgânicas com fronteiras impermeáveis. Antes, são trabalhadas e moldadas constantemente por incessantes processos de empréstimos e trocas. No entanto, se é verdade que a hibridez e a porosidade perpassam todas as culturas, também não se pode negar que a forma precisa dessa hibridização será determinada pelas formações históricas específicas e repertórios culturais de enunciação. Essas formações históricas em Cabo Verde são de facto peculiares. E isso de certa forma dificulta qualquer tipo de vínculo orgânico entre Cabo Verde e os outros espaços geo-políticos. É a própria descontinuidade geográfica que dita tal improbabilidade orgânica. No entanto, o que se nota historicamente é que a despeito dessa peculiaridade, Cabo Verde tem conhecido uma incessante busca pela descontrução do fosso, pela criação de pontes. Ou seja, se em muitos espaços mundiais, as fronteiras visaram separar o que parecia configurar uma única entidade, em Cabo Verde nós temos tentado unir o que se nos depara separada e por vezes dicotomicamente. Portanto, na prática, temos operado a partir de uma dinâmica de anulação e/ou de reconfiguração de fronteiras, aproveitando as margens de manobra que a própria história nos forneceu. Em relação à África e mais concretamente aos países membros da Cedeao, creio que embora não haja e nem se justifique recorrer a estratégias identitárias como fiáveis alavanca para acções políticas comuns, acredito que o passado colonial comum pode funcionar como importante base para nós os africanos fazermos opções políticas éticas, que valorizem o homem e sugiram acertos de rumo em direcção a um futuro colectivo a partilhar. Os africanos no geral passaram pela experiência de expatriação. De certa forma, e sob diferentes prismas, todos foram perpassados pela dinâmica de relativa perda da alma, de hibridização e diasporização, mesmo 5 que simbólica. Como sugerido por Hall, o colonialismo converteu o Terceiro Mundo em “espaços hibridizados, diasporizados” (Hall, 2003, p. 111). Hannah Arendt fala de uma “desnacionalização fundante” dos colonizados (1997, p. 157). Ou seja, o que se verifica historicamente é que os povos abrangidos pelo colonialismo experimentaram, de uma forma ou de outra, um certo sentimento de perda de pátria. O que nos une enquanto ex-colonizados é que todos estamos no mesmo barco, partilhando riscos colectivos actuais e futuros do planeta, sem termos partilhado dos benefícios colectivos do passado. Neste sentido, dir-se-ia que a nossa condição existencial nos fornece uma base moral para um manifesto cosmopolita que contribua para a concretização do tão propalado humanismo planetário. Isso significa que não é da exploração dos modelos identitários tradicionais e nem do resgate dos antigos traçados fronteiriços que se deve retirar o contributo dos ex-colonizados para a salvaguarda do futuro colectivo. Fazendo isso, estaríamos tão-somente a reavivar os sectarismos, os binarismos e os essencialismos de outrora. Entendo que não devemos nortear-nos pelas fronteiras herdadas do colonialismo. Uma ética cosmopolita passa pela subversão fronteiriça, ainda que simbolicamente. A abertura à alteridade, mesmo que isso traga custos políticos, constitui um princípio em nada negligenciável e que a meu ver está em total consonância com a nossa histórica vocação para transacções translocais. A desterritorialização simbólica, significando que os outros podem apropriar-se do que é nosso, constitui, dentro de parâmetros políticos aceitáveis, uma base para a negociação dum futuro colectivo a partilhar. A desnacionalização do imaginário, significando um desenraizamento simbólico das estruturas identitárias estanques, contrastantes e quiçá excludentes, e a aceitação da bricolagem, da quebra do ideal normativo de pureza racial e cultural, afiguram-se-me compatíveis com uma nação diaspórica, como a cabo-verdiana, cuja população emigrada estima-se superior à residente. A livre circulação de pessoas, superadas ou amenizadas que forem seus efeitos correlatos menos bons, pode funcionar como ideal de subversão de uma globalização de mão única. Exemplos aparentemente marginais, resultantes de opções éticas originais, podem a longo prazo contribuir para uma agenda política mínima de humanização do planeta. A exploração de vias para a intensificação de trocas culturais, comerciais e políticas pode resultar em importantes ganhos, susceptíveis de contribuir para a percepção de historicidades mutuamente condicionadas e, a longo trecho, para a potenciação de uma democracia cosmopolita. Uma educação voltada para uma cidadania mundial requer que passemos a encarar a nossa própria retícula social como uma espécie de microcosmos, uma zona franca em termos humanísticos e culturais, onde um futuro colectivo a partilhar impulsione a superação dos marcos diferenciais erigidos para dividir. 6
Baixar