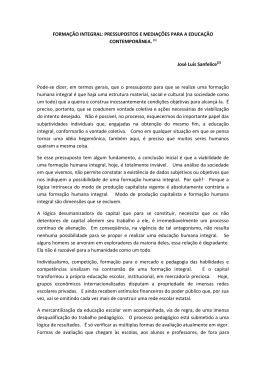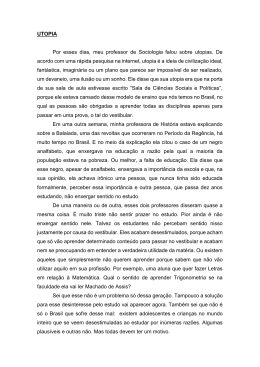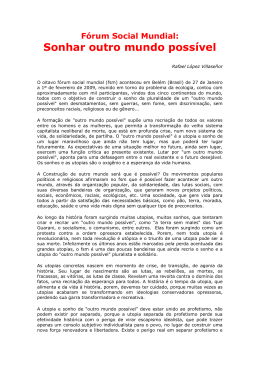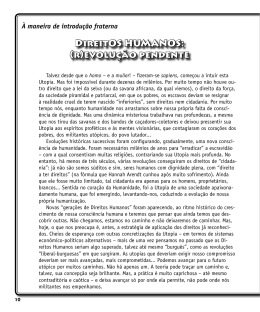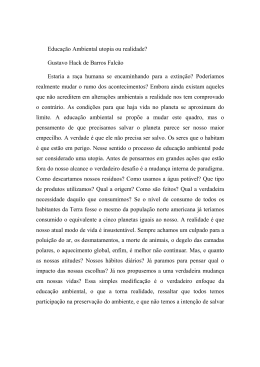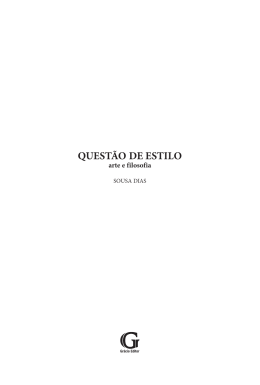A crise das crises e a crise da utopia Luis Filipe Ribeiro Poderia parecer que eu, com um histórico de exílio político, prisão e tortura, fosse uma pessoa adequada para falar sobre as utopias, suas crises e suas expressões no discurso literário. Nada mais falso: brilhante de bijouteria... Se as experiências nos enriquecem; enriquecem-nos quando com elas aprendemos alguma coisa. Tenho fundadas esperanças que este possa ser o meu caso. Creio que a dedicação de toda uma juventude e boa parte da vida madura às utopias, ou melhor, à grande utopia do Século XX: o marxismo, pôde ensinar-me algumas coisas. A primeira, e talvez a mais importante delas, é que todo sonho - e, em especial, os sonhos coletivos é um intrincado processo discursivo. Os meus sonhos, os nossos sonhos, sempre foram gerados a partir de discursos muito bem construídos que prometiam o paraíso social, em que as desigualdades de classe, de fortuna, de etnia, de nascimento, de beleza, de paisagem e o mais que se queira, estariam definitivamente abolidas. Que sonho mais generoso que este? Como recusar o sacrifício pessoal diante da enormidade da promessa futura? Como negar-se ao encontro com uma humanidade sem divisões, feliz, alimentada, culta e fraterna? Como não arrostar as reações conservadoras que teimavam em retardar a felicidade coletiva? A nossa experiência política exigia a renúncia à religião católica em que a maioria de nós tinha sido criada -, deixando assim para trás uma utopia de igualdade, ainda que em uma outra vida e em outro lugar. 1 A nossa pressa pedia aos sonhos que se realizassem aqui e agora. Assumimos, então, uma postura filosófica, que acreditávamos racional e científica, o chamado materialismo histórico. A obra monumental de Karl Marx oferecia-nos uma completa explicação das misérias do mundo e, principalmente, apontava os culpados por elas. Há que haver sempre um culpado, não é verdade? Deixávamos a religião, para assumir a “ciência”! As explicações não deixavam margens a quaisquer dúvidas - e não suspeitávamos, então, de que não pode haver ciência onde não existem dúvidas! Tínhamos deixado uma religião por outra, sem sabê-lo. O bom e inteligente Karl Marx não pudera suspeitar que suas investigações, até hoje importantíssimas, seriam manipuladas por discursos políticos que terminariam por transformá-las em dogmas e em alicerces de uma nova igreja: laica, mas igreja. Não sabíamos nós, nem isso seria possível naquele então, que os discursos não são o mundo. Naquele tempo e, para nós, eram. O nosso mundo, o mundo que iríamos construir e aquele que destruiríamos. Não esqueçam de que não nós tínhamos dúvidas! Acreditávamos em céu e inferno e nos críamos ateus. Capitalismo e socialismo eram as versões modernas do inferno e do céu cristãos. Havíamos renegado a trindade celeste: pai, filho e espírito santo. Adotávamos uma mais recente: Marx, Engels e Lênin (na versão soviética) ou Marx, Mao Tsé Tung e Ho-Chi-Min (numa versão chinesa, então em moda). Os partidos comunistas que nos haviam salvo do dogmatismo da Igreja Católica ofereciam-nos uma vida de monges, reclusos, com voto de pobreza e obediência cega ao Comitê Central. E nos críamos ateus... A essência do pensamento utópico - seja ele qual for! - é a afirmação de um não-lugar. A utopia nunca pode estar aqui: ela sempre 2 se dará num futuro qualquer e em outro espaço que não este. Dos contos de fada às revoluções sociais, sempre se lida com mundos de faz-deconta. E nós estávamos imersos na nossa utopia. E, como habitantes de um não-lugar futuro que iríamos construir, não conseguíamos enxergar este mundo em que nos tocava viver senão como objeto de negação. Mas, tudo que aqui era ruim, lá, no outro, no futuro, seria bom. Não percebíamos que nosso pensamento era essencialmente mágico: tinha a força da determinação juvenil; tinha o voluntarismo que supera as limitações reais; tinha a generosidade das promessas futuras. Nós estávamos certos: havíamos embarcado no navio do futuro e tínhamos uma carta de navegação científica, pela primeira vez na história. Éramos todos utopia e, com isso, não tínhamos tempo para pensar, para indagar, para duvidar. A imersão total num pensamento único impedia, por certo, ouvir outras vozes, aceitar outras formas de pensar. Quem de nós discordasse era um agente dos conservadores, um conspirador contra o povo, que acreditávamos representar. Éramos de “esquerda” e isto implicava em uma série de fidelidades compulsórias: à União Soviética, vista como a democracia socialista dos sonhos; aos movimentos comunistas ao redor do mundo, nossos companheiros de jornada; à revolução cubana, já naquela época liderada pelo inevitável comandante Fidel Castro; às “verdades” publicadas pelo Pravda, o mais importante jornal da União Soviética. Quem ousasse tentar desmentir alguma de tais fidelidades era um conspirador, espião da CIA, agente provocador. E, o mais importante de tudo isto, é que nós éramos generosos, dedicados e uns ingênuos que pensavam ser espertos. Mas o que importa aqui é deixar muito claro o que representa uma vivência dentro de um pensamento utópico. Toda utopia adquire um 3 caráter autoritário, na exata medida em que exclui de suas fronteiras virtuais a dissensão, o diálogo, a dúvida. Seja na República de Platão, de onde os poetas foram afastados, seja na Utopia de Tomás Morus, na Cidade do Sol, de Campanella, seja no projeto socialista, seja na experiência fascista, em todos estes sistemas o alicerce básico é o pensamento único, o mundo fechado. E nós vivíamos o nosso mundo fechado e fechávamo-nos ao diverso, ao divergente, ao dubitativo. Eram sinais de conservadorismo, de fraqueza ou de oportunismo. Mas como pedir ao crente que duvide da vida eterna? Não podíamos conceber a ideologia como discurso. Não, para nós, ela era a verdade indiscutível, a ponte para um futuro grande e luminoso. Tal e qual as promessas de vida eterna que alicerçam as diversas religiões. O que era curioso é que tínhamos a nossa “verdade”, mas não conseguíamos admitir que outros tivessem as suas, diferentes das nossas. Era inimaginável admitir um direitista correto, bom caráter e bem intencionado, ainda que equivocado se visto de nossa perspectiva. Não! Eram sempre perversos, de moral duvidosa, com intenções malignas. E, nós, que planejávamos destruir o mundinho deles, éramos os campeões da generosidade, da bondade e das boas intenções. E o pior de tudo, é que, na nossa cabeça, éramos! Os discursos eram a expressão acabada da verdade, revelada não por Deus, mas por Karl Marx ou pelo Partido Comunista. Acreditávamos na verdade revelada e nos críamos ateus... O problema das utopias está exatamente nisto: são a fonte mais segura dos pensamentos únicos, excludentes e autoritários. Ou, indo direto ao ponto: as utopias são discursos que ocultam exatamente o fato 4 de serem discursos. A utopia é um discurso que se nega como discurso, para tentar se oferecer como uma verdade indiscutível. E o próprio do discurso é ser construído por um enunciador, em determinada circunstância histórica e social, é circular nessa ou em outra circunstância e ser recebido por enunciatários, eles também alocados numa história e numa sociedade. Um discurso jamais pode ser a verdade. Ele será sempre apenas a expressão de uma das verdades possíveis, sempre sujeita à verificação, à contestação, à desconstrução. Para perceber alguma coisa como discurso são necessárias algumas operações básicas: primeiro, deixar de crer no texto, como portador de algum significado, como detentor de uma verdade; descrer do signo, como uma moeda imutável de dupla face: um significante e um significado; entender que todo texto tem um produtor e um consumidor e que, ambos, cada um a sua vez, são os geradores das significações que ele possa suportar; aceitar que cada ato de leitura é uma novidade absoluta, é um acontecimento histórico irrepetível e que produz significações cada vez renovadas e acrescentadas. Se, naquele tempo, soubéssemos disto, talvez a nossa história tivesse sido outra. Para nós, o marxismo oficial (que eu prefiro chamar de tomista) era a verdade revelada. Não podíamos sequer imaginar que havia um batalhão de ideólogos produzindo aqueles discursos, que se vendiam não como discursos, mas como verdades. Lembro-me, até hoje, que todos os documentos do partido iniciavam com um mesmo nariz de cera: “O imperialismo está agonizando”. Honestamente, nunca vi um agonizante tão longevo e tão bem de saúde. O Muro de Berlim já foi para o chão há quase vinte anos e o doente terminal segue aí impávido e corado... Mas, para nós, isto era uma verdade indiscutível, ou então nossa utopia deixaria de ser factível. 5 Esta frase sintomática é exemplo mais que suficiente do discurso utópico. De tão repetida, passou a ser incorporada como uma das verdades indiscutíveis em nosso imaginário político. Era apenas um discurso, mas era recebida como uma verdade. E, em nome dela, era mais que urgente construir o mundo novo que ocuparia o espaço vacante que o doente terminal deixaria ... Vê-se, hoje, que a crise não foi do mundo real. Não como o imaginávamos, então. A crise foi da própria utopia. Aquele discurso formal e arrumadinho - arrumadinho demais para ser verdadeiro! entrava em crise diante dos movimentos históricos reais. Quem derrubou o Muro de Berlim não foram os utópicos, mas apenas as pessoas que não suportavam seja a opressão política na banda oriental, seja a divisão da Alemanha em duas, na banda ocidental. Pode-se sempre argumentar que a luta para derrubar o Muro tinha um caráter utópico, antes de se tornar um movimento real. Certo. Mas não constituía uma utopia, enquanto projeto global de construção de um mundo novo. Era um projeto local de desfazer o já feito, de desconstruir o já construído. Na história, as pessoas se movem por interesses, em geral, bem imediatos e muito palpáveis. São os historiadores irão perceber, nesses interesses imediatos, as raízes mais longevas de processos históricos bem anteriores. Mas não esqueçamos que os historiadores também são produtores de discursos... As utopias globais, que foram geradas, no mundo ocidental, pelos intelectuais, em especial a partir do Renascimento, entraram elas sim em crise diante da complexidade histórica real do mundo material. A primeira grande lição, óbvia ademais, é que a história é construída por homens e não por anjos. Os agente políticos são seres humanos falíveis, complicados, narcisistas, como todos nós ademais. Não 6 há heróis, senão nos livros de histórias ou de história. Os discursos são produzidos por esses mesmo homens falíveis, mesquinhos, narcisistas, inseguros e tudo o mais. São obra humana, em síntese. Mas nós é que os líamos como se fossem produtos da palavra transcendente da história, o novo deus da modernidade. Nossa leitura, alicerçada pela crença, transformava discursos em dogmas de fé. E só com fé se podem remover montanhas! A crise, então, é uma crise das utopias. O nosso mundo hoje não é pior do que antes; claro que não digo também que seja muito melhor. Mas, as conquistas da tecnologia nos campos da saúde, da comunicação, dos transportes, da alimentação, da construção civil, da educação, da edição criaram, pelo menos, as condições de um mundo menos pior. As guerras, os conflitos, a exploração, as discriminações, as injustiças, a violência seguem aí como uma marca da humanidade que, até aqui, conseguimos construir. Não é motivo de orgulho, é verdade! Mas, comparando as condições sociais do Século XVIII ou XIX, com as do recém inaugurado Século XXI, não há como dizer que as coisas pioraram. Pena que não hajam melhorado muito! A história não acontece como queremos, mas como pode acontecer e no ritmo em que consegue acontecer. O que nos distingue hoje é talvez a nossa capacidade crítica diante dela. Nunca tantos pensaram a história e a discutiram como hoje o fazemos. E isto é já um grande passo! Sei, seguramente, que muitos poderão acoimar-me de comodismo, de pensamento de velhice, de descrença relativista. É normal que isso aconteça. É parte do diálogo, é a saudável divergência, capaz de criar convergências e ações em comum. Quando se fala muito em crise, não me posso furtar a um sorriso de canto de lábios, à moda de Machado de Assis. Apenas um sorriso, 7 nunca a gargalhada histérica e desrespeitosa. Mas, quando, neste nosso mundinho, estivemos fora da crise? E, ademais, crise para quem? No longo reinado de D. Pedro II, a aristocracia não viveu senão as crises intestinas entre ministérios, facilmente solúveis no caldo dos interesses satisfeitos. Mas, poderiam dizer o mesmo os escravos ou os homens brancos livres e pobres? Quando houve paz e harmonia, felicidade e opulência para todos? Não será a crise a condição mesma da existência como o sugerem os filósofos que acreditam no movimento? Nossa existência individual não é ela a permanente passagem de uma crise a outra? Por que então tanta ênfase ao termo? Não será um claro gesto em direção à nostalgia utópica? A um mundo em que as crises não existiriam? Mas, onde, em compensação não haveria movimento. Nada menos sujeito a crises do que um cemitério... Excluam-se os cemitérios visitados por alguns iluminados como Luciano de Samosata, Machado de Assis e Érico Veríssimo. Mas a essa altura dos acontecimentos, muitos de vocês estarão possivelmente se perguntando: e esse senhor não vai falar da literatura? E, com razão! Afinal, este é um evento para discutir literatura e estou me portando como um convidado de pedra: inconveniente e impróprio. É porque não consigo ver crise na Literatura! E, assim, achei um meio de entretê-los e gastar o meu tempo elegantemente. Não vejo crise na Literatura, primeiro porque não estou seguro de saber o que venha a ser a Literatura. Depois, porque, ao olhar os suplementos literários em nosso país e fora dele, pode-se perceber um movimento editorial bastante agitado, com inúmeras edições, reedições e lançamentos quase diários. E isto apenas no universo dos livros de 8 papel... Claro está que nem tudo que se publica será literatura. Mas eu já não disse que não sei o que seja literatura? Mas, vejo uma crise sim no universo da leitura. Leitura sei muito bem o que seja e tenho escrito sobre isto com alguma insistência. Não é hora, aqui, de repisar o tema. Há uma crise de leitura que é ampla, geral e irrestrita (olha eu, usando um nariz de cera dos discursos políticos...). Não vou cotejar números, até porque sou ateu e não creio em estatísticas. Mas, além de ateu, sou professor de letras há mais de 40 anos. E, a cada ano que passa, posso observar a olho nu, sem instrumentos sofisticados, que cada vez é maior o número de alunos de letras que não lêem e, mais que isso, não gostam de ler. Se isto ocorre nas faculdades de letras, quem dirá fora delas? Mas, se os nossos alunos não gostam de ler, quais seriam as causas prováveis e possíveis do fenômeno? Muitas, seguramente. Mas uma delas, por absolutamente óbvia, não pode ser descartada: não aprenderam a gostar de ler. São todos alfabetizados (presume-se...). Cursaram os níveis escolares anteriores à universidade, em que o ensino das letras é parte da grade curricular. Enfrentaram os exames vestibulares, onde se imagina que lhes seja cobrada alguma intimidade com a leitura. Não gosto de buscar culpados, mas se tal busca se impuser, uma certeza tenho. Os culpados não são os nossos alunos. Se eles não gostam de ler é porque simplesmente nunca tiveram oportunidade de aprender a ler o que chamamos de literatura. A leitura de literatura é um aprendizado como outro qualquer e só será bem sucedido se se tornar fonte de prazer. Nós, professores, presumidamente, 9 temos prazer na leitura e, por isso, arrostamos as asperezas da profissão em seu nome. Mas como aprendemos nós o prazer da leitura, que não nos foi dado pelos instintos, como tantos outros prazeres? Em que condições e em que mundo aprendemos a ler e passamos a usufruir de tantas horas inesquecíveis? Parece que, por estar tão distante o tempo das primícias, já nos esquecemos da nossa iniciação. Mas, vale lembrar, outro era o mundo. Poucos de nós já nasceram com a televisão ligada o dia inteiro à sua frente. Era um tempo em que o cinema era uma aventura que, para os mais abonados, acontecia uma vez por semana. O rádio era uma fonte inesgotável de narrativas e não apenas uma oficina de sons. A leitura, para as classes médias, conferia distinção social. Ser culto era uma ambição necessária para a aceitação social. E, claro, era um tempo em que a escola - que atendia preferencialmente os segmentos médios da população - funcionava a contento e com bastante eficácia. Eu mesmo, estudei toda a minha vida em escolas públicas e a elas devo minha formação, em todos os níveis. Nesse cenário, o aprendizado da leitura era cercado de toda uma aura de prestígio e aceitação. Não podemos afirmar que as coisas sejam idênticas nos cenários em que nossos alunos receberam a sua formação. No mundo deles, a grande utopia - individual, é verdade! - é o sucesso imediato. Vivem eles mergulhados na utopia da felicidade pelo consumo. E não nos deixa mentir o sucesso indiscutível de programas como o Big Brother, outrora nome de personagem de um excelente romance de George Orwell. Ali estão expostos claramente os requisitos para o sucesso e a fama, todos articulados em torno da necessária exclusão do outro. E ninguém pode afirmar de sã consciência que haja algum dia um livro ingressado naquela casa de vidro. Ao contrário, é o 10 elogio da boçalidade, da grossura, da desinformação, além de corpos perfeitamente sarados que constituem os requisitos dos vencedores. Às vezes, alguns pobres até vencem, para que o programa, que é o mais adequado veículo da filosofia da exclusão, consiga alguma absolvição. Mas, no fundamental, fica patente que a posse de um livro, a posse de muitos livros, a sua leitura não fazem parte do cardápio do sucesso na sociedade de hoje. Aliás, existem livros nas telenovelas? Existe leitura, no mundo dos bem sucedidos? Há personagens que sejam razoavelmente instruídas? Num mundo destes, como querer que a leitura seja uma ambição dos jovens? E a escola o que faz? Aborrece-os com os inevitáveis estilos de época que, dispensando a leitura de livros, os empanturram com informações descontextualizadas e, assim, perfeitamente inúteis. Além do célebre: leiam o romance tal, porque tal dia tem prova. O livro entra aí como ameaça e castigo. Como pedir que gostem de ler? Mas, todo palito tem sempre duas pontas. Nem tudo é crise e tragédia. Desenhei as linhas gerais e mais comuns do problema. Mas, felizmente, a contradição é humana e, nesse lodaçal pedagógico, sempre existem boas almas, existências apaixonadas que conseguem, apesar das adversidades, despertar alguns pupilos para a alegria da leitura. É assim que a literatura se mantém viva: através desses escassos leitores formadores de leitores. Mas, esse pequeno Exército Brancaleone, ainda que fundamental, não basta a equacionar o problema, quanto mais a resolvê-lo. O drama de nosso tempo é que a utopia do sucesso imediato, como toda utopia, é um pensamento fechado e, em decorrência, autoritário. Na utopia do sucesso individual não cabem, igualmente, as dúvidas, as problematizações, os questionamentos. Ou você acredita em seu sucesso e parte 11 decididamente para a ação, ou você não acredita e aceita sua própria mediocridade de derrotado. Paulo Coelho é mestre em difundir tal pensamento e daí, possivelmente, seu incrível sucesso editorial. E, nós na universidade nos limitamos a afirmar, autoritariamente também, que o que ele faz não é literatura. Seja literatura ou não - o que, deste ponto de vista, é irrelevante! - , o fato é que Paulo Coelho funciona, e muito bem, como um poderoso vetor ideológico. Tão poderoso que é um dos poucos escritores globais, para usar um termo da moda e do pensamento do sucesso imediato. E por que faz tanto sucesso, inclusive entre nossos alunos? Fundamentalmente porque, ao não questionar, ao não problematizar, ao não duvidar, ele expressa o núcleo duro da ideologia entre nós dominante. Tudo depende de você e de mais nada e de mais ninguém. Ou você se aperfeiçoa interiormente e o sucesso lhe chegará por obra e graça sabe-se lá de quem, ou você não consegue o tal aperfeiçoamento interior e, então, deve aceitar sua própria incapacidade, sua própria mediocridade e viver na sombra do quase anonimato. Ora, se o que chamamos de literatura na universidade caracterizase fundamentalmente pelo exercício da crítica, pelo questionamento permanente do mundo e seus arredores, pelo prazer da análise, pela avaliação das possibilidades, então poderemos entender o nó da questão. A recusa da literatura é parte fundamental desse pensamento único, global e autoritário. Da literatura e de tudo o mais que possa levar ao questionamento, ao diálogo criativo, à dissensão denunciadora, à desconstrução dos castelos de vento. A crie é da leitura e não da literatura. Leitura da literatura, mas leitura da filosofia, mas leitura da antropologia, da psicanálise e de tudo mais que não seja concordância e aceitação do mundo como ele é, aqui e agora. 12 Quero crer que, raras vezes na história, um pensamento foi tão amplo, tão internacionalizado, tão sólido quanto esta ideologia do sucesso individual globalizado. Basta pensar na condenação global do pensamento islâmico — de resto tão rico e tão sugestivo! — ao confundi-lo propositadamente com as práticas terroristas de alguns grupos islâmicos. Pois o Islamismo, como de resto todas as religiões, não constitui um todo homogêneo e sem contradições. Em nome de tal condenação, destruiu-se toda uma nação milenar como o Iraque, bombardearam-se monumentos históricos dos tempos anteriores ao cristianismo, massacrou-se toda uma população inocente na tentativa vã de alcançar os terroristas. Mas, o mundo ocidental tem sempre razão, já que é ele o sustentáculo do pensamento único, tão fechado e tão autoritário quanto o pensamento terrorista, que é um pensamento também. E neste mundo fechado de pensamento único, o que nos resta fazer? Quer parecer que a denúncia da ideologia do sucesso, a desconstrução de seus alicerces teóricos - e eles são muitos e muito bem construídos -, o exercício permanente da reflexão e da crítica, a dúvida sistemática são as armas que estão ao nosso alcance. Não para a imposição de um outro pensamento tão autoritário quanto; mas para possibilitar o permanente diálogo de vozes, de idéias, de posições, de escolhas, de visões de mundo. Essa parece ser a tarefa urgente que nos conclama à ação. Mas, como fazê-lo? Quer-me parecer - e esta é a minha digamos utopia aberta - que o ensino da leitura, e mais que o ensino, a ajuda para descobrir o prazer da leitura é o caminho possível e ao alcance de nossas forças. Se conseguirmos despertar nossos alunos para a gratificação da leitura, para 13 o prazer do livro, para a delícia das descobertas intelectuais, parece que algum movimento sísmico se torne possível nessa sociedade chata, plastificada, previsível e desumanizadora que nos toca como cenário da existência. Pois a leitura é a maior arma libertadora que conheço: uma pessoa que lê é livre para entender, para escolher, para decidir, sem que ninguém lhe possa arbitrar caminhos. Paradoxalmente, a mesma sociedade do pensamento único nos oferece de graça uma poderosa arma nessa batalha pelo pensamento, pela crítica, pelo diálogo permanente de culturas. Trata-se da Internet. No meio de tudo o que ela tem de negativo, tem muito também de positivo. Hoje, por exemplo, boa parte do acervo bibliográfico do planeta já se acha disponível e de forma gratuita na rede mundial de computadores. Como a chamada democratização da informática avança a pleno vapor — afinal eles precisam vender computadores, não é verdade? —, o acesso à rede é cada vez mais amplo e acessível a um número maior de pessoas. Claro está que não atingirá a todos, num curto prazo; mas alcança, hoje, mais pessoas do que o livro no seu formato em papel. Com a vantagem da gratuidade. Nossa Biblioteca Nacional já dispõe de uma quantidade significativa de livros em formato digital e, no campo da literatura, boa parte dos clássicos já está disponível. Hoje só existe uma edição completa dos contos de Machado de Assis e é ela digital. Dos 214 contos atribuídos ao bruxo do Cosme Velho, apenas 72 ele republicou na forma de livro, pois os demais, publicados na imprensa, não chegaram às livrarias. Alguns foram coligidos e publicados por pesquisadores do porte de um Raimundo de Magalhães Júnior, de um Afrânio Coutinho, de um Jean-Michel Massa. Mas a obra completa, ordenada, de forma cronológica e sistemática, só é acessível na forma digital. 14 É a maior revolução no universo da leitura de que tenho conhecimento. Nunca tantos livros estiveram à disposição de tantos, ao mesmo tempo. Sei que a academia olha para a Internet com desconfiança e até mesmo com preconceitos e não digo que não tenha lá as suas razões. Mas é tudo questão de tempo e de adaptação. Outras revoluções como a invenção do livro, em substituição aos rolos, também levaram tempo para ser plenamente absorvidas. Mas o essencial é que temos hoje uma biblioteca universal a nosso dispor em qualquer canto em que haja computadores conectados. O acesso ao livro foi imensamente ampliado e democratizado. E, precisamente, num momento em que as nossas bibliotecas agonizam por falta de verbas, de pessoal e, evidentemente, de livros. Livros que se desgastam e pedem reposição. Livros que são destruídos por um manuseio inadequado e irresponsável, conseqüência direta desse pensamento que os exclui e os desvaloriza. Bibliotecas muitas vezes desatualizadas e inacessíveis. Basta lembrar o drama dos nossos alunos do turno vespertino para suas consultas à Biblioteca do Gragoatá, para alcançar os limites de que falo aqui. Assim, a única utopia aberta que consigo vislumbrar é a utopia da democratização da leitura, possibilitando todos o prazer de ler. Criando as condições para que as escolas passem a ensinar a ler e não insistam em ensinar alguma coisa que elas chamam de literatura, mas que não inclui a leitura. Ajudando cada um a descobrir o seu prazer, o seu pedaço do universo imaginário capaz de torná-lo mais humano. Estimulando o pensamento crítico, o pluralismo, as diferenças e as descobertas. E onde encontrar a fonte de onde emana tudo isto, senão naquilo que insistimos em chamar de literatura? Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2006. 15
Baixar