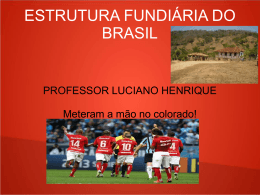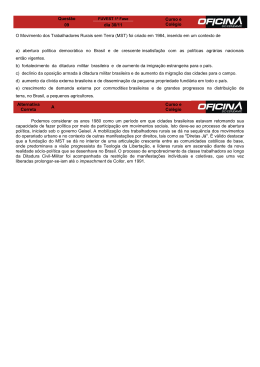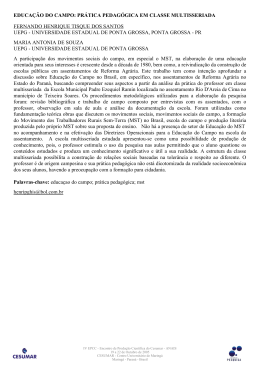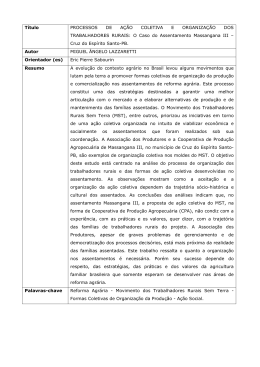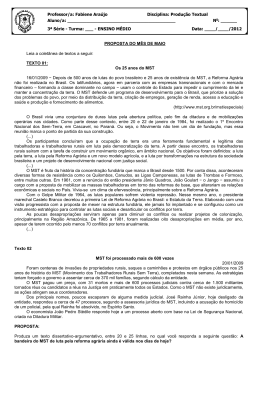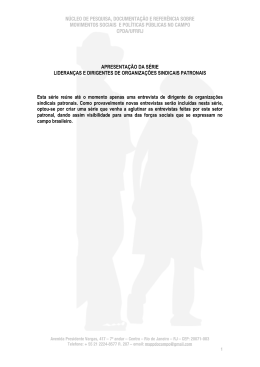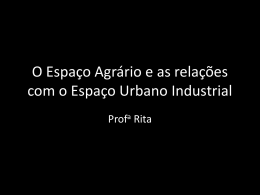ESCOLA DO MST – UTOPIA EM CONSTRUÇÃO Valter Morigi Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre/RS Mestre em Educação pelo PPGEDU/UFRGS Mesa-Redonda Nº 51 – Eixo 9 – Educação e Trabalho Palavras-Chave: Trabalho, Movimentos Sociais, Educação Básica. Contextualização Nos anos finais da década de 80, Fukuyama produziu sua tese intitulada “O Fim da História e o Último Homem” (1992), a qual decretava o fim da História e o fim da luta de classes, afirmando que somente o capitalismo poderia promover a libertação do homem, tendo em vista que as experiências socialistas mostraram-se falhas. As teorias elaboradas pelos ideólogos neoliberais, (tais como Friedrich Hayek, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel, Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Lipman, Michael Pélerin) 1 indicavam uma nova ordem mundial de paz e progresso. A inveracidade de tais idéias se demonstra facilmente pelos acontecimentos posteriores, tais como os conflitos étnicos na Iugoslávia, a barbárie que assola o Timor Leste, o imperialismo que crava suas garras por todos os meios na América Latina, através das organizações financeiras e/ou organismos militares, como o que ocorre na Colômbia, onde os bancos internacionais despejam milhões de dólares a pretexto de combater o narcotráfico, mas que servem para treinamento dos militares colombianos. A política dos países pobres, também chamados de periféricos, é definida e monitorada pelo FMI (Fundo Monetário Internacional), Grupo Banco Mundial e BID(Banco Interamericano de Desenvolvimento). Com a nova ordem mundial, que representa a imposição do superestado americano no sentido de testar a sua tecnologia pós-moderna no antigo Terceiro Mundo, redefiniu-se o papel do Estado, mantendo-se sua estrutura de coerção, mas desarticulando suas funções sociais, frutos de décadas de lutas. Os resultados são o desemprego em massa, aumento da criminalidade e da violência social, prostituição, 1 Sobre o assunto, ver FERRARO, Alceu. Neoliberalismo e Políticas Sociais: um pé em Malthus, outro em Spencer. In: Revista Universidade e Sociedade, Brasília, V. 9, nº 20, p. 11-14, set/dez 1999. E FERRARO, Alceu. O movimento neoliberal: gênese, natureza e trajetória. In: Sociedade em Debate, n.º 8 , p. 5-19, jan/jun 1997. 2 degradação geral das condições de vida com impactos imediatos na saúde, educação e cultura (Haddad, 1988; Gentili, 1995 e 1996). Esse quadro surge na esteira da implementação do Consenso de Washington, que é o nome popularizado pelos meios acadêmicos e jornalísticos para um conjunto de propostas e discursos, que inclui um programa de ajuste e estabilização com dez tipos específicos de reforma, que, como assinala Williamson (apud Portela Filho, 1994), foram quase sempre implementadas com intensidade pelos governos latino-americanos a partir da década de oitenta: disciplina fiscal; redefinição das prioridades do gasto público; reforma tributária; liberalização do setor financeiro; manutenção de taxas de câmbio competitivas; liberalização comercial; atração das aplicações de capital estrangeiro; privatização de empresas estatais; desregulação da economia; proteção de direitos autorais. O neoliberalismo desmantela as políticas sociais de maneira dura: deflação, desmontagem dos serviços públicos, privatizações de empresas, crescimento do capital corrupto (dinheiro envolvido no tráfico de drogas, nas negociatas políticas, na venda de armas, no comércio do sexo...), polarização social, desemprego massivo, redistribuição de renda em favor dos ricos. No Brasil dos anos 90, a política de privatização de FHC entrega rapidamente, por valores irrisórios 2, um patrimônio construído ao longo de um século, com o governo aceitando o papel de serviçal do imperialismo, utilizando a mídia para a desmoralização das empresas, serviços e funcionários públicos. Dentro dessa política de governo, emerge a questão agrária que, no Brasil, devido a fatores do passado e do presente, significa terra em mãos de poucos. Entre os fatores do passado estão a 1ª Lei das terras (1850) e a própria escravidão, que não permitiram o acesso à terra aos menos favorecidos. Isso influi na estrutura agrária brasileira até os dias atuais. Esses menos favorecidos, principalmente os negros, ficaram sem a possibilidade de comprar terras dos outros, sendo obrigados, então, a continuar trabalhando nas fazendas dos senhores. Devido a alguns deles (negros) não concordarem com esta situação, houve o surgimento dos primeiros trabalhadores rurais sem terra. 2 Não vou me deter no assunto, por não ser o tema central de meu trabalho, mas a questão é analisada profundamente em BIONDI, Aloysio. O Brasil privatizado. São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 1999. 3 Hoje, no Brasil, diversas terras são passíveis de desapropriação. Isso ocorre pelo fato de o país possuir a mais alta concentração de terras do mundo. E grande parte dos latifúndios é improdutiva. A redefinição dos sistemas educacionais está situada no bojo das reformas estruturais encaminhadas pelo Banco Mundial. Ao considerar apenas a dimensão instrumental da educação (habilitação e qualificação requeridas) face à dinâmica do capital, o pensamento crítico não rompe os marcos do economicismo, contribuindo para o aumento da crença no determinismo tecnológico, com significativas conseqüências desmobilizadoras 3. A prática educacional adotada pelo governo federal brasileiro, ao longo das últimas duas décadas, tem proposto o cultivo/produção/distribuição do projeto neoliberal, o que nos coloca de frente a uma problemática social grave, traduzida na desvalorização da categoria do magistério, incluindo: - arrocho salarial; - implementação do projeto de municipalização e conseqüente privatização do ensino público, que, no caso brasileiro, não se realiza prioritariamente pela transferência de serviços públicos ao setor privado, mas pela constituição objetiva de um mercado de consumo de serviços educacionais, o que ocorre pela omissão ou saída do Estado em diversos âmbitos educativos e pela deteriorização dos serviços públicos, combinadas às exigências crescentes de formação do mercado de trabalho ( Haddad: 1998) ; - implantação do ensino a distância, cujo princípio orientará para o enxugamento dos profissionais da educação pública, substituídos pelo sucesso da TV; - divisão do ensino médio em geral e profissionalizante; - desmantelamento do ensino superior gratuito, entre outros. Estas medidas neoliberais caminham na contramão do que penso ser a necessidade da luta em defesa e garantia do acesso plural e permanência à escola pública, gratuita e laica, em todos os níveis e modalidades de ensino. Para super este quadro, afirmo a idéia de pensarmos um projeto educacional políticopedagógico-cultural em que a escola não produza e reproduza a desigualdade, mas que esteja vinculada a um novo projeto de desenvolvimento, auto-sustentável, ecológico, 3 Sobre o assunto, ver HOLLOWAY, J. e PELÁEZ, E., “Aprendendo a curvar-se: pós-fordismo e determinismo tecnológico”, in Outubro, 2, 1998. 4 socialmente justo e nele uma escola anti-capitalista, sob o controle social e popular da comunidade. O trabalhador, através de sua própria experiência, descobriu que os discursos de igualdade não passavam de teoria, uma teoria que apenas reproduzia a estrutura social , preparando o aluno para uma aceitação e inserção nesta. A educação democratizou o acesso escolar, mas deformou o método, rebaixando a qualidade, mostrou ao povo a escola, porém não lhe deu uma verdadeira escola. Paulo Nosella, ao avaliar a educação brasileira na última década, afirma que: ...criou cursos supletivos, cursos noturnos de “faz-de-conta”, faculdades de beira de estrada, quatro ou até cinco turnos diários, superlotação de salas, sobrecarga da jornada dos trabalhadores em educação, grande confusão na avaliação dos resultados, redução da hora/aula, tudo para cicatrizar a ferida de uma sociedade desigual, que para uns oferece a escola, para outros faz de conta que oferece Nosella (1998:179): Esta escola pretendida ainda está em gestação, sabe-se que ela estará colocada a serviço das modificações sociais e na formação “omnilateral” do trabalhador, porém ainda não há clareza sobre a proposta e a escola em si que se busca construir. A educação rural no Brasil A educação, nesta sociedade capitalista transmite os modelos da classe dominante, educa os alunos para a reprodução desta sociedade, incluindo a dominação de classe. A escola que interessa aos trabalhadores é buscada pelos movimentos sociais, construída nas experiências que transgridem esse modelo; ela apresenta uma concepção clara de articulação entre saberes e conhecimentos, reconhecendo e aceitando os saberes populares, associando a formação à vida e ao trabalho. Num sucinto retrospecto da educação no país, um aspecto que se evidencia é o de sempre ter estado vinculada com o projeto econômico dominante e ligada aos sistemas oficiais e regulares de ensino, concebendo a escola como um instrumento urbano estratégico para disciplinamento da força de trabalho e para aceitação da sociedade estratificada e a serviço de alguns. Na história da educação rural destaco alguns momentos: 5 1) O “ruralismo pedagógico” – evidenciado na preocupação com a educação rural na Constituição de 1937, pregava uma educação que levasse o homem do campo a reforçar os seus valores, a fim de fixá-lo à terra, adaptando programas e currículos ao meio rural. 2) A Lei Orgânica do Ensino Primário – 8529/46 - fazia referências ao tratar dos períodos letivos, obrigatoriedade de matrícula e designações oficiais das escolas. 3) A Comissão Brasileira – Americana de Educação das Populações Rurais – criada na década de 40, pregava a implantação dos Clubes Agrícolas, adaptação de uma idéia surgida em 1909 nos Estados Unidos, reafirmando a superioridade do mundo urbano. 4) A Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) e o Serviço Social Rural (SSR) – criados na década de 50, limitaram-se a repetir fórmulas tradicionais de dominação, auxiliando a internacionalização da economia brasileira aos interesses monopolistas. 5) A Lei 4.024/1961 – Lei das Diretrizes e Bases da Educação – deixou a cargo dos municípios a estruturação da escola fundamental da zona rural. Sem condições de autosustentação pedagógica, administrativa e financeira, a escola rural entrou num processo de extinção. 6) A Lei 5.692/71 – Reforma de Ensino do 1º e 2º graus – foi fruto do autoritarismo da ditadura militar. As referências ao rural são para falar da empresa rural e não da pequena propriedade rural. Reconhece a natureza e o ritmo da atividade rural, abrindo a possibilidade da escola organizar seu calendário, observando a época do plantio e da colheita. Na atualidade, a lei 9.394/96 não explicita os princípios e as bases de uma política educacional para o campo. Faz menção, semelhante à Lei Orgânica de 1946, à questão dos períodos letivos e também ao currículo. Um projeto de educação que contribua para com a realidade camponesa é estratégico para a modernização da agricultura brasileira. Existe a urgência de investimentos na interpretação e construção de conhecimento desde a agricultura familiar, sendo um passo de partida a valorização da escola básica no campo e do campo, especialmente com os projetos de assentamento e a organização da cooperação entre os pequenos agricultores se ampliando, o que torna esta necessidade ainda mais presente. O currículo da escola rural 6 A definição curricular para a escola do campo passa por um processo onde a cultura urbana dominante é que determina o modelo a ser utilizado nas escolas, mesmo as da zona rural. A escola, através do currículo, não apenas reproduz conhecimentos, mas transmite relações de poder e, no caso da escola rural, a relação sempre é de inferioridade diante da concepção urbana dominante. É uma transposição do currículo das escolas urbanas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – 9394/96 – prevê apenas uma adaptação dos conteúdos e da metodologia. Não há reconhecimento do trabalho e da cultura rural, apenas se transfere a escola da zona urbana para a zona rural. O desafio, hoje, é saber aproveitar os vários passos dados, em lugares diferentes, respeitando a realidade e a criatividade de cada grupo e de cada lugar, para concretizar o aprofundamento da proposta político-pedagógica, já construída por alguns movimentos sociais do campo, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra - MST e também em algumas experiências de administrações populares. A educação no MST A importância dada à educação pelo MST é mensurada pela afirmação de que investir em educação é tão importante quanto o gesto de ocupar a terra. Os princípios da educação no MST estão explicitados no Caderno de Educação n.º 8, publicado pelo Movimento. Alguns princípios filosóficos: - educação para a transformação social; - educação para o trabalho e a cooperação; - educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana; - educação com e para valores humanistas e socialistas; - educação como um processo permanente de formação/transformação. Alguns princípios pedagógicos: - relação entre prática e teoria; - combinação metodológica entre processos de ensino e de capacitação; - a realidade como base da produção de conhecimento; - conteúdos formativos socialmente úteis; - educação para o trabalho e pelo trabalho; 7 - vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos; - vínculo orgânico entre processos educativos e processos econômicos; - vínculo orgânico entre educação e cultura; - gestão democrática; - auto-organização dos estudantes; - criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educadores; - atitudes e habilidades de pesquisa; - combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais. A educação do campo precisa ser uma educação que assuma a identidade do meio rural, não só como uma cultura diferenciada, mas como um contexto em que se efetive um projeto de desenvolvimento do campo, ou seja, uma escola do campo comprometida com um projeto político-pedagógico vinculado às causas, aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura de quem vive e trabalha no campo. A educação do campo precisa mudar o conteúdo e a forma da escola funcionar para qualificar o processo educativo. Isso sem perder de vista o ser humano como sujeito envolvido no processo de formação e o tipo de sociedade que se quer construir. A formação dos professores São preparados para o meio urbano, não há uma proposta de formação específica para o campo. Na década de 1940, o governo federal criou escolas normais rurais, com objetivo de preencher a carência de professores nas zonas rurais e promover a interação do homem do campo com o urbano. A formação do professor rural estava ligada à assimilação de técnicas, com as quais o homem rural poderia ter uma vida melhor, seria o passaporte para um estado superior, a passagem do mundo arcaico da agricultura familiar para o mundo civilizado da agricultura mecanizada ligada à indústria urbana. A saída do campo era percebida como um fenômeno natural, como se fosse a busca pelo “progresso”, “conhecimento”, a superação do seu “atraso”. A formação de professores para o MST 8 Parte dos professores defende que os professores devam ser indicados pelo próprio Movimento. Para isso, lutam pela implementação de uma Universidade Popular, com condições específicas para atender essa população. No Rio Grande do Sul, a Universidade Estadual, UERGS, recentemente criada, pode vir a ocupar esse espaço. A escola Josué de Castro, em Veranopólis/RS, oferece o curso Magistério do MST, no qual suas práticas são trabalhadas para que levem consigo a ideologia do MST para ser divulgada aos jovens e crianças que venham a ser alunos nos acampamentos e assentamentos. A constituição de uma pedagogia apropriada às atuais demandas de um meio rural em transformação exige a articulação da experiência da realidade local com a regional, estadual, nacional, internacional; ou seja, relacionando permanente e dialeticamente o micro e o macro, o grande e o pequeno, o particular e o mais geral. Sobre o assunto afirma Therrien (1993 : 11): É conveniente enfatizar que há um movimento social no campo em marcha, gestando uma pedagogia, um saber da prática política e organizativa desse movimento que está contribuindo para a criação da educação e do campesinato. Por outro lado, assistimos à negação desse saber, pois os camponeses são esmagados como sujeitos pensantes, como produtores de conhecimentos e de cultura, fato que enfraquece os seus avanços. Dados históricos oficiais mostram que a maioria das escolas nas zonas rurais são escolas isoladas, com classes multisseriadas. Algumas escolas, por medida de economia, foram fechadas, e com isto, as crianças e adolescentes obrigados a estudar longe de suas famílias e de sua realidade, em alguns casos precisando fazer uma viagem para chegar à escola. Como predomina a concepção unilateral da relação cidade/campo, muitas prefeituras trazem as crianças para as cidades, num trajeto de horas, por estradas precárias, com a finalidade de reduzir custos e as crianças são colocadas em classes separadas das crianças da cidade, reforçando a dicotomia ainda presente no imaginário da sociedade. Ou então são colocadas na mesma sala, onde são chamadas de atrasadas pelos colegas urbanos e, para serem modernas, passam a assumir valores duvidosos. A concepção de que a escola urbana é melhor do que a rural coloca o determinismo geográfico como um fator regulador da qualidade de educação, sendo um critério equivocado da política de investimentos. O que está em questão é um projeto de escola que 9 tem uma especificidade inerente à histórica luta de resistência camponesa, a qual deveria ter valores singulares que vão em direção contrária aos valores burgueses e à lógica patronal. No vazio deixado pelo Estado, têm surgido algumas iniciativas da própria população, através de suas organizações e movimentos sociais, tentando reagir ao processo de exclusão e forçar novas políticas públicas que garantam o acesso à educação, tentando assim construir uma identidade própria das escolas do campo. São exemplos deste esforço: - As Escolas-Famílias Agrícolas (EFAs), que existem em vários estados há 30 anos, com mais de 200 centros educativos em alternância espalhados pelo Brasil, voltados para a educação dos filhos da agricultura familiar; - As várias iniciativas no campo da alfabetização de jovens e adultos, como o trabalho do Movimento de Educação de Base ( MEB); - A luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) pela escolarização dos sem terra nos assentamentos e nos acampamentos e suas experiências na área de formação de professores e de técnicos na área da produção. Para maior aprofundamento na questão da escola do MST, há uma bibliografia extensa, da qual sugiro Educação em Movimento. Formação de educadoras e educadores no MST (1997) e Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais do que escola, (2000), ambos de Roseli Salete Caldart e a dissertação de mestrado de Isabela Camini, O cotidiano pedagógico de professores e professoras em uma escola de assentamento do MST: limites e desafios (1998). - A luta dos indígenas e dos povos da floresta por uma escola vinculada a sua cultura. A problemática educacional ganha importância à medida que o MST coloca como fundamental o rompimento de três grandes “cercas”: a cerca do latifúndio, a cerca do capital e a cerca da ignorância que submetem os trabalhadores rurais sem terra a condições de vida degradantes no Brasil. Ao longo dos tempos, o MST vem construindo uma proposta pedagógica através da qual educar não se reduz meramente a transmitir conhecimentos acumulados, uma vez que , através da educação o Movimento busca integrar o homem ao seu meio. A educação é vista como possuidora de uma vocação redentora da miséria a que a maior parte da sociedade brasileira está submetida pelos “desmandos” da classe dirigente do país, formada por uma burguesia aliada a um segmento agrário retrógrado e mal intencionado, 10 que procura manter o povo na ignorância como forma de facilitar a dominação dos trabalhadores por essa classe de parasitas. O elemento inovador que emerge das práticas do MST dirigidas à escolarização referese ao sentido de apropriação da escola pública por um movimento social, organizado com o objetivo de promover uma educação escolar profundamente ligada ao seu projeto social. O MST, ao definir sua proposta de trabalho educacional, procurou aliar a educação ao trabalho e à organização que poderá possibilitar uma formação para as suas lutas, cujos princípios orientadores podem ser sintetizados através do trabalho, organização e participação coletivos, tornando mais firme o vínculo entre o trabalho produtivo e o estudo, que deve ser uma tônica constante na educação do MST, bem como a necessária ligação entre teoria e prática, sendo esta última entendida como tarefa obrigatória dos educandos. Partindo desses princípios, o MST reivindica do Estado que a escola pública do meio rural seja pensada e organizada para o trabalho no campo, dando a mesma ênfase para o trabalho manual e o trabalho intelectual, rompendo assim com a dicotomia social do trabalho intelectual para uma classe e o trabalho braçal para outra. O MST entende, portanto, que, partindo da prática produtiva para a educacional, estaria fazendo uma relação dialética entre teoria e prática. Mesmo defendendo que a escola deva ter um caráter diferente, o Movimento não se empenhou em criar uma “ escola modelo” e sim em disseminar uma proposta educacional que se realiza diferencialmente devido à heterogeneidade das realidades locais. Na prática, é uma apropriação da proposta educacional de Paulo Freire, acompanhada das orientações pedagógicas de Makarenko, Piaget, Jose Martí e Che Guevara. De Makarenko, o MST serve-se de suas experiências durante o período em que esteve à frente da Colônia Gorki, no período pós-revolução russa. De Piaget, aproveita as teorias sobre o processo pedagógico que desembocaram nas metodologias construtivistas, tão disseminadas nas últimas décadas. De Jose Martí, o MST procura aproveitar as propostas nacionalistas que este apregoava em Cuba, como forma de garantir a soberania de sua nação. Quanto a Che Guevara, suas experiências revolucionárias servem como estímulo para a luta e para o desenvolvimento da formação de consciência do cidadão-militante. O MST inova também no conceito de escola pública, entendendo que esta deva ser mantida com recursos públicos (estatais) e orientada pelos interesses da comunidade. Para o 11 MST, o fato de a educação ser um dever do Estado não pode significar que a direção da escola pública deva ser reservada exclusivamente ao Estado, pois esta tem que estar a serviço da comunidade e é ela quem melhor identifica suas necessidades. A administração escolar deve ser centralizada e estar sob o controle dos trabalhadores que a utilizam. O Movimento incentiva a participação das comunidades nas escolas, entendendo que estas devem ser geridas por coletivos formados por professores, pais e também pelos educandos que são os maiores interessados nos destinos da escola e da educação em geral. Com relação ao conteúdo ensinado nas escolas rurais sem nenhuma adequação para o campo, o MST entende que, da maneira como está sendo feito, ele contribui para acelerar o êxodo rural, ao fantasiar uma realidade considerada bem mais atraente que a realidade do meio rural. Além disso, o conteúdo trabalhado costuma mostrar os benefícios existentes na cidade que não são levados ao campo. Tem-se, ainda, o agravante de dificilmente o conteúdo dos livros didáticos utilizados nesse setor apontarem para a realidade dos pobres e miseráveis que vivem nas grandes cidades. Esse conteúdo, associado à falta de formação adequada do professor (eminentemente urbana) e aos problemas advindos do período letivo não coincidente com os períodos de plantio, colheita, etc., contribuem para a não fixação do homem no campo, contrariando o objetivo maior do MST, no momento, que é sua preservação no meio rural. O MST tem tentado interferir também nas formas de avaliação dos educandos, entendendo que o modelo de educação tradicional não satisfaz às necessidades do ensino em suas comunidades. O MST tem como objetivo construir um novo modelo de educação mas, ao mesmo tempo, entende que há muitas dificuldades para mudar a mentalidade educacional no Brasil. Essas dificuldades estão presentes tanto nos órgãos do Estado, que fiscalizam e enquadram o currículo e os conteúdos trabalhados pelos professores, como no conservadorismo dos pais que muitas vezes se colocam contra as novas propostas educacionais. Apesar de se auto reivindicarem dialéticos, apontam para a utilização de uma metodologia advinda do existencialismo cristão de Paulo Freire, ao escolherem como ponto de partida os complexos temáticos em torno de uma abordagem interdisciplinar. Esses complexos temáticos giram em torno da realidade do MST, sobretudo em torno da Reforma Agrária, da cooperativa e da luta pela terra num sentido mais amplo. 12 O MST desenvolveu, por algum tempo, uma espécie de xenofobia maniqueísta, acreditando que somente quem morasse no assentamento, fazendo parte do MST, poderia ter capacidade para ser um verdadeiro professor de sem-terra. Verificou-se na prática que a proposta de se ter esse professor militante vivendo entre os acampados e assentados não seria viabilizada, visto que o MST deparava-se com as dificuldades da formação específica do professor e da formação do cidadão que tem de ter, também, conhecimentos técnicos e não apenas políticos. O MST tem insistido na participação de toda a comunidade interessada na gestão da escola, entendendo que nisso consiste a democracia. Até agora, nem mesmo onde o movimento está mais organizado, esse apelo tem dado os resultados esperados. Algumas colocações à guisa de conclusão provisória As escolas rurais fazem parte da educação. A existência e a necessidade dessas escolas comprovam que a zona rural não é só um espaço geográfico dual, com apropriação da terra para produção e visto como oposição à cidade. Ao longo de todo o texto, tive como eixo a discussão presente no problema de pesquisa, ou seja a possibilidade (ou não) da transformação/ocupação de uma escola da rede pública, porque .. é preciso superar a visão dualista, que organiza o conhecimento sobre os fenômenos humanos de forma dicotomizada, em pares antagônicos (ex. rural versus urbano). Essa maneira de compreender o mundo baseia-se em aparências e não dá conta da complexidade do mundo real. No mundo real, os objetos se interpenetram para compor a totalidade. A totalidade contém uma integração entre o rural e o urbano. (Silva, 2000:131) A possibilidade de transformação estaria identificada com a pedagogia defendida por um movimento social, o MST. Em outras palavras, a verificação da possibilidade de transformação de uma escola no assentamento para uma escola do assentamento teve por referência a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, anteriormente identificada. O propósito de toda a busca contida nesta pesquisa foi a percepção de que a escola do Movimento Sem Terra, discutida e apresentada em inúmeras publicações, pode vir a ser, também, uma possibilidade para a própria zona urbana, nesta sociedade cada vez mais globalizada, onde a função da educação de ensinar e propor aos educandos mecanismos de interpretação da realidade que os envolve, tornando-se consciente de seu papel de cidadãos e agentes da história, aumenta de valor a cada dia. 13 Ao longo do processo de desenvolvimento econômico brasileiro, em todas as épocas, a educação rural esteve servindo aos interesses do capital, no que tange à modernização da agricultura, voltada de costas para a prática dos trabalhadores rurais e multiplicadora/divulgadora dos valores e comportamentos urbanos, atrelada à vontade dos grupos no poder, perdendo, em muitos casos, a identidade, servindo inclusive como fator de expulsão dos agricultores de suas terras. A proposta para a educação do MST está afinada com os interesses, as concepções de trabalho e as relações sociais dos trabalhadores Sem Terra e, talvez por isso, cause preocupação às classes hegemônicas, que conhecem o poder da educação como ferramenta capaz de instrumentalizar o povo para a conquista das condições de compreensão de sua situação, se organizar e lutar pelo seu desenvolvimento e pelos seus interesses sempre negados. A viabilização das escolas nos assentamentos, com um ensino diferente, ligado à história da luta pela terra e ao mundo rural, depende do nível de organização do MST e da disponibilidade de pessoas capazes de atuar neste campo. A proposta educativa do Movimento, que reflete a vida, a história e a luta dos trabalhadores rurais, pode não ser bem aceita pelos próprios interessados, devido à desvalorização feita historicamente ao ensino popular e ao desejo de que os filhos não fiquem fora do ensino oficial. Percebo aí a possibilidade de renovação do debate entre saber acadêmico e saber popular, talvez pela incapacidade de articulação da escola, que é marcada pela divisão de classes e pela imposição de uma determinada cultura e visão de mundo dominante, o que constitui mais um desafio ao Setor de Educação do MST. Quanto à questão primeira desta investigação, a resposta sobre a escola no assentamento ser uma escola do assentamento, cabe citar a resposta de uma das mães entrevistadas, a mãe B, participante das lutas do MST desde a origem, na Fazenda Annoni, que disse: ... eu ainda entendo que ela é uma escola que está no assentamento, mas do assentamento, eu não sei, mas acho que não, né , porque (...) alguns professores trabalham bastante nesse sentido, mas outros ainda não (...) é, tá em construção... Afirmo a minha concordância com a afirmação desta mãe, pois realmente é um processo que está acontecendo, é a utopia sendo realizada aos poucos, enfrentando os problemas do dia-a-dia da escola. Isso fica visível com o trabalho de algumas das educadoras, que 14 estimulam as crianças a trocarem ajudas, a aprenderem em conjunto, incentivando a todas a acreditarem no seu potencial de aprender, de saber, ensinando coisas que são vividas pelas crianças no assentamento. Uma alternativa para atingir esses educadores, para além das reuniões, que são poucas e distantes, e que fica já como uma sugestão, pode ser a assinatura e compra dos materiais publicados pelo Movimento, colocando-os à disposição para leitura, bem como dar maior espaço, nas reuniões, aos representantes do MST, Isso já aconteceu no 1º Conselho de Classe deste ano, onde uma mãe, professora de outra escola, membro do Conselho de Educação do Assentamento, palestrou sobre Paulo Freire, destacando o engajamento da proposta de educação do Movimento às idéias do grande educador, bem como propondo atividades concretas de aproximação com a realidade no dia-a-dia. Cabe um apontamento para o caráter contraditório da relação da Secretaria Municipal de Educação com a escola, pois, ao mesmo tempo em que aponta como avanço e modelo a Escola, objetivamente considera-a como a qualquer outra escola de sua rede, rural ou urbana, não dando conta das condições materiais necessárias para a concretização de uma proposta pedagógica como a do MST, basta ver o salário dos professores, os quais são obrigados a trabalhar em mais de um turno e em duas ou mais escolas, tendo que, às vezes, faltar devido a esse motivo. Também para a organização do currículo não existe um olhar diferenciado, uma vez que não há horas para o planejamento coletivo e para a formação. Menciono ainda a inexistência de professores substitutos, além de condições materiais como biblioteca qualificada e organizada, computadores, quadras e auditório, para citar algumas. O que ainda precisa avançar para alguns trabalhadores em educação da Escola Municipal de Educação Fundamental Nossa Senhora de Fátima e para a própria SMED/ Viamão, é a percepção da experiência inovadora pela qual estão passando, e que isso é motivo de interesse de todos nós, educadores que buscamos uma pedagogia que se contraponha à pedagogia oficial. E é isso que explica a defesa de uma escola voltada a uma política de inclusão, articulada aos valores humanos defendidos pelos trabalhadores assentados; enfim, é isso que significa a escola do MST ser uma utopia em construção. Referências bibliográficas 15 ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir e GENTILI, Pablo (orgs.). Pós-Neoliberalismo. As políticas sociais e o estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p.9-23, 1995a. BOSI, Alfredo. Uma grande falta de educação. In: Praga. Estudos Marxistas. São Paulo: Hucitec, nº 6, 1988. CALAZANS, Maria Julieta Costa. Para compreender a educação do Estado no meio rural Traços de uma trajetória. In: THERRIEN, Jacques; DAMASCENO, Maria Nobre (Coords.).Educação e escola no campo. Campinas: Papirus, 15 - 42, 1993. CALDART, Roseli Salete. Educação em Movimento. Formação de educadoras e educadores no MST. Petropólis: Vozes, 1997. _____. História da educação no MST. Depoimentos compilados das entrevistas do projeto MST: Vamos contar nossa história. Porto Alegre : 1998, não publicado. _____. Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais do que escola. Petropólis: Vozes, 2000. FERRARO, Alceu. Crianças e adolescentes no RS: trabalho e analfabetismo. In: Educação e Realidade. Porto Alegre: FACED/UFRGS, vol. 22, nº 2, 1997. _____. O movimento neoliberal: gênese, natureza e trajetória. In: Sociedade em Debate, Pelotas, v.3, n.4, 33-58, dez/97. _____. Neoliberalismo e Políticas Sociais: um pé em Malthus, outro em Spencer. In: Revista Universidade e Sociedade, Brasília: ANDES/sn, v.9, n. 20, p. 11-14, set/dez 1999. FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). Educação e Crise do Trabalho: Perspectivas de final de século. Petropólis: Vozes, 1988. FUKUYAMA, Francis. O Fim da História e o último homem. São Paulo: Rocco, 1992. GENTILI, Pablo(org.) Pedagogia da exclusão. Crítica ao neoliberalismo em educação. Petropólis: Vozes, 1995b. _____ A falsificação do consenso: simulacro e imposição na reforma educacional do neoliberalismo. Petropólis: Vozes, 1998. GRITTI, Silvana Maria. O papel da escola primária rural na penetração do capitalismo no campo. Pelotas: Universidade Católica de Pelotas, 1999, 158 p. Dissertação de Mestrado (Desenvolvimento Social). HADDAD, Sérgio. Os Bancos Multilaterais e as políticas Educacionais no Brasil. In: VIANNA JR., Aurélio (Org.) A estratégia dos Bancos Multilaterais para o Brasil. Brasília: Instituto de Estudos Sócio-Econômicos, 1998. HADDAD, S. e DI PIERRO, M.C. A educação no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Bagé e Sarandi (RS).Brasília, DF: INEP, 1994. HOLLOWAY, John e PELÁEZ, Eloína. Aprendendo a curvar-se: pós-fordismo e determinismo tecnológico. In: Outubro - Revista do Instituto de Estudos Socialistas. São Paulo, 2: 21-30, 1998. KOLLING, Edgar Jorge; NERY, Ir. Fsc; MOLINA, Mônica Castagno. Por uma educação básica do campo. Brasília: Fundação Universidade de Brasília, 1999. LEITE, Sérgio Celani. Escola Rural: urbanização e políticas educacionais. São Paulo : Cortez, 1999. MST. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Disponível na internet: www.mst.org.br _____O que queremos com as escolas dos assentamentos. Caderno de Formação, 18, São Paulo: Secretaria Nacional, 1991. _____Princípios de Educação no MST. Caderno de Educação, nº8, São Paulo: MST, 1996. 16 _____Como fazemos a escola de educação fundamental. Caderno de Educação, nº9, Porto Alegre: MST, 1999. NOSELLA, Paolo. A escola de Gramsci. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. _____A escola brasileira no final do século: Um balanço. In: FRIGOTTO, Gaudêncio(org.). Educação e crise do trabalho. Perspectivas de final de século. Petropólis: Vozes, 1998. PORTELA FILHO, P. O ajustamento na América Latina: crítica ao modelo de Washington. In: Lua Nova- Revista de Cultura e Política, São Paulo 32, 124-131,1994. RIBEIRO, Marlene. A originalidade de Paulo Freire no pensamento educacional brasileiro. In: Educação em Revista. Belo Horizonte, nº 29, p.15-30, jun/1999. SILVA, Celeida Maria Costa de Souza e. Políticas públicas educacionais e assentamentos rurais de Corumbá - MS (1984-1996). Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande:2000. SILVA, Ruth Ivory Torres da. Clubes agrícolas escolares: educação rural. Revista do Ensino. Porto Alegre(55): 48-53, junho de 1940. THERRIEN, Jacques; DAMASCENO, Maria Nobre (Coords.).Educação e escola no campo. Campinas: Papirus, 1993.
Download