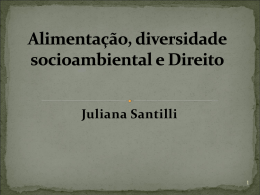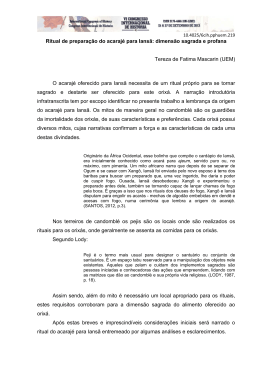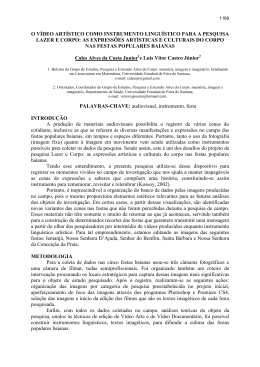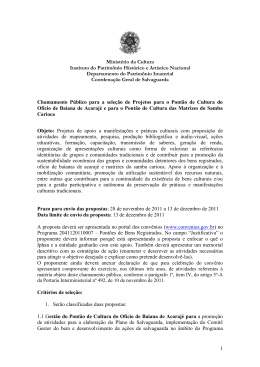Carolina Cantarino Baianas do acarajé: uma história de resistência O ofício das baianas do acarajé é patrimônio cultural do Brasil. Quando anunciado, equívocos em torno do “tombamento do acarajé” e outros mal-entendidos esconderam a valorização de uma profissão feminina historicamente presente no País: as baianas de tabuleiro. O orgulho por esse reconhecimento podia ser visto nos rostos das mulheres negras de novas e antigas gerações presentes durante a cerimônia de diplomação de seu ofício, que aconteceu no dia 15 de agosto de 2005, na sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Salvador. Sabores do Brasil 117 Baiana. Fonte: O Rio antigo do fotógrafo Marc Ferrez 3ª edição, 1989 Editora Ex Libris Ltda 118 Textos do Brasil . Nº 13 Durante o evento, as baianas do acarajé usaram suas roupas tradicionais, cuja peça mais característica é a grande saia rodada, complementada por outros adereços como os chamados panos da costa, o turbante na cabeça, a bata e os colares com as cores dos seus orixás pessoais. Nas ruas de Salvador, de outras cidades do estado da Bahia e, mais raramente, em outras regiões do País, as baianas tradicionais encontram-se sempre acompanhadas por seus tabuleiros que contêm não só o acarajé e seus possíveis complementos, como o vatapá e o camarão seco, mas também outras “comidas de santo”: abará, lelê, queijada, passarinha, bolo de estudante, cocada branca e preta. Os tabuleiros de muitas baianas soteropolitanas se sofisticaram: revestidos por paredes de vidro, muitas vezes contêm caras panelas de alumínio junto às colheres de pau. O acarajé, o principal atrativo no tabuleiro, é um bolinho característico do candomblé. Acarajé é uma palavra composta da língua iorubá: “acará” (bola de fogo) e “jé” (comer), ou seja, “comer bola de fogo”. Sua origem é explicada por um mito sobre a relação de Xangô com suas esposas, Oxum e Iansã. O bolinho se tornou, assim, uma oferenda a esses orixás. Mesmo ao ser vendido num contexto profano, o acarajé ainda é considerado, pelas baianas, como uma comida sagrada. Para elas, o bolinho de feijão-fradinho frito no azeite de dendê não pode ser dissociado do candomblé. Por isso, a sua receita, embora não seja secreta, não pode ser modificada e deve ser preparada apenas pelos filhos-de-santo. “Pode parecer que estamos dando importância maior ao acarajé do que ao ofício das baianas do acarajé, mas este fato tem um sentido: neste complexo cultural, o acarajé é o elemento central. O ofício não teria a importância que tem Sabores do Brasil Mesmo ao ser vendido num contexto profano, o acarajé ainda é considerado, pelas baianas, como uma comida sagrada. Para elas, o bolinho de feijãofradinho frito no azeite de dendê não pode ser dissociado do candomblé. se o acarajé fosse apenas um dos alimentos tradicionais”, afirma Roque Laraia, antropólogo da Universidade de Brasília e membro do Conselho Consultivo do Iphan, em seu parecer sobre a proposta de registro do ofício das baianas do acarajé. O inventário que instruiu o processo de registro foi realizado pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Raul Lody e Elizabeth de Castro Mendonça foram os antropólogos que realizaram a pesquisa que consistiu na realização de entrevistas; levantamento bibliográfico; registros audiovisuais e, dentre outras coisas, visitas a pontos característicos de baianas do acarajé na cidade de Salvador, tais como: Bonfim, Pelourinho, Barra, Ondina, Rio Vermelho e Piatã. Brotas também foi um dos bairros visitados devido à presença de um “baiano de tabuleiro”, evangélico. As baianas sofrem, cada vez mais, com a concorrência da venda do acarajé em bares, supermercados e restaurantes, que divulgam o bolinho como fast-food. Essa apropriação do acarajé contraria o seu universo cultural original e a sua 119 Evento de registro do ofício de “Baiana do Acarajé” como patrimônio imaterial do Brasil. Fotos: Carolina Cantarino venda como “bolinho de Jesus” pelos adeptos de religiões evangélicas – que postam Bíblias em seus tabuleiros – têm causado polêmica. “Se você tem uma religião que é contrária ao candomblé, por que vender acarajé e não qualquer outro quitute?” indaga Dona Dica diante do seu tabuleiro no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, ressaltando que o acarajé, para a maioria das baianas de tabuleiro, filhas-de-santo, é indissociável do candomblé. Essa indistinção não deixa de ser, também, uma estratégia de diferenciação de seus produtos, num contexto de concorrência cada mais acirrada que é Salvador, uma cidade que atrai muitos turistas por ser con120 siderada como o locus de africanismos no Brasil, a partir dos quais uma inegável comercialização da cultura negra tem se constituído. Mas se para essas baianas as mudanças em relação ao aspecto religioso são inaceitáveis, outras transformações são bem-vindas. “No passado era muito ruim porque a gente tinha que descascar o feijão e quebrá-lo na pedra. Hoje em dia não se tem esse sofrimento porque as meninas usam o moinho elétrico ou mesmo o liqüidificador”. Essa é a opinião de Arlinda Pinto Nery, que trabalhou com seu tabuleiro durante mais de 50 anos e aprendeu o ofício com sua mãe. Textos do Brasil . Nº 13 Dona Arlinda faz parte da Associação das Baianas de Acarajé e Mingau do estado da Bahia que existe há 14 anos e conta com dois mil associados entre baianas e baianos do acarajé e vendedores de outros tipos de comida como mingau, pamonha e cuscuz. O trabalho da associação é voltado para a profissionalização da atividade, que já conta com um selo de qualidade: por meio de parcerias com o Sebrae e o Senac, os associados têm acesso a cursos sobre manipulação de alimentos, normas de higiene e sobre finanças, para que possam administrar melhor os seus ganhos. As mulheres de tabuleiro de ontem e de hoje A comercialização do acarajé tem início ainda no período da escravidão com as chamadas escravas de ganho que trabalhavam nas ruas para as suas senhoras (geralmente pequenas proprietárias empobrecidas), desempenhando diversas atividades, entre elas, a venda de quitutes nos seus tabuleiros. Ainda na costa ocidental da África, as mulheres já praticavam um comércio ambulante de produtos comestíveis, o que lhes conferia autonomia em relação aos homens e muitas vezes o papel de provedoras de suas famílias. O comércio de rua nas cidades brasileiras permitiu às mulheres escravas ir além da prestação de serviços aos seus senhores: elas garantiam, muitas vezes, o sustento de suas próprias famílias, foram importantes para a constituição de laços comunitários entre os escravos urbanos e também para a criação das irmandades religiosas e do candomblé. Muitas filhas-de-santo começaram a vender acarajé para poder cumprir com suas obrigações religiosas que precisavam ser renovadas periodicamente. Sabores do Brasil Devido a essa liberdade de movimento é que as escravas de tabuleiro eram vistas como elementos perigosos, tornando-se, por isso, alvos de posturas e leis repressivas. A venda do acarajé permaneceu como uma atividade econômica relevante para muitas mulheres mesmo com o fim da escravidão. Hoje em dia, atrás das baianas existem famílias inteiras dependendo dos seus tabuleiros: 70% das mulheres pertencentes à Associação das Baianas de Acarajé e Mingau do estado da Bahia são chefes de família. A rotina dessas mulheres é caracterizada pela compra dos ingredientes necessários para o preparo do acarajé, um trabalho diário e árduo: precisam levantar cedo, ir à feira, buscar produtos de qualidade a preços acessíveis. O preço do camarão e do azeite-de-dendê são os que mais variam. Muitas ainda enfrentam problemas para adquirir tabuleiros novos ou mesmo para guardá-los, deixando-os, muitas vezes, na praia. “Às vezes nos sentimos órfãs porque trabalhamos sozinhas com nosso tabuleiro, de sol a sol, expostas ao frio, ao calor e mesmo à violência. Mas somos mulheres negras e perseverantes: se não vendemos hoje, venderemos amanhã. Somos um símbolo de resistência desde a escravidão”, lembra Maria Lêda Marques, presidente da Associação que, juntamente com o terreiro Ilê Axé Opô Afonjá e o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, fizeram o pedido de registro junto ao Iphan. Carolina Cantarino Antropóloga e pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Artigo originariamente publicado na Patrimônio – Revista Eletrônica do Iphan (ISSN: 1809-3965). 121
Baixar