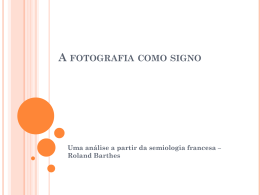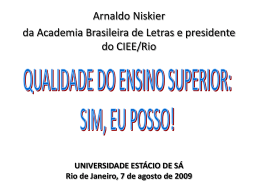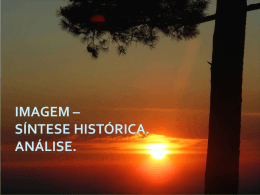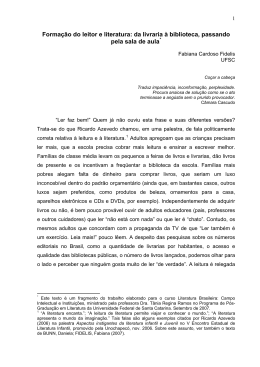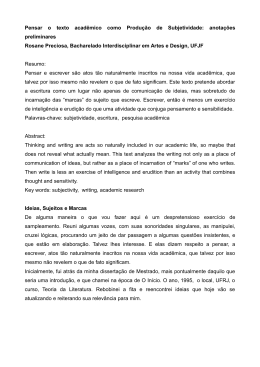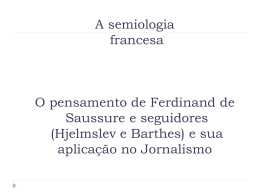RB1 ROLAND BARTHES (1915-1980) TELMA DOMINGUES DA SILVA Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem Universidade do Vale do Sapucaí Av. Pref. Tuany Toledo, 470 - Pouso Alegre - MG - 37550-000 [email protected] Nós, que somos “das Letras”, e também apaixonados pelo poder sedutor das palavras, deparamo-nos com os textos de Barthes, que fascinam pela agudeza analítica e pelo encantamento poético. Formado em Letras Clássicas, escreveu seus primeiros livros durante o período que esteve internado em sanatório curando-se da tuberculose. Foram os anos tumultuados da segunda guerra e da resistência francesa. Barthes atuou na França como acadêmico, intelectual e crítico, em um contexto histórico de pós-guerra e pósvanguardas, período de grande efervescência no pensamento francês. Morreu em 1980, atropelado, na Rue des écoles, na frente do Collège de France, depois de um encontro com o então primeiro-secretário do Partido Socialista, François Mitterand. 1 Para a elaboração deste pequeno perfil, além da produção do autor, contei basicamente com a obra Roland Barthes – Uma biografia intelectual, de Leda Tenório da Motta (Iluminuras/ Fapesp, 2011), uma pesquisa aprofundada sobre as articulações que se mostram na trajetória e nos textos de Barthes, que traz ainda as leituras sobre esse autor realizadas por diversos autores, em trabalhos biográficos e comentários. 1 Entremeios: revista de estudos do discurso. n.4, jan/2012. Disponível em <http://www.entremeios.inf.br> A escritura e o prazer do texto “A literatura tornou-se um estado difícil, estreito, mortal. Já não são mais seus ornamentos, é sua pele que ela defende.” (R.B. in Mitologias) A “literatura” e o “autor”, como sabemos, são nesse momento colocados em cheque, pela própria literatura e também pela reflexão acadêmica. A ruptura histórica na prática artística, trazida pela sociedade industrial, fica mais visivelmente associada ao momento reconhecido como o das “vanguardas europeias”, embora o processo de seu questionamento já se mostrasse presente em trabalhos muito anteriores (Baudelaire, Flaubert, Balzac, Proust, Mallarmé...). “Vanguarda”, diz Barthes, é uma dessas palavras tranquilizadoras, considerando que, de fato, é impossível “tomar em bloco”. Barthes fala de uma literatura pós-clássica, que sofre de uma “consciência infeliz”. Crítico do romance burguês e da “denúncia piedosa”, aceita o desconforto da não-ortodoxia como estruturalista e como marxista, no cerne de um ambiente acadêmico atravessado por tais tenções. Escapa muito bem a qualquer classificação. Falam seus biógrafos de um querer ser “o que escreve e o que reflete sobre o ato de escrever”, de um deslizar entre a vida acadêmica e a existencial, de um movimento entre incerto e preciso. Diz J.-C. Millner que “jamais cedeu quanto ao essencial”. Barthes briga ao mesmo tempo com a figura do professor (e de fato não possui os títulos requeridos para o patamar que atinge) e com a “gregariedade” do signo, seu “poder”, sua “moralidade” (Aula): o “estruturalismo”, dirá ele, “Não é uma escola, nem mesmo um movimento... Trata-se de um léxico...” (Ensaios críticos). Ser (enunciar) escritor é responsabilizar-se com a forma. Mas Barthes almeja a sua opacidade, pois o texto deve dar prova do desejo do leitor. E essa prova é a escritura (O prazer o texto). Mitologias Barthes tinha acabado de ler Saussure quando escreve Mitologias, lançado em 1957. Nos textos reunidos nesse volume, coloca-se como analista/crítico de materiais bastante diversificados, como luta livre, comida, artes plásticas etc. Muito embora elementos de tal estatuto possam hoje ser frequentes como objetos de análise no âmbito acadêmico, certamente não o eram à época. Foi a partir da leitura de Saussure, segundo afirma no prefácio, que ele se lança em tais análises, considerando com isso dar continuidade a uma “semiologia geral do mundo burguês” de que vinha abordando a face literária. Assim, em um mundo em que a arte passa a rivalizar com a publicidade e a literatura com os jornais2, Barthes voltou-se para a análise de fenômenos diversos 2 Mallarmé: “desde o dia em que a quarta páginas dos jornais tornou-se espaço para anúncios colocou-se um ponto final na crítica de livros, o verso está em toda a parte na língua onde haja ritmo, menos nos cartazes e na quarta página dos jornais” (in Ouvres Complètes. Paris: Gallimard/Pléiade, 1945, p. 867) 2 Entremeios: revista de estudos do discurso. n.4, jan/2012. Disponível em <http://www.entremeios.inf.br> enquanto linguagem, sem querer ser um desmistificador e denunciar a manipulação das consciências. Diz então que “o mito é uma linguagem”. Não será somente o estruturalismo através de Saussure que deflagra a visão de um sistema outro, para além da literatura propriamente dita. Vemos a perspicácia e ousadia de Barthes naquele momento, pelas quais se amplia a compreensão da linguagem como objeto de reflexão no contexto das Letras, através de elegantes análises de objetos banais da cultura. Assim, para Barthes, o romance burguês é mitológico: com o seu passé simple em que o passado histórico torna-se “o ato mesmo de um apoderamento do passado” (O grau zero da escritura). Mas a compreensão do mito ainda é mais interessante, considerando que ele o concebe como negação da História – “é ali onde a História é recusada que ela mais claramente age” – e ao mesmo tempo como forma de “contornar o intratável”. São grandes as contribuições para uma compreensão sobre a linguagem em sua obra, mesmo que nela não se perceba o investimento na delimitação de um corpo teórico. Os conceitos de grau zero e neutro mostram a preocupação de um pensador da linguagem em seu corpo a corpo com esse objeto: uma recusa da polaridade representada pela divisão estruturalista. O interessante é que esse embate, a partir da leitura e do convívio com os autores estruturalistas em suas diversas áreas (Saussure, Marx, Lévi-Strauss, Lacan...), permite a ele perceber e apontar os seus aspectos constitutivos, em seu funcionamento mesmo. Barthes vai se deparando, por exemplo, com a não-transparência da linguagem, ao afirmar com suas análises que os objetos da cultura e do mercado não são coisas já dadas, naturais; ao apontar, nos tautologismos (“Racine é Racine”) e truísmos (“A Argélia é francesa”), um efeito de evidência ou ao apontar o paradoxo sobre um autor francês representativo de uma literatura clássica, Racine, para o qual convergiram no século XX diferentes interpretações (cf. as obras Mitologias; “Sobre um emprego do verbo ser” e Sur Racine). E, de uma maneira muito peculiar, afirma como constitutiva a participação do leitor: é o seu desejo (em) que (se) move a escritura. 3 Entremeios: revista de estudos do discurso. n.4, jan/2012. Disponível em <http://www.entremeios.inf.br>
Download