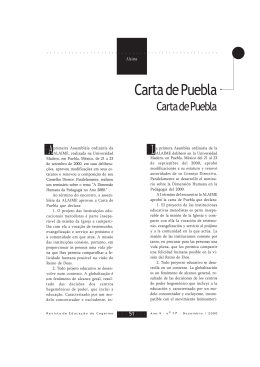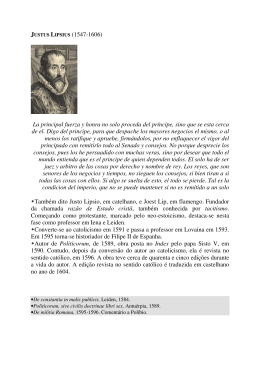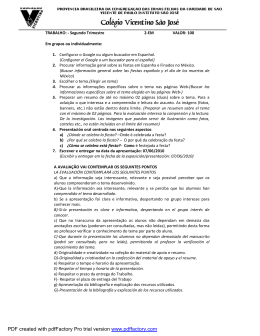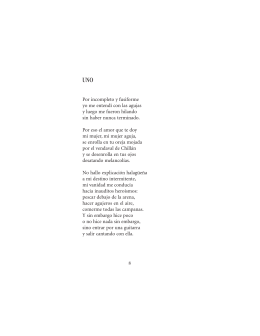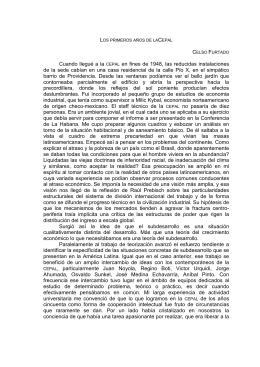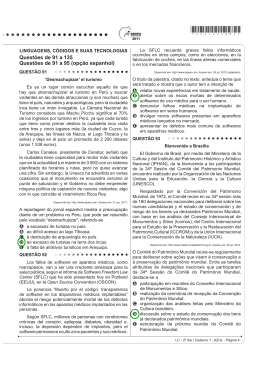Revista Brasileira de História da Educação Respeite o direito autoral Reprodução não autorizada é crime Revista Brasileira de História da Educação Publicação semestral da Sociedade Brasileira de História da Educação – SBHE Revista Conselho Diretor Dermeval Saviani (UNICAMP); Marta Maria Chagas de Carvalho (PUC-SP); Ana Waleska Pollo Campos Mendonça (PUC-Rio); Libânia Nacif Xavier (UFRJ). Comissão Editorial José Gonçalves Gondra (UERJ); Marcos Cezar de Freitas (PUC-SP); Maria Lúcia Spedo Hilsdorf (USP); Maurilane de Sousa Biccas (USP). Secretaria – Maria Cristina Moreira da Silva Conselho Consultivo Membros nacionais: Álvaro Albuquerque (UFAC); Ana Chrystina Venâncio Mignot (UERJ); Ana Maria Casassanta Peixoto (SEDMG); Clarice Nunes (UFF e UNESA); Décio Gatti Jr. (UFU e Centro Universitário do Triângulo); Denice B. Catani (USP); Ester Buffa (UFSCAR); Gilberto Luiz Alves (UEMS); Jane Soares de Almeida (UNESP); José Silvério Baia Horta (UFRJ); Luciano Mendes de Faria Filho (UFMG); Lúcio Kreutz (UNISINOS); Maria Arisnete Câmara de Moraes (UFRN); Maria de Lourdes de A. Fávero (UFRJ); Maria do Amparo Borges Ferro (UFPI); Maria Helena Camara Bastos (UFRGS); Maria Stephanou (UFRGS); Marta Maria de Araújo (UFRN); Paolo Nosella (UFSCAR). Membros internacionais: Anne-Marie Chartier (França); António Nóvoa (Portugal); Antonio Viñao Frago (Espanha); Dario Ragazzini (Itália); David Hamilton (Suécia); Nicolás Cruz (Chile); Roberto Rodriguez (México); Rogério Fernandes (Portugal); Silvina Gvirtz (Argentina); Thérèse Hamel (Canadá). COMERCIALIZAÇÃO Editora Autores Associados Av. Albino J. B. de Oliveira, 901 CEP 13084-008 – Barão Geraldo Campinas (SP) Pabx/Fax: (19) 3289-5930 e-mail: [email protected] www.autoresassociados.com.br Sociedade Brasileira de História da Educação – SBHE A Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE), fundada em 28 de setembro de 1999, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado. Tem como objetivos congregar profissionais brasileiros que realizam atividades de pesquisa e/ ou docência em História da Educação e estimular estudos interdisciplinares, promovendo intercâmbios com entidades congêneres nacionais e internacionais e especialistas de áreas afins. É filiada à ISCHE (International Standing Conference for the History of Education), a Associação Internacional de História da Educação. Diretoria Nacional Presidente: Diana Gonçalves Vidal (USP) Vice-presidente: Luciano Mendes de Faria Filho (UFMG) Secretária: Libânia Xavier (UFRJ) Tesoureiro: Jorge Luiz da Cunha (UFSM) Diretores Regionais Norte: Titular: Maria das Graças Sá Peixoto Pinheiro (UFAM), Suplente: Andréa Lopes Dantas (UFAC) Nordeste: Titular: Ana Maria de Oliveira Galvão (UFPE) Suplente: Jorge Carvalho do Nascimento (UFSE) Centro-Oeste: Titular: Maria de Araújo Nepomuceno (UCG) Suplente: Regina Tereza Cestari de Oliveira (UFMS) Sudeste: Titular: José Carlos de Souza Araújo (UFU) Suplente: Rosa Fátima de Souza (UNESP) Sul: Titular: Maria Elisabeth Blanck Miguel (PUC-PR) Suplente: Flávia Werle (UNISINOS) Secretaria Centro de Memória da Educação Faculdade de Educação Universidade de São Paulo Av. da Universidade, 308 – Bloco B Terceira Fase – Sala 40 CEP 05508-900 – São Paulo-SP Tel.: (11) 3091-3194 E-mail: [email protected] ISSN 1519-5902 julho/dezembro 2004 no 8 H Revista Brasileira de ISTÓRIA da EDUCAÇÃO SBHE Sociedade Brasileira de História da Educação A publicação deste no 8 da Revista Brasileira de História da Educação contou com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq – Entidade Governamental Brasileira Promotora do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Revista Brasileira de História da Educação ISSN 1519-5902 1º NÚMERO – 2001 Editora Autores Associados – Campinas-SP EDITORA AUTORES ASSOCIADOS LTDA. Uma editora educativa a serviço da cultura brasileira Av. Albino J. B. de Oliveira, 901 Barão Geraldo – CEP 13084-008 Campinas-SP – Pabx/Fax: (19) 3289-5930 e-mail: [email protected] Catálogo on-line: www.autoresassociados.com.br Conselho Editorial “Prof. Casemiro dos Reis Filho” Bernardete A. Gatti Carlos Roberto Jamil Cury Dermeval Saviani Gilberta S. de M. Jannuzzi Maria Aparecida Motta Walter E. Garcia Diretor Executivo Flávio Baldy dos Reis Coordenadora Editorial Érica Bombardi Assistente Editorial Aline Marques Revisão Ademar Lopes Junior Fernando Ramos de Carvalho Diagramação e Composição DPG Ltda. Projeto Gráfico e Capa Érica Bombardi Impressão e Acabamento Gráfica Paym Sumário EDITORIAL 7 ARTIGOS Celebração e visibilidade: o Dia do Professor e as diferentes imagens da profissão docente no Brasil (1933-1963) Paula Perin Vicentini A lei da escola: sentidos da construção da escolaridade popular através de textos legislativos em Portugal e Santa Catarina – Brasil (1880-1920) António Carlos Luz Correia e Vera Lucia Gaspar da Silva Feios, sujos e malvados: os aprendizes marinheiros no Paraná oitocentista Vera Regina Beltrão Marques e Sílvia Pandini Entre a história cultural e a teoria literária: rumo a uma história dos cânones escolares no Brasil Luiz Eduardo M. de Oliveira Entre biografias e autobiografias pedagógicas: os diários de infância Egle Becchi A constituição dos saberes escolares e as representações de infância na Reforma Fernando de Azevedo de 1927 a 1930 Sônia Camara 9 43 85 105 125 159 DOSSIÊ: TEMPOS SOCIAIS, TEMPOS ESCOLARES Apresentação Maria Cristina Gouveia 181 El aula al exterior: el tiempo de las excursiones escolares en México, 1904-1908 Lucía Martínez Moctezuma 183 De cuándo a cuándo. La transformación del calendario escolar en las escuelas mexicanas del siglo XIX Anne Staples 205 Tiempo y sociedad, en el Real Seminario de Minería, 1792-1821 Eduardo Flores Clai 225 De jóvenes a estudiantes. La forja del tiempo y el orden escolares Antonio Padilla Arroyo 243 Tempos de aprender: a produção histórica da idade escolar Maria Cristina Soares de Gouveia 265 RESENHA A educação dos negros: uma nova face do processo de abolição da escravidão no Brasil Por Surya Aaronovich Pombo de Barros 289 NOTA DE LEITURA História da educação e da cultura en Galícia Por Diana Gonçalves Vidal 297 ORIENTAÇÃO AOS COLABORADORES 299 CONTENTS 301 Editorial A Revista Brasileira de História da Educação finaliza seu oitavo número, reafirmando-se como uma publicação consolidada e que tem ampliado de maneira significativa sua circulação dentro e fora do Brasil. É relevante destacar que o nosso investimento em assegurar a manutenção da periodicidade da revista tem sido amplamente correspondido pela nossa comunidade de pesquisadores de história da educação, que tem encaminhado de maneira contínua e sistemática artigos, propostas de traduções, e participado da organização de dossiês temáticos. Nosso desejo é que este engajamento e comprometimento com o nosso projeto de publicação continuem cada vez maiores, espelhando assim o amadurecimento de um campo de conhecimento. A regularidade e a excelência do nosso periódico têm sido reconhecidas por toda a comunidade científica, repercutindo não apenas na avaliação A (nacional) do Qualis/CAPES, como na concessão de recursos por agências financeiras. Este é o primeiro número de muitos, esperamos, que conta com apoio do CNPq. No sumário, comparecem seis artigos bastante significativos e instigantes – (um deles tradução) – e o dossiê “Tempos sociais, tempos escolares”, composto por textos de pesquisadores latino-americanos e brasileiros, trazendo uma importante contribuição ao abordar um mesmo tema com diferentes e variados aportes teóricos metodológicos. Acompanham ainda esta edição uma resenha e uma nota de leitura. No sentido de continuarmos privilegiando a publicação de artigos tanto relacionados à memória da educação quanto à historiografia da educação brasileira, reiteramos nosso convite para que continuem propondo traduções, reedição de textos do campo da história da educação, resenhas e notas de leitura. Comissão Editorial Celebração e visibilidade O Dia do Professor e as diferentes imagens da profissão docente no Brasil (1933-1963)* Paula Perin Vicentini** Este artigo analisa o processo de institucionalização do Dia do Professor no Brasil, celebrado em 15 de outubro desde 1933, identificando os diferentes significados assumidos pela data que se afirmou como uma forma de dar visibilidade ao magistério e de expressar diferentes concepções acerca da docência. PROFISSÃO DOCENTE; COMEMORAÇÕES; REPRESENTAÇÕES SOBRE O MAGISTÉRIO; MOVIMENTO DOCENTE; 1933-1963. This text analyzes the process of institution of Teachers’ Day in Brazil, which is celebrated in October 15th since 1933. The different meanings of this date are identified from the perspective that it was an opportunity to give teachers’ issues public visibility and to express different thoughts on teachers’ work. PROFESSION; CELEBRATION; TEACHERS UNIONISM; 1933-1963. * O presente texto constitui uma versão revista e ampliada do trabalho apresentado no GT de História da Educação durante a 26ª Reunião Anual da ANPEd, realizada em Poços de Caldas – Minas Gerais – em outubro de 2003. ** Professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 10 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Em 1933, a Associação dos Professores Católicos do Distrito Federal (APC-DF) tomou a iniciativa de festejar, no Brasil, o Dia do Primeiro Mestre em 15 de outubro, dando origem à comemoração do Dia do Professor que acabou por se consolidar como uma forma de dar visibilidade à categoria. A data passou a ocupar um lugar de destaque no movimento do magistério em prol de uma melhor remuneração e de maior reconhecimento social, tornando-se objeto das lutas travadas no campo educacional brasileiro para definir os valores e os comportamentos que lhes eram próprios. Diversas entidades e diferentes esferas do poder público procuraram atribuir à celebração um significado específico, quer seja através da natureza das atividades promovidas (missas, sessões solenes, entregas de medalhas, protestos, greves etc.), quer seja pelo conteúdo dos discursos proferidos, nos quais tanto os aspectos exaltados quanto os omitidos eram relevantes para identificar as concepções sobre a docência que estavam em jogo, quer seja ainda pela discussão sobre a pertinência desse tipo de celebração que colocava em evidência a controvérsia existente entre a recompensa simbólica e a financeira da profissão. Neste texto, reconstitui-se o processo por meio do qual a comemoração se institucionalizou no Brasil analisando as diferentes imagens do magistério que ganharam visibilidade nas múltiplas formas de celebrar a data, desde o seu surgimento, em 1933, sob o predomínio de uma visão fortemente idealizada da docência que exaltava o sacrifício e a abnegação daqueles que a exerciam e eram relegados ao esquecimento a despeito da nobreza de sua missão – até a deflagração da primeira greve do magistério paulista em 1963, justamente em 15 de outubro, a qual, além de procurar legitimar a idéia do docente como um profissional que necessitava ser remunerado condignamente, provocou uma mudança sobretudo na imagem tradicional da professora primária, pois incorporou às representações já consolidadas a seu respeito elementos relativos à sua participação em manifestações de rua1. 1. Convém explicitar aqui que se utiliza, neste trabalho, a noção de campo tal como a define Pierre Bourdieu (1983 e 1989): um espaço de lutas estruturado em torno de objetos de disputa em função dos quais se constituem regras de funcionamento e interesses específicos e no qual se estabelece a posição dos agentes e das institui- celebração e visibilidade 11 Tal análise integra a pesquisa sobre a imagem social do magistério brasileiro entre 1933 e 1963, que realizou um contraponto entre as representações veiculadas acerca da docência por órgãos da grande imprensa – tomados como indicativos de uma visão externa da profissão – e as divulgadas por periódicos de entidades representativas de diferentes segmentos da categoria, numa tentativa de apreender a sua “heterogeneidade” (Enguita, 1991). Esta pretensão levou à escolha dos locais investigados, pois o movimento docente no antigo Distrito Federal (transformado no estado da Guanabara em 1960) e em São Paulo assumiu configurações distintas durante o período investigado em razão das diferenças quanto à presença da iniciativa oficial e privada em seus sistemas de ensino. No caso carioca, o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, fundado em 1931 por iniciativa do magistério secundário particular, tinha um lugar de destaque na grande imprensa, sobressaindo-se pela sua atuação contra os baixos salários e as péssimas condições de trabalho da categoria. Em São Paulo, diferentemente, o CPP (Centro do Professorado Paulista), fundado em 1930 e vinculado ao professorado primário oficial, foi durante um período significativo a principal associação docente do estado. Nos anos 1940, com o crescimento da rede de ensino público, surgiram outras associações que alcançaram expressão no campo educacional, dentre as quais se destacou a APESNOESP (Associação dos Professores do Ensino Secundário e Normal Oficial do Estado de São Paulo), que deu origem à APEOESP (Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), atualmente o sindicato da categoria2. 2. ções em decorrência do reconhecimento alcançado mediante as lutas pela legitimidade travadas no interior do próprio campo. Tal pesquisa, desenvolvida em nível de doutorado, contou com o financiamento da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Os periódicos examinados foram: a Revista do Professor (1934 – 1965) – editada pelo CPP, a Revista APESNOESP (1961 – 1963), o Boletim do Sindicato dos Professores do Ensino Secundário, Primário e de Artes do Rio de Janeiro (1944 – [1945]) e o periódico que o sucedeu: a Folha do Professor (1959 – [1974]). Cabe informar que a entidade carioca teve várias denominações: Sindicato dos Professores do Ensino Secundário e Comercial do Distrito Federal (1931), Sindicato dos 12 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Evidentemente, o nível de organização e a expressão alcançada por certos segmentos do magistério através das suas associações eram determinantes nas lutas de representações, travadas para definir ou redefinir a identidade profissional da categoria. A esse respeito, as observações de Pierre Bourdieu são extremamente pertinentes, pois o autor observa que os critérios tidos como objetivos para delimitar uma identidade regional resultam de representações mentais – [...] atos de percepção e de apreciação, de conhecimento e de reconhecimento, em que os agentes investem seus interesses e pressupostos – e de representações objetais, coisas (emblemas, bandeiras, insígnias etc.) ou atos, estratégias interessadas de manipulação simbólica tendentes a determinar a representação (mental) que os outros podem construir a respeito tanto dessas propriedades como de seus portadores [Bourdieu, 1996, p. 107]. desenvolvendo uma luta entre representações que correspondem a diferentes princípios de classificação e de divisão do mundo social (Bourdieu, 1996, p. 107). Convém aqui assinalar as possibilidades de aproximação desta concepção do mundo social com a que é apresentada por Roger Chartier, para quem o conceito de representação permite apreender: Inicialmente, as operações de recorte e de classificação que produzem as configurações múltiplas graças às quais a realidade é percebida, construída, representada; em seguida, os signos, que visam a fazer reconhecer uma iden- Professores do Distrito Federal (1932), Sindicato dos Professores do Ensino Secundário, Primário e de Artes do Rio de Janeiro (1943) e, atualmente, Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro (SINPRO-Rio). A respeito da história das entidades mencionadas, no caso do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, ver Coelho (1988); sobre o CPP, Vicentini (1997) e Lugli (1997) e, acerca da APEOESP, Joia & Kruppa (1993) e Kruppa (1994). Sobre a participação da iniciativa oficial e particular na expansão do sistema educacional de São Paulo e do antigo Distrito Federal (a partir de 1960, estado da Guanabara), ver: Beisiegel (1974), Sposito (1984), Matos (1985) e Santos (1994). celebração e visibilidade 13 tidade social, a exibir uma maneira própria de ser no mundo, a significar simbolicamente um estatuto, uma posição, um poder; enfim, as formas institucionalizadas pelas quais os representantes encarnam de modo visível [...] a força de uma identidade [Chartier, 1998, pp. 178-179]. Desse modo, para o autor, não há “prática ou estrutura que não seja produzida pelas representações, contraditórias e em confronto, pelas quais os indivíduos e os grupos dão sentido ao [seu] mundo” (Chartier, 1991, p. 177). É nessa perspectiva que se consideraram as representações veiculadas acerca da docência pelos periódicos das entidades representativas de diferentes segmentos do magistério que, numa tentativa de definir a identidade do grupo, articulavam os embates e as negociações entre valores e concepções que se pretendiam generalizar para a totalidade da categoria e acabavam por forjar a sua imagem, procurando difundi-la junto a diversos setores sociais em busca de uma melhor remuneração e de um maior prestígio. Evidentemente, tais entidades procuravam ganhar voz e visibilidade nos órgãos da grande imprensa, importantes não só para atrair a atenção da opinião pública para os problemas enfrentados pela categoria, mas também para divulgar a sua atuação em prol dos professores. Por outro lado, os jornais também tinham interesse em incluir (e manter) os professores entre os seus leitores através de seções especializadas em educação, cujo principal exemplo é a coluna “Educação e Ensino”, escrita por um professor (Elisiário Rodrigues de Sousa) por mais de 20 anos para o Diário de S. Paulo. A importância desse gênero de produção pode ser avaliada pela moção apresentada durante o X Congresso da APESNOESP reivindicando que os jornais mantivessem seções educacionais sob a responsabilidade de docentes para que divulgassem “informação das entidades de classe”, a fim de evitar que se disseminassem “falsas idéias sobre a realidade da Escola Pública” (Revista APESNOESP, ano I, n. 1, p. 15, 1961). A esse respeito, convém observar que as relações que os agentes do campo educacional estabeleciam com o campo jornalístico dependiam não só de sua posição na hierarquia do sistema de ensino ou nas esferas de representação do movimento docente, mas também da orientação 14 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 política e ideológica dos jornais. Desse modo, o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro tinha como o seu principal porta-voz o jornal Última Hora, cuja vinculação com o trabalhismo é amplamente conhecida, ao passo que o CPP – que exercia uma posição de liderança no movimento de organização do magistério paulista e cujos dirigentes ocupavam postos de comando no sistema de ensino – tinha amplo destaque nos jornais diários, gerando, após a greve de 1963, a crítica de alguns leitores da Folha de S.Paulo contra a sua predileção pelo professorado primário. É importante assinalar aqui que esta situação se inverteu a partir do final dos anos 1970, quando a configuração do movimento docente paulista alterou-se com a ascensão da APEOESP após as greves de 1978 e 1979, fazendo com que o CPP reclamasse da sua exclusão do noticiário da Folha (Lugli, 1997). Assim, a grande imprensa, além de fornecer indícios sobre o prestígio da categoria (ou melhor, de seus segmentos) junto aos grupos responsáveis pelos jornais examinados, constituía um veículo importante na produção da imagem pública dos docentes por se tratar de uma mídia externa ao campo educacional e de ampla circulação. A fim de obter uma visão multifacetada acerca das formas de representação do magistério na grande imprensa, examinaram-se três jornais de perfis distintos de São Paulo e três do Rio de Janeiro, no período relativo ao Dia do Professor (de 10 a 17 de outubro de cada ano). No caso paulista, escolheram-se os dois principais jornais do estado na atualidade: O Estado de S.Paulo (fundado em 1875 com o nome de A Província de S. Paulo) – no dizer de Capelato e Prado, “defensor dos postulados liberais” e tido como “órgão modelar da opinião pública” (1980, p. XIX) – e a Folha da Manhã (1925-1960) / Folha de S.Paulo – voltada para as camadas médias. Além disso, examinou-se o matutino da empresa de Assis Chateaubriand – o Diário de S.Paulo (1929-1979) – que publicava a coluna “Educação e Ensino”, mencionada anteriormente. No caso do Rio de Janeiro analisou-se um dos seus principais jornais atualmente, O Globo (1925), pertencente à família Marinho, pois o Jornal do Brasil (1891) já havia sido estudado por Ferreira (1998), embora sem a intenção de historiar a origem da comemoração e de analisar as suas significações. Por isso, optou-se pelo Correio da Manhã (1901- celebração e visibilidade 15 1974) que “foi um dos principais órgãos da imprensa brasileira, tendose sempre destacado como um jornal de opinião” e pelo Última Hora (1951-1971), fundado por Samuel Wainer que introduziu “uma série de técnicas de comunicação de massa até então desconhecidas no Brasil” (Leal & Flaksman, 1984). Cabem aqui algumas observações sobre as especificidades das práticas de leitura próprias desse tipo de mídia, de consumo rápido, que conta não só com leitores regulares, cuja familiaridade com a organização interna dos jornais altera a natureza da recepção do seu conteúdo, mas também com leitores esporádicos e com aqueles “que não lêem os jornais e os captam somente pelas manchetes, como num cartaz”, aumentando “o valor ‘relativo’ de todas as informações” localizadas no seu interior (Morin, 1961, p. 90). Nesse sentido, vale lembrar a importância do suporte do texto que, segundo Chartier, abrange as características advindas “da passagem [...] a impresso”, presentes nas disposições tipográficas, na diagramação das páginas, na utilização de fotos e de outros recursos gráficos mediante os quais se organiza a leitura a ser realizada. No dizer do autor, “é necessário recordar vigorosamente que não existe nenhum texto fora do suporte que o dá a ler, não há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja, que não dependa das formas através das quais ele chega ao leitor” (Chartier, 1990, p. 127). Embora durante o período estudado a organização das matérias dos jornais, com o auxílio de recursos tipográficos para facilitar a sua leitura, ainda estivesse se consolidando no Brasil e oscilasse muito de um órgão para outro, é inegável a importância dos mecanismos por meio dos quais se procurava despertar a atenção para determinadas questões, tais como as manchetes, as chamadas na primeira página e as fotografias que se disseminaram na grande imprensa brasileira a partir do final dos anos 1950. Nesse sentido, convém notar a importância das formas de representação visuais, cuja recepção é mais imediata do que a do texto e que foram objeto de meu doutorado, mas que não serão analisadas aqui3. 3. Sobre as características da grande imprensa brasileira durante o período investigado, ver Sodré (1966), Abreu (1996) e Taschner (1992). 16 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Ao se tornar objeto do noticiário da grande imprensa, merecendo muitas vezes o destaque da primeira página, da representação fotográfica e dos editoriais, a celebração do Dia do Professor afirmou-se como um modo de dar visibilidade ao magistério, assegurando-lhe um espaço não só para divulgar os festejos da data, mas também para explicitar os problemas enfrentados pela categoria e os embates travados para legitimar diferentes concepções sobre a profissão. Sem a pretensão de esgotar as possibilidades de comparação entre o caso português e o brasileiro, convém observar que, em Portugal, o Dia do Professor – segundo Nóvoa – foi instituído durante o Estado Novo como uma forma de solucionar a ambigüidade da política adotada com relação ao magistério, marcada pela aparente contradição entre a “desvalorização do estatuto da profissão docente e [...] [a] dignificação da imagem social do professor” (1992, p. 496). Já no Brasil tal iniciativa partiu de uma associação docente católica e o seu reconhecimento oficial se deu durante a vigência do regime democrático no país. Apesar de diferentes esferas do Estado procurarem se apropriar da comemoração, tal medida – no caso paulista – foi fruto de um movimento empreendido por entidades representativas do magistério secundário e particular que a consideravam uma forma de tornar a atividade docente reconhecida socialmente, mas que, a partir do final dos anos 1950, passaram a utilizar a data como um marco nos protestos contra a baixa remuneração. Antes de analisar a pluralidade de significados que caracterizou o Dia do Professor no Brasil, convém evocar a reflexão de Mona Ozouf (1976) sobre as possibilidades de interpretação advindas da incorporação da festa como objeto da história, sem deixar de chamar a atenção para os equívocos aos quais esta incorporação está sujeita. Ao seu ver, “não existe festa sem reminiscência; repetição do passado, freqüentemente anual, a festa traz consigo uma memória que é tentador tomar como tal. Prenúncio do futuro, a festa fornece, por outro lado, como que uma aproximação deste. Suscita uma simulação do futuro que o historiador tem a boa fortuna de poder comparar com o futuro real”. Tal vinculação com o tempo pode levar ao equívoco de se considerar a repetição presente na festa como “uma repetição consciente de si própria em que o passado celebrado seria reconhecido por aquilo que é, manti- celebração e visibilidade 17 do à distância e analisado”. Também se corre o risco de “tomar como tal o ensaio de futuro” que a festa inclui, sem se levar em conta que “o princípio representado pela festa é muito freqüentemente apenas uma novidade ilusória, o reinício de um gesto exemplar; é na repetição que se fundamenta a esperança” (Ozouf, 1976, p. 217). Embora a autora prossiga a sua reflexão tendo em vista as interpretações existentes sobre as festas revolucionárias francesas, cujas circunstâncias históricas que as fizeram emergir, bem como a sua amplitude sejam extremamente diferentes dos festejos do Dia do Professor no Brasil, penso que as suas observações são de grande relevância para a presente análise, pois as relações da comemoração examinada aqui com o tempo mostraram-se fundamentais para a compreensão dos seus diferentes significados e das representações veiculadas acerca da profissão docente. Nesse sentido, foi possível constatar que a relação com o tempo poderia dividi-las entre as que constituíam uma imagem de professor (ou melhor, de professora), cuja forte idealização fazia com que ela parecesse ultrapassar os limites temporais do período estudado e as que procuravam romper com a imagem tradicional da docência, introduzindo elementos novos que eram as marcas de um momento em que se deu visibilidade à participação da categoria em atos públicos contra a desvalorização salarial, cujo ápice foi a primeira greve geral do magistério paulista em 19634. 1. Os percursos da comemoração a) O Dia do Primeiro Mestre: uma iniciativa católica Em 1933, a Associação dos Professores Católicos do Distrito Federal (APC-DF) festejou o Dia do Primeiro Mestre com uma missa e uma sessão cívica realizada no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, ten4. Sem a pretensão de ser exaustiva, considero relevante mencionar aqui estudos produzidos no âmbito da história da educação brasileira que tiveram como objeto outros gêneros de comemoração, tais como os de Circe Bittencourt (1990), Cynthia Greive Veiga e Maria Cristina Gouveia (2000), Moysés Kuhlmann Júnior (2001). 18 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 do como referência a data da “primeira lei sobre o ensino primário no Brasil”, marcada pela aliança entre o Estado e a Igreja no país, pois em 15 de outubro de 1827 o Senado do Império criou as escolas de primeiras letras e designou um vigário para as paróquias existentes no Brasil. Tal idéia partiu do presidente da APC-DF (Everardo Backheuser) que atuou na Associação Brasileira de Educação (ABE) e, após a sua reconversão ao catolicismo em 1928, engajou-se na arregimentação do magistério católico mediante a fundação da APC-DF neste ano e de outras entidades congêneres que, em 1933, deram origem à Confederação Católica Brasileira de Educação (CCBE). Segundo Marta Carvalho, os fundadores da CCBE haviam militado na ABE juntamente com os reformadores durante os anos 1920, sem apresentarem divergências quanto ao projeto apregoado pela entidade que se notabilizou com a organização das Conferências Nacionais de Educação, mediante as quais conquistou legitimidade para opinar sobre questões pedagógicas. Após a Revolução de 1930, a possibilidade de interferir efetivamente nos rumos da política educacional transformou os aliados da década anterior em rivais que passaram a disputar “o controle do aparelho escolar”, com o intuito de implantar um “projeto de unificação e homogeneização nacional, que se montava preponderantemente através da constituição e da consolidação da hegemonia cultural”. Este embate – ao seu ver – ocorreu, sobretudo, “no campo doutrinário da pedagogia, no qual se disputava o controle ideológico do professorado”, tendo em vista normatizar as práticas escolares e viabilizar a sua proposta de reforma social (Carvalho, 1989, pp. 33-34)5. Em meio à tentativa de congregar em âmbito nacional o magistério católico, a APC-DF lançou um apelo para que tal comemoração ocorres- 5. “O nosso primeiro mestre: as comemorações de anteontem”, Correio da Manhã, 17 out. 1933, Primeiro caderno, p. 2. Com relação à CCBE, cabe informar que, segundo Barreira, a entidade em 1934 “coordenava 40 APCS, arregimentando mais de 300 colégios católicos, espalhados pelo território nacional. Esses colégios reuniam 60 mil alunos e cerca de 6.200 professores” (1999, p. 179). Sobre a ABE, ver Marta Carvalho (1986) e a respeito das disputas entre católicos e reformadores, ver também Azevedo (1976). celebração e visibilidade 19 se em todo o Brasil e a população expressasse a sua gratidão ao primeiro professor, visitando-lhe, enviando-lhe flores ou um cartão de felicitações e, no caso de ele estar morto, depositando flores em seu túmulo. Em São Paulo, o Centro de Cultura Intelectual divulgou tais instruções e promoveu uma série de atividades nesse sentido: missa, concentração de estudantes em frente à Escola Normal, festival em homenagem aos mestres mais velhos da cidade e visitas aos professores doentes. Também atendeu ao apelo da APC-DF a Liga do Professorado Católico de São Paulo que, desde 1920, festejava no mesmo dia Santa Teresa d’Ávila – patrona da entidade por ser “a grande doutora da Igreja” – que, a partir de 1949, começou a ser designada nos jornais paulistas “padroeira do magistério”. Em 1933, além da missa na igreja de São Bento em sua homenagem, a Liga convocou toda a população do estado de São Paulo a procurar quem lhe “ensinou a ler” para homenageá-lo e, com a autorização do Diretor Geral do Ensino, promoveu um concurso sobre o primeiro mestre entre os diretores de grupos escolares, professores de escolas isoladas e particulares e também entre alunos do terceiros e quartos anos, cujos melhores trabalhos seriam publicados em seu órgão informativo: a revista Anchieta (1933–1934). Ao contrário da Liga, cujos festejos continuaram a figurar na grande imprensa paulista, a APC-DF apareceu apenas mais uma única vez no noticiário carioca sobre a data. A partir dos anos 1940, outras entidades representativas do magistério começaram a celebrar a data e, em São Paulo, organizaram um movimento pela sua oficialização6. b) A oficialização da data Nos anos 1940, a comemoração do Dia do Professor voltou à cena em 1947, com as atividades da “comissão [...] pró-oficialização do Dia do Professor” que procurou divulgar a comemoração junto à grande 6. “Será solenemente comemorado hoje, nesta cidade, o Dia do Mestre. O programa elaborado”, Folha da Manhã, 15 out. 1933, Primeiro caderno, p. 15. “Nosso primeiro mestre”, O Estado de S.Paulo, 15 out. 1933, Primeiro caderno, p. 5. 20 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 imprensa, à rádio, às autoridades escolares e aos parlamentares e recebeu a adesão do Sindicato do Ensino Primário e Secundário, do Sindicato do Ensino Comercial, da APESNOESP, da União Paulista de Educação (UPE) – presidida à época por Sólon Borges dos Reis – e da Sociedade Beneficente de Professores e Auxiliares de Administração, sem nenhuma menção ao CPP. O Sindicato dos Professores Secundários de Campinas, particularmente, realizou uma missa, um almoço, uma romaria ao Cemitério da Saudade para reverenciar os professores falecidos – o que passou a ser uma tradição para a entidade nos anos subseqüentes. Sem nenhuma referência à iniciativa da APC-DF, a UPE, na ocasião, veiculou instruções bastante semelhantes às divulgadas pela associação carioca em 1933, fazendo um “apelo ao povo” no sentido de que cada cidadão dedique um instante desse Dia do Mestre, ao professor ou professora, que lhe ensinou as primeiras letras, ou que maior influência haja exercido na formação de sua personalidade. Aqueles que desejam atender este apelo da União Paulista de Educação, prestigiando o trabalho de educadores [...], deverão fazer uma visita ou escrever uma carta ao seu antigo mestre. No caso do professor já ter falecido, a homenagem poderá ser prestada através de uma prece em sua memória7. Em 1948, o governador Adhemar de Barros declarou feriado escolar “a data de 15 de outubro, considerada o Dia do Professor” (lei n. 174, de 13/10/48) e, a partir de então, começaram a surgir notícias sobre as solenidades organizadas por grupos escolares, escolas normais, ginásios e colégios, que contavam com “sessões lítero-musicais”, missas, conferências, homenagens a velhos mestres ou mediante a entrega de medalhas e de “diplomas de honra”. Ao noticiar os festejos que pela primeira vez tiveram caráter oficial em São Paulo, a Folha destacou a cerimônia organizada pela Liga do Professorado Católico em homena- 7. “Dia do Professor: as comemorações de amanhã na capital”, O Estado de S.Paulo, 14 out. 1947, p. 7. “Campinas: Comemorações do Dia do Professor”, Folha da Manhã, 15 out. 1947, Segundo caderno, p. 4. celebração e visibilidade 21 gem ao Jubileu de Ouro dos mestres formados há 50 anos e o almoço promovido pelo SESI (Serviço Social da Indústria) numa de suas cozinhas distritais que se tornou tradicional durante período estudado e que era amplamente divulgado pela grande imprensa em matérias com várias fotos do evento. Em São Paulo, após o reconhecimento oficial, o Estado ora se esforçando para “abrilhantar” os festejos em homenagem ao magistério, ora deixando a data cair no esquecimento, fez com que o Dia do Professor tivesse diferentes significados no âmbito da luta da categoria por melhores vencimentos e maior prestígio social. Em 1960, criou-se o título de Mestre do Ano – entregue ao governador Carvalho Pinto num grande evento no Ibirapuera e, em 1961, a Dorina Gouveia Nowill, deficiente visual e presidente da Fundação do Livro do Cego no Brasil. Sem ter sido realizada em 1962, último ano de seu mandato, a sua entrega foi retomada em 1963 (ano da primeira greve do magistério paulista), reverenciando os professores mais velhos do estado8. Diferentemente, o noticiário da grande imprensa carioca sobre o feriado escolar de 15 de outubro caracterizou-se pela polêmica que tal determinação gerou nas escolas particulares, evidenciando os conflitos existentes entre os professores e os proprietários dessas instituições. A discrepância entre o que se pagava aos colégios e o número de aulas recebidas motivou a crítica de O Globo, publicada na primeira página em 1951: Dia da Criança – feriado escolar. Dia do Professor – feriado escolar. Mais duas folgas, portanto, dentro de apenas uma semana, que é somente de cinco dias nos colégios. Resultado: estuda-se seis meses no Brasil e paga-se um ano inteiro [...]. Mas não seria melhor que no Dia da Criança – estudassem mais 8. “Governo do Estado: feriado escolar”, Folha da Manhã, 14 out. 1948, Segundo caderno, p. 5. “Significativas solenidades assinalaram ontem o transcurso do Dia do Professor”, Folha da Manhã, 16 out. 1948, Primeiro caderno, p. 3. “Enaltecido o magistério com a homenagem ao Mestre do Ano”, Folha de S.Paulo, 16 out. 1960, p. 15. “A Mestra do Ano receberá seu título depois de amanhã. Dorina Gouveia Nowill”, Folha de S.Paulo, “Educação”, 12 out. 1961, p. 8. “Homenagem do Professorado”, Folha de S.Paulo, “Educação”, 16 out. 1963, p. 6. 22 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 os estudantes, numa grande festa do espírito? E que no Dia do Professor – ensinassem mais os professores, em homenagem à própria e alta missão que lhes é conferida?9 O Correio da Manhã, ao contrário, criticou (em 1953) o não cumprimento, por parte dos proprietários de escolas privadas, da lei que decretou o dia 15 de outubro feriado escolar. Esta questão reapareceu cerca de dez anos depois, quando os diretores de colégios particulares, incluindo o secretário da Educação no governo de Carlos Lacerda (Flexa Ribeiro), ameaçaram obrigar os professores a trabalharem como represália às suas reivindicações salariais, o que não foi possível graças ao decreto do então presidente João Goulart declarando o dia 15 de outubro feriado escolar em todo o Brasil. Além disso, o ministro da Educação participou da comemoração organizada pelo Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro. No caso carioca, o predomínio da rede de ensino particular fez com que a instituição do feriado do Dia do Professor desempenhasse um papel central nos embates travados entre o Sindicato dos Professores e os proprietários dos colégios, evidenciando as diferenças entre as diversas esferas do poder público quanto à gestão dos conflitos trabalhistas dos docentes do ensino particular10. A partir de 1951, os jornais cariocas passaram a divulgar os festejos do Dia do Professor promovidos pela Câmara de Vereadores e pelo executivo municipal, estadual (a partir de 1961) e federal. Após a criação do estado da Guanabara, algumas Administrações Regionais passaram a comemorar a data, oferecendo aos professores “um Sorvete Amigo”, descontos em cinemas e uma missa. O Ministério da Educação lançou em 1956 o concurso que ficou conhecido como “Concurso Dia do Professor – embaixada da França”, destinado aos docentes do ensino mé- 9. “Feriados escolares...”, O Globo, 15 out. 1951, Primeira Página. 10. “O Dia do Professor”, Correio da Manhã, 14 out. 1953, Primeiro caderno, p. 6. “Professores festejam o seu dia com feriado”, Última Hora, 15 out. 1963, Primeiro caderno, p. 2. Quanto ao feriado escolar no Dia do Professor, cabe informar que foram localizadas em outros anos (1954, 1956, 1958 e 1959) referências a portarias nesse sentido. celebração e visibilidade 23 dio, cujo prêmio seria um estágio de três meses no Centro Internacional de Sevrès, na França e sobre o qual há referências até 1960. Em 1958, o ministro Clóvis Salgado instituiu a Semana do Professor e a grande imprensa passou a veicular a mensagem da União dos Professores Primários do Distrito Federal – transformada na União dos Professores Primários do Estado da Guanabara –, cujo conteúdo (todos os anos) enaltecia o caráter sacerdotal da docência. Já o Sindicato dos Professores – que realizava uma “assembléia geral comemorativa da data” com uma “mesa de doces” ou um coquetel – em suas declarações denunciava os baixos salários e as péssimas condições de trabalho11. Simultaneamente às iniciativas oficiais e das entidades representativas de diferentes segmentos do magistério, instituições sem vínculo direto com o campo educacional engajaram-se na comemoração do Dia do Professor. O Última Hora realizou inúmeros concursos a propósito da data que contribuíram para que ela se difundisse, dentre os quais cabe destacar aqui a eleição em 1951 do Patrono do Professorado Carioca, entre grandes vultos do magistério já falecidos (Anchieta, Rui Barbosa, D. Pedro II, Abílio Cesar Borges, Ernani Cardoso e Benjamin Constant). José de Anchieta foi eleito com 26.641 votos dos 86.561 apurados. A eleição do jesuíta pode ser considerada um indicativo da influência da Igreja Católica junto aos participantes do concurso, incluindo as alunas das duas escolas normais oficiais do Distrito Federal (o Instituto de Educação e a Escola Normal Carmela Dutra), das quais se esperava o voto em Benjamin Constant. A simbologia de sua figura, evidentemente, remetia para uma concepção sacerdotal da docência em que sacrifício, abnegação e dedicação se associavam na descrição de um mestre exemplar12. 11. “Criticada na Assembléia Legislativa a indiscriminada criação de escolas médias”. Folha da Manhã, “Ensino e Magistério”, 12 out. 1956, Assuntos especializados, p. 17. “Alunos homenagearam (com flores) seus professores: Dia do Mestre”, Última Hora, 17 out. 1960, Primeiro caderno, p. 2. “Iniciadas as comemorações da Semana do Professor”, Correio da Manhã, 10 out. 1958, Primeiro caderno, p. 12. 12. “Patrono do Professorado Carioca”, Última Hora, 11 out. 1951, Primeiro caderno, p. 9; “Vence Anchieta para Patrono”, Última Hora, 27 nov. 1951, Segundo caderno, p. 1. 24 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Nesse sentido, convém assinalar o papel da grande imprensa na divulgação do Dia do Professor, pois as iniciativas desse gênero, assim como o noticiário acerca dos festejos de 15 de outubro e os comentários a seu respeito, contribuíram para que a data fosse incorporada pelo imaginário coletivo. Em contrapartida, o engajamento dos jornais na divulgação da comemoração também coloca em discussão as relações entre o campo educacional e o jornalístico, evidenciando tanto a influência das instituições interessadas na sua difusão junto aos responsáveis pelo conteúdo dos jornais quanto a representatividade do magistério como um segmento de leitores em potencial que deveriam ser cultivados e mantidos. Entretanto, no Rio de Janeiro, somente no início dos anos 1960 foi possível constatar uma maior projeção da data, ganhando o interesse de instituições sem vínculo direto com o campo educacional: o Rotary Clube da Tijuca, a Liga de Defesa Nacional (LDN), o Lion’s Club da Tijuca e a Associação do Comércio e Indústria da Zona Sul. Assim, o reconhecimento oficial da comemoração deu origem a cerimônias promovidas pelos poderes públicos e por outras instituições, que homenageavam professores tidos como exemplares e exaltavam a dedicação e a abnegação com que a categoria realizava a sua “nobre missão”, mas no final dos anos 1950 a data passou a incluir os protestos contra os baixos salários e os problemas do seu estatuto profissional13. c) O Dia do Professor e a luta por melhores salários Em São Paulo, as associações docentes, a partir do final dos anos 1950, passaram a utilizar a data para protestar contra a política governamental, não participando das cerimônias oficiais a fim de explicitar a sua dissociação do Estado. Ao mesmo tempo em que tais entidades luta- 13. “Homenagem aos mestres em almoço do Rotary Clube da Tijuca”, Correio da Manhã, 13 out. 1960, Primeiro caderno, pp. 2 e 8. “Liga de Defesa Nacional comemora terça o Dia do Professor”, Correio da Manhã, 15 out. 1961, Primeiro caderno, p. 9. “Dia do Professor será comemorado pela Liga de Defesa Nacional”, Correio da Manhã, 12 out. 1962, Primeiro caderno, p. 2. “Comemorado na GB Dia do Professor”, Correio da Manhã, 16 out. 1963, Primeiro caderno, p. 2. “Dia do Mestre”, Correio da Manhã, “Ensino”, 10 out. 1964, Segundo caderno, p. 7. celebração e visibilidade 25 ram na década de 1940 para que a data fosse reconhecida oficialmente, com o intuito de melhorar o estatuto profissional do magistério, ao constatarem que esta medida não contou com uma contrapartida material relativa à sua remuneração elas passaram a utilizá-la para expressar as suas insatisfações, elegendo-a como marco para as campanhas reivindicatórias. Instaurou-se, portanto, entre o Estado e as associações docentes uma disputa para apropriar-se da comemoração e atribuir-lhe diferentes sentidos, tanto para o movimento docente quanto para a imagem social dos professores. Em 1956, o Sindicato dos Professores do Ensino Secundário e Primário solicitou que, em 15 de outubro, houvesse aulas nas escolas privadas para compensar a greve realizada em setembro, em protesto contra as alterações do Fundo Nacional do Ensino Médio (FNEM)14. Em 1958, o Sindicato e a APESNOESP resolveram não participar das comemorações oficiais do Dia do Professor. Ao divulgarem sua decisão, tais entidades anunciaram um programa próprio para a data e ironizaram a atitude do ministro em instituir a Semana do Professor, apontando a contradição entre a tentativa de mostrar o apreço aos professores e o descaso quanto à sua remuneração, ressalvando que os alunos e as suas famílias sempre externaram a sua gratidão à categoria: O Sr. Clovis Salgado [Ministro da Educação], enquanto procura burlar o cumprimento de um diploma legal, que assegura ao professor um mínimo de condignidade da remuneração, determina por um ato ministerial que se exalte este ano mais do que nunca o papel de relevância que têm os professores, recomendando, ainda, num arroubo de ternura de magnanimidade, que as comemorações não se realizem num único dia, mas durante toda a semana, como se os professores – ainda que reconheçam o sacerdócio dos seus misteres – pudessem viver de flores e discursos. Muito platônico e generoso o Sr. Ministro da Educação15. 14. “Criticada na Assembléia Legislativa a indiscriminada criação de escolas médias”, Folha da Manhã, “Ensino e Magistério”, 12 out. 1956, Assuntos especializados, p. 17. 15. “O magistério de São Paulo e as comemorações do Dia do Professor”, Folha da Manhã, “Ensino e Magistério”, 10 out. 1958, Assuntos especializados, p. 5. 26 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Tal decisão teve o apoio da União Paulista dos Estudantes Secundários (UPES), da União Estadual dos Estudantes (UEE) e da União dos Estudantes Secundários Paulistas (UESP) como atesta o seguinte comunicado, assinado por Daniel Marun Filho, Babajara da Silva Firpo e Joaquim Lima Neto: Os estudantes paulistas, ciosos de seus deveres, repudiam recomendações oficiais para prestar nessa significativa data as homenagens mais carinhosas e espontâneas a que fazem jus os nossos mestres, de cujas amarguras e decepções compartilhamos, lamentando que os poderes públicos não lhes dêem e merecido respeito e tratamento compatível com a elevada função social que desempenham na formação intelectual, moral e cívica da mocidade brasileira16. A Secretaria da Educação acabou por cancelar as atividades previstas para o Dia do Professor devido à morte do Papa Pio XII, o que levou tais entidades a atribuírem tal atitude ao “receio do insucesso nas festividades oficiais”. Em 1961, a APESNOESP realizou uma concentração diante da estátua de Anchieta para homenagear o seu presidente (Raul Schwinden), “dissociando-se da homenagem oficial à Mestra do Ano”, pelo fato de ele ter sido afastado do cargo de diretor superintendente do Instituto de Educação Caetano de Campos devido à sua atuação no comando da entidade. Em 1963, com a iminência da greve de toda a categoria, as associações docentes, inclusive o CPP, declararam luto no Dia do Professor, recusando-se a participar das “homenagens oficiais [...] diante da situação desesperada em que se encontra a classe em geral, não só quanto à remuneração, mas especialmente pela forma como vem sendo tratada pelo Governo do Estado”17. 16. “Os estudantes secundários e o Dia do Professor”, Diário de S. Paulo, “Educação e Ensino”, 11 out. 1958, Segundo caderno, p. 9. 17. “Por causa da morte do papa foram suspensos os festejos do Dia do Professor”, O Estado de S.Paulo, 11 out. 1958, p. 10. “Numerosos festejos assinalarão a passagem do Dia do Professor”, Folha de S.Paulo, 4 out. 1960, p. 10. “A Mestra do Ano receberá seu título depois de amanhã. Dorina Gouveia Nowill”, Folha de S.Paulo, celebração e visibilidade 27 No Rio de Janeiro, o Dia do Professor também passou a ter um caráter de protesto, ainda que de forma menos contundente, pois o Sindicato dos Professores sempre aproveitava a data para denunciar a baixa remuneração da categoria e as péssimas condições de trabalho dos professores nos estabelecimentos particulares de ensino. Em razão da combatividade do Sindicato, a comemoração da data em 1964 foi obscurecida pela perseguição às suas lideranças. Sob o título bastante eloqüente “Terrorismo enluta Dia do Professor”, o Correio da Manhã noticiou que, apesar de cerca de 2.500 pessoas terem sido convidadas, o coquetel oferecido pela entidade teve apenas 50 pessoas presentes devido “ao terrorismo cultural e conseqüente afastamento de seus filiados”. O presidente interino da entidade informou que seriam realizadas assembléias para decidir a atitude a ser tomada com relação aos professores expurgados pelo Ato Institucional, exaltando a importância do movimento sindical e denunciando a demissão de professores atuantes na entidade: Apesar da suspensão das liberdades democráticas no país, o Dia do Professor tem que ser sempre um dia de festa, pois a educação e a cultura são elementos fundamentais de sociedade, mais do que a violência e a força [...]. É o momento de todos os professores particulares se unirem em torno do nosso sindicato para reivindicar um substancial aumento de salário para 1965, pois o que se vê dia a dia são os proprietários de colégios se enriquecerem ainda mais e a vida dos professores se tornar cada vez mais difícil18. A comemoração do Dia do Professor no Brasil teve início, portanto, com uma proposta da APC-DF, tendo como referência a data de uma lei do império que criou o ensino primário no país e esteve vinculada aos rituais católicos – como por exemplo, a missa – que posteriormente também se fizeram presentes nas cerimônias oficiais. Em sua origem, tal celebração tinha unicamente um caráter afetivo ao pretender criar uma “Educação”, 12 out. 1961, p. 8. “Homenagem do Professorado”, Folha de S.Paulo, “Educação”, 16 out. 1963, p. 6. 18. “Terrorismo enluta Dia do Professor”, Correio da Manhã, 16 out. 1964, Primeiro caderno, p. 10. 28 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 oportunidade para que as pessoas demonstrassem seu reconhecimento a quem lhe ensinou a ler e a escrever e que era geralmente relegado ao esquecimento e ao anonimato. Embora o seu caráter afetivo tenha permanecido no decorrer do período examinado, o Dia do Professor ganhou novos significados ao ser incorporado por outros segmentos do magistério e da sociedade, tornando-se uma comemoração oficial a partir de 1948 e, posteriormente, desempenhando um papel importante nos protestos da categoria contra os baixos salários que se intensificaram a partir de meados dos anos 1950. 2. A simbologia do Dia do Professor: entre “o princípio de uma nova era” e o “vazio das belas palavras” Cresceram e ocuparam grandes áreas do território nacional as florestas do Brasil, no tempo em que não havia o seu culto simbólico no Dia da Árvore. A criança era outrora robusta e sadia; tinha leite para beber [...]; isso antes de lhe consagrarem o Dia da Criança. O professor era no cenário nacional [...] uma figura respeitável e acatada, antes do Dia do Professor. “Hoje que temos o Dia da Criança, a mortalidade infantil assumiu raias inconcebíveis numa sociedade civilizada; as árvores estão sendo devastadas [...] desde que no calendário começou a figurar o Dia da Árvore; e finalmente o ensino e seus artífices nunca se encontraram em situação tão crítica como depois que lhe atenderam à sagração pública, através do Dia do Professor. [...] “Que o professor, hoje erigido em verdadeira peça do Estado, não desapareça em voragem de sua consagração. “O Dia do Professor”, Correio da Manhã, 15 out. 1944, Primeiro caderno, p. 4. Neste artigo de 1944, o Correio opôs-se às celebrações do gênero do Dia do Professor, associando-as à degradação do que ela pretendia cultivar simbolicamente e estabelecendo uma divisão entre um passado extremamente positivo e um presente desolador. De conteúdo singular, celebração e visibilidade 29 pois destoava de outros textos publicados no mesmo período que elogiavam esse tipo de iniciativa, tal argumentação antecipou, em alguma medida, a questão central do debate promovido na grande imprensa paulista sobre o Dia do Professor que ora afirmava a sua necessidade, ora apontava o vazio das “belas palavras” dedicadas aos mestres nesta ocasião, tendo-se em conta o seu baixo salário, oscilando entre a total vinculação destes dois aspectos e a desqualificação das atividades que integravam a comemoração. No discurso veiculado pelo colunista do Diário de S. Paulo a recompensa simbólica aparecia associada fortemente à recompensa financeira da profissão, ao passo que nos editoriais da Folha era apresentada como uma forma de dissimular as péssimas condições de exercício do magistério. Ao anunciar a oficialização da data no estado de São Paulo (em 1948), Elisiário de Sousa – colunista do Diário – interpretou o ato do governador de tornar o dia 15 de outubro feriado escolar como um sinal de que o Estado pretendia conduzir “o professor na posição que de justiça lhe cabe” – a qual, ao seu ver, não se traduzia apenas numa “remuneração condigna”, mas também num maior prestígio social. Nos anos subseqüentes, o colunista tomava a projeção alcançada pela comemoração como indicativo do reconhecimento de diferentes esferas da sociedade quanto à importância do trabalho docente para o desenvolvimento nacional. Na maioria das vezes, ele se queixava da negligência por parte dos poderes públicos e da população no tocante às homenagens à categoria, alertando, em 1949, para a frustração do magistério com o impacto causado pela oficialização da data. Sousa ressaltou, ainda, que a sua inclusão no “calendário cívico-escolar” não fora resultado de uma ação espontânea do Estado, mas sim fruto de uma campanha das associações docentes que contou com a colaboração da imprensa. Embora afirmasse que a maior recompensa para um mestre era a amizade, a admiração e o progresso de seus alunos, o colunista lamentou que os pais brasileiros não se preocupassem em homenageá-lo, mencionando como exemplo a carta de um general americano na qual ele afirmava que os pais dos alunos deveriam se preocupar com a remuneração e o prestígio dos professores de seus filhos. Em suas próprias palavras: 30 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Acontece, entretanto, que não basta existir a data, se não houver providências tendentes a consagrar a efeméride. Muita gente, talvez iludida com os homens da época, pensou que uma vez determinado o Dia do Professor, teria o mestre, a partir desse instante e em todos os 15 de outubro, a consagração que merece pelo muito que faz em favor da nacionalidade. Mas o que há, de fato, não é mais do que iniciativas isoladas das entidades de classe e, salvo raras exceções, como da direção do SESI, nada mais está sendo feito, no dia de hoje, para enaltecer a obra realizada pelo apostolado cívico do professor. Não faz mal. O mestre nunca contou com isso, mesmo, para prosseguir na sua profícua atividade educativa. A sua maior alegria reside em ver e sentir que as crianças e os adolescentes seus alunos progridem no aprendizado e se fazem seus amigos e admiradores. Quando mais tarde, encontra alguns desses alunos que lhe reverenciam a presença e lhe reafirmam a amizade, então tudo está pago, e bem pago. Sim, porque o justo e razoável seria, nesta data, reunirem-se não as entidades da classe, mas todos os pais e alunos das escolas de São Paulo e do Brasil [...] para as homenagens ao professor19. Cerca de seis anos depois (em 1955), num tom bem mais enfático, o colunista do Diário referiu-se à expectativa de uma “nova era” para o magistério que havia sido criada com a oficialização do Dia do Professor e que foi totalmente frustrada pelo abandono ao qual foi relegada a categoria. Isto porque o governador Lucas Nogueira Garcez, no último ano de seu mandato (1954), havia vetado o projeto de reajuste salarial do professorado, enviado à Assembléia Legislativa em 15/10/1951. Baseado num estudo realizado por uma comissão constituída de representantes das associações docentes, este projeto gerou uma grande expectativa nos professores, pois permitiria uma melhora significativa em seus vencimentos. O próprio Elisiário de Sousa realizou, em sua coluna, uma contagem regressiva para a chegada do Dia do Professor neste ano devido à previsão de envio do referido projeto nesta data. Além disso, em 1955, o seu sucessor (Jânio Quadros) havia anunciado apenas um abo- 19. E. R. de Souza. “Hoje é o Dia do Professor”, Diário de S.Paulo, “Educação e Ensino”, 16 out. 1949, Primeiro caderno, p. 6. celebração e visibilidade 31 no de emergência para o magistério. Na mesma ocasião, ele também criticou a caracterização da docência como um sacerdócio, lembrando que o professor necessitava de recursos financeiros para sobreviver. Em seu dizer, quando se instituiu o Dia do Professor, imaginaram os professores, na sua eterna e santa boa fé, revelando sensível ingenuidade, que novos rumos se abriam à vida do magistério [...]. Todos quiseram ver naquelas atitudes o princípio de nova era, na qual o professor viesse a ocupar o lugar que de direito e por justiça lhe cabe no conceito dos homens do governo, dos dirigentes das classes conservadoras e das profissões liberais, e do próprio povo. Ouviam-se, amiúde, [...] expressões que bem definem o estado de espírito do professor, como esta: – “Afinal, parece que estão querendo compreender o valor de nosso trabalho e o alcance da missão de educar”. Mas a realidade está aí para mostrar que as coisas não mudaram muito. O professorado [...] esquecido e abandonado à própria sorte. [...] É preciso esclarecer que não nos referimos apenas à situação econômica da classe. Preferíamos, até, nesta oportunidade deixar de lado esse aspecto da vida do magistério, que já tem suscitado tantas tristezas e desilusões [...] Ouvimos falar, muitas vezes, [...] que o magistério é sacerdócio, é missão, é posto de sacrifício e de resignação. Por isso o professor precisa estar preparado para viver as penosas experiências que lhe imporá o missionarismo educativo. Com os olhos voltados para o sublime ideal de servir à Pátria, o mestre-escola deverá encontrar forças para suportar todas as provações. Isso tudo é muito bonito para discursos e festas cívicas. Mas a vida é muito diferente, principalmente para os que se dedicam exclusivamente ao magistério e têm família para sustentar. O professorado paulista, na verdade, está vivendo um Dia do Professor meio desanimado e muito triste, porque percebe que todo o seu trabalho, todo o seu esforço, toda a sua dedicação não têm contribuído, na medida das necessidades para recolocar o magistério no seu devido lugar. Entretanto, nada lhe abaterá a fé e a confiança na sua obra20. 20. E. R. de Souza. “Fé e confiança do professorado”, Diário de S.Paulo, “Educação e Ensino”, 15 out. 1955, Primeiro caderno, p. 6. Sobre as expectativas criadas em torno do referido projeto e também com a eleição de Garcez (professor universitário) no CPP, ver “O Governador-Professor: a dignificação da classe e o veto ao reajuste salarial” (Vicentini, 1997, pp. 113-123). 32 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Mais de dez anos após a oficialização da data, Elisiário Rodrigues de Sousa expressou a sua indignação quanto ao fato de o Dia do Professor continuar a ser uma “festa em família” e de não ter conseguido assegurar o reconhecimento do Estado e da população em relação à importância da missão docente, ressaltando que nem o comércio havia se engajado na comemoração da data, apesar de ter interesse financeiro em vender presentes destinados aos professores. Na ocasião, ele também afirmou que “as flores, beijos e até pequenos presentes” dos alunos constituíam a maior alegria do mestre, mas lamentou que estes, à medida que o tempo passava, acabavam por esquecer de reverenciar os seus professores. A ênfase no valor da recompensa simbólica da profissão – expressa pela valorização do reconhecimento e do carinho dos alunos e de uma comemoração grandiosa do Dia do Professor – associava-se, no discurso de Elisiário Rodrigues de Sousa, a uma certa hesitação em reconhecer a importância da recompensa financeira da profissão; por exemplo, no artigo veiculado a propósito da data em 1952, ele afirmou não será apenas com melhores vencimentos que os professores terão ânimo, forças e disposição para bem realizarem [...] a sua missão educativa. Se a remuneração constitui, sem dúvida, base de tranqüilidade econômica ou financeira, é bem verdade, porém, que ela não basta ou não satisfaz integralmente, se não vier acompanhada de outras medidas indispensáveis de proteção, estímulo e assistência ao professor21. Embora o colunista freqüentemente reiterasse que a remuneração não era determinante para a péssima situação do magistério, ele muitas vezes apontou os baixos salários como a causa do seu desânimo para 21. E. R. de Souza. “Palavras sobre o Dia do Professor”, Diário de S.Paulo, “Educação e Ensino”, 16 out. 1959, Segundo caderno, p. 11. E. R. de Souza “Nossos votos no Dia do Professor”, Diário de S.Paulo, “Educação e Ensino”, 15 out. 1952, Primeiro caderno, p. 6. Quanto ao apelo comercial da data, na grande imprensa paulista, foi localizado apenas um anúncio lembrando a comemoração, mas sem fazer nenhuma referência à venda do produto, já mencionado: “Homenagem da Sheaffer Pen do Brasil ao Dia do Professor”, Folha de S.Paulo, 15 out. 1963, Primeiro caderno, p. 16. celebração e visibilidade 33 comemorar a data e, em contrapartida, o êxito da campanha salarial empreendida ao longo de 1961 foi interpretado como um “progresso sensível” da categoria que ganhava “terreno a olhos vistos, ainda que sob o impulso de movimentos, campanhas e lutas sem tréguas”. Na verdade, a tentativa de dissimular o peso da recompensa financeira para o seu estatuto profissional articulava-se à imagem que Elisiário Rodrigues de Sousa veiculava da docência, fortemente vinculada ao apostolado, muito embora ele próprio em algumas ocasiões tenha criticado este tipo de caracterização. Assim, a hesitação em colocar em primeiro plano a retribuição econômica para a melhoria do estatuto profissional do professorado associava-se à descrição do mestre como um ser modesto, simples e humilde, para quem o progresso e a estima de seus alunos consistiam na sua maior alegria, que exaltava sempre a fé e o entusiasmo com que ele enfrentava as adversidades com as quais se deparava ao longo de sua carreira. Essa imagem da categoria veio à tona no artigo em que Rodrigues de Sousa lamentou que, em 1962, o Dia do Professor transcorresse “inexplicavelmente sem as pompas e as comemorações dos anos anteriores”. O colunista, entretanto, reiterou a sua “confiança nos destinos do magistério” que mesmo sem as “pompas” e esquecimento “do próprio Professor do Ano”, tinha “consciência de seu valor, da dignidade da sua ação social e do que é capaz de realizar, ainda quando lhe faltem estímulos comemorativos”22. Numa perspectiva contrastante, os editoriais da Folha, nos editoriais sobre o Dia do Professor desqualificavam quase que completamente as atividades que constituíam a sua celebração (discursos, entrega de medalhas etc.), alegando que essas eram destituídas de sentido diante do descaso do Estado quanto à situação do magistério. O jornal criticava esta contradição, ironizando os discursos proferidos nessas ocasiões pelo uso de “lugares-comuns” para exaltar a profissão docente. Ao co- 22. E. R. de Souza. “Nossa mensagem no Dia do Professor”, Diário de S.Paulo, 15 out. 1961, “Educação e Ensino”, Segundo caderno, p. 8. E. R. de Souza “Fé e confiança nos destinos da educação e do magistério”, Diário de S.Paulo, “Educação e Ensino”, 16 out. 1962, Segundo caderno, p. 7. 34 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 mentar a oficialização da data em 1948, a Folha da Manhã23 alertou para a necessidade de um plano para o desenvolvimento do ensino que, ao invés de permitir a criação de escolas normais e ginásios em excesso ocasionando uma “superprodução de professores”, buscasse ampliar o curso primário e eliminar o tresdobramento do horário dos grupos escolares. Em 195124, quando os professores aguardavam que o então governador Garcez enviasse o projeto de reajustamento de seus vencimentos, sob especulações de que o aumento seria pago em duas parcelas, o editorial da Folha desqualificou as “bonitas frases” acerca do apostolado do magistério, dizendo que elas já eram recebidas “com um sorriso sarcástico” pela categoria devido ao contraste com a ausência de medidas efetivas em prol da melhoria da sua “situação de patente e visível inferioridade, tanto no serviço público como no campo do ensino particular, em relação a outros profissionais de formação idêntica ou menos difícil”. O jornal praticamente retomou esta argumentação no comentário sobre o Dia do Professor em 1955, lembrando que, no ano anterior, diversos setores do funcionalismo foram beneficiados, exceto o magistério, devido ao veto de Garcez ao referido projeto e que, em 1955, Jânio Quadros anunciou um abono de emergência com um caráter mais “de favor do que como satisfação a um direito”: As comemorações do Dia do Professor [...] encontram o magistério em estado de espírito que não lhe permite receber com muito entusiasmo as homenagens que se anunciam. Se aos professores fosse dado pronunciar-se, certamente diriam que sessões solenes, desfiles, discursos, missas, medalhas de ouro etc. [...] é muito bonito mas não basta. Para uma classe que todos os anos ouve sonoras palavras de exaltação à sua missão, sem que se registrem atos paralelos e concretos de reconhecimento da importância dela, muito pouco podem significar homenagens como as que estão programadas em São Paulo25. 23. “Cuidemos do ensino primário”, Folha da Manhã, “Editorial”, 15 out. 1948, Primeiro caderno, p. 4. 24. “A expectativa do professorado”, Folha da Manhã, “Editorial”, 14 out. 1951, Primeiro caderno, p. 6. 25. “Franqueza com os professores”, Folha da Manhã, “Editorial”, 11 out. 1955, Primeiro caderno, p. 4. celebração e visibilidade 35 Em 1956, a Folha da Manhã26 destacou a melancolia e a frieza que marcaram o Dia do Professor, pois para o jornal não havia motivo para comemorar em parte por causa do magistério particular, devido à greve realizada em setembro pelo atraso no pagamento da suplementação salarial advinda do FNEM, e em parte por causa dos professores públicos que ainda estavam sob o impacto da frustração causada pela “falseta do ano anterior”, quando o governador não concedeu o abono de emergência anunciado. Por ocasião da primeira greve do magistério paulista deflagrada em 15 de outubro de 1963, a Folha dirigiu duras críticas a Adhemar de Barros, dizendo que, em vez de “mensagens ocas” sobre a docência, o governador deveria ter enviado à Assembléia Legislativa a mensagem com o aumento salarial reivindicado pela categoria: O governador requintou-se no uso de comoventes lugares-comuns, começando por dirigir-se ao “esclarecido professorado de São Paulo” [...]. A seguir, proclama não ignorar “as preocupações que afligem a devotada classe” [...] Em tempo, “o esclarecido professorado de São Paulo”, “a devotada classe”, “o abnegado mestre paulista”, no seu dia, “tão grato no coração de todos nós”, não estava interessado em mensagens ocas desse tipo. Esperava outra mensagem que, concedendo padrões de vencimentos condignos ao magistério, lhe restituísse o estímulo que começa a perder27. Após o Golpe Militar de 1964, o jornal renovou suas críticas a Adhemar de Barros, que se associou à “justa e meritória homenagem” prestada em 15 de outubro ao professorado, lembrando mais uma vez que as suas “bonitas palavras” não se coadunavam com a política adotada com relação à categoria, pois além do atraso no pagamento dos professores secundários contratados havia ocorrido uma série de demissões de professores universitários sem a devida explicação. No dizer do editorialista, 26. “O melancólico Dia do Professor”, Folha da Manhã, “Editorial”, 16 out. 1956, Primeiro caderno, p. 4. 27. “Frases”, Folha de S.Paulo, “Editorial”, 16 out. 1963, Primeiro caderno, p. 4. 36 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Palavras, bonitas palavras, que não escondem aquilo que ainda ontem frisamos nesta página: a existência em São Paulo de um lamentável estado de hostilidade contra a inteligência, a cultura e a ciência. Pois o Dia do Professor transcorre desta vez antes de se apagarem os ecos do mal-estar gerado pela demissão de vários professores universitários, sem que se tivesse esclarecido amplamente [...] os motivos da punição. Não é só isso. Ainda nesta página publicamos ontem também (em Cartas à Redação) a “reza” de um professor que, entre jocoso e amargurado, implorava ao governador, em nome dos professores secundários contratados, “o pagamento dos nossos salários atrasados desde junho, a fim de que as nossas dívidas sejam perdoadas e possamos pagar o pão de cada dia para nossos filhos”28. Assim, no discurso veiculado pela grande imprensa paulista a respeito desse tipo de comemoração, ora a recompensa simbólica aparecia como signo de uma “nova era” para a categoria, na qual o reconhecimento dos poderes públicos quanto à importância de sua missão se traduziria numa melhor remuneração, ora era apresentada como uma forma de dissimular a deficiência de seus vencimentos e, até certo ponto, como algo antagônico a medidas concretas em prol da melhoria do seu estatuto profissional. No caso carioca, embora esse tipo de polêmica não tenha aparecido com a mesma intensidade e freqüência, o jornalista IB Teixeira – responsável pela coluna “Esse Rio aflito” do Última Hora – em 1962 criticou duramente a exaltação da “sagrada missão de ensinar”, presente no discurso veiculado pela associação representativa do magistério primário a propósito do Dia do Professor, pelo fato de omitir-se quanto à precariedade das condições de trabalho nas escolas elementares do estado da Guanabara. Desse modo, o colunista acabou por questionar as implicações de uma concepção acerca da profissão que, ao enaltecer o caráter missionário da docência, valorizava os aspectos relativos à recompensa simbólica da ocupação, excluindo qualquer referência às condições de trabalho e à sua remuneração: 28. “Dia do Professor”, Folha de S.Paulo, “Editorial”, 15 out. 1964, Primeiro caderno, p. 4. celebração e visibilidade 37 Hoje é Dia do Mestre. A presidente da União das Professoras Primárias, D. Elinda Mendonça, já divulgou uma nota oficial, em que saúda “todas aquelas que, no Brasil, cumprem a sagrada missão de ensinar”. Há 10 anos D. Elinda diz essas coisas. Na Assembléia Legislativa, D. Lígia Lessa Bastos recitará seu discursinho. [...] É muito fácil a gente adivinhar o que D. Lígia vai dizer: é sagrada a missão de ensinar. [...] Embora isto desgoste a D. Lígia e a D. Elinda, este repórter gostaria de meter a sua colher de pau na sagrada matéria. Para começo de conversa, o Rio Aflito diria que não é muito bonito falar da “sagrada arte de ensinar” quando se esquece de mencionar coisas muito importantes relacionadas com a “sagrada arte de ensinar”. [...] Temos [...] de cara esse disparate: uma professora primária para 50 crianças! [...] Convenhamos que em tais circunstâncias, a arte de ensinar não pode ser muito sagrada... as professoras que [na verdade] lecionam para 80 alunos (daí o sistema de “dobra”. E “dobra” não remunerada!) não lecionam apenas. Elas controlam a merenda escolar, a contabilidade da caixa escolar, as cooperativas etc. [...] Para tanto mister a professora ganha [...] pouco mais de 20.000 cruzeiros! Ou menos bem menos que o próximo salário mínimo...29. Embora se tratasse de uma opinião isolada, Teixeira, de forma contundente, criticou a visão fortemente idealizada da docência exaltada por ocasião do Dia do Professor, procurando tornar a data uma oportunidade para expor os problemas enfrentados pelo professorado primário oficial, sobre os quais a entidade representativa desse segmento da categoria insistia em silenciar, diferentemente do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro que, ao celebrar a data, não deixava de denunciar a baixa remuneração e as péssimas condições de trabalho dos professores nas escolas particulares. Fortemente atrelada à recompensa simbólica da profissão, a comemoração do Dia do Professor acabou por constituir uma oportunidade para se falar da necessidade da recompensa financeira, sem deixar de evidenciar a ambigüidade com que esta dimensão da docência era tratada. Completamente ausente quando se louvava a ab- 29. “No Dia do Mestre”, Última Hora, “Esse Rio aflito – IB Teixeira”, 17 out. 1962, Primeiro caderno, p. 3. 38 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 negação dos professores que haviam dedicado a vida inteira ao magistério, mencionada com certa hesitação por aqueles que lhe atribuíam a mesma importância do reconhecimento simbólico e abertamente defendida pelo movimento reivindicativo que se intensificou a partir de meados dos anos 1950, a recompensa financeira foi representada de maneira contrastante nos discursos veiculados durante o período estudado a propósito do 15 de outubro que, evidentemente, deixavam entrever concepções distintas acerca da docência. Objeto das disputas travadas no campo educacional em torno das tentativas de definir a identidade da categoria, a data – tanto pelos discursos produzidos a seu respeito quanto pelas diversas formas de celebrá-la – acabou por difundir diferentes imagens da profissão, assumindo múltiplos significados. Originalmente concebida para que as pessoas expressassem a sua gratidão ao seu primeiro mestre – geralmente relegado ao anonimato e ao esquecimento –, incorporou novos significados que se sobrepuseram ao inicial, mas sem anulá-lo. Homenagens a professores tidos como exemplares e festas de congraçamento das mais diversas iniciativas associaram-se às lembranças do primeiro mestre na celebração do 15 de outubro que, a partir de meados dos anos 1950, começou a contar com protestos da categoria contra os baixos salários. Desse modo, práticas que alteraram o significado original do Dia do Professor e que representavam uma mudança no processo reivindicatório do magistério passaram a se contrapor à aparente atemporalidade das atividades tradicionais da comemoração. Referências bibliográficas ABREU, Alzira Alves de (org.) (1996). A imprensa em transição: o jornalismo brasileiro nos anos 50. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas Editora. AZEVEDO, Fernando (1976). A transmissão da cultura: 3ª parte da obra A Cultura Brasileira. Brasília/São Paulo: INL/Melhoramentos. BARREIRA, Luis C. “Everaldo Adolpho Backheuser (verbete)”. In: FÁVERO, M. de L. de A. & BRITTO, J. de M. (1999). Dicionário de educadores no Brasil: da colônia aos dias atuais. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/MEC-INEP, pp. 175-181. celebração e visibilidade 39 BEISIEGEL, Celso de Rui (1974). Estado e educação popular. São Paulo: Pioneira. BITTENCOURT, Circe Maria F. (1990). Pátria, civilização e trabalho: o ensino de história nas escolas paulistas (1917–1939). São Paulo: Editora Loyola. BOURDIEU, Pierre (1983). Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero. . (1989). O poder simbólico. Rio de Janeiro/Lisboa: DIFEL/Bertrand Brasil. . (1996). A economia das trocas lingüísticas. São Paulo: EDUSP. CAPELATO, Maria Helena & PRADO, Maria Lígia (1980). O bravo matutino (imprensa e ideologia no jornal O Estado de S.Paulo). São Paulo: Editora AlfaOmega. CARVALHO, Marta Maria Chagas de (1986). Molde nacional e forma cívica: higiene, moral e trabalho no projeto da Associação Brasileira de Educação (1924– 1931). Tese (Doutorado) – FEUSP, São Paulo. . (1989). “O novo, o velho e o perigoso: relendo A Cultura Brasileira”. Cadernos de Pesquisa, São Paulo: Fundação Carlos Chagas, n. 71, pp. 29-35, nov. CHARTIER, Roger (1990). A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa/Rio de Janeiro: DIFEL/Bertrand Brasil. . (1991). “O mundo como representação”. Estudos Avançados, São Paulo, vol. 11, n. 5, pp. 173-191. . (1998). Au bord de la falaise: l’histoire entre certitudes et inquiétude. Paris: Éditions Albin Michel. COELHO, Ricardo B. Marques (1988). O sindicato dos professores e os estabelecimentos particulares de ensino no Rio de Janeiro (1931-1950). Dissertação (Mestrado) – UFF, Niterói. ENGUITA, Mariano F. (1991). “A ambigüidade da docência: entre o profissionalismo e a proletarização”. Teoria & Educação, Porto Alegre, n. 4, pp. 41-60. FERREIRA, Rodolfo (1998). Entre o sagrado e o profano. Rio de Janeiro: Quartet. JOIA, Orlando & KRUPPA, Sonia (org.) (1993). APEOESP 10 anos (1978-1979): memória do movimento dos professores do ensino público estadual paulista. São Paulo: CEDI. 40 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 KRUPPA, Sonia (1994). O movimento dos professores em São Paulo – o sindicalismo no serviço público, o Estado como patrão. Dissertação (Mestrado) – FEUSP, São Paulo. KUHLMANN JÚNIOR, Moysés (2001). As grandes festas didáticas – a educação brasileira e as exposições internacionais (1862-1922). Bragança Paulista: Editora da Universidade São Francisco. LEAL, Carlos Eduardo & FLAKSMAN, Dora (1984). “Correio da Manhã (verbete)”. In: ABREU, Alzira Alves de & BELOCH, Israel (coord.). Dicionário histórico-biográfico brasileiro (1930–1983), Rio de Janeiro: FGV/CPDOC, pp. 945951. LEAL, Carlos Eduardo & FLAKSMAN, Dora (1984). “Última Hora (verbete)”. In: ABREU, Alzira Alves de & BELOCH, Israel (coord.). Dicionário histórico-biográfico brasileiro (1930–1983). Rio de Janeiro: FGV/CPDOC, pp. 3390-3394. LUGLI, Rosario S. Genta (1997). Um estudo sobre o CPP (Centro do Professorado Paulista) e o movimento de organização dos professores (1964–1990). Dissertação (Mestrado) – FEUSP, São Paulo. MATOS, Heloísa Maria Leiras (1985). Análise do ensino fundamental na cidade do Rio de Janeiro: caracterização sócio-político-pedagógica de três administrações públicas 1946-51; 1960-65 e 1975-79. Dissertação (Mestrado) – PUC-RJ, Rio de Janeiro. MORIN, Viollete (1961). “Le voyage de Khroucheviev em France: essai d’une méthode d’analyse de la presse”. Communications, Paris, n. 1, pp. 81-107. NÓVOA, António (1992). “A Educação Nacional (1930-60)”. ROSAS, F. (coord.). Portugal e o Estado Novo. Lisboa: Editorial Presença, pp. 455-519. OZOUF, Mona (1976). “A festa: sob a Revolução Francesa”. LE GOFF, J. & NORA, P. História: novos objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, pp. 216-232. SANTOS, Paula Martini (1994). A expansão escolar pública primária e seus significados no estado da Guanabara durante o governo Carlos Lacerda (196065). Dissertação (Mestrado) – UFF, Niterói. SODRÉ, Nelson Werneck (1966). História da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira. SPOSITO, Marília Pontes (1984). O povo vai à escola: a luta popular pela expansão do ensino público em São Paulo. São Paulo: Edições Loyola. celebração e visibilidade 41 TASCHNER, Gisela (1992). Folhas ao vento: análise de um conglomerado jornalístico no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra. VEIGA, Cynthia & GOUVEIA, Maria Cristina Soares (2000). “Comemorar a infância, celebrar qual criança? Festejos comemorativos nas primeiras décadas republicanas”. Educação e Pesquisa, São Paulo, vol. 26, n. 1, pp. 135-160, jan.jun. VICENTINI, Paula Perin. (1997). Um estudo sobre o CPP (Centro do Professorado Paulista): profissão docente e organização do magistério (1930-1964). Dissertação (Mestrado) – FEUSP, São Paulo. . (2002). Imagens e representações de professores na história da profissão docente no Brasil (1933-63). Tese (Doutorado) – FEUSP, São Paulo. A lei da escola Sentidos da construção da escolaridade popular através de textos legislativos em Portugal e Santa Catarina – Brasil (1880-1920) * António Carlos Luz Correia** Vera Lucia Gaspar da Silva*** Neste trabalho, apresentamos um ensaio de problematização da legislação escolar enquanto fonte significativa, rica e dinâmica para a história e a sociologia da educação. Aqui o olhar sobre a legislação deve ser entendido inserido no plano da crítica das fontes documentais. Tecemos um ensaio de reflexão tendo por campo de análise o ensino primário em Portugal e em Santa Catarina, no Brasil. O enquadramento cronológico abarca grosso modo o período compreendido entre 1880 e 1920. Esta virada de século ganha especial relevo por constituir marco cronológico na expansão e consolidação dos sistemas públicos de ensino. LEGISLAÇÃO ESCOLAR; ESCOLA PRIMÁRIA; EDUCAÇÃO COMPARADA; SANTA CATARINA; PORTUGAL. * Este texto apresenta parte das reflexões que os autores têm feito ao abrigo do Projeto PRESTIGE (Problems of Educational Standardisation and Transitions in a Global Environment), e caracteriza-se como aproximação de objetos de investigação de cada um dos autores, objetos estes que estão sendo tratados em teses de doutorado. Uma primeira discussão acerca da temática abordada neste texto foi apresentada no ECER (European Congress of Educational Research) 2002, realizado pela EERA (European Educational Research Association), Lisboa, com o título Taking a View of schooling landscape through the eyes of the law: primary schooling in Portugal and Brazil (Santa Catarina State), 1880-1920. ** Mestre em sociologia aprofundada e realidade portuguesa pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente prepara tese de doutorado sobre o currículo em Portugal nos ensinos primário e secundário liceal nos séculos XIX e XX. *** Professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina. Doutora em educação (história da educação e historiografia) pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – FEUSP. 44 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 In this work we present an essay on school legislation as a meaningful, rich and dynamic source to the History and Sociology of Education. The look at the legislation must be considered as inserted in the level of the analysis of document sources. A reflective essay is developed here, having as the analysis field the primary schooling in Portugal and Santa Catarina, in Brazil. The chronological frame covers roughly the period between 1880 and 1920. The turn of the new century period is specially approached for constituting a chronological cornerstone in the expansion and consolidation of public schooling systems. SCHOOL LEGISLATION; PRIMARY SCHOOL; COMPARED EDUCATION; SANTA CATARINA; PORTUGAL. 1. Introdução Neste texto, procedemos a um ensaio de reflexão em torno da legislação enquanto fonte significativa para a História e a Sociologia da Educação, aplicando-a a um campo de análise constituído pelo ensino primário em Portugal e em Santa Catarina, no Brasil. No caso brasileiro, o estado de São Paulo será evocado como estado de referência para Santa Catarina na organização do seu sistema de ensino. São Paulo é realmente um estado de referência no cenário brasileiro na época de organização dos sistemas públicos de ensino. Segundo Catani: Por encontrar-se em situação economicamente privilegiada, em função da expansão da cafeicultura e da necessidade de produção e comércio assim geradas, São Paulo pode investir, de imediato, nos primeiros anos da República, na reforma e criação de escolas que até então vinham sendo poucas e ineficientes, mesmo na própria capital [2003, pp. 20-21]. A possibilidade aberta pela Carta Constitucional brasileira de 1891, que na prática “não respondeu a que esferas específicas de poder deveriam ser atribuídas as diversas responsabilidades educacionais”, e a situação econômica do estado são peças que funcionaram como elementos propulsores para que São Paulo conduzisse sua tentativa de organizar uma rede de escolas que, “pelo pioneirismo, passará a funcionar como modelo para outros Estados” (Catani, 2003, p. 20). a lei da escola 45 O enquadramento cronológico do presente trabalho abarca o período compreendido entre 1880 e 1920. A transição do século XIX para o XX ganha relevo por assumir-se marco cronológico da expansão dos sistemas públicos de ensino. A constituição de uma escala de análise exclusiva da pesquisa, por meio da textualidade legislativa, conta com dois pressupostos, o da existência de uma base lingüística comum e o da sua concretização em contextos de expressão e atualização dotados de especificidade própria. A língua portuguesa constitui, simultaneamente, o menor denominador comum e a escala mais ampla de análise no nosso trabalho. Reúne no mesmo objeto de pesquisa, numa abordagem comparada, dois contextos atuais específicos que, do ponto de vista histórico, cultural, social e político podem ser combinados e recombinados em objetos de análise de geometria simbólica variável. Falamos, claro, de Portugal e do Brasil, como dois países distintos, assim como do estado de Santa Catarina na historicidade própria que se sobrepõe à historicidade do Brasil como nação. Na sua diversidade, a língua portuguesa é o elo mínimo visível a colocar em relação aqueles contextos. O reconhecimento da natureza mínima do elo lingüístico requer que, em nossa opinião, seja imperativo situá-lo em termos de macroanálise. Deste modo, as particularidades e as discrepâncias, as continuidades e as descontinuidades são tomadas na pluralidade de expressões que configura e atualiza o universo simbólico que utiliza a língua portuguesa como suporte. Vale a pena recordar que a linguagem em si mesma, os recursos lingüísticos, lexicais e semânticos, nomeadamente, não possuem expressividade própria nem geram sentidos abstratos. A língua ganha vitalidade e sustenta amplas possibilidades de construção de sentidos por meio do discurso e da comunicação (Bakhtin, 1999). O universo simbólico da língua portuguesa dota-se assim de uma espessura histórica que combina espaciotemporalidades múltiplas e no qual as diferenças ou particularidades não surgem como ruídos impossibilitadores da sua existência como um todo, mas como reveladores da sua plasticidade e potencial reconstitutivo. 46 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 A delimitação do período cronológico decorre de considerandos que resultam da tomada das propostas de António Nóvoa (1998, 2000 e 2002) como quadro de referência conceitual para a definição de hipóteses gerais de reflexão. A entrada em cada contexto particular requer, no entanto, a recuperação de alguma da historicidade que lhe é inerente. Além disso, é necessário a discussão e definição das fontes respectivas, em si mesmas e nas relações que estabelecem através das intertextualidades com que se definem. A construção discursiva da escola realiza-se em duas dimensões principais distintas, interagindo entre si, é certo, mas necessariamente discrepantes e descontínuas. Falamos da construção discursiva da escola no plano organizacional e no plano institucional (Meyer, 1980). Consoante a escala e o contexto em que se situam as práticas discursivas dos atores, o discurso da escolaridade e, particularmente, a produção dos textos que o materializa, incorporam em diferentes proporções e de modo nem sempre harmonioso ou isento de contradições, elementos oriundos das duas dimensões referidas. No período contemplado, 1880-1920, o desenvolvimento dos sistemas educativos escolares encontra-se em expansão, particularmente o ensino elementar ou popular. A efervescente discussão não se restringe aos espaços aqui tomados como referência. As reformas marcam os momentos fortes das políticas governamentais e revestem-se de uma importância muito grande na caracterização do discurso educativo escolar da época. Elas têm um valor simbólico relevante pois introduzem no discurso e nos debates sobre a educação categorias e problemáticas estratégicas que influenciam a evolução posterior do sistema escolar. O recurso à legislação, para suportar ou ilustrar aspectos variados relativos à escolaridade ou aos atores sociais da educação escolar, faz parte das rotinas habituais do pesquisador. O trabalho que apresentamos pretende constituir um ensaio de problematização da legislação enquanto fonte histórica. Num primeiro momento, o olhar sobre a legislação deve ser inserido no plano da crítica das fontes documentais. Defendemos, também, a necessidade do alargamento da construção crítica ao conjunto de fontes habitualmente utilizadas no nosso campo investigacional. a lei da escola 47 2. O uso da legislação como fonte A crítica das fontes faz parte dos procedimentos metodológicoconceituais incontornáveis de qualquer pesquisa de cariz historiográfico ou sociológico. Contudo, existem razões para que a discussão e reconceitualização das fontes assuma aqui um protagonismo particular. De há cerca de duas décadas para cá, como sublinha António Nóvoa [...] assiste-se a uma diversificação dos enquadramentos conceptuais e das ferramentas metodológicas. As abordagens sócio-históricas parecem incapazes de dar sentido à complexidade dos processos de mudanças a longo termo, de apreender as permanências profundas e os pontos de ruptura das dinâmicas escolares e educacionais [1998, p. 23]. A resposta às interrogações daqui decorrentes não é fácil. O fato de, tradicionalmente, a legislação ter sido tomada como uma fonte de expressão da realidade, sem grande aparato crítico, tem gerado reações negativas contra o seu alcance analítico. Se a legislação se mostra neste cenário como objeto e fonte dinâmica e promissora, não se pode negligenciar que uma das dificuldades na abordagem deste tema resulta do preconceito gerado por uma freqüente utilização redutora e descritiva do conteúdo dos textos legislativos. A utilização da legislação nestes termos tem conduzido a reproduzir o discurso da administração escolar sobre si mesma ou a sua perspectiva e a ser encarada como manifestação discursiva dos interesses dominantes do aparelho de Estado. A legislação pode revelar-se como fonte de diferentes modos, dependendo essa configuração da forma como a pesquisa é concebida e das perguntas que coloca. A legislação não existe, absolutamente, como fonte predefinida à problemática da investigação. Esta é que cria o formato de fonte sob o qual a legislação se apresenta. A legislação não surge num vazio social nem se reveste de uma natureza definitiva. Ela impõe mas também pode ser imposta. Pode formalizar práticas pedagógicas ou organizacionais que se consagraram pelo uso ou forçadas por grupos de pressão (sindicatos, movimentos de 48 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 pais, universidades, grupos econômicos...), ou propor “novos” encaminhamentos para o desenvolvimento de atividades educativas. A crítica que se faz às concepções mecanicistas da legislação, entendendo-a como expressão e imposição dos interesses das classes dominantes, permite questionar o simplismo e ausência de aparato crítico na utilização da legislação como fonte histórica. No quadro das suas possibilidades e limites, o texto legal pode ser usado para discutir diferentes concepções de legislação ou até para fundamentar a leitura crítica de outras fontes. A lei define um território (e como tal também estabelece os seus limites ou fronteiras) do conhecimento e do saber legítimos (e o tipo de questões possíveis de elaborar) sobre uma determinada realidade, configurando-a. Estabelece assim processos identitários (Faria Filho, 1998). A organização do território educativo acaba por ocultar ou dissimular muito do que está expresso na legislação. São formas de organização e apropriação que lhe retiram a visibilidade textual, mas a legislação está presente mesmo onde não parece estar. Quando analisamos materiais como manuais escolares para os alunos, relatórios de estágio de professores, relatórios de inspecção ou compêndios pedagógico-didáticos, o conhecimento da legislação que regula a respectiva produção é incontornável. Primeiro, porque determina as características formais de apresentação, os tópicos que organizam o conteúdo, a temporalidade em que se inserem. Segundo, porque dá pistas tanto para o dito como para o não dito, uma vez que todos eles são produzidos para obedecer a requisitos impostos ou regulados pela administração educacional. No caso de relatórios de professores, reitores e diretores de escolas, por exemplo, a maioria deles produzirá uma representação da realidade empírica, mais em conformidade com o que está estabelecido que deve ser do que com aquilo que é, na realidade. Habitualmente, utilizamos o conteúdo de um texto legislativo para ilustrar afirmações respeitantes a medidas de política educativa ou aspectos da organização escolar. Para além deste tipo de aplicação, é importante ter presente que a legislação se compõe de textos e um texto materializa um discurso, o qual representa uma sistematização de valo- a lei da escola 49 res e significados de uma instituição determinada. Assim concebida, a legislação constitui um corpus textual dotado de características próprias que permite ao leitor o seu reconhecimento expedito, tanto em termos de localização primordial, como pela forma e pelo conteúdo. Os textos legislativos revestem-se, freqüentemente para os investigadores, de uma natureza subsidiária, ilustrativa, documental, mesmo quando tomam em consideração preâmbulos, relatórios ou considerandos que acompanham algumas das leis e decretos sobre educação. Procuramos, nessa perspectiva, consultar o texto definitivo do documento legislativo, nas páginas da folha oficial ou das coleções oficiais de legislação. Mas, será isso utilizar a legislação conferindo-lhe o estatuto de uma fonte dotada de uma especificidade própria ou a designação reporta-se a cada documento legislativo singular, mesmo que utilizemos vários, constituindo-se genericamente no conjunto de fontes escritas utilizadas na pesquisa? É possível olharmos para a legislação como reunindo documentos escritos de uma determinada tipologia, que permitem formar um corpus documental à parte. A legislação pode ser encarada como um arquivo, constituindo-se de acordo com uma determinada lógica de registo e conservação. Quais são as vantagens e as implicações gerais de trabalhar a legislação a partir desta representação? Em primeiro lugar, permite recuperar a sua historicidade. A abordagem panorâmica da legislação como um território textual pode levar-nos a descobrir a diferente arquitetura política e organizacional, no contexto da qual são produzidos os textos legislativos. Em segundo lugar, relacionada com a primeira dimensão, coloca-se a necessidade de clarificar as modalidades de produção e publicação de cada texto legislativo. Um despacho, uma circular, uma portaria são documentos gerados no desenrolar das atividades da administração escolar e, embora a carga política esteja sempre presente, ela é diminuta comparada com a que acompanha o processo de elaboração de uma lei ou um decreto-lei, com um percurso que a leva a passar, em circunstâncias normais, pelas instituições parlamentares. É certo que todos os textos de legislação são publicados em folha oficial mas o lugar que nela lhes está atribuído obedece a critérios pre- 50 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 viamente estabelecidos; a ordem de surgimento das peças legislativas nos veículos oficiais de circulação segue uma hierarquia de importância formal. A partir dos elementos até aqui apresentados, busca-se superar uma concepção mecanicista da legislação, que acredite na transposição pura e simples de um texto legal para o seu cumprimento, ilusão que nem os próprios legisladores partilham, já em 1907, como se pode ver pelo texto português que segue: Não é pela mera influência das leis escritas, nem pela força exclusiva das reformas decretadas, que a instrucção se aperfeiçoa ou corrige; e que fora ou acima de leis e reformas, de planos e decretos, de compêndios e de programas, alguma coisa existe, de que é impossível prescindir e que se não consegue pela simples influência dos preceitos escritos1. O uso que cada grupo faz das peças legais, a forma como se apropria, os mecanismos de burla são aspectos que também devem estar presentes em nosso universo de análise. Os fortes aparatos fiscalizadores do ensino, ainda que tenham mais impacto no texto que na operacionalização, são expressão dos esquemas coercitivos colocados em cena para se tentar fazer cumprir a lei. A organização deste aparato e a divulgação de sua estrutura podiam exercer força mais coercitiva que a fiscalização em si, mas, o conhecimento acerca de seu funcionamento também possibilitava a burla. O fato, por exemplo, de que muitas escolas eram inspeccionadas uma vez no ano, e que professores e alunos sabiam quando isto aconteceria, poderia (e assim acontecia) gerar reações como a encenação a ser acionada no momento da inspeção. Mas também é certo que, a existência e divulgação dos preceitos legais criava um aparato fiscalizador para além do próprio serviço de inspeção. Párocos, famílias, chefes políticos poderiam, apoiados nas leis e num suposto conhecimento destas, exercer vigilância em relação ao que se passava numa escola. Não podemos 1. Decreto de 19 de agosto de 1907. a lei da escola 51 esquecer, também, os diferentes usos de um mesmo preceito, uso este feito à luz das cores políticas que iluminavam a ação de professores e figuras públicas. Os aspectos até aqui abordados indicam que na definição de fontes e no percurso da recolha de dados é necessário que a questão central do trabalho esteja sempre presente e seja revisitada a todo momento, indagando-se, à luz desta questão, possibilidades e limites de uma ou de determinadas fontes. Mesmo dispondo de uma questão central, norteadora do trabalho, bastante amadurecida, há que ter abertura para redefini-la no percurso, ou problematizá-la com novos elementos. Mesmo quando se define o acervo que será consultado, novos recortes serão necessários. Um texto legal pode, em pouco tempo, sofrer transformações bastante significativas (transmutar-se), por alterações em artigos, parágrafos etc., publicadas separadamente. Ao fim de um período, alguns mais parecem um quebra-cabeças sendo difícil de reconhecer se o que foi ordenado no texto inicial permanece ou não em vigor. Há casos também de leis, decretos ou similares que nunca foram colocados em prática, mas que acabam sendo incorporados em reflexões posteriores como emblemáticos. No estado de Santa Catarina, uma lei aprovada em 1917, que proibia o casamento das professoras normalistas, tem sido citada como exemplo de tentativa de organização de um corpo docente celibatário ou gerado outras interpretações do gênero e de gênero. Diz o texto que “As candidatas ao magistério publico, que se matricularem na Escola Normal, da data desta Lei em diante, quando diplomadas e nomeadas professoras, perderão o cargo se contraírem casamento”2. De fato, nenhum registro foi encontrado assegurando desdobramento desta lei, pelo contrário, encontram-se com certa regularidade pedidos endereçados ao governador do estado, solicitando alteração de nomes. Estas mudanças devem-se, certamente, a casamentos contraídos pelas professoras. Testemunhos orais também têm demonstrado que as professoras não deixaram de contrair matrimônio por causa desta lei. 2. Lei n. 1.187, de 5 de outubro de 1917. 52 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 A dinâmica do percurso de um texto legal é outro aspecto que merece atenção. Mesmo consultando criteriosamente as publicações oficiais, documentos de legitimação social de um texto legal, através de numeração ou da ordem cronológica, há sempre possibilidade de que algo tenha sido publicado separadamente, em forma de suplemento (os suplementos são figura recorrente na legislação portuguesa, assim como as publicações separadas em Santa Catarina). As advertências acima não devem ser tomadas como desencorajadoras para o uso da legislação como fonte, mas como um alerta não só de sua complexidade, como da necessidade de se ter pontos de apoio que permitam certa triangulação, que dêem referências sobre a existência, efeitos e desdobramentos de um texto legal. Isto indica que, tomar um único texto como fonte de análise pode comprometer a credibilidade do trabalho. Mesmo que, na perspectiva do uso da legislação como fonte não se persiga a legislação da forma como o fariam os juristas, a cautela é sempre um bom aliado. Tendo-se por referência a pesquisa, torna-se também necessário a organização de uma certa hierarquia, de uma clarificação conceitual em que assente a metodologia do trabalho. Contudo, propor uma hierarquia das leis também não é tarefa simples. Por que consideraríamos mais importante as leis que os decretos, se são os decretos que regulamentam as leis? Por que consideraríamos mais importantes as reformas que os regimentos ou regulamentos, se estes últimos são a materialização do primeiro? E por que se deixariam por último os regimentos ou regulamentos se são estes que organizam o terreno, na unidade escolar, onde se operam as alterações pretendidas? O recorte temporal também é um ordenador do trabalho, do ponto de vista externo, mas a delimitação não pode figurar como camisa-deforça. Há situações nas quais recuos ou avanços são necessários para situar a origem ou desdobramentos de uma situação dada. É importante que o cenário sociopolítico apareça não só como pano de fundo, mas como contexto do qual emergem elementos que ajudem a compreender a presença de um dado documento no contexto educativo. Estes elementos podem ajudar a evidenciar propósitos explícitos e não ditos ou implícitos, ou seja, conforme diz Catani (2000), situar distâncias e vizi- a lei da escola 53 nhanças entre o discurso teórico ou a retórica discursiva e os objetivos ocultos, quando se detectam, da mesma3. Outro passo importante é a etapa do trabalho de classificação e sistematização; etapa esta definida a partir de encaminhamentos anteriores, compreendendo a escolha da temática num sentido mais amplo e a delimitação do período. É nesta relação mais próxima, ou de “intimidade com as fontes”, que novos recortes, delimitações, escolhas são possíveis. Num artigo recente, António Nóvoa alerta [...] contra a tendência para legitimar posições políticas com “resultados científicos” que, pura e simplesmente, não existem. “Torturar os dados até que eles confessem”, chamou Edward Leamer (1983) a este exercício cada vez mais habitual. É preciso um extremo cuidado para não confundir a análise de um problema com a defesa de uma causa [2002, p. 260]. 3. Construções discursivas da escolaridade e perspectiva comparada Para o caso específico deste estudo, foram considerados textos legislativos do período delimitado, que registram a conformação da escola primária e da Escola Normal. Num rastreamento por textos com formatos diversos (leis, decretos, despachos etc.) buscou-se identificar a arquitetura desenhada para a escola popular. O texto legislativo requer uma atenção particular às diversas intertextualidades nele presentes. A captação da densidade discursiva implica algum grau de conceitualização prévia do texto ou textos que pretendemos explorar. O texto não é um artefato discursivo de natureza estática, 3. Nesta reflexão há uma apropriação de idéias de Antonio Viñao, presentes no texto “Culturas escolares, reformas e innovaciones educativas”, publicado em ComCiencia Social, n. 5, pp. 27-45, 2001. Embora em seu trabalho o autor utilize como pretexto os textos vinculados a reformas educacionais, considera-se aqui viável a transposição ou extensão de sua reflexão para a compreensão e utilização de outros textos legais. 54 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 acabada, definitiva, antes é, pelo contrário, dotado de propriedades dinâmicas, atualizáveis e em transformação permanente, de tensões e discordâncias internas. O olhar do leitor altera a natureza do texto lido, em função de inúmeras variáveis que fabricam o modo de ler. Partimos da idéia de intertextualidade, como conceito genérico e abrangente abarcando diferentes níveis de leitura de um texto em função das relações possíveis desse texto com outro(s) texto(s) para a utilização operatória de intertextualidades. Incluímos aqui aquelas cuja existência está implícita ou explícita e é reconhecida e partilhada na produção e recepção desse texto (neste caso, um decreto, uma lei, uma portaria, um regulamento, um programa, um relatório etc.) e a(s) intertextualidade(s) possibilitada(s) pela aplicação de uma dada problematização, decorrente do quadro teórico-conceitual específico, a cada texto ou conjunto de textos. O reconhecimento da existência de intertextualidades resulta da idéia da presença de diferentes discursos ou níveis discursivos de um mesmo discurso no texto legislativo, no mesmo documento ou em documentos distintos. Ler um texto é comparável à leitura de um discurso-prática. Para compreender um texto deslocamo-nos do que está escrito para o não-escrito e retornamos do que está presente para o que está ausente, das declarações para o seu contexto histórico. Os textos no discurso-prática incluem manuais, relatórios de investigação, monografias, linhas orientadoras do currículo e testes avaliativos. Projectos de investigação, recolha de dados através de observação, intervenções experimentais, testes estatísticos e inferências constituem, simultaneamente, textos e discurso-práticas. O seu sentido depende de outros textos que, por sua vez, dependem também de outros. A intertextualidade dos discursos e das práticas constitui e estrutura os nossos mundos sociais e educacionais [Cherryholmes, 1988, p. 8]. A escola e a escolaridade ou o sistema escolar são sempre construções discursivas, ou seja, organizam-se em torno de representações e práticas discursivas dos atores sociais intervenientes na educação escolar. A arquitetura do presente texto adota a perspectiva comparada como a lei da escola 55 veio de estruturação da análise, numa abordagem dos textos e da intertextualidade que lhe é inerente, que pretende aproximações mais ricas aos discursos configuradores dos universos sociais e educativos. Tratase, do ponto de vista teórico, de ensaiar o desenvolvimento de [...] novas inteligibilidades, sobre a base de uma reconciliação entre a história e a comparação. A análise não toma como referencia contextos definidos segundo seus contornos geográficos, políticos ou sociais, mas contextos definidos pelas práticas discursivas que lhes atribuem sentidos [Nóvoa, 1998, p. 48]. Brasil e Portugal entram neste ensaio de abordagem comparada, não como duas entidades distintas e estáticas, mas com a referência simbólica da língua comum, referência esta gerada em vínculos históricos, culturais e políticos que não devem ser desconsiderados. Se, por um lado, Portugal e Brasil têm um denominador comum, o lingüístico, estão inseridos em espaços relacionais de naturezas diversas, que tanto os distanciam como aproximam. Trata-se de, através da tomada da legislação como fonte principal [...] indagar mesmo quais as relações possíveis entre os processos de constituição dos campos educacionais nesses países, com vizinhanças e distâncias tão singulares, ao longo de suas histórias [Catani, 2000, p. 144]. A emergência da escola de massas e da educação pública se dá com certa universalidade mas, também, com características conforme o país. Apoiada em Yasemin Soysal e David Strang, Helena Araújo chama a atenção para três processos distintos, os quais podem servir de referência para a compreensão deste “fenômeno”. São formas que caracterizam procedimentos não necessariamente excludentes: “formas estatais de construção da educação, formas societais de construção da educação e construção retórica da educação”. O primeiro conceito traduz a atividade centrada no Estado e por ele desenvolvida. No segundo, destacar-se-ia a intervenção múltipla das organizações da sociedade civil na expansão educacional. E “com o terceiro conceito”, diz Araújo que estes autores 56 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 pretenderam chamar a atenção para processos de intervenção que se caracterizaram por anunciarem cedo, do ponto de vista temporal, a intenção e interesse estatal na educação pública, em particular no lançamento da escola de massas, mas tardaram na sua realização [Araújo, 1996, p. 167]. O descompasso entre o anúncio e a operacionalização é facilmente percebido quando se tomam por base textos como os aqui privilegiados, ou seja, aqueles que compuseram, para este período, um corpus legal da educação que pretendia universalizar o ensino primário. Durante o período em foco, Brasil e Portugal coexistem com regimes políticos distintos – no primeiro, a República instala-se em 1889 e, em Portugal, é declarada em 1910 – o que não obsta à ocorrência da expressão de ideais semelhantes a respeito da escolaridade elementar, no discurso dos documentos legais. Esta constatação nos remete para inquietações em relação a explicações apoiadas em referências nacionais, de ordem político-ideológica que parece terem esgotado a capacidade explicativa das transformações nas características da escolaridade. Isto implica reconhecer a necessidade de ampliar as lentes e buscar novos olhares para compreender os fenômenos educativos (mas não só), integrando-os num quadro relacional e referencial que não se limite a estabelecer uma relação de causalidade estrita a partir do contexto político e da semelhança lingüística sem, no entanto, abandoná-los. O sentido que cada preceito toma num e noutro lugar pode ser diferente. Existem preceitos que ganham força de expressão e expansão e alcançam estatuto de universais, os quais podem servir de referência, embora acolhidos de maneira diversa em diferentes comunidades. Há que se estar atento para como se chega à construção destes modelos de referência, o como circulam as idéias, pois como sugere António Nóvoa [...] a comparação em educação é uma história de sentidos, e não um arranjo sistematizado de fatos: os sentidos que as diferentes comunidades dão às suas acções e que lhes permitem construir e reconstruir o mundo [1998, p. 83]. Mesmo quando tomamos como ponto de partida o quadro de referência do Estado-Nação, no caso de Portugal e do Brasil, percebemos, a lei da escola 57 gradualmente, que a temporalidade do discurso da educação escolar não flui unidirecionalmente. Não podemos ignorar que Portugal e Brasil têm estado em relação mútua através de fluxos em ambos os sentidos, como seja o de já terem constituído metrópole e colônia, de ter havido significativa emigração portuguesa nos finais do século XIX e inícios do XX e de boa parte das elites políticas e culturais brasileiras se terem formado na metrópole, nomeadamente na Universidade de Coimbra. Veja-se, a este respeito, nos princípios do século XX, o eloqüente testemunho crítico de José Veríssimo: Os meus estudos feitos de 1867 a 1876 foram sempre em livros estrangeiros. Eram portugueses e absolutamente alheios ao Brasil os primeiros livros que li. O Manual Enciclopédico, de Monteverde, a Vida de D. João de Castro de Jacinto Freire, os Lusíadas de Camões, e mais tarde no Colégio de Pedro II, o primeiro estabelecimento de instrução secundária do país, as selectas portuguesas de Aulete, os Ornamentos da Memória, de Roquete – foram os livros em que recebi a primeira instrução. E assim foi sem dúvida para toda a minha geração [Veríssimo, 1906, p. 5]. Considerando-se o vínculo entre o Brasil e Portugal, o patrimônio de relações culturais e sociais prolonga-se para muito além da declaração de independência. Muitos dos livros escolares usados pelos alunos das escolas primárias e secundárias do Brasil são, até o início do século XX, portugueses. Alguns dos editores mais importantes no Rio de Janeiro e em São Paulo são portugueses. José Augusto Coelho publica a sua obra principal Princípios de Pedagogia, em São Paulo, nos finais do século XIX. É tão fantasioso afirmar-se que não existem linhas de continuidade cultural e lingüística na relação entre os dois países como pretender que Portugal constitui o quadro de referência determinante para a sociedade e cultura brasileiras. Quando, em Portugal, são criadas as Escolas Centrais, em 1878, e os Grupos Escolares em São Paulo, em 1890 e em Santa Catarina nos primeiros anos de 1900, mais importante do que dizer que são duas expressões diferentes para designar um mesmo modelo organizacional de escola, interessa pesquisar os canais de circulação e de influência 58 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 que proporcionam a definição tanto do campo lexical do discurso da escolaridade como da sua construção semântica na sua diversidade específica e entendê-los como processos de atualização que correspondem a múltiplos intercâmbios e relações. Não se podem menosprezar outros territórios de referência, como é o caso da França e dos Estados Unidos. Além disso, o fluxo migratório europeu vivido neste período interage para a circulação de idéias de diferentes países. Entrelaçam-se a este tipo de circulação, com forte influência mas de carácter “informal”, importantes espaços de veiculação de idéias pedagógicas deste período como as Exposições Universais, verdadeiras feiras de apresentação e “comercialização” de propostas para o ensino (Kuhlmann Júnior, 2001). Em sobreposição de tempos e de espaços, parece compreensível que não só o modelo de organização política e administrativa como aspectos pedagógicos e de organização escolar (relacionados com a integração das comunidades estrangeiras imigradas) que inspiram o Brasil sejam provenientes dos Estados Unidos, a par de muitas outras referências a países da Europa. No Brasil, recorda Lourenço Filho, a reforma do ministro Guizot, de 1833, inspirou a maioria dos sistemas escolares provinciais; a remodelação ainda na França, em 1850, reflectiu-se logo também na organização do ensino primário e normal. Nos fins do século, porém, outras influências se fizeram notar, então provindas da parte norte do continente, ou seja dos Estados Unidos, cujo adiantamento em matéria de instrução pública já inspirava admiração aos demais países. Elas tornaramse mais vivas a partir dos fins da 1ª grande guerra, passando a fundir-se, de forma variável, com outras provenientes da Europa, como expressão do amplo movimento chamado escola nova [Lourenço Filho, 1961, p. 187]. Nos vários momentos da história dos estados e dos dois países aqui considerados, existe, assim, todo um feixe de relações que se cruzam, sobrepõem e percorrem sentidos distintos mas igualmente significativos no forjar da espessura histórica e na construção de identidades imaginárias. a lei da escola 59 4. Portugal e Santa Catarina (Brasil) Procuraremos avançar na operacionalização de um olhar comparado da textualidade legislativa em Portugal e Santa Catarina interrogando o modo como aquela se constitui e se define em cada contexto. Partimos de um leque comum de questões concernentes à caracterização do lugar ocupado pelo texto legislativo na configuração da escolaridade elementar, das relações que estabelece com outros textos, da agenda discursiva que lhe define o conteúdo e do léxico e da semântica que veicula e consagra. Os modos através dos quais a textualidade legislativa fixa os vários discursos que a percorrem e constrói a realidade que opera permitirão aprofundar o guião de pesquisa procurando comunidades de sentidos e tendências comuns estruturantes e não meramente registros factuais avulsos ou pitorescos. Portugal Do ponto de vista discursivo, traduzido em textualidade(s), a escolaridade concebida sistematicamente, articulando entre si diversos níveis de ensino e definindo as seqüencialidades e correspondências, antecede em muito a afirmação organizacional correspondente do sistema escolar estatal. A realidade empírica de que falamos, da qual o historiador recupera fragmentos reconstituídos, por exemplo, através dos inquéritos e das inspeções levados a cabo com alguma (ir)regularidade e espaçamento no tempo, conflitua com a construção discursiva da escolaridade e irrompe com maior ou menor visibilidade no articulado das leis ou nos considerandos dos relatórios que por vezes as acompanham. As várias reformas escolares que povoam a segunda metade do século XIX e as três primeiras décadas do século XX representam ensaios discursivos sobre a educação escolar estatal à procura de uma fórmula organizacional, suscetível de institucionalização (por meio da obtenção de um relativo patamar de equilíbrio na arena de interesses dos diversos grupos sociais e políticos) e de operacionalização no terreno, por meio da luta pela sua progressiva imposição enquanto modalidade dominante de socialização das crianças e dos jovens (objeto de uma secular resis- 60 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 tência das populações rurais, que se prolonga praticamente até ao início da década de 1950). A reforma do ensino primário de 1878–1881, através das leis de 2 de maio de 1878, 11 de junho de 1880 e do Regulamento de 28 de julho de 1881, incorpora no texto legislativo medidas organizacionais que terão um alcance profundo e duradouro na instituição do sistema escolar público em Portugal. Entre elas, destacamos o estabelecimento de Escolas Centrais nas cidades e centros populacionais mais numerosos e a institucionalização das Conferências Pedagógicas, como dispositivo de enquadramento dos professores e da normalização das respectivas práticas. Em Lisboa, Porto e em outras capitais de distritos ou onde, por virtude da densidade da população, exista mais de uma escola complementar ou elementar, é determinada a possibilidade de estabelecer Escolas Centrais com três ou quatro professores ou professoras4. A organização do trabalho docente e as práticas pedagógicas lá desenvolvidas ocupam um lugar central no processo de conceitualização que legitimará a consagração da escola graduada, assente na “descoberta” de um invariante “natural” constituído pelos modelos desenvolvimentistas de base etária. Nas Conferências Pedagógicas do Porto em 1884, descreve-se assim o que se passa nas Escolas Centrais: [...] o curso geral destas escolas divide-se por aulas, cada uma regida por um professor, a cargo de quem está uma parte ou grau de disciplina em que se divide o ensino das que nelas se professam [sendo que a grande novidade é que] nestas escolas há divisão do trabalho e não do trabalhador; isto é, é o trabalho que se divide por diversos professores, e não o professor pelas disciplinas professadas, como acontece nas nossas escolas paroquiais [Lopes, 1884, pp. 43-44]. Com o espraiar da nova racionalidade, começam a ganhar expressão esquemas de correspondência do nível etário com a ordenação dos saberes escolares e 4. Art. 20, Carta de Lei de 2 de maio de 1878. a lei da escola 61 tomando como modelo as escolas de três professores para o ensino elementar, os alunos destas dividem-se em três categorias. Para esta divisão concorrem não só a maior ou menor cópia de conhecimento, como a idade dos alunos. Assim, à 1ª pertencerão os de 6 a 8 anos; à 2ª, os de 8 a 10; e à 3ª, os de 10 a 12 [e, por estas razões,] a divisão do curso geral destas escolas em um certo número de aulas permite o emprego do modo simultâneo, com mais perfeição [Lopes, 1884, p. 44]. Embora exista, do ponto de vista abstrato e racional, a representação de um percurso de aprendizagem que leva do ensino primário ao superior, cada nível de escolaridade é concebido e organizado de modo distinto dos que lhe são adjacentes. Em Portugal, ao ensino primário obrigatório, elementar, do primeiro grau, ou ainda primeiro grau elementar não se segue o secundário mas sim o complementar ou do segundo grau. Existe no ensino primário uma ambivalência que gera tendências contraditórias na sua definição, embora seja a vocação de socialização popular que prevalece. É o que transparece do relatório que antecede o decreto n. 1, de 22 de dezembro de 1894, que reforma a instrução primária: Pelo que respeita à natureza mesma do ensino primário, no seu duplo fim de educar as classes populares e de preparar para outros estudos, pouco foi alterado, posto seja opinião do governo que haverá mais utilidade social em tirar do analfabetismo completo em que eles ainda se conservam, tantos milhares de cidadãos portugueses, do que em aumentar a intensidade de conhecimentos que o ensino primário é destinado a derramar. Uma leitura atenta da legislação referente ao ensino secundário revela-nos que, até 1884, pelo menos, há a possibilidade de uma criança de família abastada, aristocrática ou burguesa iniciar, verdadeiramente, o seu percurso de socialização escolar apenas a partir do liceu, uma vez que para a respectiva matrícula apenas era requerido comprovar a idade mínima de 10 anos, apresentar diploma do exame de ensino primário complementar ou, em alternativa, do exame de admissão ao liceu. Sendo assim, parece-nos crível que uma parte muito significativa dos alu- 62 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 nos liceais tenham iniciado o seu percurso escolar com a realização do exame de admissão ao liceu sem ter cumprido, formalmente, a escolaridade primária. Esta presunção encontra alguma validação no conteúdo de um decreto de 24 de julho de 1884, no qual o artigo 1o declara que a contar do ano de 1885 em diante, nenhum aluno será admitido a exame de admissão aos liceus sem que mostre ter obtido aprovação no exame do ensino elementar, estabelecido pelo artigo 42º da lei de 2 de Maio de 1878, e regulado pelo título II do decreto de 28 de Julho de 1881 [Alves, 1889, pp. 352-353]. É a partir do período compreendido entre as reformas de 1894–1896 e a de 1901–1902, que se verifica uma viragem significativa do ponto de vista curricular, ou seja, as matérias dos programas das disciplinas escolares (do ensino primário) passam a organizar-se seqüencialmente em função dos anos de escolaridade e da faixa etária correspondente dos alunos. A imposição do modelo da escola graduada no ensino primário remove alguns dos obstáculos mais significativos à padronização dos saberes enquadradores das práticas profissionais dos professores. A novidade é a adoção generalizada da escolaridade primária organizada em quatro classes ascendentes, cada uma com um professor, em salas separadas, nas Escolas Centrais, e todas por um professor nas outras escolas, sendo que as três primeiras classes pertencem ao primeiro grau e a 4ª classe constitui o segundo5. O regulamento de 1896 já estabelecera as quatro classes ascendentes mas convém ter em conta que tal disposição só vinculava as escolas centrais6. Portugal organiza a sua base legal para a educação inspirado em feitos de outras nações, consideradas mais avançadas. O texto que acompanha o decreto n. 8, de 24 de dezembro de 1901, é emblemático nesta matéria7. Para além de tomar como referência, na construção de seu corpus legal, outros países, Portugal busca também modelos-práticos, o 5. 6. 7. Decreto de 28 de setembro de 1902, Art. 71. Art. 39 do regulamento geral do ensino primário, Parte I, de 18 de junho de 1896. Já em 1870, no relatório que acompanha a malograda reforma da Instrução primária de 1870 (D. António da Costa), declara-se que “a questão da educação pública a lei da escola 63 que pode ser exemplificado com o texto que acompanha uma circular datada de 21 de dezembro de 1880, que trata da criação de escola-modelo de instrução primária no distrito do Porto. Nesta circular, registrase que a Junta Geral deste distrito, em sessão ordinária de maio deste ano, resolveu por criar na cidade do Porto uma escola-modelo de instrução primária, regida por pessoa que tenha concluído com distinção o curso de uma escola normal de 1ª ordem na Suíça, Bélgica ou Alemanha... [Isto, segundo a circular,] mostra quanto aquela ilustrada corporação se empenha pelos progressos do ensino, e revela os patrióticos sentimentos que a animam na realização de melhoramentos atinentes a este importantíssimo ramo da administração a seu cargo8. O discurso sedutor para atrair adeptos defensores da escolaridade obrigatória enreda-se numa teia discursiva que incorpora vários elementos. A defesa da transformação das escolas em lugares saudáveis é enfatizada, o que revela a forte preocupação higienista da época, mas também o sentimento de segurança que se busca disseminar: Quando as famílias souberem que os seus filhos vão encontrar uma escola salubre, confortável, agradável mesmo; que a classe é suficientemente ventilada, aquecida, iluminada; que todas as suas instalações são completas e asseadas; que os alunos estão cercados de todos os cuidados necessários; que ali se desenvolvem integralmente; que se lhes procura dar, a par de uma boa educação intelectual, uma desvelada e cuidadosa educação física, constantemente vigiada e progressivamente melhorada; quando souberem que há fun- 8. é (digamo-lo francamente) a questão vital de uma nação [...]. A Europa quase toda tem inscrito nas suas leis de instrução primária o ensino obrigatório. Assim o fizeram a Prússia e toda a Alemanha, a Suíça, a Holanda, a Bélgica, a Itália, a Espanha, a Turquia. Na França é uma questão resolvida no espírito público. Em alguns países alemães levam o rigor a tal extremo, que uma das penas consiste na proibição da comunhão aos moços que não apresentem o atestado de instrução primária. A imposição do ensino deve estar na razão directa da ignorância de um povo”. Leis de 2 de maio de 1878 e 11 de junho de 1880 sobre a Reforma da Instrução Primária e regulamento e providências para a execução das referidas leis, Lisboa, Imprensa Nacional, 1881. 64 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 cionários técnicos especialmente encarregados dessa salutar missão, incumbidos de transformar as escolas em invejáveis e apetecíveis centros de recreio metódico e higiénico, renascerá a confiança e diligentemente será procurada a escola, sem preocupações e receios, combatendo-se insensível e eficazmente o afastamento sistemático e nocivo9. O mesmo “recurso discursivo” realça que “a intervenção da higiene nas escolas é oportuna e urgente” e que o país não poderia ser “condenado a ter no futuro apenas braços débeis como instrumentos de sua riqueza ou da sua segurança”. Mais adiante no texto afirma-se que não “se compreende que uma lei, como a da obrigatoriedade do ensino, possa sacrificar a liberdade individual em nome dos interesses colectivos, impondo a aglomeração de crianças em locais que as condenam ao seu estiolamento físico”. O excerto abaixo, extraído do texto introdutório que acompanha a legislação referente à reforma da educação portuguesa de 1901 é mais um exemplo elucidativo da combinação dos exercícios de sedução com a coacção: O que é preciso é que tanto as restrições, como as vantagens, sejam realizáveis, isto é, se coadunem com o feitio particular de nosso meio social, e os seus efeitos se tornem manifestos no campo dos interesses positivos, sem nenhuma ofensa, nem agravo, para o sagrado direito da liberdade individual10. A estruturação discursiva da escola assume uma importância capital pela instrumentalidade que lhe cabe na construção do sentimento de identificação nacional, ou, nos termos de Benedict Anderson, na fabricação da nação como comunidade imaginada (Anderson, 1991). O texto do relatório que antecede o decreto n. 8, de 24 de dezembro de 1901, que reforma a instrução primária, é exemplar nessa definição: 9. Decreto n. 2, de 24 de dezembro de 1901. 10. Decreto n. 8, de 24 de dezembro de 1901. a lei da escola 65 Para a justa compreensão dos direitos, como para o exacto e perfeito desempenho dos deveres sociais, torna-se indispensável que todos participem e comunguem nas ideias do seu país e do seu tempo; e só a instrução primária, estabelecendo pela leitura e pela escrita, a comunicação do pensamento entre os mais afastados cidadãos da mesma pátria, é que poderá dar-lhes também, além das bases da educação intelectual, as primeiras e mais essenciais noções de educação física. A República reforçará esta idéia proclamando que Portugal precisa de fazer cidadãos, essa matéria prima de todas as pátrias, e, por mais alto que se afirme a sua consciência colectiva, Portugal só pode ser forte e altivo no dia em que, por todos os pontos do seu território, pulule uma colmeia humana, laboriosa e pacífica, no equilíbrio conjugado da força dos seus músculos, da seiva do seu cérebro e dos preceitos da sua moral11. À escola idealizada, socializadora de um povo também idealizado, mobilizado para a causa da instrução, ardente de patriotismo e sentimento cívico corresponde, no território empírico da existência quotidiana das populações, à caracterização implacável dos fatores da pouca progressão da escolarização nas camadas populares: [...] entre nós, do mesmo modo que em Espanha, na Grécia e na Turquia, o ensino obrigatório não tem dado o resultado que devia dar, pela resistência, por assim dizer passiva, que a lei encontra da parte da população, na sua maioria ignorante, e por isso mesmo indiferente, senão refractária, às vantagens e ao estímulo da instrução. O discurso acerca da necessidade da escola espraia-se para vários documentos, reforçando algumas matrizes deste discurso. A legislação reformadora de 1919, por exemplo, traz, a dado passo do Programa de 11. Decreto de 29 de março de 1911. 66 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Língua e Literatura Portuguesa do curso normal12, um comentário elucidativo da vocação social da escola primária: Não se deve esquecer que a escola primária não pretende formar literatos, mas sim habilitar os seus alunos, na grande maioria futuros operários, a exprimirem o seu pensamento de forma conveniente. O nosso trabalho encerra nos anos 1920, para o caso português, precisamente com um projeto de reforma da educação13, apresentado no Congresso da República, em 1923, o qual ficou conhecido por Projeto Camoesas, o então ministro da Instrução Pública. Neste projeto, colaboraram figuras relevantes do movimento da Escola Nova em Portugal, como Faria de Vasconcelos14. Na perspectiva que aqui nos norteia, um dos aspectos mais significativos é, como sublinha António Nóvoa, que as 24 Bases da Reforma caracterizam-se pela tentativa de construir um conjunto coerente desde o jardim de infância à Universidade. Ora, o simples facto de pensar o sistema escolar como um todo nunca tinha sido proposto até então [1987, pp. 547-548]. O ensino obrigatório passa a ser incorporado numa dupla tensão de direito de acesso e respeito às liberdades individuais e a criação de dispositivos de controle, como o foram os recenseamentos escolares. No caso português está explícito que os dados levantados nos recenseamentos serviriam de base para controlar a matrícula e freqüência à escola (ver por exemplo texto do decreto n. 4, de 19 de setembro de 1902). 12. Decreto n. 6.203, de 7 de novembro de 1919. 13. Cf. Reforma da Educação – Proposta de Lei (Separata do “Diário do Governo” de 2 de julho de 1923), Lisboa, Imprensa Nacional, 1923. 14. Para uma caracterização mais desenvolvida desta reforma, consultar António Nóvoa, Le temps des professeurs, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1987, pp. 542-549. a lei da escola 67 Brasil – Santa Catarina Do ponto de vista político-institucional, o estado de Santa Catarina percorre duas situações: a que reporta ao período imperial (1835–1889) e a que contempla o período republicano (a partir de 1889). À semelhança de Portugal, os assuntos da instrução pública estiveram entregues a repartições sob a tutela de órgãos ou estruturas burocráticas com responsabilidades mais amplas no domínio da administração interna. Desde meados do século XIX (184815), o responsável pelas questões escolares é o presidente da província, que atua como diretor geral da instrução pública. Em 1913, já com o regime republicano, o órgão respectivo é a Diretoria da Instrução Pública da Secretaria Geral dos Negócios do Estado, e ainda em 1935, é o Departamento de Educação da Secretaria do Interior e Justiça, só vindo a se tornar autônomo sob a designação de Secretaria de Estado dos Negócios de Educação e Cultura, em 1956 (Fiori, 1975, pp. 17-18). A tímida presença do discurso educativo nos textos legislativos, principalmente no período anterior à República, indica a necessidade de se buscar em “outros textos” oficiais as bases deste discurso. É na República que o sistema de ensino ganha contorno mais nítido no texto de lei que o organiza, sendo possível, ao debruçar-se nestes textos, delinear não só a estrutura administrativa, como também os principais eixos do discurso educativo que o envolvem. Nos períodos que antecedem a República, as “fallas” dos governantes e os relatórios administrativos constituem fontes de consulta fundamentais, se tivermos como locus o território catarinense. Uma incursão pelos trabalhos de história da educação deste estado mostra o quanto as “fallas” e os “relatórios têm servido como fontes privilegiadas na busca de dados, mesmo para o período republicano. Aliás, em muitos trabalhos, a legislação nem sequer é consultada. A riqueza de informações e detalhes presentes nestas “fallas”, e posteriormente nos relatórios, permite uma “reconstrução” do discurso oficial acerca das políticas públicas da época, incluindo a instrução. 15. Lei n. 268 de 1o de maio de 1848. 68 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Estas “fallas” eram proferidas pelo presidente da província por ocasião da abertura da sessão legislativa anual da Assembléia Provincial e constituíam-se num relatório geral, com a prestação de contas da administração governamental e a exposição das medidas consideradas essenciais ao bom andamento dos negócios públicos [Fiori, 1975, pp. 18-19]. Para o período posterior a 1848, às “Fallas Governamentais” podem ser acrescidos os relatórios de presidentes de província. Trata-se de relatórios pormenorizados, apresentados nas transições pelo presidente da província que deixava o cargo. Para a caracterização da organização social catarinense, valerá a pena recuar ao período colonial para referir que ela não acompanha o modelo imperante noutros estados e regiões do Brasil, situando-se mais no plano da pequena propriedade e do “trabalho livre”. O primeiro ensaio ocorre no século XVIII, com a vinda de cerca de cinco mil colonos oriundos dos Açores. Embora esta tentativa tenha fracassado, os açorianos influíram decisivamente na estruturação social de Santa Catarina, a qual legaram os traços básicos da civilização lusa, transmitindo as tradições portuguesas referentes ao idioma, religião, costumes dos antepassados e sentimento pátrio [Fiori, 1975, p. 24]. No século XIX, a partir de 1828, o movimento de colonização conhece um recrudescimento decisivo que conduz à constituição de significativas colônias de imigrantes de origem alemã e italiana, entre outras de menor expressão, como suíços, noruegueses, franceses, russos e polacos etc. Este processo decorre com intensidade ao longo de toda a segunda metade do século XIX. Depois da declaração de independência do Brasil, em 1822, entre a promulgação da Constituição, em 25 de março de 1824, e o Ato Adicional de 1834, as províncias não possuem autonomia legislativa. Até aí, as competências quanto às leis estão atribuídas à Assembléia Geral, composta de deputados de todas as províncias, sediada no Rio de Janeiro. A a lei da escola 69 partir de 1834, é determinada a criação das Assembléias Provinciais as quais passam a ter jurisdição, entre outros aspectos, sobre a instrução pública, nomeadamente primária e secundária. Em Santa Catarina, a primeira Assembléia Provincial foi inaugurada em 1o de março de 1835. No início dos anos de 1850, a regulamentação do ensino primário é objeto de medidas legislativas que acompanham as reformas operadas na Corte. O Governo Imperial estava, então, desejoso de promover uma uniformização do ensino em todo o país. Em harmonia com essa política, os Presidentes de Província, como delegados do Poder Central, procuravam divulgar junto às Assembleias Provinciais, as reformas de ensino que se operavam na Corte. Compreende-se que as ideias básicas da chamada reforma Couto Ferraz (decreto n. 1331A) se reproduzissem na legislação catarinense [...] [Fiori, 1975, p. 50]. A questão da obrigatoriedade escolar, adotada na Corte em 1854, também está na ordem do dia e as formas de impor tal obrigatoriedade à população mantêm-se como importante ponto do discurso educativo, atravessando as décadas iniciais do século XX. Há aqui um importante ponto em comum entre as políticas de instrução da época, seja na América, seja na Europa: o Estado, republicano ou monárquico, impõe a obrigatoriedade do ensino e busca referendum para esta ação em nações de referência, tidas como mais avançadas. O discurso da obrigatoriedade está irmanado ao discurso do progresso, e é com a promessa de alcançá-lo que muitos expedientes coercitivos ganham legitimidade social. Em Santa Catarina, a escolaridade obrigatória acaba por ser instituída em 187416. Esta medida correspondia a uma pressão crescente do poder central e dos modelos de referência estrangeira de que, naturalmente, eram portadores os presidentes de província, como agentes do governo da Corte. No relatório de um desses presidentes, Delfino Pinheiro de Ulhôa Cintra Júnior, do ano de 1872, este expressa a sua simpatia pela escolaridade obrigatória que é “uma ideia que está na 16. Lei n. 699, de 11 de abril de 1874. 70 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 moda” (Fiori, 1975 p. 56). Na fala de abertura da 1ª sessão da 24ª legislatura da Assembléia Provincial de Santa Catarina, em 6 de outubro de 1882, do doutor António Gonçalves, a referência é explícita quanto à importância de acompanhar as políticas escolares seguidas nos países mais adiantados. A promessa de desenvolvimento e progresso que “sustenta” o discurso da obrigatoriedade parece não ter seduzido suficientemente a população: 54 anos após sua instituição, o governo catarinense continua a cruzada para submeter a população à escola. Um dos expedientes utilizados é o aprimoramento e intensificação da fiscalização escolar, sobretudo a referente às escolas isoladas, escolas estas que atendiam sobretudo a população rural, camada que mais resistiu à escolarização das crianças. A mão-de-obra infantil era (e em muitos casos ainda o é) um importante aliado na atividade agrícola. Em 1928, um decreto aprovado pelo então governador Adolpho Konder, considera que as disposições da época relativas à obrigatoriedade da frequencia escolar não actuam de forma eficaz, por permitirem, com grave prejuizo à colectividade, a evasão de alunos das classes escolares mais adiantadas, sem que completem a idade escolar. [Este mesmo decreto prevê] multa de 20$000 a 50$000 e, no dobro, em caso de reincidência, aos responsáveis por menores da idade17 obrigatoria à frequencia escolar que, na época legal [...] não os apresentassem á matrícula18. Este mesmo conteúdo pode ser localizado em lei de 191719. Recuando um pouco mais, é possível identificar a associação anteriormente mencionada entre obrigatoriedade do ensino e modernidade. Palavras20 do Coronel Gustavo Richard, governador do estado do início 17. Prevê-se como idade máxima de freqüência escolar, facultativa, nas escolas isoladas, 14 anos para os meninos e 13 anos para as meninas; já nos Grupos Escolares, a idade máxima era de 16 anos para ambos os sexos. 18. Decreto n. 2.176, de 22 de junho de 1928. 19. Lei n. 1.187, de 5 de outubro de 1917. 20. Conforme decreto n. 348, de 7 de dezembro de 1907. a lei da escola 71 do século XX, podem ser consideradas como um bom exemplo. A reforma do Regulamento da Instrução Pública da época, 1907, é defendida sob o argumento de melhorar as condições gerais do ensino, tanto primário como secundário normal, adaptando-se aos moldes da pedagogia moderna, já tornado efectivamente obrigatorio o ensino primário, de acordo com o recenseamento escolar [...]. A obrigatoriedade é aqui estabelecida para as crianças de ambos os sexos, com idades entre 7 e 12 anos. Acompanhando o item que estabelece a obrigatoriedade encontramse, via de regra, as exceções. Estariam “livres” da obrigatoriedade os portadores de “defeito moral” ou físico, inibidores da freqüência escolar; os residentes a distância superior a 2 quilômetros do local de funcionamento de uma escola pública; os aprovados nas matérias que constituíam o curso de ensino primário; os matriculados e com freqüência assídua em estabelecimento particular de instrução; os que recebessem ensino domiciliar (decreto n. 348). Estes critérios para o estabelecimento da população obrigada à freqüência escolar sofrem poucas variações no período aqui em foco e fornecem pistas para delinear o perfil do escolar da época. A imposição da escola é uma ação estatal que mobiliza vários sectores. A execução da obrigatoriedade do ensino em suas diferentes disposições pertence, não só aos chefes e Delegados Escolares, como tambem aos Promotores Públicos, aos Juízes de Paz e às autoridades policiais, os quais prestarão toda a cooperação e auxílio para o cumprimento das mesmas disposições21. A exemplo de Portugual, o principal instrumento que subsidia a obrigatoriedade é o “recenseamento escolar”, documento no qual eram re- 21. Decreto n. 348, de 7 de dezembro de 1907. 72 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 gistrados dados pormenorizados da população, que permitiam o controle da freqüência à escola. O recenseamento era de responsabilidade de “juntas” nomeadas em cada distrito, as quais eram compostas do chefe escolar, como presidente, do juiz de paz e do comissário ou subcomissário de Polícia. Essas juntas reuniam-se no primeiro domingo de novembro de cada ano para proceder ao recenseamento da população escolar, recorrendo para esse fim aos livros de nascimentos e óbitos e ainda a quaisquer outras informações que pudessem ser obtidas. As escolas que deveriam receber a população “escolarizável” eram organizadas segundo uma tipologia que sofre alterações ao longo do tempo. Por exemplo, com a reforma estabelecida pela lei n. 776, de 21 de maio de 1875, é consagrada uma tipologia de escolas primárias que as classifica em escolas urbanas e rurais, com currículos diferenciados, com as últimas mais orientadas para o ensino agrícola. A legislação não tinha correspondência efetiva com as práticas escolares. O descumprimento e a ausência de regulamentação de muitas das leis referentes à instrução levam ao ato de 29 de novembro de 1879, no qual António de Almeida Oliveira procede à compilação e atualização de toda a legislação do ensino em vigor. Em 1881, o ensino é objeto de nova reforma, instituída pelo regulamento de 21 de fevereiro. As escolas primárias passam a ser classificadas em três categorias diferentes e de complexidade crescente: 1ª entrância (em freguesias, arraiais e outras povoações); 2ª entrância (em cidades e vilas); 3ª entrância (na Capital)22. Um dos problemas mais interessantes na abordagem do ensino público catarinense, especialmente, do ensino primário, é o que tem que ver com a relação com as comunidades de colonos estrangeiros e a implementação por parte destas nas chamadas zonas coloniais, de escolas particulares, com uso da sua língua nacional e seguindo até o currículo escolar dos países de origem. Neide Fiori reproduz um excerto do Relatório apresentado à Assembléia Legislativa da Província de Santa Catarina na 1ª sessão da 26ª legislatura, em 21 de julho de 1886, pelo presi- 22. Conforme regulamento de 21 de fevereiro de 1881. a lei da escola 73 dente da província, Francisco José da Rocha, onde a questão é formulada com clareza: Parecendo-me que a imigração não produziria todos os seus salutares efeitos com o sistema seguido de núcleos de uma só nacionalidade, expus ao Governo Imperial minhas observações e tive a satisfação de as ver aprovadas. Com efeito, uma boa parte das dificuldades com que lutávamos na localização de novos imigrantes provinha desse sistema. Os recém-chegados não queriam ir senão para os núcleos da sua nacionalidade, ou próximos aos destes, alegando, e com razão, que antes de se estabelecerem, tinham falta de tudo e necessitavam de quem os entendesse para auxiliá-los. Houvesse ou não lotes medidos nas linhas ou nos núcleos indicados por eles, era preciso ou atendê-los ou contrariá-los. Desse modo estender-se-ia indefinidamente uma nacionalidade estrangeira em uma certa área do país, tendendo sempre a crescer, e acabaríamos por encravar no nosso território pequenas nações, que, pelo menos poderiam vir a ser novas Andorras ou Mónacos [em Fiori, 1975, p. 76]. A prática do ensino noutra língua que não o português, neste caso o alemão, chegou a verificar-se em escolas públicas, o que conduziu a que o governo provincial determinasse que apenas seriam financiadas as escolas onde o ensino se fizesse em língua portuguesa. A República foi proclamada no Brasil a 15 de novembro de 1889 e, como em Portugal, o novo regime adotou um discurso com maior ênfase na importância da instrução pública e na incúria do regime anterior a este respeito. Após várias reformas e tentativas para remodelar o ensino, em 1911 é efetuada uma reforma considerada decisiva em Santa Catarina. Esta Reforma tomou como referência o modelo de organização do ensino público seguido em São Paulo, recrutando-se para conduzir esse esforço reformador o professor paulista Orestes Guimarães. A reforma de 1911, também conhecida por Reforma Vidal Ramos (nome do governador de então), relançou o ensino normal e introduziu um novo modelo organizacional de escola, o Grupo Escolar, correspondente, no contexto português, às Escolas Centrais. A idéia de criar Grupos Escolares, seguindo o exemplo paulista, data de 1904 embora apenas se concretize em 1911, quando são criadas sete unidades, duas na 74 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 capital e cinco nas principais cidades, destinadas a serem unidades modelo. Os edifícios desses Grupos Escolares, exceto o da cidade de Joinvile, foram construídos especialmente para o fim a que se destinavam e a maior parte de seu mobiliário viera dos Estados Unidos e de São Paulo. Além disso, foram introduzidas medidas com vista a nacionalizar o ensino. Por um lado, para facilitar a atuação dos professores públicos em zonas de imigração, o alemão foi incluído no plano de estudos da Escola Normal, de acordo com as práticas de americanização de populações originárias da Alemanha que Orestes Guimarães tinha estudado a partir de exemplos recolhidos dos Estados Unidos. Por outro lado, num esforço que conduziu em 1918 à definição de zonas de nacionalização, as escolas “estrangeiras” (conceito que ficou estabelecido na lei 1.283, de 15 de setembro de 1919) passaram, pelas leis 1.187, de 5 de outubro de 1917 e 1.322 de 29 de janeiro de 1920, a estar sujeitas ao horário e ao programa de ensino das escolas públicas, devendo ministrar em língua vernácula, as disciplinas linguagem, história do Brasil e educação cívica, geografia do Brasil, cantos e hinos patrióticos brasileiros [Fiori, 1975, p. 117]. O espírito republicano cunha a escola normal como instituição capaz de formar profissionais regeneradores. A Reforma da Escola Normal de São Paulo, de 1890, é clara neste sentido, ao considerar que sem professores bem preparados, praticamente instruídos nos modernos processos pedagógicos e com cabedal cientifico adequado ás necessidades da vida actual, o ensino não pode ser regenerador e eficaz. [Neste mesmo texto afirma-se que a Escola Normal do Estado] não satisfaz as exigências do tirocínio magistral a que se destina, por insuficiência do seu programa de estudos e pela carência de preparo pratico dos seus alunos23. 23. Decreto n. 27, de 12 de março de 1890. a lei da escola 75 As escolas-modelo, criadas para servirem como uma espécie de laboratório, também sofrem a influência do modelo paulista, estado no qual são construídas para servirem de referência, como pode ser observado no texto que segue. Artigo 1o Fica criada uma Escola Modelo, que servirá de padrão ás escholas isoladas, do mesmo modo que a Escola Modelo actual serve de padrão aos grupos escolares. § 1o A nova Escola Modelo ficará como a antiga, subordinada á Directoria da Escola Normal, que se incumbirá de organizá-la livremente. § 2o O director da Escola Normal, depois da necessária experiência, submeterá á aprovação do governo o plano do Regimento Interno dessa nova Escola, seu programa, horário, etc., que mais tarde, serão adoptados em todas as escolas isoladas do estado, para um trabalho de remodelação definitiva de todas elas24. Assim como em muitos outros lugares, o “tempo escolar” também é diferenciado conforme o público a que se destina a escola. Ainda no estado de São Paulo, no ano de 1921, um decreto estabeleceu que o dia escolar nos grupos simples ou escolas reunidas simples seria de cinco horas, das 11 às 16h e, nas desdobradas, seria de quatro horas para cada seção das 8 às 12h e das 12:30 às 16:30h (decreto n. 3.356, de 31 de maio de 1921). Neste mesmo estado, em 1925, o ensino primário compreenderia quatro anos de curso nos grupos escolares e três anos nas escolas isoladas e reunidas25. São traços diferentes que marcam uma escola pretensamente igual à escola primária. Em Santa Catarina, o quadro não é diferente e a tese de universalização do ensino através de “diferentes modelos de uma mesma escola” é tema presente na 1ª Conferência Estadual do Ensino Primário, ocorrida em 1927, com o objetivo anunciado de melhoria da qualidade do ensino. Dessa Conferência participaram membros de outros estados e o 24. Decreto n. 1.577, de 21 de fevereiro de 1908. 25. São Paulo Decreto n. 3.858, de 11 de junho de 1925. 76 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 professorado catarinense, com suas mais expressivas figuras. Os participantes apresentavam teses e defendiam-nas perante a assistência que poderia manifestar-se, aprovando-as ou rejeitando-as. Nas atas desta Conferência, uma das teses registradas é justamente a defesa de uma escola com programa reduzido para a população rural, o que contraria um dos princípios básicos da reforma de 1914, cuja orientação geral, em termos dos encaminhamentos pedagógicos, visava obter a uniformidade da instrução ministrada. Os professores tinham a obrigação de cumprir o programa de ensino “em toda a sua inteireza, não sendo permitido suprimir partes, saltear ou inverter a ordem em que se acharem essas partes” [Fiori, 1975, p. 108]. A documentação consultada e os “cruzamentos” estabelecidos permitem identificar que a organização dos sistemas públicos de ensino aqui abordados foram construídos como uma espécie de mosaico, com peças nem sempre sincronizadas ou harmoniosas, mas com fortes marcas comuns. Em termos gerais, no Brasil, a década de 1920 é marcada por intensa movimentação política a qual, para Boris Fausto, pode ser caracterizada como período no qual “a sociedade tendia a apoiar figuras e movimentos que levantassem a bandeira de um liberalismo autêntico”. Havia certo movimento a favor da defesa de um governo capaz de levar à pratica as normas da Constituição e das leis do país, transformando a República oligárquica em República liberal, [o que, para este autor, significava, entre outras coisas, a defesa de] eleições limpas e respeito aos direitos individuais. Falava-se de reforma social, mas a maior esperança era depositada na educação do povo, no voto secreto, na criação de uma justiça eleitoral [Fausto, 2000, p. 305; grifos nossos]. No cenário educacional, o ideário da Escola Nova ganha adeptos de diferentes setores, movimentação que vai culminar no Manifesto dos Pioneiros de 1932, o marco principal deste movimento no Brasil, país a lei da escola 77 que encerra a Primeira República em 1930 e entra na era do Estado Getulista (1930-1945)26. 5. Considerações finais Nascido de aproximações circunstanciais, motivadas pelo cruzamento de projetos de investigação individual com o enquadramento institucional do Projeto PRESTIGE27, o presente trabalho ensaia uma reflexão que, a partir da discussão crítica da legislação como fonte proporcione uma abordagem comparada que se situe no território simbólico das textualidades que exprimem o discurso da escolaridade produzido em universo de língua portuguesa, representado, neste caso, por Portugal e o estado brasileiro de Santa Catarina. A abordagem discursiva da escolaridade, através da configuração de um território da textualidade legislativa e do pressuposto que lhe estão inerentes diversas intertextualidades, leva a olhar para os textos legislativos singulares como habitantes de um território cujas fronteiras e características internas não são idênticas em todos os contextos histórico-sociais. Essas diferenças são mutuamente estimulantes para a reconstituição das práticas discursivas na organização dos contextos da difusão da escolaridade popular, em Portugal e Santa Catarina, no período mais intenso da respectiva emergência e implantação mundial, ou seja, na viragem do século XIX para o XX. A partir da relação apreendida entre a existência discursiva da escolaridade primária e o território empírico ao qual faz menção de corresponder, é possível estabelecer que todo este período é marcado pelo esforço realizado pelos Estados em ensaiar uma definição discursiva socialmente satisfatória e eficaz da escola e da escolaridade populares, ou seja, do ensino primário. Assiste-se também a um conjunto de tenta- 26. A posse de Getúlio Vargas na presidência a 3 de novembro de 1930 marca o fim da Primeira República. 27. Problems of Educational Standardisation in a Global Environment. 78 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 tivas para reduzir substancialmente a discrepância existente entre a escolaridade constituída discursivamente e a escolaridade empírica, dando-lhe expressão organizacional concreta e procurando preencher todos os níveis da administração escolar entre o central e o local. Pode-se dizer que, para o período aqui contemplado, a escolaridade é concebida e organizada no Brasil e em Portugal, em segmentos concordantes com uma representação estratificada e hierarquizada da sociedade segundo a qual a cada um corresponde um processo de socialização escolar específico. A instituição da escolaridade obrigatória estabelecida por lei decorre mais da vinculação a modelos externos de referência dos Estados do que a pressões provenientes dos contextos sociais e econômicos internos. É notório que entre as sociedades portuguesa e catarinense existem alguns traços característicos específicos. Em Portugal, há um forte surto emigratório, nomeadamente para o Brasil, nos finais do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, enquanto em Santa Catarina existe o movimento inverso, ou seja, a chegada de contingentes de imigrantes de um caleidoscópio de nacionalidades. Neste último caso, as marcas na organização da escolaridade elementar e do seu currículo são evidentes. Em Portugal, o discurso da escolaridade oscila entre a centralização e a descentralização da administração escolar, embora o Estado nunca abra mão das definições programáticas e curriculares enquanto, em Santa Catarina, o que está em causa é a afirmação do poder estadual através da sua legislação perante a legislação e orientações dimanadas da capital federal, naquele tempo sediada no Rio de Janeiro. Assinale-se nesta época a preocupação em constituir como corpo profissional e desenvolver uma consciência coletiva do professorado enquanto condição essencial para a sua identificação com a causa do ensino público. Outro aspecto relevante é a estruturação organizacional do ensino de modo que proporcionasse a duração e seqüência padronizadas dos estudos bem como do estabelecimento de critérios uniformes legitimados de alguma forma no agrupamento dos alunos. Apesar de uma aproximação formal progressiva, a tipologia dos documentos oficiais dos diversos contextos, a partir da qual a textualidade legislativa se organiza, não é idêntica e gera variantes nas relações a lei da escola 79 intertextuais cuja exploração se afigura promissora para o desenvolvimento da pesquisa. Desenvolver esta pista requer uma leitura conjunta sistemática dos textos legislativos em Santa Catarina e em Portugal e a exploração das intertextualidades em que se configuram. Como Fairclough sublinha: A análise intertextual tem um importante papel de mediação ao ligar o texto ao contexto. Aquilo para que a análise intertextual chama a atenção é para os processos discursivos dos produtores e intérpretes de textos, de como eles o fazem a partir de repertórios de géneros e de discursos disponíveis no interior de ordens de discurso, gerando configurações variáveis destes recursos que se concretizam sob a forma de textos. O modo como os textos são produzidos e interpretados e, consequentemente, como os géneros e os discursos são mobilizados e combinados, depende da natureza do contexto social [1999, p. 206]. Finalmente, o vislumbre que se desenvolveu, no decurso da apresentação dos dados considerados, de possibilidades interessantes em trabalhos de História Comparada da Educação, a partir da legislação, requer uma combinação alargada de metodologias e instrumentos de análise que evite lógicas redutoras, conforme recomenda Perrone-Moisés: Não devemos reduzir a intertextualidade ao uso da citação ou ao aparato referencial da crítica das fontes. Tratar-se-ia, nesses casos, duma intertextualidade rudimentar. A que nos interessa aqui não é uma simples soma de textos, mas um trabalho de absorção e de transformação de outros textos por um texto [1979, p. 210]. Referências bibliográficas ADÃO, Áurea (1984). O estatuto sócio-profissional do professor primário em Portugal (1901-1951). Oeiras: Instituto Gulbenkian de Ciência. ALVES, Guilherme Augusto de Macedo (1889). Legislação da instrução primária. Lisboa: Imprensa Nacional. 80 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 ANDERSON, Benedict (1991). Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. Londres / Nova York: Verso. ARAÚJO, Helena Costa (1996). “Precocidade e ‘retórica’ na construção da escola de massas em Portugal”. Educação, Sociedade & Culturas, Revista da Associação de Sociologia e Antropologia da Educação, Porto: Edições Afrontamento, n. 5. BAKHTIN, M. M. (1999). Speech genres & other late essays. Austin: University of Texas Press. BARROS, João de & RAMOS, João de Deus (1911). A reforma da instrução primária. Porto: Typ. Costa Carregal. CATANI, Barbara Denice (2000). “Distâncias, vizinhanças, relações: comentários sobre os estudos sócio-históricos-comparados em educação”. NÓVOA, António & SCHRIEWER, Jürgen (orgs.). A difusão mundial da escola. Lisboa: Educa, pp. 143-150. . (2003). Educadores à meia-luz: um estudo sobre a Revista de Ensino da Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo (19021918). Bragança Paulista: EDUSF. C HERRYHOLMES , Cleo H. (1988). Power and criticism: poststructural investigations in education. Nova York / Londres: Teachers College Press. COELHO, Trindade (1906). Manual político do cidadão português. Lisboa: Parceria A.M. Pereira. CORREIA, António Carlos da Luz (1997). “Les représentations du temps dans l’organisation de l’école primaire publique au Portugal (1772-1940)”. In: COMPÈRE, Marie-Madeleine (dir). Histoire du temps scolaire en Europe. Paris: Institut National de Recherche Pédagogique/Éditions Économica, pp. 135-160. COSTA, D. António da (1900). História da instrucção popular em Portugal desde a fundação da monarquia até aos nossos dias. 2. ed. Porto: António Figueirinhas. CUNHA, Maria Teresa Santos (1999). Armadilhas da sedução: os romances de M. Delly. Belo Horizonte: Autêntica. DALLABRIDA, Norberto (2001). Virtus et scientia: o ginásio catarinense e a (re)produção das elites catarinenses na Primeira República. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo. a lei da escola 81 DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri (1984). Velhos mestres das novas escolas: um estudo das memórias de professores da 1a República em São Paulo. Relatório de Pesquisa. Centro de Estudos Urbanos e Rurais – CERU – da Universidade de São Paulo e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP. . (1991). Magistério primário no contexto da 1a República. Relatório de Pesquisa. Fundação Carlos Chagas e Centro de Estudos Urbanos e Rurais da Universidade de São Paulo. FAIRCLOUGH, Norman (1999). “Linguistic and intertextual analysis within discourse analysis”. In: JAWORSKI, Adam & COUPLAND, Nikolas (orgs.). The discourse reader. Londres / Nova York: Routledge, pp. 183-211. FARIA FILHO, Luciano Mendes de et al. (orgs.) (1998). Educação, modernidade e civilização: fontes e perspectivas de análise para a história da educação oitocentista. Belo Horizonte: Autêntica. FAUSTO, Boris (2000). História do Brasil. 8. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/Fundação para o Desenvolvimento da Educação. FIORI, Neide Almeida (1975). Aspectos da evolução do ensino público: ensino público e política de assimilação cultural no Estado de Santa Catarina nos períodos Imperial e Republicano. Florianópolis: EDEME. HAMILTON, David (1989). Towards a theory of schooling. Londres: The Falmer Press. HOBSBAWM, Eric (1992). “Mass-producing traditions: Europe, 1870-1914”. In: HOBSBAWM, Eric & RANGER, Terence. The invention of tradition. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 263-307. KUHLMANN Júnior, Moysés (2001). As grandes festas didácticas: a educação brasileira e as exposições internacionais (1862–1922). Bragança Paulista: Editora da Universidade São Francisco. LOPES, A. Simões (1884). Conferências pedagógicas do Porto em 1884. Porto, s. ed. LOURENÇO FILHO, M. B. (1961). Educação comparada. São Paulo: Melhoramentos. MEYER, John W. (1980). “Levels of the educational system and schooling effects”. In: BIDWELL, Charles E. & WINDHAM, Douglas M. (orgs.). The analysis of educational productivity. Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing Company, pp. 15-63. Vol. II: Issues in macroanalysis. 82 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 NÓVOA, António (1987). Le temps des professeurs. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica. . (1989). “A República e a escola: das intenções generosas ao desengano das realidades”. In: Reformas do ensino em Portugal: reforma de 1911. Lisboa: Ministério da Educação/Instituto de Inovação Educacional, tomo II, vol. I, pp. ix-xxiv. . (1994). História da educação. Lisboa: Universidade de Lisboa/ Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. . (1995). “Uma educação que se diz ‘nova’ ”. In: CANDEIAS, António; NÓVOA, António & FIGUEIRA, Manuel Henrique. Sobre a educação nova: cartas de Adolfo Lima a Álvaro Viana de Lemos (1923-1941). Lisboa: Educa, pp. 25-41. . (1998). Histoire & comparaison: essais sur l’education. Lisboa: Educa. . (2000). “Tempos da escola no espaço Portugal–Brasil– Moçambique: dez digressões sobre um programa de investigação. NÓVOA, António & SCHRIEWER, Jürgen (orgs.). A difusão mundial da escola. Lisboa: Educa, pp. 121-142. . (2002). “O espaço público da educação: imagens, narrativas e dilemas”. In: PROST, Antoine e outros. Espaços de educação, tempos de formação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 237-263. NÓVOA, António; CARVALHO, Luís Miguel; CORREIA, António Carlos; MADEIRA, Ana Isabel & Ó, Jorge Ramos do (2002). “Flows of educational knowledge: the space-time of portuguese speaking countries”. In: CARUSO, Marcelo & TENORTH, Heinz-Elmar (orgs.). Comparing educational systems and semantics. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 211-247. PERRONE-MOISÉS, Leyla (1979). “A intertextualidade crítica”. Poétique, revista de teoria e análise literárias. Coimbra: Livraria Almedina, n. 27 (Intertextualidades), pp. 209-230. POPKEWITZ, Thomas & FENDLER, Lynn (orgs.) (1999). Critical theories in education: changing terrains of knowledge and politics. Nova York/Londres: Routledge. RABAU, Sophie (org.) (2002). L’intertextualité. Paris: Flammarion. ROCHA, Filipe (1987). Fins e objectivos do sistema escolar português. I. Período de 1820 a 1926. 2. ed. Aveiro: Livraria Estante Editora. a lei da escola 83 REIS, Luís Augusto dos (1892). O ensino público primário em Portugal, Espanha, França e Bélgica. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. RODRIGUES, João L. (1930). Um retrospecto: alguns subsídios para a história pragmática do ensino público em São Paulo. São Paulo: Instituto D. Ana Rosa. SAMPAIO, J. Salvado (1975). O ensino primário 1911-1969: contribuição monográfica. Lisboa: Instituto Gulbenkian de Ciência/Centro de Investigação Pedagógica (vol. I, 1o período – 1911-1926). . (1976). O ensino primário 1911-1969: contribuição monográfica. Lisboa: Instituto Gulbenkian de Ciência/Centro de Investigação Pedagógica (vol. II, 2o período – 1926-1955). . (1977). O ensino primário 1911-1969: contribuição monográfica. Lisboa: Instituto Gulbenkian de Ciência/Centro de Investigação Pedagógica (vol. III, 3o período – 1955-1969). SOUZA, Cynthia Pereira de (org.) (1998). História da educação: processos, práticas e saberes. São Paulo: Escrituras. SOUZA, Rosa Fátima de (1998). Templos de civilização: a implantação da escola primária graduada no estado de S. Paulo (1890-1910). São Paulo: Editora UNESP. VERÍSSIMO, José (1906). A educação nacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves. VIÑAO, Antonio (2001). “Culturas escolares, reformas e innovaciones educativas”. Com-Ciencia Social, n. 5, pp. 27-45. Feios, sujos e malvados Os aprendizes marinheiros no Paraná oitocentista Vera Regina Beltrão Marques* Sílvia Pandini** O capitão do Porto de Paranaguá comunicava ter recebido da Corte uma simulação de navio 23 anos após a criação da Companhia de Aprendizes Marinheiros no Paraná. Enfim, os meninos teriam um protótipo de navio para receberem instruções sobre os ofícios do mar. Esta singularidade paranaense e outras são analisadas neste artigo cuja pretensão consiste em apontar as formas de recrutamento para ingresso na Companhia e suas vicissitudes; a educação do aprendiz tanto em nível elementar quanto profissional e as limitações impostas ao aprendizado de um ofício em condições adversas no que diz respeito à sobrevivência e às condições de saúde desses meninos pobres, considerados feios, sujos e malvados por aqueles que os recrutavam. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO; ENSINO PROFISSIONAL; HISTÓRIA DE APRENDIZES MARINHEIROS; EDUCAÇÃO; SAÚDE E TRABALHO. This work pinpoints the ups and downs concerning the learning of a sailor’s job experienced by boys, after the creation of the “Companhia de Aprendizes Marinheiros” (Company of Apprentice Sailors) in Paraná, in 1864. Recruited among poor children, mainly orphans, the apprentices were given basic school, and professional instruction. This educational process is discussed according to the guidelines of the work society in nineteenth-century Brazil. This work also addresses the limitations imposed on the learning of a job under adverse conditions regarding the survival and health conditions of the conscripted boys. The conscript many times ocurred illegally and the boys were considered ugly, dirty and wicked by those who conscripted them. HISTORY OF EDUCATION; HISTORY OF PROFESSIONAL TEACHING; EDUCATION; HEALTH AND WORK. * Professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR, linha de pesquisa: história e historiografia da educação; educação, saúde e trabalho. ** Pedagoga pela UFPR. 86 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 O capitão do Porto de Paranaguá, ao ser inquirido pelo presidente da província do Paraná, afirma ter havido “pouco escrúpulo na admissão dos aprendizes” pois a maioria das crianças, arregimentadas na época, havia sido alistada com 6 ou 7 anos de idade, contrariando o disposto na lei. Salientava que estes rebentos ainda necessitavam de cuidados maternos. Se isto não bastasse, o ingresso se efetuara sem a realização de exames médicos. O capitão arriscava uma justificativa: como houvera dificuldades para a companhia angariar alunos, burlaram as normas previstas, mas não tinha dúvidas, estes infantes deveriam “dar baixa”, pois acarretavam muitos gastos para o Estado (Ofícios, v. 22, 1885). Imaginemos as dificuldades encontradas em arregimentar-se meninos para a companhia, nos idos da década de 1880. Como o próprio capitão enfatiza em sua carta, as condições do quartel no qual funcionava a Escola de Aprendizes Marinheiros eram precaríssimas. O prédio encontrava-se em ruínas e com sérios riscos de desabamento. Esses infantes cuja formação os levaria a alta missão que consistia em “prestar serviços à navegação, socorrendo vidas e fortunas entregues aos perigos das águas” (Ofícios, v. 22, 1885), estavam arriscados a morrer em terra firme, soterrados sob os escombros do teto que lhes dava guarida. Hilárico, se não fosse trágico, o capitão ainda descrevia o estado lastimoso do porto, o qual nem lancha a vapor dispunha – estragada e sem maquinista, somente contava com uma a vela e também com um pequeno escaler, carecendo reparos. Ademais, havia as epidemias que assolavam a cidade semeando pânico entre os habitantes de Paranaguá. A febre amarela de 1878 fizera história e na companhia, 3 a 4 meninos adoeciam por dia com sintomas da doença. A enfermaria do quartel era inapropriada, “anti-higiênica em todas as condições” e obrigou a remoção dos doentes para local mais arejado, uma enfermaria provisória na casa do comando, vazia naquela altura. “Nas quadras em que grassam aqui febres paludosas, sezões e muitas outras moléstias, os doentes espalham-se pelos alojamentos dos próprios menores, e dos inferiores, porém com enfermidades de caráter epidêmico isto não pode ter lugar” (Ofícios, v. 3, 1878). Se mudava a conduta e até mesmo improvisava-se uma enfermaria em temporada de epidemia, o dia-a-dia das enfermidades fazia dos apren- feios, sujos e malvados 87 dizes alvo certo das endemias reinantes. Ao que tudo indica, compartilhar o alojamento das crianças e dos “inferiores” tornava-se regra quando doenças acometiam os marinheiros. A instituição também registrava mortes de aprendizes, dizimados por malária e outros bichos, o que freqüentemente aturdia a todos. Procedimentos desta ordem deveriam deixar pais e tutores “de cabelo em pé”, temerosos da convivência direta de seus pupilos com adultos adoecidos. E, com certeza, tal agravante não passava despercebido quando se tratava de alistá-los na companhia. Porém, para os arautos do disciplinamento social nos idos do século XIX, tais como delegados de polícia, juízes de órfãos, homens de ciência, empregadores e tantos outros, normas de controle social se impunham sobre uma infância predisposta, como eram percebidos os infantes pobres, filhos de trabalhadores livres ou daqueles ainda escravizados, órfãos ou desamparados1. Crianças despossuídas a conviver no “ambiente desfavorável das ruas” sob precárias condições de saúde e educação logo foram inseridas no diagnóstico estabelecido por Cesare Lombroso2: a “inclinação natural”, a predisposição biológica para o crime. Nesta acepção, somente a positividade do trabalho parecia capaz de funcionar como antídoto, apontando saída regeneradora3. Logo, o aprendizado compulsório do ofício do mar apresentava boas possibilidades de “salvá-los”. 1. 2. 3. Crianças e adolescentes foram denominados pelos juristas de abandonados quando não fossem identificados seus pais ou tutores. Porém, concomitantemente, criaram-se os conceitos de abandono material e moral, o que expandiu as possibilidades de tratar crianças pobres como menores abandonados. Ver: Fernando Londoño, “A origem do conceito de menor”, História da criança no Brasil, organizado por Mary Del Priore, 1991. Responsável pela formulação do conceito de criminoso nato a partir de medidas realizadas, Lombroso publica a obra L’uomo delinqüente, na qual explica a predisposição natural para o crime existente em determinados indivíduos. Nos inícios do processo industrial brasileiro, não foram poucas as crianças exploradas no trabalho fabril e em oficinas que foram sendo abertas no decorrer do oitocentos. Para mais detalhes acerca do trabalho infantil, consultar: Esmeralda Blanco Bolsonaro Moura, Trabalho feminino e condição social do menor em São Paulo (1890–1920), CEDHAL-USP, 1988, e “Crianças operárias na recém-industrializada São Paulo” em: Mary Del Priore, História das crianças no Brasil, 1991. 88 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Se essas concepções não bastassem, a força de trabalho dentre nós até a Abolição era constituída basicamente por escravos, considerados incapazes “de se integrar na sociedade de classes e de se transformar em trabalhador livre, ordeiro e disciplinado”, como alardeavam até mesmo os abolicionistas, que batalhavam pela vinda de trabalhadores imigrantes (Lara, 1989). Então arregimentar, mesmo que à força, desvalidos e órfãos para os arsenais militares e da marinha, tinha o objetivo de (con)formá-los para o trabalho ao mesmo tempo em que se comporiam contingentes de futuros marinheiros. Alistamentos a ferro e fogo A justificativa para os alistamentos forçados efetuados por delegados de polícia ou dirigidos por juízes de órfãos sempre foram os critérios embasados em “boa formação e melhores condições de vida” a serem desfrutadas por meninos despossuídos, ou seja, aqueles provenientes das classes desfavorecidas. Mas o que se via na companhia não apontava para os quesitos formadores e muito menos para boas condições de vida. Meninos doentes não dispunham de alimentação condizente e relatórios médicos escancaravam a compleição franzina de muitos deles. O capitão do porto encontrava-os com “fisionomia mórbida”. Ao chamar um médico para examiná-los, decidiu “dar baixa a quatro menores julgados incapazes dos serviços, necessitando outros um tratamento prolongado e cuidadoso, para que possam ser aproveitados no futuro”. O médico que efetuou a análise reconheceu a necessidade de uma alimentação diferenciada para as quais o capitão não dispunha de recursos. Mas nem só de alimentação escassa, contágios ou infecções adoeciam os aprendizes. Também eram surpreendidos por enfermidades quando se sujeitavam à “ausência de fardamento”. Os meninos ficavam totalmente nus no alojamento em dias de lavagem de roupas. Ao contar somente com uma farda, aguardavam, literalmente despidos, a secagem de sua indumentária. Porém, o capitão emendava: “tudo isto já havia feios, sujos e malvados 89 sido comunicado ao ajudante geral da Armada, sem que providências fossem tomadas” (Ofícios, v. 22, 1885). O médico encarregado da inspeção de saúde descrevia “com pesar” o estado dos meninos. Aparentavam ter no máximo 12 anos e “não se encontram em sua fisionomia a vivacidade própria da idade; o olhar é triste, a cabeça baixa, os olhos escondidos nas órbitas, a tez pálida, o andar vagaroso, de certo que não são estes sinais de saúde forte e vigorosa”. Diz que geralmente são crianças abandonadas, enviadas à Companhia, por pessoas que se compadecem delas. Chegam “já abatidas e fracas”, ali não encontrando condições para “o seu desenvolvimento, e crescimento, acentuam-se seus sofrimentos. Em idade tenra precisam estas crianças de uma alimentação abundante, forte e sã para poderem desenvolver-se, não havendo na companhia uma alimentação abundante, se bem que sã pois que apenas há uma refeição de carne e duas de pão e chá” (Ofícios, v. 22, 1885). Diz ainda que dos 11 que examinou, 4 apresentam “condições de baixa por moléstia, já bem adiantada e 7 por sua constituição fraca e anemia mais ou menos pronunciada”. Os problemas eram caquexia palustre, opilação, anemia avançada e eczema generalizado. “Sem tratamento rigoroso eles jamais teriam o desenvolvimento compatível com a vida de marinheiros, para a qual se destinavam, acarretando no futuro prejuízos para o estado pois seriam sempre uns marinheiros fracos e doentios” (Ofícios, v. 22, 1885). Machado de Assis (1990) não deixaria fora de sua ironia fina, os escândalos da alimentação experimentada pelos marinheiros da Armada. Segundo ele, se fôssemos comparar a alimentação ali degustada a um jogo de cartas, diríamos que nossos marinheiros rasos jogavam sem dinheiro, por distração e satirizando escrevia tratar-se de um “[...] solo a tentos, que é o que chamamos leite de pato. O regímen da Armada é deste último leite”4. Isto porque os marinheiros eram freqüentemente acometidos de beribéri, nos fins do século XIX. 4. A alusão ao regime da Armada dá a medida da escassa alimentação da qual banqueteavam-se nossos marinheiros. Ver, Machado de Assis, Bons dias! 1990, p. 47. 90 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Mas não tenha dúvidas, cara leitor, havia também o jogo a dinheiro, o que segundo Machado de Assis (1990) corresponderia ao leite de vaca, puro, abundante, exclusivo... com o qual poder-se-ia aludir ao cardápio saboreado pelos oficiais. O rol de compras de mantimentos para a Escola de Marinheiros de Paranaguá, na qual definhavam muitos aprendizes, estava composto de bacalhau da terra nova, azeite doce e vinagre de Lisboa, carne seca e verde, canjica, café, farinha, feijão preto, açúcar branco, arroz, manteiga, pão, toucinho, mate em folha e sal (Ofícios, v. 9, 1855). Oficiais deveriam saciar-se com refeições diferenciadas daquelas servidas aos aprendizes, desfrutando de víveres mais seletos. Não esqueçamos que oficiais da Marinha compunham a burocracia imperial brasileira formada pós-independência e a Escola Naval, sucessora da Real Academia de 1808, era uma opção para filhos de famílias ricas. Embora gratuita, o recrutamento era seletíssimo a começar pelos custos dos enxovais exigidos, inacessíveis às camadas desfavorecidas. Seguimos a tradição burocrática portuguesa, agravando-a já que oficiais ingleses de origem nobre ocuparam altos postos na Marinha, após 1822. Claro que praças recrutavam-se no seio das classes populares, entre desocupados, desprotegidos ou criminosos, “quase sempre pela força, ou laço, como se dizia na época” (Carvalho, 1996). Aprendizes recrutavam-se da mesma maneira. E foi através deles que se almejou consolidar a força de trabalho necessária à organização do próprio quadro de marinheiros, especialmente após a independência, quando as ampliações nas várias armas se fizeram imprescindíveis. Afinal, cabia constituir o Estado Nacional (Cunha, 2000) e a defesa territorial. Arregimentados entre órfãos, ou filhos de famílias pobres, somente conseguiam dar baixa se fossem comprovadamente ineficientes do ponto de vista médico, podendo então onerar o Estado Imperial. Caso de meninos cuja faixa etária não lhes permitia sequer manusear o escaler existente na companhia, fosse por sua tenra idade ou debilidade física, e ainda aqueles portadores de deficiências físicas, como um menino que apresentava “um aleijão no braço esquerdo” (Ofícios, v. 11, 1877). A história do adolescente José Gonçalves de Aguiar, de 17 anos, remetido pelo delegado de Antonina para assentar praça, em 1867, quan- feios, sujos e malvados 91 do contava com 13 anos de idade, é exemplar para demonstrar como a instituição arregimentava e colocava toda sorte de obstáculos para que meninos sadios não deixassem a companhia. Revela ademais o descaso das autoridades quando se tratava de respeitar os direitos dos desfavorecidos. Ocorrera que o pai alegava que seu filho José fora ilegalmente recrutado pelas autoridades e temia pela sua falta de saúde, na Companhia (Requerimentos, v. 1, 1870) . O garoto passou então pela inspeção médica, seguindo procedimento usual quando havia algum pedido de dispensa de aprendiz, por parte de seus pais. O laudo emitido assegurava que ele era de constituição robusta e apresentava “aptidão para a vida do mar”. O capitão do porto, de posse do laudo, prontamente escreveu ao presidente da província a sugerir que o adolescente, havendo preenchido os requisitos para ingresso na companhia, não deveria ser dispensado. Alistado, perfazia as seguintes condições: a) era brasileiro; b) tinha entre 10 e 17 anos de idade; c) apresentava constituição robusta própria para a vida do mar. Assim sendo, submetia sua decisão à aprovação do presidente (Requerimentos, v. 1, 1870). Venâncio José de Oliveira Lisboa, então presidente, após examinar o caso, conformado com o parecer médico e mesmo estando informado das aptidões do garoto, lembrava o regulamento de 4 de janeiro de 1855, que regia a instituição, no qual rezava que somente órfãos e desvalidos poderiam ser remetidos pelas autoridades à companhia, logo, não lhe parecia legal o recrutamento do qual tratavam (Ofícios, v. 8, 1871). O 1o tenente comandante da Companhia de Aprendizes, inconformado com a resolução presidencial, envia-lhe nova missiva no sentido de contestar sua decisão. Para isto, anexou a ela cópia de todas as despesas realizadas com a educação e estadia de José, durante os quatro anos de permanência em Paranaguá. Argumentava mais: o pai havia mostrado seu amor muito tarde, não apresentando documentos que provassem ter sido zeloso na educação de seu filho; o montante despendido pelo estado com o adolescente perfazia o total de 1173$600 e a lei era “por demais benigna”, impedindo que a companhia chegasse ao seu verdadeiro fim. Ademais, dizia ele, pais de adolescentes como José, e tantos outros, não lhes podiam dar nem mesmo o pão de cada dia, quanto mais 92 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 a educação precisa. Preferem “que seus filhos pereçam nas trevas e na miséria do que entregá-los ao estado para educá-los na honrosa carreira d’armas”. Ah, se a lei permitisse que filhos pudessem ser retirados de seus pais, as companhias estariam completas e “a Marinha de Guerra e Mercante poderiam contar para o futuro com um pessoal moralizado, e dignos cidadãos para o serviço da Pátria”5. Não satisfeito com sua argumentação, o tenente prosseguia. “Estou bem convencido que esta autoridade (delegado de polícia de Antonina) só procedeu com todo critério para adquiri-lo; não o arrebatou da casa paterna, onde segundo o pai estava se educando, porque então este reclamaria em tempo e se queixaria da arbitrariedade; nada disto houve então, e só agora, isto é depois de quatro anos e três meses teve um acesso de cuidado paternal” (Ofícios, v. 11, 1871). O “caso” José Aguiar escancara facetas dos processos de recrutamento e dispensa de meninos e adolescentes, vigentes nas escolas de aprendizes. A começar pela ilegalidade, reconhecida pelo capitão do porto nos idos de 1880, em carta dirigida ao presidente da província e que circunstanciava muitas arregimentações. Se a lei estabelecia que somente órfãos e desvalidos deveriam ser alistados nas escolas, o exemplo de José indica que a força também fez parte do processo de arregimentação de meninos pobres, cujos pais teriam dificuldades em se fazer valer. O fato de o adolescente6 ter sido enviado pela polícia para assentar praça e não ter tido nenhum registro de falta regimental nos anos que permaneceu na companhia é indício que ele não se inseria na categoria da contravenção e que possivelmente fora alistado sem conhecimento de seus familiares. Talvez nem o pai soubesse onde se encontrava o 5. 6. Grifos nossos. Vale lembrar que no oitocentos, a puerícia estendia-se dos 7 aos 12 anos e a adolescência daí aos 21, portanto os meninos arregimentados inseriam-se na categoria de infantes, infância cuja descoberta operou-se no dizer de Philippe Ariès, no século XVI. Ver Mary Del Priore, “Papel em branco”, em Mary Del Priore (org.), História da criança no Brasil, São Paulo, Contexto, 1991, e Philippe Ariès, História social da criança e da família, Rio de Janeiro, Zahar, 1978. feios, sujos e malvados 93 filho e daí a demora em localizá-lo. José também não deveria ter entrado “franzino” na escola, pois nada sugere que meninos com compleição física deficiente se recuperassem ali. E, ainda, os argumentos apresentados pelo tenente não desabonam sua conduta ou indicam que este fosse um malfeitor, como vários foram rotulados quando enviados pela polícia naqueles anos. José fizera parte do contumaz esforço da polícia em auxiliar as forças militares a congregar a ferro e a fogo meninos pobres para os seus arsenais, durante o longo período de duração da Guerra do Paraguai, quando então o contingente necessitou reforços (Sousa, 1996; Venâncio, 1999). E por que havia tanta dificuldade em arregimentar meninos para a Companhia? A correspondência de governo é rica em informações encetadas entre juízes de órfãos e delegados de polícia, tanto acusando o recebimento de circulares “ordenando que se empregue todos os esforços a fim de remeter, para serem alistados na Companhia de Aprendizes de Marinheiros estabelecida em Paranaguá, o maior número de crianças desvalidas que forem encontradas” nos termos, quanto comunicando o envio de crianças órfãs àquela escola (Ofícios, v. 14, 1871). No entanto, o número de crianças recrutadas normalmente encontrava-se aquém do número de vagas existentes. “Continuam sem resultados as incessantes recomendações dirigidas aos juízes de órfãos e autoridades policiais para remeterem a esta companhia os órfãos ou menores desvalidos” (Província do Paraná, Relatório de governo, 1876). A queixa de Lamenha Lins era mais uma voz a compor o coro de seus antecessores. As manifestações eram unânimes: os esforços despendidos não se concretizavam em aumento do número de meninos aprendizes, tão necessários à constituição da força de trabalho dos arsenais. O ofício de 30 de maio de 1875, encaminhado ao governo da província, nos dá algumas pistas para entender o porquê do empenho das autoridades para a consecução dos objetivos da Escola não prosperar: “Cabe-me ponderar a V. Excia que tenho notado muita aversão à vida militar nos habitantes deste termo; e que portanto só por meio de recrutamento se poderão conseguir o fim desejado; isto mesmo já fiz sentir 94 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 ao antecessor de V. Excia, quando recomendou-me que remetêssemos para o depósito de aprendizes” (Ofícios, v. 8, 1875). O juiz nos diz que a população de seu município tem aversão à vida militar e refere-se à companhia como depósito de aprendizes. Ora, a escola de Paranaguá foi criada às vésperas da Guerra do Paraguai, e certamente meninos recém-alistados devem ter sido mandados para o Arsenal do Rio de Janeiro para servir como serviçais nos navios da esquadra brasileira. Deles, vários devem ter perecido, suscitando aversão da população à vida militar nos municípios dos quais provinham. Sem aprendizado prévio, essas crianças sucumbiam mais facilmente durante as batalhas travadas. Além do mais, alterou-se a legislação, durante o conflito, para possibilitar o envio de um maior número de meninos. O presidente da província, Polidoro Cezar Burlamaque, em relatório enviado à Assembléia Legislativa do Paraná, diz que em virtude da “época anormal que atravessamos” 14 meninos que não contavam com 16 anos poderiam ser remetidos ao quartel general da Marinha (Província do Paraná, Relatório de governo, 1867). “O país carece de bons marinheiros, e homens de guerra afeitos ao trabalho e à vida do mar”, emendava o presidente, atribuindo a inexistência de navio como causa para os poucos engajamentos e, conseqüentemente, para o não preenchimento das vagas em Paranaguá (Província do Paraná, Relatório de governo, 1867), endossando a necessidade da formação de quadros militares. Sim, pois a Escola de Aprendizes Marinheiros não dispunha de um navio-escola e um “simulado” navio só seria montado ali, bem mais tarde (Ofício, v. 20, 1855). Os governantes atribuíam o constante déficit de meninos em relação às vagas existentes ao ensino meramente teórico, desprovido do “estudo de náutica aplicada” o que não constituía a causa principal. As arregimentações compulsórias realizadas durante o conflito armado deveriam estar bem marcadas na memória de todos, como também aquelas que se deram anteriormente na expectativa de constituir batalhões que zelassem pela defesa do território pátrio. De qualquer maneira, “as péssimas condições dos serviços navais sempre dificulta- feios, sujos e malvados 95 ram o recrutamento (na Marinha). O afastamento da família, a insalubridade a bordo, os rigores das leis, as chibatadas, os ferros nos pés, a golinha ao pescoço, as intempéries climáticas, tudo isso formava o quadro desumano que fazia da Marinha um purgatório” (Sousa, 1996). Estas dificuldades enfrentadas pelos praças e “inferiores” também faziam parte do cotidiano dos aprendizes. Se não havia navio-escola em Paranaguá, os iniciados sabiam que navios os aguardavam assim que fossem enviados para a o batalhão de Imperiais Marinheiros, na Corte. E, mesmo o quartel no qual viviam, deixava muito a desejar nos quesitos insalubridade, castigos e intempéries climáticas. Já em 1871, quando o salão destinado ao dormitório ficou pronto, faltando apenas o conserto das janelas, os meninos dormiam nas macas. No entanto, não poderiam adoecer, pois passariam a ocupar um pequeno quarto mal arejado no qual fariam as necessidades corporais, pois a latrina localizava-se fora do quartel e os enfermos não podiam se expor ao tempo. No dito quarto havia mesa, cadeira, armário, roupas de cama e do doente, utensílios de cozinha e, normalmente, de 7 a 8 doentes (Ofícios, v. 14, 1871). É bem verdade que havia a reivindicação de uma enfermaria, mas ainda sem sucesso. O menino Leandro Antônio, por exemplo, ao completar a idade da lei, não pôde seguir para o Quartel Central de Imperiais Marinheiros, pelo seu mau estado de saúde, “pois que sofre há mais de um ano moléstias gerais e atualmente estão perdidas todas as esperanças de seu restabelecimento”, segundo o relatório médico (Ofícios, v. 10, 1871). As condições do quartel não eram das melhores e só fizeram piorar com o passar do tempo. Lembremos, ademais, o relatório do capitão do porto ao presidente da província, na década de 1880. As promessas pífias de “boa formação e melhores condições de vida” não seduziam nem meninos, nem pais ou tutores, embora houvessem aqueles que ainda os alistassem na companhia. Havia prêmios e gratificações pagos aos genitores e responsáveis na tentativa de estimulá-los a apresentar seus filhos menores de idade. Assim, quando arregimentados, assinavam contrato no qual se estipulava o valor a ser recebido (Ofícios, v. 14, 1875). Porém, a documentação compulsada revela que alguns 96 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 abriam mão destas importâncias em prol de seus filhos ou tutelados e logo valores da doação eram depositados em caderneta de poupança da Caixa Econômica (Ofícios, v. 7, 1879). Ademais, ocorriam baixas não consentidas pelas autoridades por fuga dos meninos. Crianças evadiam-se, “seduzidas por seus pais”, como aludiu o comandante da Companhia, quando Antônio Luís “ausentouse do quartel” e deram-se todas as providências para sua pronta captura (Ofícios, v. 21, 1879); ou ainda quando meninos remetidos pela polícia para Paranaguá tratavam de desaparecer da instituição. Em muitas ocasiões, ao serem encontrados, os garotos eram presos e postos na solitária (Ofícios, v. 5. 1886). Práticas exemplares como essas faziam parte do dia-a-dia dos aprendizes, porém não os desencorajavam a abandonar a escola pois continuava a haver importante número de baixas por deserção (Ofícios, v. 3, 1878)7. A Escola de Aprendizes de Marinheiros não acalentava os sonhos de meninos e adolescentes na província do Paraná, à revelia dos esforços e das arbitrariedades despendidas pelas autoridades. Mas o que e como se ensinava os meninos aprendizes? Ensinando e aprendendo as artes do mar Os meninos que ingressavam na Companhia de Aprendizes Marinheiros de Paranaguá sujeitavam-se a um rol de atividades diárias distribuídas em um calendário semanal. Em 1870, por exemplo, tinham seus dias tomados por “estudos de primeiras letras” – que ocupava a maior carga horária, “escola de aparelhos”, “exercícios de natação” e “exercícios de caçadores” (Ofícios, v. 16, 1870). A educação, distinguida em elementar e profissional, era empreendida, não sem grande esforço de ambas as partes: dos meninos e de seus mestres. 7. O ofício de 27/2/1878, dirigido ao presidente do Conselho Fiscal da Caixa Econômica, solicitava a liberação dos depósitos realizados em nome de Antônio Alves Vazario, Joaquim Luiz do Nascimento e Manoel Beira de Veiga, meninos desertores em fins do ano de 1875 para 1876. feios, sujos e malvados 97 Em alusão clara ao ensino elementar, o decreto de 1855, que regulamentava todas as companhias de aprendizes, estabelecia que os menores aprenderiam “ler, escrever, contar, riscar mapas, e a doutrina cristã” e teriam por mestre o “capelão oficial” ou um “oficial marinheiro” detentor de habilitações necessárias. Em Paranaguá, o ensino elementar tinha lugar “todos os dias úteis da semana, das 9 às 12h para os menores alistados na escola”. Os livros adotados nas aulas, em 1887, eram: “Leitura e Gramática portuguesa Dr. Abílio Cesar Borges, última edição, manuscritos de Duarte Ventura, Geografia da infância pelo Dr. Joaquim M. de Lacerda, aritmética”, dentre outros (Província do Paraná, Relatório de governo, 1887). Em 1867, o presidente da província declarou-se surpreso com o “trabalho daqueles futuros marinheiros” e afirmou que se pais e tutores de crianças desvalidas tivessem conhecimento do que lá lhes era ensinado optariam por entregá-las à marinha e não ao desamparo. Treze anos depois, os relatos contrariam o exposto. O capitão do porto escrevia que: a educação primária e a profissional que a Lei estabeleceu para a escola não poderiam ser objetivadas lá por falta de pessoal habilitado. O mestre da companhia e o professor de primeiras letras, na maioria dos casos eram quase todos analfabetos e o atual, dizia ele, “além de não ter as habilitações precisas [...] embriaga-se, dando com esse procedimento exemplo pernicioso aos menores”. Em função da falta de professores estariam os menores “atrasadíssimos, poucos lêem e escrevem mal, não conhecem quase nada do ensino profissional [...], não conhecem exercício algum quer de Infantaria ou Artilharia”, por conta da inexistência de armamentos, já requisitados anteriormente. Todos os contratempos arrolados teriam sido comunicados aos encarregados competentes, mas raras eram as soluções ordenadas (Ofícios, v. 22, 1885). O ensino profissional, que se supõe deveria receber especial cuidado, dado o fim a que se destinavam as companhias, não era, contudo, realizado a contento. O já referido decreto contemplava também a Instrução Militar e a Instrução Náutica e o que deveria ser atingido ao levar-se a cabo o proposto em cada uma delas. A primeira consistia em “aprenderem a entrar em forma, perfilar volver à direita, à esquerda, marchar a passo ordinário 98 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 e dobrado; até a escola de pelotão; o manejo das armas brancas, a nomenclatura da palamenta, carreta e peças de artilharia, e o uso que tem cada um desses instrumentos”. Na segunda, aprendiam “o mister relativo às artes de marinheiro, como fazer pinhas; costuras; alças; nós; etc... coser pano, entalhar; etc... e finalmente; aparelhar e desaparelhar um navio”. Porém, carta enviada ao presidente da província afirma que “nada se pode bem ensinar por falta de um pequeno navio, ao menos de uma gavia, onde estes seriam convenientemente preparados”. Dizia ainda da dificuldade de se ensinar a coser e largar panos, os ferros, os cabos, sem dispor de um navio escola. O mesmo acontecia com os exercícios de artilharia para os quais não contavam com uma peça sequer, a fim de executarem “os exercícios e bem se explicar a nomenclatura” de modo que sobre estes os meninos sabiam apenas “definições vagas” (Ofícios, v. 22, 1885). Ora, uma questão imediatamente posta é como haveriam de executar tais exercícios se experimentavam toda sorte de privações, já citadas anteriormente, a saber a inexistência de um navio para tais exercícios, ou até mesmo de armas para se aprender a nomear. O capitão do porto informa que a companhia dispunha de um único escaler “pesado e em péssimo estado” no qual os meninos faziam os exercícios de remo semanalmente; os quais, segundo ele, eram “tão proveitosos para o desenvolvimento físico das crianças”, mas admitia não prolongar esses exercícios ou não exigir que fizessem pois demandavam “serviços superiores de suas forças” (Ofícios, v. 22, 1885). Poder-se-ia supor que esta situação era pontual. Mas os registros provam o contrário. Em diferentes momentos da existência da companhia houve problemas com a educação profissional ministrada aos menores, fossem de ordem técnica ou moralizante. Não restam dúvidas de que as técnicas eram as mais comprometidas. Da criação da escola até onde acompanhamos as correspondências trocadas por seus representantes, sempre descreveu-se a escassez de aparelhos para a execução dos exercícios ou a absoluta falta deles. Quando existiam, forte era a probabilidade de serem inadequados à idade e força física dos pequenos, que ao longo da trajetória acabaram por ser a maioria. feios, sujos e malvados 99 Em 1885, as companhias são reformuladas e passam a ser denominadas Escolas de Aprendizes Marinheiros. O decreto n. 9.371, de 14 de fevereiro de 1885, dá nova organização à Companhia de Aprendizes Marinheiros e dispõe no art. 3o acerca da finalidade de tais escolas: “educar e preparar marinheiros para os diversos serviços da Marinha Imperial”. O art. 15 trata do ensino e reitera as modalidades de educação postas anteriormente. Para o ensino elementar, firmava: “1) leitura de manuscritos e impressos, 2) caligrafia, 3) rudimentos de Gramática Portuguesa, 4) doutrina Cristã, 5) princípios de desenho linear e confecção de mapas regimentares, 6) noções elementares de geografia física, principalmente no que diz respeito ao litoral do Brasil, 7) práticas sobre operações de números inteiros, frações ordinárias e decimais, conhecimento prático e aplicação do sistema métrico (Leis imperiais, decreto n. 9.371, 1885). E para o ensino profissional, subdividido em sete itens cujo direcionamento era a atividade que exerceriam, propunha os seguintes temas: 1) aparelho e nomenclatura completa de todas as peças da arquitetura do navio; 2) nomenclatura das armas de fogo em geral; 3) nomenclatura e uso dos reparos de artilharia; 4) exercícios de infantaria, começando pela escola de soldado até a do pelotão; 5) exercícios de bordejar e remar em escaleres, 6) construção gráfica da rosa dos ventos, conhecimento dos rumos da agulha, prática de sondagem, 7) em geral todos os conhecimentos práticos necessários afim de serem depois desenvolvidos no tirocínio da profissão pelo Imperial Marinheiro [Leis imperiais, decreto n. 9.371, 1885]. Refeita a organização das companhias em todo o país, precisou-se de dois anos mais para que o capitão do porto comunicasse ter recebido da Corte um protótipo de “navio composto de mastro, mastaréo, vergas, panos e o aparelho competente” (Ofícios, v. 20, 1885) para ser armado no terreno da escola. Antes disso, muitas foram as missivas acerca da “falta de um navio escola para os menores”. Após vinte e três anos da criação da Companhia em Paranaguá, finalmente, os aprendizes teriam um “simulado” navio para aprender os ofícios do mar. Primeiramente, 100 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 este deveria ser montado pelo pessoal da escola, o que demandava trabalho de carpintaria e madeira e para tanto, mais uma vez, seria preciso solicitar verbas. No ano de 1887, o presidente da província, Sr. Joaquim de Almeida Faria Sobrinho, apresenta em seu relatório um panorama da Escola de Aprendizes. Sobre o ensino profissional, narra que só a partir de 15 de julho daquele ano começaram a fazer exercício de armas e, portanto, ainda não obtivera resultados satisfatórios, mas conheciam o “exercício de esgrima de baioneta, de infantaria, de pano de remar, conhecem os trabalhos de marinheiro, rumo de agulha, etc.” O exercício de artilharia não teve lugar por não haver armas desta espécie na escola, mas ressalta que já pedira à Corte. O escaler existente era pequeno e pesado demais para os meninos, razão pela qual solicitava à Corte “um escaler de 10 remos, correame para os exercícios, objeto para o simulacro, mesas e bancos próprios para a aula” (Província do Paraná, Relatório de governo, 1887). Considerando-se as inumeráveis tentativas de arregimentação de meninos em todo o estado, fossem eles órfãos ou simplesmente “desvalidos”, pode-se inferir que a ânsia por tê-los no interior da companhia cumpria, concomitantemente, dois papéis: o primeiro deles era angariar possíveis futuros trabalhadores para os quadros da Marinha e o segundo, disciplinar e manter a ordem da sociedade. Assim, os juízes de órfãos ou chefes de polícia a quem o presidente da província e o capitão do porto remetiam clamores para o envio de menores e depois a vigilância a que eram submetidos os meninos no interior do quartel, representam “o olhar disciplinador” das autoridades diante da “figura do menor desprotegido – a fim de evitar que ‘fiquem entregues à miséria e ao vício’ – e do menor delinqüente – procurando neles ‘incutir hábitos de trabalho e educar’ – justificando desta forma sua interferência na sociedade” (Boni, 1987). Logo contenção e disciplina rígida eram elementos primordiais a serem ensinados. Podiam ser notados, tanto na organização das atividades, quanto na sistematização do calendário semanal e inspeções a que estavam submetidos. “Naturalmente, nos Arsenais a vida era marcada feios, sujos e malvados 101 por ritmo, disciplina e pedagogia militares”, afirma Marcílio (1998), imprescindíveis à nova sociedade do trabalho em configuração8. Vislumbra-se, portanto, a construção da “sociedade civilizada” associada ao disciplinamento rígido ensinada pelas companhias e na profissão que ali deveriam aprender. A extrema importância dada ao trabalho associa-se à idéia de progresso e “informa também a correlação que se estabelece entre menoridade e desrespeito às normas sociais, pois são freqüentes as referências, desde o século XIX, a menores vadios, ratoneiros, viciosos, desordeiros” no Paraná do período (Boni, 1987). Se o Estado tomou para si a tarefa de educar meninos despossuídos como demonstram fartamente as fontes, não foi sem propósito definido que o fez. A multiplicação das companhias ao longo da costa brasileira e também no Mato Grosso constitui um expediente para qualificar homens para a prestação de trabalhos à Marinha de Guerra, posto que a prática denotou a “superioridade do marinheiro procedente da Companhia de Aprendizes sobre o recrutado sem a mais elementar educação” (Prado Maia, 1975). Com esta determinação, mataram-se dois coelhos com a mesma cajadada: assistiam-se crianças pobres e desamparadas, impingindo-lhes a moral do trabalho, ao mesmo tempo em que se formavam quadros para a Marinha. Porém, políticas de assistência social como esta, tão ao gosto das autoridades públicas, não implicavam que a educação dos aprendizes devesse ser ministrada de forma caritativa, por dádiva ou benesse. Qualquer custo oneroso era lamentado. Baixas significavam perdas de investimentos e por isso eram combatidas. Neste contexto, a arregimentação forçada e a educação profissional inapropriada davam-se as mãos, aliadas às precariedades sanitárias e 8. Segundo a autora, até 1840 as “Companhias de Aprendizes dos Arsenais” não dispunham de regulamento próprio, o que dava margem a maus-tratos e exploração de menores. Contudo, uma observação do cotidiano da companhia paranaense permite afirmar que a criação de sucessivos regimentos não amorteceu suas penas diárias. Basta ver o calendário semanal a que estavam submetidos, os exercícios atrelados à educação profissional e todas as dificuldades colocadas. 102 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 alimentares enfrentadas por estes aprendizes no interior do quartel, pois a Companhia de Paranaguá funcionava anexa às dependências do quartel da Marinha. É preciso lembrar, contudo, as diferenças entre o disposto pelo decreto e o cotidiano da companhia, descrito nas correspondências consultadas. Porém, se o ensino profissional jamais se efetivara a contento e o elementar que, em 1880, ocupava a maior parte do tempo estava em tão lastimoso estado, o hábito de trabalho e o disciplinamento da vida daqueles aos quais a escola conseguira reter estavam constituídos. A reorganização ocorrida em 1885 pretendia preparar os jovens para atender aos quadros da Marinha e não mais assistir meninos abandonados ou expostos. Acreditar no progresso, amar a ordem e o trabalho, eis as máximas apregoadas pelas Escolas que intentavam formar jovens “úteis a si e à nação”9. As Companhias de Aprendizes Marinheiros cumpriam o papel das instituições de internamento do século XIX, cujo princípio assentava-se na regeneração, calcado em uma disciplina rigorosa. O trabalho físico e o aprendizado das artes do mar funcionavam em última instância como elemento reabilitador. Educar reabilitando pelo trabalho crianças pobres e abandonadas foi a lógica empregada em colônias agrícolas, escolas industriais ou arsenais da Marinha. O que importava era o sistema disciplinar no qual os infantes se viam inseridos, pois quartéis, oficinas ou escolas poderiam funcionar não só como máquinas de ensinar, mas também vigiar, hierarquizar, recompensar (Foucault, 1983). 9. O modelo de intervenção estatal no controle da criança encontra-se muito bem discutido por Sandra Carli em Niñez, pedagogia y política, 2003. feios, sujos e malvados 103 Fontes e bibliografia 1. Fontes manuscritas DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ (DEAP). LIVROS DE OFÍCIOS DO ANO 1855, v. 9; v. 20. LIVRO DE OFÍCIOS DO ANO 1870, v. 16. LIVROS DE OFÍCIOS DO ANO 1871, v. 10; v. 14. LIVRO DE OFÍCIOS DO ANO 1875. v. 14. LIVRO DE OFÍCIOS DO ANO 1877, v. 11. LIVRO DE OFÍCIOS DO ANO 1878, v. 3. LIVROS DE OFÍCIOS DO ANO 1879, v. 7; v. 21. LIVROS DE OFÍCIOS DO ANO 1885, v. 20; v. 22. LIVRO DE OFÍCIOS DO ANO 1886, v. 5. LIVROS DE REQUERIMENTOS DO ANO 1870, v. 1. 2. Fontes impressas e bibliografia ARIÈS, Philippe (1978). História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar. BONI, Maria I. M. (1987). “Vigilância e punição: o espetáculo da criminalidade na constituição do trabalhador urbano: Curitiba, 1890-1920”. História: questões e debates, Curitiba: APAH/Gr. Vicentina, n. 14-15/45-99. CARLI, Sandra (2003). Niñez, pedagogia y política: transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880-1955. Buenos Aires: Minõ y Dávila. CARVALHO, José Murilo (1996). A construção da ordem: a elite política imperial; Teatro das sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ/ Relume-Dumará. CUNHA, Luiz Antônio (2000). O ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil escravocrata. São Paulo: Ed. UNESP; Brasília: Flacso. 104 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 DEL PRIORE, Mary (1991). “Papel em branco”. In: DEL PRIORE, M. (org.). História da criança no Brasil. São Paulo: Contexto. FOUCAULT, Michel (1983). Vigiar e punir . Petrópolis: Vozes. LARA, Sílvia (1989). “Trabalhadores escravos”. Trabalhadores, Publicação mensal do Fundo de Assistência à Cultura, Campinas, n. 1. LONDOÑO, Fernando T. (1991). “A origem do conceito menor”. In: DEL PRIORE, M. (org.). História da criança no Brasil. São Paulo: Contexto. MACHADO DE ASSIS (1990). Bons dias! Introdução e notas de John Gledson. São Paulo/Campinas: Hucitec/Ed. da UNICAMP. MARCÍLIO, Maria Luísa (1998). História social da criança abandonada. São Paulo: Hucitec. MOURA, Esmeralda B.B. (1988). Trabalho feminino e condição social do menor em São Paulo (1890-1920). São Paulo: CEDHAL-USP. . (1999). “Crianças operárias na recém-industrializada São Paulo”. In: DEL PRIORE, M. (org.). História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto. PRADO MAIA, João do (1975). A marinha de guerra do Brasil na colônia e no império: tentativa de reconstituição histórica. Rio de Janeiro: Cátedra/INL. PROVÍNCIA DO PARANÁ. Relatório de governo (1867). Curitiba: Tip. de Cândido Martins Lopes. . Relatório de governo (1876). Curitiba: Tip. de Cândido Martins Lopes. . Relatório de governo (1887). Curitiba: Tip. da Gazeta Paranaense. SOUSA, Jorge P. de (1996). Escravidão ou morte: os escravos brasileiros na Guerra do Paraguai. Rio de Janeiro: Mauad /Adesa. LEIS IMPERIAIS DO BRASIL (1855). Rio de Janeiro: Tipografia Nacional. . (1885). Decreto 9.371 de 14 de fevereiro 1885. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional. VENÂNCIO, Renato P. (1999). “Os aprendizes da guerra”. In: DEL PRIORE, M. (org.). História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto. Entre a história cultural e a teoria literária Rumo a uma história dos cânones escolares no Brasil Luiz Eduardo M. de Oliveira* Foi com o intuito de localizar e discutir os momentos em que Chartier dialoga com os (ou se apropria dos) estudos literários, em alguns de seus textos e entrevistas, bem como de verificar o modo como o autor sugere uma linha de pesquisas que cruza algumas contribuições da teoria ou da história literária com a história cultural e a história da educação, que o presente artigo foi escrito, buscando assim contribuir para uma proposta multidisciplinar de pesquisas que pretendam viabilizar a configuração de uma história dos cânones escolares no Brasil. HISTÓRIA CULTURAL; HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO; HISTÓRIA LITERÁRIA; CÂNONES ESCOLARES; TEORIA LITERÁRIA. With the intention of situating and discussing the moments when Chartier deals with (or appropriates) the field of literary studies, in some of his texts and interviews, as well as verifying the way how he suggests a field of research which intersects some contributions of literary theory or history with cultural history and history of education, this article was written, hoping that it can contribute to a multidisciplinary proposal which intends to make a history of school canon possible in Brazil. CULTURAL HISTORY; HISTORY OF EDUCATION; LITERARY HISTORY; LITERARY THEORY; SCHOOL CANON. * Professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe (UFS), mestre em teoria literária pela Universidade Estadual de Campinas e doutorando em história da educação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). 106 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 1. Introdução Desde o final da década de 1980, quando seus textos começaram a circular no meio acadêmico brasileiro em edições francesas, portuguesas ou hispano-americanas, e sobretudo no decorrer da década seguinte, quando passaram a ser editados e publicados no país, o nome de Roger Chartier tem sido associado à designação “história cultural”, ou “nova história cultural” (Hunt, 2001), termo que, além de apontar para a “nova” postura, tanto política quanto editorial e acadêmica, assumida pela tradicional École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, dirigida atualmente pelo autor, se instala numa linha multidisciplinar de estudos e pesquisas que têm como objetos desde instituições, tais como escola, imprensa e censura, até as práticas relacionadas à produção, difusão e apropriação dos textos nos seus mais variados suportes. Muito embora Chartier possa estar incluído no grupo da terceira geração da chamada “Escola dos Annales”, sendo portanto oriundo de certa tradição no campo da historiografia francesa, sua contribuição não se restringe à história: Mais paradoxal é a contribuição de Roger Chartier, para esse tipo de história [de cunho antropológico], que é mais conhecido por seu trabalho conjunto com Martin, Roche e outros, sobre a história do livro, [...]. Pode parecer estranho descrever um especialista em história da alfabetização como antropólogo histórico, e estou longe de estar seguro de que Chartier aceitaria esse rótulo. Mesmo assim, a força impulsora de seu trabalho vai na mesma direção dos trabalhos recentes em antropologia cultural [Burke, 1997, p. 98]. No caso brasileiro, a recepção e apropriação de seus termos, categorias e métodos de abordagem não se deu apenas nos departamentos de história e antropologia, mas também em outros setores das ciências humanas, como a educação, a comunicação, a semiótica, a lingüística e os estudos literários, sendo muito recorrente o seu nome nas bibliografias de programas, relatórios de pesquisa, dissertações, teses e publicações dessas áreas. Tal fenômeno de aceitação quase consensual de seus tex- entre a história cultural e a teoria literária 107 tos por vertentes disciplinares diversas, não só no ambiente acadêmico brasileiro como no de outros países, parece não passar despercebido pelo autor, que em várias entrevistas concedidas a intelectuais estrangeiros ou brasileiros – em suas visitas freqüentes ao país –, se mostra não só consciente do caráter multidisciplinar do seu trabalho, mas também um erudito conhecedor de estudos e pesquisas dos diversos campos pelos quais transita. Foi com o intuito de localizar e discutir os momentos em que Chartier dialoga com os (ou se apropria dos) estudos literários, em alguns de seus textos e entrevistas, bem como de verificar o modo como o autor sugere uma linha de pesquisas que cruza algumas contribuições da teoria ou da história literária com a história cultural e a história da educação, que o presente artigo foi escrito, buscando assim contribuir para uma proposta multidisciplinar de pesquisas que pretendam viabilizar a configuração de uma história dos cânones escolares no Brasil. 2. Chartier e a crítica literária Um exemplo bastante significativo da maneira como Chartier parece conceber a crítica literária pode ser representado pelas falas iniciais de uma entrevista realizada por Noemi Goldman e Leonor Arfuch, numa ocasião em que o autor visitava Buenos Aires, em setembro de 1994, a convite do Instituto de História Argentina e Americana “Dr. Emílio Ravignani” e do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Apresentado como um historiador francês especialista em “história da educação, do livro e da leitura no Antigo Regime”, Chartier é solicitado a falar do contexto do surgimento de seu interesse pelas práticas de produção, circulação e leitura dos objetos impressos. Ao situar o início de sua trajetória no modelo “serial ou quantitativo” da historiografia cultural francesa da década de 1960, quando se envolve com os estudos dirigidos por Daniel Roche sobre história do livro na França do século XVIII, o autor destaca sua curiosidade, desde o princípio, “pelas obras literárias, pela crítica literária, pela história da literatura”, ressentindo- 108 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 se, no entanto, da desvinculação, à época, dos “campos de investigação”: “eleger a história era, de certo modo, abandonar o interesse pelo espectador, pelo leitor, pelas obras literárias, senão seguir outro caminho no âmbito intelectual: o caminho da história cultural serial, quantitativa” (Chartier, 1994, p. 134). Chartier afirma depois que “hoje em dia” – ele fala, como já foi referido, em 1994 – é possível criar o vínculo necessário entre o que chama de “crítica textual”, relacionada ao estudo das “obras maiores de um tempo”, e a história do livro e da leitura. É a partir de então que a entrevistadora Leonor Arfuch o força a tratar mais diretamente da “coincidência” entre os campos dos estudos literários e da história, numa perspectiva “semiótico-antropológica de cultura”, perguntando ainda quais seriam os autores que marcam a mudança para esse tipo de articulação. Respondendo que, no momento, “os debates intelectuais mais interessantes atravessam o campo da crítica literária”, o autor passa a fazer um apanhado da situação desse campo nos Estados Unidos, onde, segundo ele, aquele tipo de abordagem multidisciplinar se expressa de maneira “mais pura”. Para Chartier, ao lado de uma tradição que se apresenta como francesa, com referenciais a Barthes, Foucault, Lacan e à crítica feminista, e que se caracteriza por uma perspectiva “lingüística, semiótica, estruturalista”, na qual não há lugar para as formas de produção, transmissão e recepção de textos1, existem três tendências na direção de uma re-historicização do objeto literário. A primeira é representada pelo new historicism: [...] que trabalha sobre os textos da Inglaterra shakespeareana e que intenta vincular a obra de arte com os elementos, discursos e práticas que constituem o mundo ordinário, as matrizes para a criação estética e os elementos que dão sentido à obra de arte para o leitor e o espectador [Chartier, 1994, p. 135]2. 1. 2. Segundo o autor, o tipo de crítica que se apresenta como francesa nos Estados Unidos nunca foi, na França, um campo dominante, e sim marginal, pois lá dominava a tradição de “uma história literária muito clássica”. A citação foi aqui traduzida por mim. entre a história cultural e a teoria literária 109 Outro caminho apontado por Chartier é o do ponto de interrogação sobre o autor: os questionamentos a respeito do processo de constituição da autoria e do copyright e suas implicações no regime de circulação e compreensão dos textos. Campo prolífico, que também se constitui numa maneira de historicizar o objeto literário, um caso nacional desse tipo de abordagem pode ser verificado no capítulo “Direitos e esquerdos autorais”, incluído no livro Formação da leitura no Brasil (1996), de Marisa Lajolo e Regina Zilberman, no qual as autoras fazem uma narrativa bem documentada sobre as relações entre Machado de Assis e Garnier, seu editor. A terceira tendência é identificada pelas abordagens que têm sua atenção voltada para os lugares de produção, as formas de transmissão e as práticas de apropriação das obras. De acordo com o autor, tal tendência se alia à tradição da bibliography, à americana ou à inglesa, assim como ao que chama de “a maneira dos Annales”. Chartier arremata a questão afirmando que há espaços intelectuais – como no caso das três tendências em questão – nos quais as disciplinas já não mais existem de forma tão forte quanto antes, isto é, se ainda são compartimentadas do ponto de vista acadêmico, pela própria organização das universidades em departamentos, do ponto de vista intelectual, há sempre uma mescla de tradições nacionais e disciplinares: Este campo, que se define entre a crítica literária, a história do livro, quer dizer, uma história de todas as formas de transmissão dos textos, e a história da leitura entendida como história de uma prática, história de uma produção de sentido, é um campo que abre um grande debate sobre a maneira de entender as obras literárias, mas que não tem uma identidade disciplinar particular. A gente pode vir da história literária, da bibliografia, em seu sentido amplo, ou da história cultural [Chartier, 1994, p. 135]. 3. Chartier e a estética da recepção O diferencial de Chartier em relação à história do livro de abordagem quantitativa produzida na década de 1960 se dá pelo movimento de 110 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 sua atenção, que se desloca da enumeração dos livros – impressos ou possuídos – para a leitura, ou, mais amplamente, para os manuseios, as apropriações e práticas culturais em torno dos materiais impressos. A ênfase se volta, dessa forma, para a recepção dos textos, sejam quais forem seus suportes materiais. Ora, qualquer um que tenha tido contato com as pesquisas e publicações no campo dos estudos literários, nas últimas décadas, no Brasil ou no exterior, sabe que essa atenção concentrada no leitor ou receptor da obra é um dos pressupostos fundamentais da chamada estética da recepção, de feição alemã, ou das mais recentes teorias do reader’s response norte-americanas. Com efeito, a publicação de A história da literatura como provocação à teoria literária (1994)3, de Hans Robert Jauss, trouxe o tema da historiografia de volta ao debate literário na década de 1970, estabelecendo os pressupostos para a reescrita da história literária sob a perspectiva da estética da recepção4. A historicidade do texto literário, para o teórico alemão, só poderia ser detectada levando-se em conta o “horizonte de expectativa” do leitor, que significa o conhecimento prévio em relação a gênero, forma ou temática de obras já conhecidas. Seu valor estético, dessa forma, dependeria da distância entre a experiência já vivenciada da leitura e a “mudança de horizonte” representada pela obra (Jauss, 1994). As teses do seu pequeno livro se tornaram emblemáticas da crise dos estudos literários no final dos anos de 1960, ainda envolvidos com uma tradição imanentista, ou estruturalista, que desprezava eloqüentemente todas as questões relativas ao contexto da obra. Chartier, em várias ocasiões, parece reconhecer o débito que seu modelo de história da leitura tem em relação às contribuições da estética da recepção, representada não só por Jauss, como também por W. Iser e S. Fish – autores que são igualmente citados em nota de rodapé no seu artigo “Do livro à leitura” (2001) –, mas nunca deixa de ressaltar 3. 4. O livro nasceu de uma palestra, na abertura do semestre letivo de 1967 da Universidade de Constança, intitulada “O que é e com que fim se estuda história da literatura?”. Sobre o advento da história da literatura, ver Roberto Acízelo de Souza, em Formação da teoria da literatura (1987). entre a história cultural e a teoria literária 111 suas limitações: “reconhecer como um trabalho tipográfico inscreve no impresso a leitura que o editor-livreiro supõe para o seu público é, de fato, reencontrar a inspiração da estética da recepção, mas deslocando e aumentando seu objeto” (Chartier, 2001, p. 99). Para o autor, há dois problemas com a estética da recepção. O primeiro, fundamental, é que ela ignora os tão preciosos e significativos dispositivos tipográficos, que também concorrem para a construção da significação na recepção dos textos. Além disso, segundo o autor, são eles que possibilitam uma melhor compreensão do “comércio perpétuo” entre os textos clássicos, ou “imóveis”, e os leitores em mutação, pois traduzem, no impresso, as mudanças do horizonte de expectativa do público, uma vez que podem propor significações outras além daquelas pretendidas pelo autor: Há aí uma grave lacuna para as épocas antigas, entre os séculos XVI e XVIII, uma vez que a maioria dos textos impressos, literários ou não, não são novidades, mas reedições propostas para horizontes de expectativa de leitores muito distantes cronologicamente e, no caso das impressões de larga difusão, socialmente, das sinalizações e referências inscritas pelo autor em seu texto [Chartier, 2001, p. 99]. O outro problema, segundo Chartier, é o fato de a estética da recepção hesitar entre duas perspectivas: uma que considera que os dispositivos textuais impõem ao leitor uma posição relativa à obra, “uma maneira de ler e compreender”, e outra que reconhece a pluralidade de leituras possíveis de um mesmo texto, em função das características particulares de cada leitor. Na primeira perspectiva, o horizonte de expectativa é pensado como sendo unitário, uma “experiência partilhada”, e na segunda, as diferentes condições de apropriação do texto, que são sociais, repercutem fora do alcance de um enfoque concentrado sobre o leitor na obra5. Tal ambigüidade, para Chartier, seria reduzida recorrendo-se a uma melhor análise dos dispositivos tipográficos: 5. Uma crítica semelhante da estética da recepção, porém mais atenta ao seu caráter “ideológico”, pode ser encontrada em Eagleton (1983). 112 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Uma atenção dada aos dispositivos tipográficos permite, talvez, reduzir essa ambigüidade, já que inscrevem no objeto tipográfico leituras socialmente diferenciadas (ou, ao menos, as representações feitas pelos fabricantes de impressos). É necessário, portanto, tentar sinalizar o social no objeto impresso, controlando sempre as hipóteses construídas a partir da análise das formas através do que, algumas vezes, leitores populares contaram de sua maneira de ler [Chartier, 2001, p. 100]. Em outros artigos e entrevistas, Chartier volta a tocar no tema, expressando o modo como vê suas limitações6, mas em boa parte de sua obra notamos a apropriação que faz de certos termos ou categorias da estética da recepção, que sem dúvida o auxiliam em suas teorizações sobre as práticas de leitura, principalmente o conceito de “horizonte de expectativa”, ou “mudança de horizonte”, que utiliza com certa freqüência, conquanto tais conceitos já tenham sido acolhidos pelo “uso comum”, como diz o próprio Jauss, num artigo de 1987, publicado no jornal alemão Frankfurter Allgemeine, comentando a repercussão da expressão “horizonte de expectativa”, já traduzida para dezessete línguas: “ao âmbito do modismo pertence o fato de o conceito ‘horizonte de expectativa’ ter sido já acolhido pelo uso comum da língua (chegando até a reportagem futebolística: ‘o horizonte de expectativa dos torcedores era grande’)” (Jauss, 1994, pp. 75-76). 4. História cultural, teoria literária e história da educação Uma ocasião igualmente ilustrativa das preocupações de Chartier com os estudos literários é a série de entrevistas, ou de “jornadas de conversação”, intitulada Cultura escrita, literatura e história, editada por Alberto Cue e publicada no México em 1999. As “conversações”, 6. Um outro exemplo pode ser representado pelo artigo “O mundo como representação”, publicado originalmente na revista Annales em 1989 (Chartier, 1991, p. 182). entre a história cultural e a teoria literária 113 divididas em cinco jornadas, foram travadas com Carlos Aguirre Anaya, Jesús Anaya Rosique, Daniel Goldin e Antonio Saborit. Na terceira jornada, editada com o título “Literatura e Leitura”, Chartier mais uma vez discorre sobre seus conhecimentos no campo da teoria literária, dessa vez tratando, num tópico especial, das complexas relações entre o historiador e a literatura, momento em que tem oportunidade de apontar não só o “retorno da história sobre si mesma”, isto é, a consciência de sua dimensão literária, de discurso – no que o autor reavalia, indiretamente, algumas questões postas pelo norteamericano Hayden White7, estabelecendo elementos para uma especificidade dos estudos históricos –, mas também a controvertida questão da literatura como objeto de investigação histórica, no que nos alerta para “não destruir a condição literária das obras literárias” (Chartier, 2000, pp. 125-126). Chartier exemplifica suas explicações com dois casos que, ao lado de Borges, estão sempre presentes no seu repertório de citações literárias: Molière e Shakespeare. É a partir desses autores que comenta a multiplicidade das formas de representação dos textos teatrais, salientando a necessidade da diferenciação de métodos e abordagens de acordo com a forma de representação8. O entrevistado também comenta o perigo do anacronismo lingüístico da crítica literária, valendo-se do new historicism de Greenblat para defender o conceito de “negociação”, em substituição a “reflexos etc.” (Chartier, 2000, pp. 129-130). Mas é no tópico intitulado “Literatura e sociedade” que pela primeira vez notamos o modo como o autor se reconcilia com as chamadas correntes estruturalistas da crítica literária, fazendo-nos ver a sua importância para o conceito e definição dos cânones literários, assim como o papel preponderante da escola no estabelecimento e fixação desses cânones. Filiando o desconstrutivismo ao new criticism inglês e norte-americano, assim como à nouvelle critique francesa, o autor destaca o descaso dessa perspectiva para com as condições materiais de produção e 7. 8. Em “Teoria literária e escrita da história” (1994). No livro Do palco à página (2002), o autor trata mais detalhadamente da questão. 114 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 recepção das obras, em vista de sua concentração nos mecanismos textuais. No entanto, não deixa de observar a utilidade da idéia de “instabilidade de sentido” dos textos no processo de construção dos cânones, uma vez que é uma maneira convincente de explicar a permanência ou atualidade de certas obras consideradas clássicas, que pela sua flexibilidade, ou peculiaridade de construção frasal, são ainda hoje lidas, e “reapropriadas”, em detrimento de outras que se tornaram datadas. Para ele, a escola seria uma instituição de suma importância em tal processo, uma vez que reforça o estabelecimento e fixação de determinadas obras ou autores como sendo canônicos, através de manuais de leitura ou de livros didáticos de literatura. Assim, propõe um campo fértil de investigação que intenta verificar os mecanismos através dos quais, em períodos ou épocas diferentes, determinadas obras ou autores se mantiveram na condição de clássicos e outros não, nos manuais didáticos de leitura ou literatura. Para uma tal investigação, seria necessário levar em conta não só os dispositivos tipográficos, assim como os demais agentes externos, no processo de construção de significação dos textos, mas também seus agentes internos, ou seja, seus dispositivos textuais, através dos quais a obra pode ser relida e reinterpretada, e assim reapropriada, a despeito de sua distância temporal ou das intenções do seu autor ou editor: Es una cuestión central que tal vez ayude a abrir este tipo de investigación en torno a las condiciones sociohistóricas sin estabelecer un diálogo imediato entre el texto inestable y el crítico deconstruccionista, cuando, naturalmente, entre ambos existen todos los mecanismos, los agentes y las mediaciones de que ya hemos hablado. Pero es tabién una manera de aceptar una visión que evite un sociologismo reductor del proceso de construcción del canon, pues dicha visión remite a la estructura interna de las obras y al funcionamento del lenguaje, y no unicamente a los dispositivos externos como la escuela, la crítica literaria, el mercado del libro, etc, que han operado para estabelecer esta selección canónica [Chartier, 2000, p. 150]. Na conclusão do já bastante conhecido artigo “História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa”, publicado origi- entre a história cultural e a teoria literária 115 nalmente em 1988, André Chervel já havia tratado da questão, situando-a no plano dos efeitos da penetração das disciplinas escolares “no interior do corpo social”, isto é, de sua intervenção no que chama de “história cultural da sociedade” (Chervel, 1990, p. 220). Para o autor, embora tenham como aspecto funcional a preparação para a aculturação dos alunos conforme certas finalidades, as disciplinas, quando consideradas “em si mesmas”, tornam-se entidades culturais que transpõem os muros da escola, penetrando na sociedade e muitas vezes exercendo “pressão” sobre a “cultura de seu tempo”: É quase certo que a aprendizagem universitária ou escolar da língua escrita, desde os manuais de versão do Primeiro Império até às práticas da redação e da dissertação literária surgidas sob a Terceira República, tenham deixado sobre o uso escrito do francês e sobre a própria língua uma marca durável, talvez mesmo indelével (Chervel, 1990, p. 221). É a partir de então que Chervel passa a considerar o caso específico do ensino de literatura, analisando “a interpenetração entre a cultura escolar e a atividade literária”. Em apenas um parágrafo, o autor coloca a importância do papel da escola, através de programas e compêndios didáticos, na construção do cânone literário de várias épocas: Resta um último ponto, cuja importância, salvo algumas exceções, jamais preocupou os historiadores da literatura: a interpenetração entre a cultura escolar e a atividade literária. Por que Easther e Athalie são as únicas obras dramáticas que permaneceram constantemente no programa das classes durante todo o século XIX? É por que são de Racine, ou por que foram destinadas a uma exploração escolar? É por acaso que a primeira grande epopéia francesa, la Henriade, composta por um antigo aluno dos jesuítas para rivalizar com Virgílio, entrou desde o século XVIII nos programas escolares, e fez, nos colégios, o essencial de sua carreira literária, até 1835? Esta obra não remonta, antes, à história do ensino, mais do que à história da literatura? [Chervel, 1990, p. 221]9. 9. As exceções referidas por Chervel são Henri Peyre, franco-americano que, ao inventariar os trabalhos indispensáveis para uma história da literatura, coloca em 116 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Algum tempo depois, tratando do ensino de humanidades, Chervel, em parceria com Marie-Madeleine Compère (1999, pp. 156-157), iria associar o processo de constituição de um cânone de autores franceses – na virada do século XVII para o XVIII, período em que, segundo os autores, o francês, como disciplina escolar, começa sua “escalada de poder” – à sobrevivência das “humanidades clássicas” nas escolas francesas. Ao comentar o advento das “humanidades modernas”, objeto de intenso debate pedagógico no final do século XIX, afirmam que elas reivindicam o mesmo estatuto das clássicas, produzindo uma “cultura geral” através do ensino das línguas e literaturas: Contenta-se em substituir as línguas antigas pelas línguas vivas estrangeiras e em oferecer aos alunos, no lugar de Homero, Demóstenes, Virgílio e Cícero, as novas figuras tutelares de Shakespeare, Goëthe, Dante e Cervantes. Sobre o modelo das línguas antigas, que funciona em dupla no ensino clássico, tende-se igualmente a privilegiar um dispositivo em que duas línguas vivas, inglês e alemão, por exemplo, viriam juntas [Chervel & Compère, 1999, p. 166]. Em texto mais recente, e de divulgação dos trabalhos realizados no Serviço de História da Educação do Instituto Nacional de Pesquisa Pedagógica de Paris, órgão do qual Chervel é também pesquisador, Jean Hébrard considera em vários momentos o tema em questão, mapeando o “forte desenvolvimento” da história das disciplinas escolares na França. Dividindo o “novo campo” em três direções: história das ciências, história da educação e história cultural, o autor localiza na última vertente um setor privilegiado de investigação: o que chama de “história dos cânones escolares”, “um meio proveitoso para abordar a difusão das práticas de leitura primeiro lugar a “história dos estudos”, em L’Influence des littératures antiques sur la litterature Française moderne. État des travaux, de 1941, e o padre François de Dainville, historiador dos colégios jesuítas, que em texto de 1976, intitulado “La litterature française du XVIIIº siècle dans l’énseignement secondaire em France au XIX siècle: le Manuel de Noël et La Place, 1804-1862”, afirma que “uma história literária séria deveria apoiar-se sobre uma história do ensino” (pp. 183; 223-224). entre a história cultural e a teoria literária 117 da elite”10. Nessa mesma linha, são citados trabalhos sobre a “história das modalidades de explicação de textos” e sobre as técnicas retóricas e dos lugares-comuns (Hébrard, 2000, pp. 37-38). Ao comentar as leituras laicas da escola sob a Terceira República, Hébrard identifica três modelos de manuais de leitura: o “livro de leituras” para o ensino católico, com lições de moral, higiene etc.; o livro de relatos edificantes e da vida cotidiana dos escolares, em prosa ou em verso, cujo grande exemplo é A volta da França por duas crianças, “best-seller absoluto” com três milhões de exemplares vendidos entre 1877 e 1887; e os livros de leitura literária. Sobre este último, escreve o autor: No entanto, um terceiro modelo surgiu na última década do século, quando tentou aproximar a cultura primária à cultura do secundário. O livro de leitura, aliviado dos textos informativos (a aprender), enriqueceu-se de textos literários (a entender). A referência partilhada não era a do “amor sagrado da pátria”, a do patrimônio cultural, da língua “materna”, tal como forjada por séculos de escrita [Hébrard, 2000, p. 63]. Aqui, segundo o autor, se encontraria o momento inicial do processo de inclusão da literatura nacional, articulada com o ensino de (e em) francês, nas escolas secundárias do país, assim como no ensino das meninas, pela via da leitura expressiva, ou em voz alta. A literatura, assim como a pátria, se tornava a religião da escola republicana, fazendo nascer uma nova disciplina escolar: o francês, que ao lado dos elementos da língua (ortografia e gramática), passava a abranger um cânone de textos-modelo em que forma e conteúdo jamais poderiam ser dissociados: A literatura ofereceria então, às jovens gerações, registros múltiplos de identificação e de reflexão, refletiria todas as faces da história literária nacional, 10. Hébrard cita “Les auteurs français, latins et grecs au programme de l’enseignement secondaire de 1800 à nos jours”, texto de Chervel de 1986, para justificar sua afirmação. 118 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 sem ultrapassar os limites que exige a laicidade. A ciência podia instruir as inteligências, exercitar a razão e fazer acreditar no progresso, mas não podia formar, ao mesmo tempo, a sensibilidade e a consciência moral [Hébrard, 2000, p. 70]. 5. O caso brasileiro No Brasil, o pioneiro incontestável no trato da relação entre literatura e ensino – no seu caso, entre história literária e ensino da literatura – é Otto Maria Carpeaux, na “Introdução” à sua História da Literatura Ocidental (1959-64). Para o autor, o interesse em organizar os fatos literários do passado11 em função do ensino teria começado com Marcus Fabius Quintilianus (c.35-95), num momento em que a cultura grecolatina, representada pelos antigos manuscritos, se via ameaçada pela destruição dos bárbaros (Carpeaux, 1959, p. 16). Quintiliano havia inserido no Décimo Livro da sua Institutio Oratoria “uma apreciação sumária dos autores gregos e latinos, menos como resumo bibliográfico do que como esboço de uma ‘bibliografia mínima’ do aluno de retórica”, iniciativa que acabou por fixar para a posteridade o cânone definitivo da literatura clássica: Até hoje [o autor fala em 1959], os programas de letras clássicas para as nossas escolas secundárias organizam-se conforme os conselhos daquele pro- 11. Carpeaux não se preocupa em considerar a constituição histórica do conceito de literatura, cuja noção, em sentido moderno, data, pelo menos na França, e segundo Chervel e Compère, do século XVIII: “uma imensa reviravolta de significados intervém nesse campo lexical, logo após a Idade Clássica. As letras, que designavam o conjunto do saber, incluindo também as ciências, têm de limitar seu sentido, por volta de 1720, às obras literárias. As belas-letras, que englobavam anteriormente até a Filosofia, evoluem igualmente em torno de 1750, em uma direção análoga. Quanto à literatura que, para Fontenelle (prefácio da História da Academia das Ciências, 1699), ainda compreendia todas as produções do espírito, inclusive as matemáticas, fixa-se no uso moderno, no decorrer da segunda metade do século” (1999, p. 157). entre a história cultural e a teoria literária 119 fessor romano; e nós outros, falando da trindade “Ésquilo, Sófocles e Eurípedes”, ou do binômio “Virgílio e Horácio”, mal nos lembramos que a bibliografia de Quintiliano nos rege como um código milenar e imutável [Carpeaux, 1959, p. 16]. Da mesma forma, quando pensamos nas primeiras histórias da literatura organizadas conforme o critério cronológico12, resultantes dos vários projetos de afirmação da identidade nacional do século XIX, podemos associá-las ao processo de autonomia do ensino da literatura em relação ao ensino de retórica, bem como à institucionalização do ensino das línguas e literaturas nacionais (Oliveira, 1999). Dentre as produções mais recentes, os primeiros passos nesse sentido foram dados por alguns trabalhos de teoria e história literária, muito embora estes ainda não apresentem vínculos ou diálogos – pelo menos de modo explícito – com a história cultural, tal como sugere Chartier, ou mesmo com a história da educação de feição cultural, como a linha de estudos no campo da história das disciplinas escolares que se concentra na “história dos cânones escolares”, tal como propõe Chervel ou Hébrard. Um exemplo desse tipo de iniciativa é O império da eloqüência, do professor Roberto Acízelo de Souza, excelente e pioneiro estudo que traz não só um levantamento do ensino de retórica e poética no Brasil do século XIX, reproduzindo programas e capas de manuais, mas também uma análise dos livros e de seus autores/professores, bem como um capítulo dedicado à “formação retórica e seus efeitos” na cultura e no “caráter nacional” brasileiro (Souza, 1999). Outro exemplo pode ser representado pela tese de doutorado de Márcia Razzini, defendida em 2000 no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Nela, a autora faz um histórico do ensino de português e de literatura, recuperando 12. Para Carpeaux, os precursores teriam sido o inglês Thomas Warton, cuja History of English poetry from the close of the eleventh century to the commencement of the eighteenth century (1774-81) é a primeira obra que trata a história literária como história política, e o alemão Johann Gottfried Herder, cujas Idéias para a filosofia da humanidade (1784-91) sugerem a noção de uma história literária autônoma (pp. 20-21). 120 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 todos os programas de ensino e a carga horária de todas as disciplinas do curso secundário. Apesar de não se deter exclusivamente nos chamados agentes externos do processo de produção e recepção do texto – muito embora incorpore em sua narrativa as reproduções das capas das várias edições com que trabalha – busca verificar a importância das edições sucessivas da Antologia Nacional (1895), uma das compilações literárias mais usadas pelos brasileiros que passaram pela escola secundária, organizada por Fausto Barreto e Carlos de Laet, na consolidação do cânone da literatura nacional13. São trabalhos que, muito embora não correspondam exatamente ao modelo de abordagem sugerido por Chartier, têm a importância fundamental de abrir direções possíveis de pesquisas que visam a harmonizar as contribuições da história cultural com alguns métodos oriundos da teoria literária, revelando-nos não só uma maneira nova de observar as práticas relacionadas à difusão e recepção de textos, canônicos ou não, na escola, mas também uma perspectiva multidisciplinar de se trabalhar com história da educação, principalmente no que concerne à investigação dos processos e práticas que envolvem a produção, difusão e recepção dos livros didáticos de leitura ou literatura, na escola e fora dela. 6. Conclusão O envolvimento de Chartier com os estudos literários, ao que parece, é muito mais intenso do que se costuma comentar, constituindo aqueles um tema de interesse do autor desde o início de sua trajetória intelectual, como ele mesmo fez questão de frisar na entrevista da revista 13. O título da tese é O espelho da nação: a antologia nacional e o ensino de português e de literatura (1838-1971). Operação semelhante, mas voltada para a literatura inglesa no Brasil, foi realizada em minha dissertação de mestrado, que tem como título A historiografia brasileira da literatura inglesa: uma história do ensino de inglês no Brasil (1809-1951). Ambos os trabalhos foram orientados por Marisa Lajolo e estão disponíveis no site do projeto Memória de Leitura, coordenado por Marisa Lajolo e Márcia Abreu (www.unicamp.br/iel/memoria). entre a história cultural e a teoria literária 121 Entrepasados. É também patente a sua consciência do caráter multidisciplinar de qualquer abordagem que se paute pelos pressupostos da história cultural, tal como a concebe. Os diálogos travados entre a história cultural e a história da educação deram vários resultados ao longo da década de 1990, sendo possível traçar um corpus de obras e autores que se dedicam ao amplo tema da cultura escolar (Viñao Frago, 1998; Julia, 2001), relacionado não só à história das disciplinas escolares, mas também ao currículo, à infância, às questões de gênero, à alfabetização, às relações entre a cultura oral e escrita, aos castigos e punições, à arquitetura escolar, dentre outros temas (Lopes & Galvão, 2001). Já os vínculos entre a história cultural e os estudos literários, pelo menos no Brasil, são tímidos ainda, isso para não falar das tentativas de aproximação entre aqueles estudos e a história da educação de feição cultural. No entanto, os mais recentes textos de Chartier, inspirados, como ele mesmo afirma, pelo new historicism norte-americano, corrente de crítica literária que, no seu entender, re-historiciza o objeto literário, se articulam entre a história cultural e a história literária, concentrando-se nos processos de “re-apropriação”, pelas companhias de teatro, de textos clássicos da dramaturgia francesa (Molière) e inglesa (Shakespeare), assim como nas complexas relações entre oralidade e escrita. Seus diálogos com determinadas teorias literárias, como a estética da recepção e o desconstrutivismo, ou pós-estruturalismo, nos mostra que, se por um lado ele pode rechaçar certos aspectos que considera limitadores em tais modelos de abordagem, por outro pode se apropriar de muitos de seus elementos e conceitos, acessíveis e úteis para o tipo de estudo ou pesquisa que desenvolve ou sugere que sejam desenvolvidas. Como observa o autor numa de suas entrevistas, há espaços intelectuais nos quais as disciplinas já não mais existem de forma tão forte quanto antes, precisando do auxílio de outros campos numa relação recíproca de trocas e empréstimos, para romper certas limitações e fomentar perspectivas inusitadas de velhos objetos. De fato. É preciso haver um maior diálogo entre setores tão compartimentados das ciências humanas, principalmente quando se percebe que a tradicional con- 122 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 figuração do saber acadêmico já não é suficiente para a compreensão da difícil “teia simbólica tecida pelas sociedades humanas”14. Referências bibliográficas BURKE, Peter (1997). A Escola dos Analles (1929-1989): a revolução francesa da historiografia. Tradução: Nilo Odalia. 6. ed. São Paulo: EDUNESP. CASTANHO, Sérgio (2001). “História cultural e história da educação: diversidade disciplinar ou simples especialização?”. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS “HISTÓRIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO BRASIL”, 5. Anais... Campinas: HISTEDBR, CD-ROM. CHARTIER, Roger (1990). A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel. . (1991). “O mundo como representação”. Tradução: Andréa Daher e Zenir Campos Reis. Estudos Avançados, São Paulo, vol. 5, n. 11, pp. 173-191. . (1994). “Historia y praticas culturais”. Entrepasados, Buenos Aires, ano IV, n. 6, pp. 133-148. . (2000). Cultura escrita, literatura e história. 2. ed. México: Fondo de Cultura Economica. . (2001). “Do livro à leitura”. In: CHARTIER, Roger (org.). Práticas da leitura. Tradução: Cristiane Nascimento. São Paulo: Estação Liberdade. . (2002). Do palco à página: publicar teatro e ler romances na época moderna – séculos XVI-XVIII. Tradução: Bruno Feitler. Rio de Janeiro: Casa da Palavra. CHERVEL, André (1990). “História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa”. Tradução: Guacira Lopes Louro. Teoria & Educação, Porto Alegre, n. 2, pp. 177-229. 14. Expressão de Sérgio Castanho, em texto de 2001, que trata das relações entre história cultural e história da educação. entre a história cultural e a teoria literária 123 CHERVEL, André & COMPÈRE, Marie-Madeleine (1999). “As humanidades no ensino”. Tradução: Circe Maria Fernandes Bittencourt. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 25, n. 2, pp. 149-170. EAGLETON, Terry (1983). “A ascensão do inglês”. In: Teoria da literatura: uma introdução. Tradução: Waltensir Dutra. São Paulo: Martins Fontes. HÉBRARD, Jean (2001). “Três figuras de jovens leitores: alfabetização e escolarização do ponto de vista da história cultural”. Tradução: Christian Pierre Kasper. Campinas: Mercado de Letras / Associação de Leitura do Brasil; São Paulo: FAPESP. HUNT, Lynn (2001). A nova história cultural. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes. JAUSS, Hans Robert (1994). A história da literatura como provocação à teoria literária. Tradução: Sérgio Tellarolli. São Paulo: Ática. JULIA, Dominique (2001). “A cultura escolar como objeto histórico”. Tradução: Gizele de Souza. Revista Brasileira de História da Educação, Campinas: Autores Associados, n. 1, pp. 9-43. LAJOLO, Marisa & ZILBERMAN, Regina (1996). A formação da leitura no Brasil. São Paulo: Ática. LOPES, Eliane Marta Teixeira & GALVÃO, Ana Maria de Oliveira (2001). História da Educação. Rio de Janeiro: DP&A. OLIVEIRA, Luiz Eduardo Meneses de (1999). A historiografia brasileira da literatura inglesa: uma história do ensino de inglês no Brasil (1809-1951). Dissertação (Mestrado) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas. Disponível em: <http://www.unicamp.br/iel/memoria/Teses/ index.htm>. RAZZINI, Márcia de Paula Gregorio (2000). O espelho da nação: a Antologia Nacional e o ensino de português e de literatura (1838-1971). Tese (Doutorado) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas. Disponível em: <http://www.unicamp.br/iel/memoria/Teses/index.htm>. SOUZA, Roberto Acízelo (1987). A formação da teoria da literatura: inventário de pendências e protocolo de intenções. Niterói: Universidade Federal Fluminense / EDUFF. . (1999). O império da eloqüência: retórica e poética no Brasil oitocentista. Rio de Janeiro: EDUERJ / EDUFF. 124 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 VIÑAO FRAGO, Antonio (1998). “Por una historia de la cultura scolar: enfoques, cuestiones, fuentes”. Culturas y Civilaciones. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Cientifico da Universidade de Valladolid. WHITE, Hayden (1994). “Teoria literária e escrita da história”. Tradução: Dora Rocha. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 7, n. 13, pp. 21-48. Entre biografias e autobiografias pedagógicas Os diários de infância* Egle Becchi (Universidade de Pavia/Itália) Tradução: Gizele de Souza (UFPR) e Revisão Técnica: Luiz Ernani Fritoli (UFPR)** Uma primeira versão deste ensaio aparece como capítulo intitulado “Diários de Infância: proposta para a organização de um arquivo” em E. Becchi e A. Semeraro (orgs.), Arquivos de infância. Para uma historiografia da primeira infância (Milão, La Nuova Italia, 2001a, pp. 289-310). Para a redação do presente, utilizei ainda um outro um ensaio em processo de impressão na revista Medicina e Storia, intitulado “Corpos infantis e novas paternidades: inícios da pediatria moderna”. BIOGRAFIA; AUTOBIOGRAFIA; INFÂNCIA; DIÁRIO. A first version of this essay appears as a chapter with the title “Diari d’infanzia: proposta per l’organizzazione di un archivio”, in E. Becchi and A. Semeraro (eds.), Archivi d’infanzia. Per una storiografia della prima età (Milano, La Nuova Italia, 2001a, pp. 289-310). For the writing of this essay, I recurred also to an essay to be published on Medicina e Storia, under the title “Corpi infantili e nuove paternità: inizi della pediatria moderna”. BIOGRAPHY; AUTOBIOGRAPHY; CHILDHOOD; DIARY. * Uma primeira versão deste ensaio, apareceu como capítulo intitulado “Diari d’infanzia: proposta per l’organizzazione di un archivio” em E. Becchi, A. Semeraro (a cura di) Archivi d’infanzia. Per una storiografia della prima età. Milano, La Nuova Italia, 2001a, pp. 289-310. Para a redação do presente artigo me vali também de um ensaio (no prelo), na revista Medicina e Storia, intitulado “Corpi infantili e nuove paternità: inizi della pediatria moderna”. ** Gizele de Souza, professora do setor de educação da Universidade Federal do Paraná. Luiz Ernani Fritoli, professor de língua e literatura italiana do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFPR. 126 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Um corpus de 78 diários de crianças, recolhidos até agora – a lista está no apêndice1 introduz em um teatro de sujeitos que moram em lugares, realizam ações, convivem e usam instrumentos do cotidiano. Uma série de cenários delineados en gros, ou detalhados nos mínimos particulares, abre-se agora, depois de séculos, ao leitor que assiste a uma série de atos teatrais, onde crianças, mesmo as muito pequenas, crescem e são vistas, guiadas e descritas em seu crescimento, por adultos atentos e desejosos de manter as memórias desses acontecimentos. O menino do qual se escreve é sempre colocado em um espaço, geralmente organizado a seu modo, e vive entre outros – meninos, pais, professores, terapeutas, empregados – que constituem um microcosmo, onde a ordem social se essencializa com vistas do desenvolvimento que se quer que ele siga. Pequenos príncipes (Louis XIII da França, menino e rei muito precoce, como o descreve em seu Journal o médico Heroard; Sophie, para cuja educação o ansioso pai, futuro soberano de Wurtemberg, pede conselhos a Rousseau) e nobres em potencial, cujo amadurecimento e educação são descritos de modo minucioso e afetuoso (Teresa Verri, criada à la Rousseau e, também à maneira genebrina, os pequenos Órleans como os descreve seu mentor Bernard de Bonnard) estão no centro desses diários. Mas também crianças menos excepcionais socialmente – pequenos burgueses como os filhos de doutos iluminados alemães dos quais a literatura pedagógica alemã do final do século XVIII nos dá alguns exemplos (são Tiedemann, Winterfeld, Dillenius, Mauchart), e sobretudo criancinhas dos nossos tempos, para as quais mamães e papais escreveram crônicas, preencheram álbuns, tiraram, recolheram e organizaram fotos, fizeram filmagens (cito ao fim deste ensaio) constituem a maior parte dessa galeria de retratos que ainda deve ser registrada, organizada, enriquecida, capital precioso para uma história da infância, até aqui inexplorado e longe de ser completo2. 1. 2. Neste ensaio, analisei de maneira detalhada os diários listados no Apêndice contidos na lista A. Sobre aqueles da lista B, contidos em pré-estampas, está já em preparação um segundo ensaio. Uma primeira contribuição e estímulo a pesquisas mais precisas são os dois textos de L. Trisciuzzi, La scoperta dell’infanzia, Florença, Le Monnier, 1976, e Il mito entre biografias e autobiografias pedagógicas 127 Uma pesquisa, portanto, que interessa os historiadores da primeira infância, mas que desde agora propõe problemas de classificação, porque o material recolhido não é homogêneo, pede critérios de leitura articulados a dúcteis e sobretudo suscita questões teóricas, narratológicas e historiográficas. 1. Sujeitos e escrituras Um primeiro movimento deve dar conta da locução diários de infância que aparece no título e com a qual entendo textos de adultos que escrevem sobre crianças seguindo um fio cronológico prevalentemente ligado ao desenvolvimento da criança que constitui o objeto da escritura. O genitivo de em “diários de infância” é portanto, objetivo, ou seja, indica que em tais obras se fala de infância, e não é uma criança que fala de si, nem um adulto que fala da sua primeira infância. O sujeito narrador é quase sempre a pessoa grande, mas, com freqüência palavras – referidas literalmente ou de modo indireto –, algumas vezes páginas escritas – diários, cartas, contos ou textos –, outras vezes rabiscos e desenhos da criança3 são parte constituinte da obra, e nesses textos – não raro longos 3. dell’infanzia, Napoli, Liguori, 1990. Por minha conta, procurei comentar não apenas alguns diários já reeditados e introduzidos por Trisciuzzi (Tiedemann, Taine, Ferri), mas de descobrir e ler outros, que indiquei na lista constante do Apêndice. Aventurei-me também nas primeiras considerações do conjunto, pelo qual remeto aos meus ensaios “Immagini di bambini e bambine nella primissima età: note per una Storia” em Infanzia, pp. 1-7, setembro 1997. “Diari d’infanzia” em L. Restuccia Scritta (a cura di), Il presente ricordato. Bambini, identità memoria nei servizi per l’infanzia e nella famiglia, Milão, Angili, 1998, pp. 80-89; “Storie di bambini o storie d’infanzia?”, em A. Semeraro (a cura di), Due secoli di educazione in Italia (XIX-XX), Scandicci, La Nuova Italia, 1998, pp. 3-19; “Scrivere di bambini con senso pedagogico”, em Encyclopaideia, 10 julho-dezembro 2001, pp. 41-54. É esse o caso do Journal de Héroard, que insere no seu diário muitas folhas com rabiscos, desenhos, depois frases escritas do pequeno Delfim e alguns diários da avó de Anna e Claudio, nos quais estão presentes também desenhos e páginas escritas dos netinhos. O último e artisticamente bom exemplo é o diário de Leone Pentich, ilustrado com desenhos do próprio Leone quando adolescente e jovem. 128 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 e de qualquer modo freqüentes – o récit resulta construído pela própria criança. Muitas vezes o pronome é um nós dual – do sujeito que escreve e do sujeito que constitui objeto da escritura – mas que ao mesmo tempo diz – e às vezes até escreve de si (um exemplo é o de Hugo Frank, que mantém, ele mesmo, um diário e os Tagebuecher de viagem). Pode-se portanto falar de textos mistos de biografia e de textos de diários de infância – e aqui o de tem valor subjetivo. Uma outra dimensão freqüente é que o adulto que escreve e a criança da qual se escreve vivem em uma estreita comunhão de lugares e situações, e que o “grande” tem uma sua competência – de tipo social, pedagógico, terapêutico – em relação à criança; é um pai, um preceptor, um médico ou todas essas coisas juntas. O não adulto, portanto, se inscreve em um projeto da pessoa madura que possui sobre ele não apenas um poder que lhe é conferido oficialmente ou em modo privado, mas que de qualquer modo autentica o seu fazer – além do seu dizer da criança – justamente escrevendo sobre estes. Ainda: a ordem do tempo é complexa. Mesmo se em alguns diários o autor constrói o seu texto quando os eventos já ocorreram há algum tempo (como fizeram Darwin e Frontali) e se vale de anotações feitas em momentos contemporâneos, mas muitos anos antes que as coisas aconteçam, freqüentemente ele os anota em tempo real e às vezes até os prevê, mesmo se fala detalhadamente ex post facto. Além disso, o tempo não é o mesmo de uma crônica, mas sim de etapas de uma vida que se desenrola diante dos olhos de um observador que a protocola, mas sobretudo a seleciona segundo esquemas que são decididos a priori. De fato, trata-se de um tempo que o adulto não só cadencia segundo princípios que ele privilegia – ligado a ideologias pessoais e culturais – mas que respondem – frequentemente em modo não declarado, mas não por isso menos forte – a situações existenciais do adulto que escreve: um caso extremo é, mais uma vez, aquele de Hermann Franck, cujo diário se conclui com a morte do filho, provável vítima de um ato de violência do próprio pai, que imediatamente se suicida. Sobre esses testemunhos gráficos da mão infantil remeto ao meu artigo “Storie con disegni” em Cadmo, VIII n. 24, pp. 83-90, dezembro 2000. entre biografias e autobiografias pedagógicas 129 Dessas dimensões de fundo são um vivaz corolário outros aspectos que aqui me limito a enumerar esquematicamente e dos quais aos poucos tentarei indicar os exemplos mais significativos. Freqüentemente, quem escreve dirige-se à criança de forma epistolar (é o caso de Verri em relação à sua pequena Teresa, e de Hermann Franck que se dirige ao filho chamando-o Meu caro Hugo) ou, de qualquer forma, convidando-o no perímetro e nas intenções da narração. Esse envolvimento que provavelmente é atribuível também à tradição epistolar que constitui, a meu ver, uma das matrizes culturais desse tipo de texto, responde também a intenções pedagógicas bastante freqüentes, motivo pelo qual os diários de infância são também documentos educativos para o uso da criança que é o protagonista, que deles deverá fazer uso ao longo da infância e quando virar adulto, para completar a sua educação e/ou formar, por sua vez a filhos. Não basta: a criança pode também servir-se desses diários como modelos para o exercício de escritura autobiográfica para os quais, no início de 1800, foi intensamente treinado4. Para além desse feixe de caracteres compartilhados, a uniformidade de tais textos se rompe e, mesmo sendo possíveis alguns agrupamentos, não se pode falar de todos com o mesmo título. Antes de mais nada, eles variam em relação aos sujeitos falantes. Freqüentemente se trata de pais, juntos mamãe e papai (William e Clara Stern, os Scupin, os Frontali, mamãe e papai de Hanna Arendt) onde, porém, não há sempre paridade, no sentido que um dos pais – especialmente a mãe – é aquele que recolhe e evoca o material, mas quem o organiza é o pai, o qual aparece no frontispício como único autor. Outras vezes é o pai sozinho (Wurtemberg, Pestalozzi, Verri, Tiedemann, Dillenius, Wirtenfeld, Mauchart, Franck, Schleicher, Darwin, Tommaseo, Ferri, Taine, Preyer, Rossi, il padre del piccolo Hans, Augusta, Frontali, Lichtner) que escreve o texto. No meu corpus a mãe é menos freqüente- 4. Vale para todos um pequeno volume sobre diários, editados em 1813, Anônimo, Ueber Tagebuecher zur befoerderung der Kenntnis und bildung des Herzens und Verstandes. Fuer die Jugend. Mit auserlesenen Beyspielen und Lehren beruehmter Maenner. Muenchen, Lentner, 1813, que tinha intenção de funcionar como guia à escritura de um diário (Tagebuch) por parte de crianças e adolescentes. 130 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 mente a autora (Robert Stevenson, Alik, Ursula, Bubi Scupin nel III diario, Formiggini, Robertson, Pentich, Fabrice, Silvia, Viola, Mirta); uma vez é uma tia ou tia-avó (Washburn Shinn), outras vezes um tio (Egger), um avô (Giorgia), uma avó (Anna e Claudio). Em alguns casos – trata-se de inéditos – não é possível distinguir se são os pais ou parentes que preenchem diários pré-estampados5. Às vezes o autor é um estranho que tem uma relação longa e estreita com a criança: médicos (Héroard), psicoterapeutas (Freud, no qual o analista é também pai da criança; A. Freud, Klein, Winnicott) preceptores (Bonnard). Em um caso (Eva) trata-se de um hóspede; em outro, de um estranho do qual não se sabe que relação tenha com Ruth, a menina da qual se escreve. Uma outra característica bastante variada é a idade da criança da qual se fala. Geralmente se trata de bebês na primeira infância e o diário silencia assim que estes tenham alcançado uma fase de sua evolução na qual um certo desenvolvimento ocorreu: são autônomos na alimentação e no andar (Viola, Mirta), vão à creche ou à escola (Enzo, Silvia, Fabrice), aprenderam a falar (Taine, W. e C. Stern, as meninas Frontali, Micol Lichtner), completaram um certo caminho na maturação das habilidades psíquicas de base (Tiedemann, Dillenius, Wirtenfeld, Mauchart, Ferri, Preyer, Rossi), exprimem as suas emoções (Darwin); já são adultos e autônomos (Augusto, Pentich), ou seja, alcançaram uma idade na qual podem assumir eles mesmos a tarefa de dizer e até de escrever sobre si. Mas a conclusão deriva outras vezes de fatos contingentes, e às vezes dramáticos: o Journal di Heroard se conclui em 1628, quando morre seu autor. Em dois casos (Franck e Pentich) o diário pára com a morte do sujeito – não mais uma criança – da qual se narrou. O incipit é muitas vezes o do nascimento, mesmo que apenas em alguns casos (Louis XIII, Teresa Verri, o filho di Tiedemann, Lottchen, Augusta, Anna, Fabrice, Viola, Mirta, Silvia) se fale do neonato em termos detalhados e sigam-se-lhe as primeiríssimas etapas evolutivas, até reproduzir – em alguns dos exemplos da lista B do Apêndice – 5. “pré-estampado” – constitui-se em um tipo de diário que já vem impresso mas com espaços definidos para serem preenchidos. entre biografias e autobiografias pedagógicas 131 alguns fotogramas da ecografia durante a gravidez. Em alguns casos, o início é um evento forte que não coincide com o nascimento biológico (Hugo Franck que perde a mãe, a Formiggini Santamaría que adota seu menino). Algumas vezes o trecho de vida infantil do qual se fala é mais claramente delimitado, caso em que o autor, é também um cientista e está interessado em algumas dimensões comportamentais do desenvolvimento da criança e as segue por um tempo definido (Tiedemann, Wirtenfeld, Dillenius, Mauchart, Schleicher, Taine, Pollok e W. Stern pela linguagem, Darwin pelas emoções, Ferri pelo sentimento moral e estético, Frontali e Lichtner pela linguagem, Zillig pelo desenvolvimento intelectual em idade escolar, Boltanski por alguns gestos). Início e conclusão do diário também são determinados por seu objetivo: se se trata de um pai, o diário tem, sobretudo, intenções de documentar uma ligação afetiva e pedagógica que se constrói no tempo e tem um andamento mais contínuo; se esse pai é também um cientista (Tiedemann, Wirtenfeld, Dillenius, Mauchart, Schleicher, Darwin, Taine, Ferri, W. e C. Stern), o diário toma uma forma diferente, trata do período no qual determinadas manifestações comportamentais acontecem e se tornam protocoláveis. Em alguns casos a narração se interrompe: é este o caso de muitos dos diários que não foram feitos para serem publicados e que pretendiam ser uma espécie de livro de anotações para escrever coisas emotivamente interessantes. Mas há também alguns fatos menos (no caso de Anna e Cláudio, os dois diários param quando os dois meninos, junto dos pais, mudam de casa, e a avó, que escrevia, não os tem mais constantemente sob observação) ou mais dramáticos que explicam a interrupção: a morte do autor e/ou do sujeito do qual se fala (Héroard e Franck). Existem também diários múltiplos, de estrutura em forma de cacho: os diários de Anna e de Cláudio são acompanhados por um da avó – não citado no Apêndice –, do qual o mais amplo segue por uma década o desenvolvimento da netinha, um outro o do netinho, no qual são freqüentemente referidos momentos da vida da menina; o terceiro – contemporâneo – é uma autobiografia da avó, autora dos diários dos neti- 132 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 nhos, na qual são freqüentes as referências às duas crianças. Tommaso escreve um diário de fantasia no qual conta sobre um bom menino, Benedetto, e sucessivamente mantém um breve diário, interrompido e não publicado por ele, sobre a pequena filha Caterina. Os Scupin dão muitas versões de seus diários. Frontali prepara alguns ensaios científicos – dos quais um é editado em 1955 – anotando e organizando observações sobre a linguagem das filhas, que são escritos muitos anos antes de sua utilização erudita. Muitas meninas são personagens desses diários: Amalia Louise, Frederike, Lottchen, Teresa, Betty, Elena, Hilde e Eva Stern, as duas Ruth, “A Menina Diabo” descrita por Anna Freud, Ursula, Augusta, Jean, Anna, Micol, Emilia, Piggle, Viola, Mirta, Giorgia são as pequenas protagonistas desses relatos. Schleicher fala da filhinha Emma ex aequo com os irmãos Erhart e Ernest. No caso de Darwin, uma irmãzinha aparece como pano de fundo, figura de comparação e de contraste com o menininho do qual se fala principalmente6; a avó fala de Anna e Claudio mas os maiores detalhes estão nas páginas dedicadas à menina. Para dar maior vivacidade e proximidade à vida infantil da qual se conta o desenvolvimento, não são poucos os diários que possuem desenhos feitos pelo autor (Verri, Franck, Freud), ou até mesmo feitos por uma ou mais pessoas muito próximas à criança (Pentich); alguns reproduzem rabiscos e desenhos produzidos pela própria criança (Heroard, Pentich, Anna, Cláudio, Viola, Mirta), transcrições fiéis do que a criança disse (Héroard, Pestalozzi, Tiedemann, Franck, Darwin, Taine, Ferri, Stern, Freud, Winnicott, Klein, Formiggini Santamaria, Clara, Laura, Anna, Cláudio) e escreveu (Héroard, Franck, Anna e Cláudio), passagens que enriquecem a página e tornam mais imediata a presença da própria criança. Nos diários de Anna e Cláudio estão colados alguns recortes de jornal com personagens da época, para tornar mais tangível e vivaz o contexto no qual os fatos acontecem. Em um caso (Boltanski), 6. Provavelmente, trata-se da irmãzinha Annie, que viveu de 1841 a 1851, de quem o pai escreve um breve perfil post mortem. Cf. R. Keynes, Darwin, his daughter & human development, New York, Riverhead Books, 2001, pp. 214-217. entre biografias e autobiografias pedagógicas 133 o diário é relativo a um fragmento muito pequeno da vida de um menino (do qual não se diz o nome nem se vê a face), a poucos mas intensos minutos de seus “fazeres” específicos (subir em uma árvore, ler um jornal, jogar, atravessar uma rua, lavar as mãos) que são apresentados em uma seqüência de fotografias. O diário de Augusta é acompanhado por vários álbuns de fotografia com breves legendas e fotos instantâneas dão mais vida aos diários de tipo “pré-estampado”. Problemas narratológicos se aglomeram durante a consulta do corpus. Uma primeira questão é por quais aspectos esses diários se distinguem das autobiografias. Defrontamo-nos, de fato, com um narrador que conta um acontecimento em primeira pessoa, mas o protagonista não é o narrador, e sim sempre o objeto da narração, a criança. Contudo, analisando bem, trata-se de uma autobiografia sui generis porque a mudança da tônica narrativa do si mesmo de quem escreve ao sujeito do qual se escreve serve para dar autoridade ao narrador, a legitimar o seu relato, já que apenas ele que tem certas ligações – de parentesco, de magistério, de terapia, de poder social, enfim – com o objeto de seu escrever que é autorizado a dizer dele, e a tornar-se, com propriedade, o autor legítimo do diário. Escrevendo de um outro que o legitima, ele pode escrever e exercitar a sua arte de autor, tem aqui o juízo prévio do quanto pode dizer – de si e dos outros. Não basta; nesses diários a pessoa que narra está sempre presente, mesmo que em doses diferentes, fala de si, fala de seus sentimentos em relação à criança da qual escreve, é co-protagonista do texto que, por isso, pode ser chamado também de autobiografia. Contudo, deve-se insistir, o récit autobiográfico não é exclusivo; o autor não fala somente de si, do seu estar no centro de um acontecimento, mas seleciona, organiza, segue os tempos, os principais eventos, as tendências e tensões do ponto de vista de um outro. Questões relativas à forma se entrelaçam a interrogativas de tipo mais estritamente histórico e historiográfico. Nos diários que tive oportunidade de ler não só e não tanto se acaba sabendo do menino do qual se fala – do seu crescer, da sua índole, do seu faber e do seu dizer – mas também daquilo que está em torno dele, daquilo que fazem aqueles que convivem com ele, de tudo quanto constitui o conjunto das circunstâncias materiais, além das humanas, dentro das quais se realiza o seu de- 134 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 senvolvimento. Nessa altura, a história dessas infâncias singulares se enche de amas, governantas, outras crianças, empregadas, pais que aparecem juntos ou sozinhos, de pedaços de vida adulta ao lado da vida da criança, em lugares abertos – jardins e pátios, viagens, teatros, celebrações e solenidades, – e fechados – o quarto da criança ou o seu viver em lugares comuns a grandes e pequenos –, de brinquedos, livros, coisas de escola. São roupas e comidas, ritmos de sono e de vigília, de estudo e de brincadeiras, são estilos disciplinares, prêmios e punições, palavras e gestos que os outros dirigem a ele, e que todos fazem entrar nesse mundo nada privado do qual outros documentos dizem pouco ou nada, ajudam a repensar universos infantis de outro modo opacos. Mas, mais uma vez, todos esses balanços se exprimem segundo seleções e opções daquele que escreve, que não narra tudo ou de tudo, que muito diz mas também muito cala, e que aparece às vezes no relato de forma mais ou menos evidente, das notas à margem de um registre tal qual o de Héroard que comenta na zona branca das páginas os eventos e sobretudo as ações e o dizer de seu pequeno Delfim, aos explícitos comentários de Pestalozzi, de Franck, da Formiggini, do pai do pequeno Hans, da avó de Anna e Cláudio, sobre os próprios sentimentos. Todo um trabalho a fazer – e não será fácil – é o de individualizar as origens – diferentes por tempo e contexto e portanto heterogêneas – deste tipo de texto que parecem derivar e ter fortes afinidades com o gênero epistolar, diário da saúde, livros de família, autobiografias piedosas, journaux intimes, crônicas, agendas. Dentro de qual grupo literário se coloca cada um desses autores uma vez que destine o seu texto, por meio do impresso, a um público? O que motivou um autor a sociabilizar em forma publicada – ou não fazê-lo – um escrito desse tipo? Trata-se de interrogações que aumentam uma vez que se queira enquadrar cada um desses escritos em um clima social e ideológico, em que uma determinada representação de criança é peculiar e acerca da qual o texto em questão resulta em uma contribuição ou um desvio. entre biografias e autobiografias pedagógicas 135 2. Diários de fantasia Histórias geralmente autênticas, esses diários que relatam sujeitos e fatos reais; mas também diários de fantasia, narrações de uma criança que nunca existiu, quase romances que possuem porém uma contínua nota de verossimilhança, são cobertos de palavras prováveis do pequeno do qual se diz, inseridos em paisagens naturais e humanas que os ligam ao mundo real. Trata-se de textos de exortação a um bem fazer pedagógico, do qual oferecem um paradigma plausível, não só pela gestão educativa, mas também pelo modo em que é observado e lido o destinatário do intervento, que quanto mais novo, mais precisa de plausibilidade e verossimilhança. Se o Emílio rousseauniano não se apresenta legitimamente como um diário (mas o que é aos olhos de seu autor? Um tratado, uma Mémoire, um conjunto de frases sem sistematicidade7 e, por que não?, também um Journal autenticado como tal pela sua ambigüidade narratológica), este inaugura um novo modelo pedagógico fundado na observação diacrônica e incessante da natureza da criança. Natureza que é histórica, que cresce, que deve ser vista sem preconceitos no seu fieri, que deve ser, portanto, anotada em seus movimentos, relatada em seus progressos para fundar o intervento correto. O Emílio dá origem não somente a novas aventuras formativas, mas também a diários que dele falam e prospectam belezas e dificuldades. O príncipe do Wurtemberg, e, mais tarde, Bernard de Bonnard, se esforçam para pôr em prática a mensagem do Emílio, escrevendo não apenas como intervêm educativamente, mas também como se desenvolve a vida e o crescimento de seus pupilos. Quase contemporâneo ao diário de Bonnard, um diário de fantasia – cuja autora é Madame de Genlis que sobre os enfants d’Orleans tinha uma autoridade pedagógica – tem grande êxito no fim de 1700 na França, graças ao livro que o acolhe. Em um romance para adolescentes, Adèle et Théodore, publicado em 1782, a trama se desenvolve através 7. J.J. Rousseau, “Emile ou de l’ education”, em J.J. Rousseau, Ouvres complètes, Paris, Gallimard, vol. IV, 1969, p. 241. 136 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 de uma farta correspondência entre os personagens, dentre os quais está também o Conde de Roseville, ao qual é confiado um menino de 12 anos que é destinado a reinar e para o qual o conde escreve cotidianamente un journal très detaillé. O texto é o protocolo moral de uma seqüência de jornadas de um pequeno príncipe que cresce com regalias e por uma soberania mais democrática que aquela própria do Ancien régime, mas também um instrumento de educação moral, realizado no estilo da pedagogia especular do príncipe; as páginas relativas ao dia são, de fato, mostradas na manhã seguinte ao rapazinho, que as pede com ansiedade. Quando o futuro rei tem 13 anos e o Journal consta de oito volumes, o gouverneur o entrega, declarando que de agora em diante o diário será diferente, e, escrito com plus de corretion et d’attention, será publicado e virará história. Um menino bom, o pequeno príncipe de Madame de Genlis, como um menino boníssimo é – já diz o próprio nome – Benedetto, figura central de dois ensaios de Tommaseo, que usa o “diário” da mãe do pequeno. Na lapidação da narração, sabemos que Benedetto não tem defeitos, comporta-se de modo exemplar, em uma tradução à enésima potência da função pedagógica dos diários de infância, em que se assiste – no relato de um caso emblemático – a um projeto perfeitamente bem sucedido, não se sabe se por obra da natureza intrinsecamente boa do pupilo ou pela empenhadíssima paideia materna. A fantasia na escritura de vidas infantis possui exemplos escassos nos tempos seguintes. Ao Jeune prince de Madame de Genlis, ao tedioso e sabichão Benedetto di Tommaseo, aparece depois de mais de um século, Joey, o protagonista do Diario di un Bambino, de Daniel Stern. Nele, a história do desenvolvimento da criança é feito pelas palavras de seus sábios pais, mas também da palavra do próprio Joey, não em um entrelaçamento dialógico, mas em dois discursos contemporâneos, que o menino desde o primeiro mês de vida sabe dizer e escrever de si, de sua vivência, até refletir, lá pelos quatro anos, sobre seu passado e a reescrevê-lo em forma menos rapsódica e impressionista. O diário de Joey constitui – mesmo que a posteriori – um nexo entre tudo o que pais estudiosos escreveram dos próprios filhos: Tiedemann, Wirtenfeld, Dillenius, Mauchart, Darwin, Taine, Ferri, entre biografias e autobiografias pedagógicas 137 William e Clara Stern, os Katz, os Frontali, Lichtner observaram, protocolaram, interpretaram as condutas de suas crianças com o objetivo de demonstrar através dessas o que fosse a infância de um ponto de vista científico. A intenção de Daniel Stern não é, no fundo, diferente; ele quer tornar acessível, através do estratagema retórico do exemplo, as regras de uma psicologia rigorosa da evolução que ele está construindo com empréstimos da psicanálise e teorias construtivistas. Joey é um menino composto pelos casos observados pelo próprio Stern, pequenos estranhos e os seus próprios filhos, um sujeito que da hipótese de generalização do desenvolvimento infantil, retorna, graças à sua palavra, à cotidianidade – enriquecida por traços de sugestiva e inverossímil fantasia – para dizer de ulteriores possibilidades e funções desse tipo de escritura. 3. Teorias, esboços, perfis, exemplos, casos clínicos Dirigimo-nos segundo uma linha histórica, que parte do fim do século XVIII e percorremos o século XIX e a primeira metade do século XX, quando os diários de infância se estabelecem como gênero psicopedagógico autônomo e começam a se fazer mais espessos e notórios; alguns viram célebres diários (penso o “Piccolo Hans” de Freud), outros, a essa altura já estão esquecidos (mesmo que tenham despertado discussões e imitações quando foram publicados – o corpus inclui quatro8), passando por textos de Sigismund, Schleicher, Struempell, Egger, dos quais, mesmo quando foram editados, se falou pouco. E fazemos esse percurso considerando como, nesses textos, vinha se preparando aquela psicologia não filosófica do desenvolvimento que se inaugura oficialmente no último vinteno do século XIX, mas que tem os seus antecedentes nas preocupações higiênicas, médicas, pedagógicas e psicológicas de Tiedemann, Wirtenfeld, Dillenius e Mauchart. Tais textos têm intenções eruditas, procuram não ter preconceitos ideológicos e 8. Tiedemann, Dillenius, Mauchart, von Wirtenfeld. 138 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 afetivos – mesmo que não faltem expressões de ternura –, são voltados a generalizar traços julgados essenciais da natureza infantil observados na criança que olham com incansável atenção. Nesses a observação, a comparação, a catalogação e a análise das condutas estão no centro da escritura, e a abordagem evolutiva é exercitada sobretudo sobre os mais novos, que não sofreram intervenções de superestruturas culturais, mais naturais e portanto garantia de pureza empírica para quem os estuda. Progressivamente, a base existencial das observações – a criança individualizada, com um nome, um caráter, um ambiente – é omitida e a cotidianidade dos pequenos, que, por exemplo, serve como pitoresca moldura do “Profilo di un bambino” de Darwin, os caprichos e as cômicas asneiras do pequeno Doddy – o personagem, a meu ver, mais bemsucedido desses diários infantis –, são aos poucos colocados de lado e no fim do século o menino particular, colhido em sua existência de todos os dias e de seus lugares, e juntamente descrito com fins científicos desaparece no trato teórico de uma infância considerada en géneral. Caso exemplar disso é Die Seele des Kindes (l’anima del bambino) publicado em 1882. O autor Wilhelm Preyer, um fisiologista, funda sua proposta teórica em base empírica, graças a estudos de observação feitos por outros e diretamente com a própria criança. Do pequeno Preyer não se conhece o nome, não se dá nenhuma informação sobre suas condições de vida, é indicado muitas vezes com o apelativo mein keind, mein khabe, ou seja, “meu filho, meu garoto”, quando tem poucos meses. Contudo, entre as linhas transparece uma série de informações deduzidas por um olhar contínuo, atento, por que não? empático, cujos êxitos foram protocolados de modo verossimilmente diarístico, com a intenção de utilizá-los para fins científicos. O diário subjacente ao texto que se expande como obra teórica, configura-se como uma espécie de desenho originário que guiou a caneta do autor, um esboço como existiam no fundo dos antigos afrescos, e a criança que o diário relata se torna o sujeito anônimo, mas essencial, que autentica uma proposta de psicologia rigorosa da infância, destinada a um público de doutos. De uma criança e de sua cotidianidade doméstica até a sua descrição traduzida em termos metaindividuais; esse é o projeto intuível no texto entre biografias e autobiografias pedagógicas 139 de Preyer e que, pelo que sei, tem apenas cinco análogos9, aos quais acenarei nas próximas linhas. Em 1907, o psicólogo da idade evolutiva William Stern, ajudado pela mulher Clara, publica Die Kindersprache. Eine psychologische und teoretische Untersuchung, em que organiza de forma científica as anotações que principalmente a mulher tomou sobre o desenvolvimento de suas três crianças, Hilde, Guenther, Eva. Trata-se de um texto científico, que um longo trabalho de anotações – há também alguns desenhos e cartas das crianças – possibilitou: os diários dos três pequenos Stern, tesouro documentário também para fins de uma história da educação, continuarão a ser explorados em textos sucessivos, mas suas redações que até aqui não foram publicadas, irão muito além da função para a qual foram escritos10. Em 1908, uma psicóloga americana, M. Washburne Shinn, publica a sua tese de doutorado em psicologia do desenvolvimento, valendo-se da observação diacrônica de um único caso. O trabalho é científico, mas em sua base está declaradamente uma série de anotações diarísticas, recolhidas pela autora, tia da menina observada – Ruth – e tiradas também de informações dadas pelos pais. Por vezes a pequena protagonista transparece vivaz da pureza pós-positivista da página, e a escritura 9. O texto de Preyer coloca-se em uma “moda” que já era difusa e que se intensificará nos anos seguintes à publicação de Die Seele des Kindes, de recolher diários de crianças e exortar a escrevê-los. Sinal disso é o pedido feito por W. Sully e reportado na Educational Review de junho – dezembro 1983, vol. VI (pp. 414 e ss.), no qual ele pede que pais e professores façam protocolos das suas observações sobre o desenvolvimento psíquico da primeira idade, pois “uma psicologia da mente infantil que seja fundada e sistemática pode ser desenvolvida apenas pela acumulação de um vasto numero de fatos”. Sully indica e explica também os parâmetros graças aos quais organizar as observações: atenção e observação, memória, imaginação e fantasia, raciocínio, linguagem, prazer e dor, medo, autoconsciência, simpatia, afeição, senso artístico, sentimentos morais e religiosos, volição, produção artística. Seria interessante saber se esse convite teve continuidade. 10. Tal capital de muitíssimas páginas de anotações, depositadas e transcritas no Max Planck Institut fuer Psycholinguistik di Nijmegen, foi acessível a mim graças à generosidade da colega Imbke Behnken da Universidade de Siegen na Alemanha. Deve-se lembrar que o diário de Hilde é concluído quando a pequena garota completa 13 anos, o de Guenther continuará até 1918, e o de Eva terá fim em 1915. 140 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 ritmada em dias, depois semanas, depois meses, se une a alguns trechos de diários – que constituem verificação desse caso único de menina “sinopia” recuperada além do véu da análise científica. No início dos anos de 1920, Susan Isaacs, na tentativa de sintetizar para fins educativos idéias piagetianas e psicanalíticas acerca do desenvolvimento infantil, apresenta – em três diferentes pontos de dois de seus volumes – o diário mantido pela mãe de Ursula, uma menina dos 3 aos 5 anos, que é declaradamente selecionado para constituir uma confirmação das hipóteses acerca do amadurecimento social e intelectual dessa fase evolutiva. Assim se fala da menina seja a propósito de amor, ódio, sexualidade, dos sentimentos de culpa e vergonha – categorias eletivas do psiquismo não só infantil no modelo Kleiniano –, seja a propósito de pensamento e raciocínio. Obviamente, o nome da pequena é fictício, a narração do seu crescimento é selecionada e direcionada para fins científicos, mas a menina é presente na sua vivaz concretude e serve de exemplo para explicar melhor uma teoria, ainda não completa e afirmada, tem uma função que é confiada a ela por quem está de fora do diário e o está submetendo a uma versão que não era a sua original. Não mais “sinopia”, não ainda caso clínico, mas exemplo: esse o destino de Ursula nos acontecimentos do seu “diário”, que possui analogias na psicologia do profundo. Junto do relato do primeiro experimento pedagógico em chave psicanalítica, l’Asilo psicoanalitico di Mosca (Schmidt, 1972), a edição italiana traz dois extratos de um diário que uma mãe cultuadora de estudos psicoanalíticos – talvez a própria Schmidt – escreve sobre o filhinho Alik e que servem para fundar, através da observação, hipóteses freudianas sobre a pulsão da procura e sobre o sugar no desenvolvimento libídico e intelectual da criança. A narração se desenrola com escansões deformes, breve para os primeiros tempos, aos poucos mais longa, mostra o crescimento da criança, algumas das circunstâncias onde acontece tal desenvolvimento, e culmina em reflexões sobre a funcionalidade das notas recolhidas com fins de generalização. No texto, construções freudianas são ligadas a elementos de matriz marxista, por isso o ambiente social é visto na sua determinação sobre o desenvolvimento e entre biografias e autobiografias pedagógicas 141 Alik – que é também um pequeno aluno do Asilo psicanalítico – se transforma, também ele, em um exemplo. Em 1956, Anna Freud relê, seleciona e discute aquilo que chama de um “relato”, que uma mãe, Joyce Robertson, faz da sua filha de 4 anos, Jean, que após a recuperação em um hospital por causa de uma operação de tonsilectomia, volta para casa, seguida ainda por três semanas pela atenção e pela escritura materna. Sobre esse texto se debruça a filha de Freud, que o lê em chave de psicanálise do eu. Tal leitura possui um sentido preciso: “considero a publicação de Joyce Robertson uma contribuição importante aos nossos estudos psicanalíticos da vida psíquica infantil, não menos instrutivo do que as contribuições que são fruto de tratamentos analíticos realizados com crianças. Em seu papel de mãe, ela tem todo o direito de limitar-se à experiência vivida individualmente com sua filha e abster-se das generalizações. Enquanto leitores analistas, podemos nos permitir dar um passo além e retirar, do seu estudo, algumas experiências de validade geral” (A. Freud, 1956). As palavras da psicanalista nos conduzem ao centro das culturas do profundo, onde o diário terapêutico é transformado em caso clínico, torna-se procedimento de apresentação rigorosa por excelência. Aqui as operações são opostas àquelas da psicologia científica de matriz positivista; parte-se do diário que é apresentado de uma forma literariamente e tecnicamente correta e elegante, e sobre tal texto, apertis verbis, funda-se no conjunto ou por algumas de suas partes, uma teoria, instituindo o caso como exemplo que confirma uma regra, mas também como capital de informações a serem interpretadas para refinar a própria regra. Nas origens desse tipo de procedimento está o caso clínico de um menino – o caso clínico do pequeno Hans –, acontecimento essencial não só para fins terapêuticos e teóricos, mas também para a nova idéia de infância que a inspira e que ele transmite. Mais uma vez é um pai que escreve de um filho, sob direção contínua e experiente de Freud: Max Graf, o pai do pequeno Herbert, que gerações de especialistas e de leigos conhecem sob o nome de “Pequeno Hans”, protocola incessantemente o crescimento do menino, seja quando está bem, seja quando adoece, e entrega as suas anotações ao professor, que as transformará no mais célebre dos casos clínicos. Se Hans é, segundo Freud, o sujeito 142 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 exemplar de uma infância que se desenvolve em chave libídica, ele é também uma criança real, que aparece na consistência da sua vida de filho de uma família culta e burguesa, com os seus acontecimentos do quotidiano, os lugares reservados da sua socialização, as figuras domésticas que governam a sua formação. Mas tudo isso, certamente estenografado nas páginas que o pai anota, se enfraquece e continua em filigrana quando ele é instituído protagonista de um breve “romance” psicanalítico. No caso clínico também o pequeno Hans virou um menino “sinopia”, foi expropriado de algo – o seu nome mudou –, viu sentimentos serem sacrificados, palavras, perguntas, mitos que na realidade sentiu, exprimiu, criou, mas que não eram significativos para fins de sua diagnose e de sua terapia. Outras figuras de crianças povoam as páginas da psicanálise e possuem também essa função: mostrar como se tratam distúrbios da psique infantil, oferecendo o relato de casos individuais e mostrando seu valor emblemático e fundante para fins de uma teoria. A “menina diabo” e o pequeno mentiroso e ladrãozinho dos quais Anna Freud fala nas páginas que se referem ao seu trabalho terapêutico dos anos 1926-27, de Il trattamento psicoanalitico dei bambini (A. Freud, 1927), e aos quais acena também em outros textos, são eles também meninos escondidos, atraentes em suas dificuldades de estar no mundo, essenciais para mostrar como uma técnica terapêutica funciona; crianças contadas antes que nas páginas de uma obra científica, em anotações diacrônicas de seus terapeutas, em diários “descartáveis”, para serem, de qualquer forma, traduzidos em outro gênero textual. Junto das crianças freudianas está Richard, o paciente de 10 anos que Melanie Klein tratou em noventa e três sessões, a partir de 1941, e das quais manteve notas terapêuticas detalhadíssimas, constitui um exemplo notável das mudanças, que para fins de reabilitação e científicos, atravessam essas figuras infantis na escritura psicanalítica: de crianças protocoladas em seus cotidianos para casos clínicos, para sujeitos de diários terapêuticos, e portanto para personagens emblemáticos de técnicas e hipóteses curativas e psicológicas. Richard não é uma criança “sinopia”, mas um menininho cuja vida parece desenvolver-se nos acontecimentos experimentados no setting clínico ou neste relatado; a sua história é aquela que ele vive junto de entre biografias e autobiografias pedagógicas 143 Melanie Klein nas densas sessões, nas quais é ajudado a crescer. Aqui, no foco da díade terapêutica, o desenvolver-se de atos e de palavras condensa a vida da criança, mostra suas dimensões insuspeitadas, reconhece e magnifica sua palavra e o gesto, e no tempo que não é apenas e tanto aquele do fazer-se adulto de um infante, quanto aquele da doença e da eventual cura, na desinibição de bloqueios e de regressões nos processos de amadurecimento, a atenção da terapeuta tenta colher e revelar o ponto de vista da própria criança. De todo o récit emerge uma outra infância, mais fascinante e inquietante, em que a palavra criança não é delegada ao discurso adulto, mas é respeitada, colocada no centro da relação com quem ouve, protocola, interpreta, narra; em que junto da palavra está o sintoma, e em torno do menino do qual se reconstrói o caso, juntam-se, sem nome autêntico, uma série de outras crianças mantidas sob cuidados. Tal nova escuta da infância permitiu uma tomada do ponto de vista da criança, espectador do provável trânsito do protocolo à teoria. Certa vez, única que conheço, uma menina nos diz, de fato, como ela mesma se tinha visto no diário “sinopia” do adulto: é Piggle, muito jovem de paciente Donald Winnicott, da qual reportamos um breve trecho: “O doutor Winnicott costumava tomar notas durante as consultas e Gabrielle pensava que ele estivesse escrevendo a própria autobiografia, e que ela, de algum modo, tivesse sido envolvida em uma pequena parte dessa”. “Ele escrevia e eu brincava” (Winnicott, 1977). 4. Cadernos, álbuns, manuais , coleção de fotografias, filmes Latentes atrás e ao lado de tratados, casos clínicos, ensaios de psicologia do desenvolvimento existem diários, de cuja construção não sabemos nada: como foram construídos, se com rápidas anotações, com notas e comentários acerca de condutas consideradas críticas, ou de modo mais livre ou rapsódico, revelador de afetos mais que de empenhos sistemáticos e de controladas contratransferências. Ignoramos qual tenha sido a distância temporal desses diários do texto bem organizado e pu- 144 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 blicado no qual se podem, às vezes com dificuldade, encontrar esboços de crianças – filhos e pacientes. Esse mundo da primeira infância podemos somente intuir, e por tal esforço da nossa fantasia e do nosso empenho para saber mais podem talvez servir – com cautela, porque as intenções dessa produção não são declaradas – aqueles diários que a generosidade de mamães e papais, de crianças que viraram adultos, de irmãos e irmãs já grandes – que colaboraram para a sua construção – me permitiu consultar. Por hora são apenas 34; espero que aumentem, porque estou convencida de que existam muitos outros, conservados em arquivos familiares, junto de outros testemunhos que servem para reavivar a memória daqueles que os escreveram e daqueles que – e para os quais – foram escritos. Trata-se de cadernos em que o récit é difundido, tem ambições e não raramente qualidades narrativas, em que o sentimento é afastado, em que a mão e o olhar estão parados, decididos em suas seleções, aguçadas na construção de uma fenomenologia dos pequenos sujeitos que amam, esquadrinham, tentam evitar a ambigüidade, cuidam, educam. Mas são também pequenos relicários, em quanto muitos deles contém rabiscos, desenhos, escritos, fotos, das crianças que são relatadas, de sua frase textualmente retratada, cachos de cabelo. São relatos feitos de imagens – hoje há também filmes feitos com o videotape que narram histórias de vidas infantis –, ou mistos de fotografias e de texto escrito. Em muitos casos são todas essas memórias textualmente diferentes. E são também – avanço a arriscada hipótese de que se trate de sucessores dos livros de família que desde a época medieval continuaram até o século XIX – textos “pré-estampados”, nos quais páginas livres, mas organizadas por vozes, permitem escrever de modo ordenado a história do próprio filho, do nascimento até uma idade que varia. Um corpus no corpus, portanto, em que parece não haver quase nenhum denominador comum, em que as vias que se abrem à maravilha do leitor são muitas. Essas oferecem uma pluralidade de escuta de palavras: aquelas que diz o grande – mais uma vez de si – sobretudo se é uma mãe, a qual relata freqüentemente sobre a gravidez, detém-se no parto, insiste sobre a proto-história de uma ligação em que mãe e filho se destacam lentamente de uma conexão simbiótica – e aquelas expressas pelo pequeno. entre biografias e autobiografias pedagógicas 145 Nessa produção, a mãe aparece como a grande narradora, suplanta – ou sustenta – a figura paterna como autor do diário, se reapropria de sua função biológica e cultural, olha, trata, interpreta a criança em nome de sua ação de cuidado e educação. Em meu corpus, em 31 diários inéditos de tempos recentes (de 1930 até hoje), 3 são compostos somente pelo pai, mas em dois desses (Laura e Clara) existem também anotações da mãe; nos outros a contribuição materna é exclusiva ou predominante. A escrita materna aparece menos inclinada a fazer do documento uma autenticação do próprio papel, uma preparação para um livro ou ensaio publicáveis, o trecho de uma obra científica; são, em um certo sentido, testemunhos escritos de maternal thinking11, em que o discurso se desenrola para ser breve, mas rápidos e essenciais, em que existe a maravilha de ver uma criança muito pequena que entra no mundo, de distinguir como reage aos cuidados, como se torna um sujeito. O leitor, enfim, não encontra somente diários de conteúdo amplo (aqueles de Anna e Cláudio escritos pela avó, aqueles de Viola e Mirta escritos pela mãe para as filhas nascidas com 16 anos de diferença, aqueles do pai de Laura e Clara), mas também páginas mais breves, em que a indicação é lacônica, mas em que a fotografia – o caso de Augusta – intervém para mostrar aquilo que a caneta tem dificuldade de exprimir, em que o desenho completa a página e conta da alegria que acompanha a gestão dos menores. Na tentativa de definir critérios de organização, tenho como hipótese que, provisoriamente, uma distinção desse tipo: • Um grupo de documentos em que a redação da página é continua. A narração se desenrola por passos mais ou menos longos, datados, em intervalos irregulares, mais ou menos ricos de comentários sobre a conduta da criança, em que se diz como ela age e reage, como adquire certas competências. Neles são descritos também os lugares – da casa e de fora da casa – nos quais acontecem a 11. Conferir S. Ruddick, Maternal thinking, Boston, Beacon Press, 1989, especialmente. pp. 13 e ss. 146 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 sua transformação12, fala-se de estratégias de criação, de ritmos do dia, de pessoas que ajudam a mãe com os cuidados do filho. Os dois diários – de Anna e Cláudio – escritos pela avó, os dois diários compostos pela mãe de Viola e Marta, os três diários realizados por Giro Frontali, o diário da mãe de Silvia, fazem parte dessa estante do arquivo que estou imaginando. Aqui a criança é descrita sem dificuldade, com detalhes, e se fala também em relação aos sentimentos do adulto que escreve: alegria e ternura, empenho, assiduidade, temor de não agir de modo pertinente, às vezes até ciúme porque o amor pela criança é dividido com outros, preocupação porque as suas reações são imprevisíveis e não correspondem às expectativas, esperança que após o crescimento aconteça aquilo que se desejaria que se tornasse. Nessas páginas se exprime um saber espontâneo do adulto chamado para gerir um ser que cresce, e se delineia a conquista de um profissionalismo não erudito, mas sempre eficaz e precioso, de pedagogos e psicólogos, que pede para ser reforçado e traduzido em termos mais seguros. São esses os diários mais completos, mais abundantes de detalhes, mais ricos na hora de contar de si e da criança juntos, com aquele olhar duplo encontrado nos diários publicados, ou naqueles escritos para serem lidos ao menos pela criança da qual escreveram. É também nesses diários que se exprime freqüentemente o motivo pelo qual a caneta se cala em um certo momento: a mãe de Sílvia conclui o seu texto quando a menina tem 4 anos e acontece o batizado de seu irmãozinho menor; a mãe de Viola, ao fechar o seu diário – a menina tem quase um ano e meio – afirma: “V. passou por grandes mudanças: já é grande”; a avó de Anna e Cláudio anuncia com palavras tristes o fim de seu diário pessoal – que acompanha e comenta aqueles sobre os netos – quando filhos e pais mudam de casa e a avó fica sozinha no velho apartamento. 12. Sobre os espaços domésticos nos diários de Hugo Franck, Anna e Cláudio, cf. o meu “Per una pedagogia della casa”, em Cadmo, vol. VII, n. 3, pp. 7-14, dez., 1999. entre biografias e autobiografias pedagógicas 147 • Junto aos diários de amor materno e de afeto de uma avó, os diários do pediatra Frontali aparecem como preparativos para a redação de um texto científico que será escrito vinte anos mais tarde (Frontali, 1955), relativo à definição da competência verbal nas três filhas. Nas páginas dos diários (Laura, Clara), o desenvolvimento da linguagem, marcado com atenção e precisão, já com alguns traços de organização e interpretação dos dados que acompanham o relato de fatos cotidianos, de interventos dos adultos, de atividades das meninas, de lugares, encontros, eventos, quase a revelar os mecanismos e as seleções que em outros casos conduziram daquelas que chamei “sinopias” do documento científico. • São sobretudo os pais que se arriscam com a aparelhagem fotográfica e a utilizam para lembrar os momentos salientes da vida do próprio filho. O exemplo mais bonito e completo do corpus é aquele de Augusta, que começa logo após o nascimento e se conclui quando a menininha tem quase 20 anos, e tem como seguimento um álbum de fotos feitas pela própria Augusta, a essa altura já dona de uma máquina fotográfica. Desenhos e comentários acompanham as fotos instantâneas, dando origem a um diário de múltiplos alfabetos – existia um outro mais breve, que depois se perdeu, em que o pai anotava quase estenograficamente em algumas pequenas agendas os progressos da menina no desenvolvimento físico e verbal –, estendendo-se por anos em muitos álbuns distintos. Os lugares domésticos e de férias, as celebrações de família com, no centro, a menina, a primeira comunhão, as festas e as fantasias de carnaval, são a memória de uma infância antes da guerra, com as suas cotidianidades, o outillage do jogo, a roupa, as pessoas que acudiam a pequena. Aqui e ali um filme sem áudio – esse material também não existe mais – contava mais detalhadamente episódios que a fotografia fixava, para dizer os problemas da reconstrução de uma infância e da escolha dos instrumentos para fazê-lo sem perder nada. • Também fazem parte do corpus álbuns manuscritos, cadernos ilustrados, páginas deixadas para serem preenchidas pelos pais e espaços para colar fotos, poderíamos chamá-los porta-diários, que ain- 148 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 da hoje podem ser encontrados e oferecidos como objetos de presente pelo nascimento ou batizado de uma criança. Aqui a escrita é lacônica, a habilidade de concretizar categorias observativas e de relato banalizada pelos lugares fixados pelo fac símile de diário: o nascimento, os dados sobre os pais, o peso, o batizado, os primeiros distúrbios físicos, o primeiro dentinho, a primeira palavra, o primeiro aniversário. Raramente se vai além do primeiro ano de vida, se isso acontece, transgride-se a moldura do álbum impresso. Mas, de qualquer modo, tenta-se deixá-lo mais rico, preencher todas as linhas disponíveis, enchê-lo de fotografias, personalizá-lo ao máximo. Esses diários, hoje freqüentes, possuem um antecedente longínquo, o diário “pré-estampado” redigido na metade do século XIX pela mãe de Robert Stevenson, do qual existe uma versão impressa. A mãe do futuro escritor não se limita a seguir as indicações propostas pelo texto, mas intervém dizendo mais coisas e anexa uma fotografia do menino, quase que para testemunhar a realidade do menino sobre o qual escreve. Em um passado que é quase um presente, os diários contidos na parte B da lista do Apêndice são desse tipo, isto é, diários “guiados” com um assunto bem definido. Nestes, freqüentemente, há também conselhos à mãe. Os textos de Longhi (onde se dá, para 1955, notícias relativas a Maria Rosa, nascida em 1955), de Cislaghi (que contém informações relativas a Emília, nascida em 1969), aquele distribuído como brinde do Talco bórico Florentia (intitulado Omaggio alla natalità, que nos diz a mensagem que veiculava, em linha com a incipiente política fascista de promoção demográfica), são desse grupo. Aqui um aspecto emerge com evidência: ser mãe de uma criança pequena é uma terefa que deve ser ajudada, explicada, ensinada. Manuais do “faça você mesmo” moral e puericultura acompanham a mãe no início desse seu trabalho, guiam-na seja no fazer seja no observar, e lhe oferecem sugestões, para aquele profissionalismo parental que já no início dos anos de 1930 vinha se delineando e que – nas últimas gerações – demonstra-o a leitura dos cadernos citados – resulta mais seguro, mais capaz de colocar-se problemas, de transformar em saber um fazer instintivo e tradicional. entre biografias e autobiografias pedagógicas 149 • Junto desses exemplos o corpus contém também diários feitos em casa, mas construídos sob o modelo de álbuns “pré-estampados”, e que respeitam mais a fantasia de quem os escreveu. Os pais de Lucia (1990) narram a sua história em um caderno com ilustrações impressas, extrapolando as indicações do texto, e sobretudo, enriquecendo-o de fotos ricamente comentadas, que acabam quando nasce um irmãozinho. Um irmão e uma irmã mais velhos (Elisa, 1990) usam a fantasia livremente para fazer do relato uma história feliz, bem documentada, que vai do nascimento ao início da vida escolar. A tendência é, portanto, de ocupar o espaço da página, de assumir a palavra, de mostrar como a vida da criança é um evento peculiar que deve ser narrado segundo seus ritmos e modos, sem trancafiá-lo em rígidas rubricas, permitindo ao adulto a direção da observação, documentação, expressão. Mas, paradoxalmente, há também o convite à criança para falar de si: o subtítulo do diário de Jéssica é, de fato, “L’ album ricordo della mia infanzia”. • Não faltam diários construídos com tecnologias mais modernas, o de Augusta, paralelo fotográfico de uma série de pequenas agendas no qual o pai da menina anotava, de modo quase estenográfico, pequenos eventos da cotidianidade, exceto por enriquecê-lo com as imagens da pequena em seus acontecimentos existenciais, explicadas em seu tempo e lugar. Recentíssimos são alguns diários filmados13, filmes em videotape, em que a cena tende a perder a sua diacronia mais ampla – dias por anos – e concentrar-se em fatos intensos, ricos de imagens e vozes, em um caso (Camilla) reprodução muito organizada (foi contratado um profissional) de um batizado no campo. Esses diários ilustrados ou construídos através de imagens fixas ou em movimento, acompanhadas também pela voz filmada ao vivo, criam problemas sui generis não só de 13. No microcorpus de Augusta havia – também esses se perderam – filmes de alguns dias particularmente significativos – um dia na montanha, um passeio de barco a vela – que repetiam de modo dinâmico as fotografias e integravam as agendinhas escritas, já quase completamente substituídas pelas imagens fotográficas. 150 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 arquivamento mas também de interpretação, de leitura de uma história escrita em um alfabeto e em uma sintaxe diferentes, consentidos e permitidos pelas novas tecnologias que modificam a anotação da cena a ser lembrada, mas obrigam também a uma inteira organização textual bem diferente daquela da página escrita. Arquivar um corpus documentário incompleto e diferente por modalidade de realização do texto significa não só e não tanto avançar ou colocar problemas de catalogação, e perguntar-se como enriquecê-lo, quais caminhos percorrer para deixá-lo mais conspícuo, quais são as regiões nas quais passa os limites e onde se poderá talvez encontrar material útil. Isso requer também perguntar-se acerca das muitas operações que estão em ação na produção de tal material: o que levou adultos de muitas gerações que nos ofereceram testemunhos desse tipo a escrever sobre uma criança? A fotografá-la, a filmá-la ao longo do tempo? Quais foram as motivações, as obrigações, as esperanças que inspiraram os autores desses escritos e de tais imagens a falar de si e de uma criança com as quais tinham uma ligação exclusiva? Quais eram e são os modelos não só de construção do texto, mas, sobretudo, de infância que tem quem escreve e quer verificar e realizar na criança que cresce diante de seus olhos? Quais, entre outras, as encomendas do social diversificadas por tempos e culturas que estimularam tais escritos e iconografias e governaram – tão mais obrigatórias quanto menos advertidas – o “corte” observativo, pedagógico e reabilitativo? E, talvez a pergunta mais importante e inquietante pela dificuldade de dar-lhe uma resposta, qual pedagogia doméstica tornou consciente e mais bem acabada a redação desses documentos da cotidianidade do adulto que olha, ouve e escreve sobre uma criança? Aqui, talvez mais do que em outro material documentário, a problemática da criança diante do adulto que se interessa por ela, mostra-se vistosamente, como se mostra com igualmente dramática clareza a dificuldade de educar no espaço protegido porém difícil da casa, chamando estudiosos de diferentes competências para uma cooperação que, talvez em outros territórios da historiografia, não sejam estimulados com tanta força. entre biografias e autobiografias pedagógicas 151 Apêndice Os diários abaixo indicados são ordenados, quando possível, por data de nascimento da(s) criança(s), das quais, quando conhecido, indicase também o nome. Em caso de textos publicados, são indicados a data de edição e o título. Os diários ainda hoje inéditos são marcados por um asterisco. A lista A contém textos que não seguem um modelo prédefinido, diferentemente dos diários incluídos na lista B. 1. 1601. Louis, in J. Héroard, Journal, a cura di M. Foisil, Paris, Fayard, 1989. Iniciada com o nascimento do futuro soberano, a narração se conclui em 1628. 2. Emile, in J.J. Rousseau, Emile ou de l’éducation, in J.J. Rousseau, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, vol. IV, 1969, pp. 241-868. 3. 1763. Sophie, in Luigi Eugenio del Wurtemberg, Lettere a Rousseau, edite in J.J. Rousseau, Correspondance complète, Edição crítica e comentada por R.A. Leigh. Genève-Madison, Institut et Musée Voltaire-The University of Wisconsin Press. As cartas vão de outubro de 1763 a maio de 1765, estão incluídas entre a 2955 e a 3966 e contidas nos volumes XXV (1974), XXVII (1973) e XXVIII (1975). 4. 1770. Jacqueli, in J.H. Pestalozzi, “Diario sull’educazione del figlio (27 gennaio-19 febbraio 1774)” in E. Becchi (a cura di), J.H. Pestalozzi, Scritti scelti, Torino, UTET, 1970, pp. 57-71. 5. Piccolo principe, in S.F. Comtesse de Genlis, Adèle et Théodore ou Lettres sur l’éducation - Ne ho consultato la Nouvelle édition revue et corrigée, Paris, Morizot. s.d. A primeira edição, sem indicação de edição e local, é de 1782. 6. *1773, Duc de Valois, 1775, Duc de Montpensier, enfants d’Orléans, in B. de Bonnard, Journal d’éducation inedito. Il saggio di D. Julia, “Bernard de Bonnard, gouverneur des princes d’Orléans (1778-1782)”, in Mélanges de l’ecole française de Rome. Italie et Mèditerranée, vol. CIX, 1997, pp. 383-464, reproduz amplos trechos do texto. 152 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 7. 1777. Teresa, in P. Verri, “Memorie della fanciullezza di Teresa (1777-1784)” in P. Verri, Manoscritto per Teresa, a cura di G. Barbarisi, Milano, Serra e Riva, 1983, pp. 95-140. 8. 1781. Friedrich, in D. Tiedemann, “Beobachtungen ueber die Entwicklung der Seelenfaehigkeit bei Kindern” in Hessische Beyträge zur Gelehrsamkeit und Kunst, primeira parte, 1786, n. 6, pp. 313-333: segunda parte, 1787, n. 3, Stück, pp. 486-502. Existe uma tradução italiana com o título “Osservazioni sullo sviluppo delle facoltà mentali nei bambini” in L. Trisciuzzi, Il mito dell’infanzia, Napoli, Liguori, 1990, pp. 119-154. 9. 1785. Amalie Louise, in M.A. von (1789-1790) Winterfeld, von, M.A. “ Tagebuch eines Vaters ueber sein neugeborenes Kind (17891790)” in Braunschweigisches Journal, I parte, 1789, 8 (August), n. 4, pp. 404-441; II parte, 1790, 3, (Maerz), n. 5, pp. 322-332; III parte, 1791, 12, (Dezember), n. 6, pp. 476-484; “Beantwortungen einiger Einwuerfe der Herausgeber des Tagebuchs eines Vaters in Auguststuecke vorigen Jahrgangs, vom dem Verfasser dieses Tagebuchs” in Braunschweigisches Journal, 1790b, vol. III, Maerz, n. 5, pp. 322-332. Na família existem também outras três crianças mais ou menos pequenas, das quais se trata. 10. 1789. Frederike, in F.W.J. Dillenius, Fragmente eines Tagebuchs ueber die Entwicklung der koerperlichen und geistigen Faehigkeiten und Anlagen eines Kindes, in Campe, J.H. e Trapp, E.C. Braunschweigisches Journal philosophischen, philologischen und paedagogischen Inhalts, I parte, 1790a, n. 2, pp. 320-342; II parte, 1790b, n. 3, pp. 279-298; e “Noch ein Tagebuch ueber ein kleines Kind: zweites Jahr. Von einem anderen Beobachter”, in Mauchart, I.D. (Hrsg.) Allgemeines Repertorium fuer empirische Psychologie und verwandte Wissenschaft, Tuebingen, 1799, n. 5, pp. 225-252. A criança é a terceira filha do autor. 11. 1794. Lottchen in I.D. Mauchart, “Tagbuch ueber die allmaehlige koerperliche und geistige Entwicklung eines Kindes. Geb. den 7 April 1794. Nach Campe’scher Methode”, in Allgemeines Repertorium fuer die empirische Psychologie und verwandte Wissenschaft, Nuernberg, 1798, Band 4, pp. 269-294. entre biografias e autobiografias pedagógicas 153 12. 1839. Doddy, in C. R. Darwin, “A Biographical Sketch of an Infant”, in Mind, vol. 2, 1877, pp. 285-294. 13. 1840. Hugo, in H. Franck, Wenn Du dies liest... Tagebuch fuer Hugo. Muenchen, Hanser, 1997. 14. 1846. Benedetto in N. Tommaseo, “Giornale di una madre”, in N. Tommaseo, Sull’ educazione, Firenze, Le Monnier, 1846, pp. 52-61 que contém também um outro ensaio “Dell’imaginazione, come si svolga in un bambino che ne pare poco dotato”, pp. 246-250, que se baseia no “jornal” da mãe de Benedetto. 15. 1846. Bambina in L. Struempell, Psychologische Paedagogik, Leipzig, Boehme, 1888, pp. 352-368. 16. 1850. Robert Louis Balfour, in Stevenson’s Baby Book, Being the Record of the Sayings and Doings of Robert Louis Balfour Stevenson, son of Thomas Stevenson, C.E. and Margaret Isabella Balfour or Stevenson, San Francisco, Howell, 1922. 17. 1853. Caterina, in N. Tommaseo, “Il Giornale della Caterina,” trechos editados in F. Bacchetti, Niccolò Tommaseo e il “Giornale della Caterina”, Firenze, Le Lettere, 1997. 18. Maschietto, in B. Sigismund, Kind und Welt. Die fuenf ersten Perioden des Kindesalters. Braunschweig. Vieweg, 1856. 19. Emma, Erhart, Ernst in A. Schleicher, “Einige Beobachtungen an Kindern”, in A. Kuhn, A. Schleicher (Hrsg.). Beitraege zur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebiete der arischen, celtischen und slavischen Sprachen, Berlin, Duemmler, 1861, pp. 497-498. 20. Bambina, in H. Taine, “Taine on the Acquisition of Language by Children”, in Mind, vol. 2, 1877, pp. 252-259. 21. 1876. Betty, 1878 Elena, in L. Ferri, “Osservazioni e considerazioni sopra una bambina”, publicados in La Filosofia della scuola italiana, em três partes, em 1879, 1881 e 1883 e reeditados em Trisciuzzi, Il mito dell’ infanzia, cit. pp. 246-296. 22. 1877. Alice, in F. Pollock, “An infant’s progress in language” in Mind, 1878, vol. III, pp. 392-401. 23. Maschio in M.E. Egger, Observations et réflexions sur le développement de l’intelligence et du langage chez les enfants. 154 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Mémoire lu à l’ Académie des sciences morales et politiques. Paris, Picard, 1879. 24. Maschietto, in T.W. Preyer, Die Seele des Kindes. Beobachtungen ueber die geistige Entwickelung des Menschen in den ersten Lebensjahren. Leipzig, Grieben, 1882. 25. 1893. Ruth, in M. Washburn Shinn, Notes on the development of a child, University of California publications in education, vol. 4, 1908. Do texto, há também uma tradução parcial em francês prefaciada por René Zazzo, Ruth, la biographie d’un bébé. Trad. franc. Paris, PUF, 1988. 26. 1900. Bambina, in P. Rossi, “Una pagina di psicologia della culla” in La Rivista moderna, vol. III, pp. 5-6, reeditada in Pasquale Rossi e il problema della folla (organizado por T. Cornacchioli e G. Spadafora), Roma, Armando, sem data, pp. 461-476. 27. 1900. Hilde. 28. 1902. Guenther. 29. 1904. Eva, in W. Stern, Die Kindersprache. Eine psychologische und theoretische Untersuchung, Leipzig, Barth, 1907; C. und W. Stern, Erinnerung, Aussage und Luege in der ersten Kindheit, Lepzig, Barth, 1909; W. Stern, Psychologie der fruehen Kindheit bis zum sechsten Lebensjahr, mit Benutzung ungedrueckter Tagebuecher von Clara Stern. Leipzig, Quelle & Mayer, 1914. 30. 1903. Hans, in S. Freud, “Analyse der Phobie eines fuenfjaerigen Knaben, (Der Kleine Hans)”. In S. Freud, Studienausgabe, vol. VIII, Zwei Kinderneurosen, Frankfurt A.M., Fischer Taschenubuch Verlag, 2000, pp. 13-123. 31. 1904. Bubi, in E. e G. Scupin, Bubis erste Kindheit, Leipzig, Grieben, 1907. Degli stessi genitori Bubi im 4-6 Lebensjahre, Leipzig. Grieben, 1910. Desta obra, existe uma versão abreviada com desenhos da criança para o uso de educadores. Vier Lebensjahe “Bubi”. Eine Beispielsammlung aus dem Tagebuch ueber die geistige Entwicklung eines Knaben, Leipzig, Duerr, s.d.; G. Scupin, Lebensbild eines deutschen Schuljungen, Leipzig, Duerr, 1931. 32. 1906. Hannah, diário inédito com o título Unser Kind, mantido pela mãe, Martha Arendt, desde o nascimento da filha até 1917. É entre biografias e autobiografias pedagógicas 155 inédito e conservado nas “Carte Arendt” na “Library of Congress di Washington”. Dele trata E. Young-Bruehl no capítulo I de Hannah Arendt. 1906-1917. Per amore del mondo, trad. it. Torino, Bollati Boringhieri, 1990. 33. 1909. Ruth, in V. Rasmussen, Ruth, Tagebuch ueber die Entwicklung eines Maedchens von der Geburt bis zum 18 Lebensjahre, tradução do manuscrito dinamarquês, MuenchenBerlin, Oldenbourg, 1934. 34. 1920. Alik, in V. Schmidt “Lo sviluppo del desiderio di sapere in un bambino” e “L’ importanza del succhiare il seno e del succhiare il dito per lo sviluppo psichico del bambino. Brani del diario di Alik”. Trad. it. in V. Schmidt, L’ asilo psicoanalitico di Mosca, trad. it. Milano, Emme, 1972, pp. 33-86 e 89-111. 35. 1924. Ursula, in S. Isaacs, Intellectual Growth in Young Children, London, Routledge & Sons, 1930; Social Development in Young Children. A study of Beginnings, London, Routledge & Kegan Paul, 1933. A criança tinha sido aluna da Malting House, dirigida por Isaacs, em Cambridge, no início dos anos de 1920. 36. 1919. Nando, in Formiggini Santamaria, Giornale di una madre, Roma, Formiggini, 1926. 37. La “bambina diavolo” e “il bimbo bugiardo” in A. Freud, Einfuehurung in die Technik der Kinderanalyse, Vienna, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1927, passim. Os casos tinham sido tratados na metade dos anos de 1920. 38. *1930. Augusta: existem dois diários, um feito de apontamentos escritos em agendazinha que terminam quando a pequena tinha três anos, o outro, composto de muitos álbuns de fotografias com desenhos e legendas, que continuam mesmo que com freqüência progressivamente mais rara, até quando Augusta tinha mais de vinte anos. Havia – atualmente perdidos – também micro-histórias filmadas, cenas do diário detalhadas em pequenos filmes. 39. 1931. Richard in M. Klein, Narrative of a Child Analysis, in The Writings of Melanie Klein, vol. IV, New York, Delacorte-Seymour Lawrence, 1975. 156 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 40. *1935. Laura (há um outro diário de Laura escrito pelo pai, em alemão, que cobre um período mais breve, em 1936, mas não é a tradução parcial do diário iniciado em 1935) 1955, G. Frontali, “Lo sviluppo del linguaggio articolato nel bambino”, in Bollettino ed Atti dell’ Accademia Medica di Roma, n. 1, 5/6, pp. 7-21. 41. *1936. Clara, se trata da criança nas últimas páginas do Diário de Laura, da qual é um irmã menor. 42. 1949-1976. Leone, in G. Pentich, I colori di una storia. Momenti di vita e luoghi di poesia. Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1993. 43. *1950. Anna, no diário da avó Lina, que trata também de ambas as crianças – Anna e Claudio – no seu diário autobiográfico. 44. *1954. Claudio, no diário da avó Lina. 45. 1952. Eva in M. Zillig, Eine Schulanfaengerin, Psychologische Monographie eines sechsjahrigen Kindes, Muenchen-Basel, Reinhardt, 1960. 46. 1956. Jean, in A. Freud, Comments on Joyce Robertson’s “A Mother’s Observations on the Tonsillectomy of her Four-YearsOld Daughter in New York, International Universities Press, 1956. 47. 1963. C. Boltanski, 20 Règles et techniques utilisées en 1972 par un enfant de 9 ans. Kobenhavn, Berg, 1975. 48. 1968. Micol, in M. Lichtner, Le prime parole. Diario di una bambina. Roma, Meltemi, 1999. 49. 1973. Fabrice, in S. Mollo, Construire Fabrice, Paris, Edilig, 1982. 50. 1977. Piggle, in D.W. Winnicott, The Piggle. An Account of the Psychoanalytic Treatment of a little Girl, London, The Hogarth Press, 1977. 51. *1978. Silvia. 52. *1979. Viola. 53. D.N. Stern, Diario di un bambino. Da un mese a quattro anni, il mondo visto da un bambino, Milano, Mondadori, 1991. 54. *1995. Mirta. 55. Giorgia, in P. Bertolini, I primi tre anni della vita di una bambina raccontati da suo nonno. Roma, Meltemi, 2001. entre biografias e autobiografias pedagógicas B. Os diários das seguintes crianças são preenchidos sobre pré-estampados: 56. *Maria Rosa, 1955. 57. *Emilia, 1969. 58. *Roberto, 1968. 59. *Alessandro, 1972. 60. *Davide, 1976. 61. *Elena, 1978. 62. *Alessandra, 1980. 63. *Emma, 1980. 64. *Cristiano, 1981. 65. *Elisa, 1981. 66. *Francesco, 1981. 67. *Ilaria, 1982. 68. *Valentina, 1983. 69. *Simona, 1983. 70. *Daniela, 1984. 71. *Jéssica, 1986. 72. *Matteo, 1984. 73. *Sara, 1986. 74. *Federica, 1987. 75. *Elisa, 1990. 76. *Alessandro Giovanni, 1992. 77. *Diego, 1992. 78. *Camilla, 2002. 157 A constituição dos saberes escolares e as representações de infância na Reforma Fernando de Azevedo de 1927 a 1930 Sônia Camara* Neste artigo, pretendo promover uma análise do Programa para as Escolas Primárias do Distrito Federal, elaborado durante a Reforma Fernando de Azevedo de 1927 a 1930, procurando, a partir da constituição dos saberes escolares selecionados, particularmente no que concerne à disciplina de Educação Higiênica, identificar as diferentes representações de infância que configuraram como modelo para formação de um “novo cidadão” a ser forjado na capital do país. SABERES ESCOLARES; REFORMA DE ENSINO; INFÂNCIA; EDUCAÇÃO HIGIÊNICA. In this article I intend to promote the analysis of Program to Primary Schools of Federal District, elaborated during Fernando de Azevedo’s Reform from 1927 to 1930, searching, from the constitution of selected school knowledges, in particular, concerning, discipline of Hygienic Education, to identify the different representations of childhood that showed up as a model to development of the “new citizen” to be forged in the capital country. SCHOOL KNOWLEDGES; REFORM OF EDUCATION; CHILDHOOD; HYGIENIC EDUCATION. * Doutoranda em história da educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e professora assistente da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 160 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Introdução A lei biogenética, segundo a qual a criança deve ser antes um bom animal para ser mais tarde um bom civilizado, é a pedra angular da Escola Nova. Que importam métodos, processos, livros e aparelhagens ótimos, quando a matéria-prima não está em condições de ser preparada. Ninguém pode ensinar uma criança doente. Saúde em primeiro lugar e, depois, sabedoria. [...] A Escola Nova é, assim, a Escola da Saúde [Moraes, 1997, p. 615]. Intitulada Escola Nova, a tese de Deodato de Moraes, apresentada na I Conferência Nacional de Educação realizada pela ABE (Associação Brasileira de Educação), em 1927, procurou estabelecer as contraposições entre a escola tradicional e a nova e, por conseguinte, buscou delinear os princípios científicos e práticos do trabalho, da profissionalização e da saúde como parâmetros a partir do quais a escola deveria se organizar. A reorganização da escola implicava a superação da dimensão formalística, autoritária, triste, inerte, artificial e vista como cárcere para a infância que a escola tradicional teria assumido e, a contrapor à escola de Satã, surge a Escola Nova, cujo lábaro de harmonia com as leis físico-psíquicas da criança abre campo vastíssimo às observações e experiências (Moraes, 1997, p. 613). Ao explicitar o caráter da escola existente, em detrimento de uma nova formulação acerca do seu papel, Deodato de Moraes, mais do que construir alegorias acerca da escola, buscou reafirmar o sentido que deveria avocar a escola reformada tanto em sua intervenção na sociedade quanto na redefinição de suas práticas e finalidades com relação à formação da infância escolarizada. Como representante do Distrito Federal na I Conferência Nacional de Educação, Deodato de Moraes canalizou, de maneira significativa, as posições de uma plêiade de intelectuais que, como ele, via nas idéias identificadas com o escolanovismo a possibilidade de se estabelecer os novos pressupostos a partir dos quais a educação deveria se reorganizar. Fernando de Azevedo que, neste ano (1927), assumiu a Diretoria Geral de Instrução Pública do Distrito Federal, na mesma linha de argumenta- a constituição dos saberes escolares... 161 ção de Deodato de Moraes, procurou antagonizar Escola Nova e Escola Tradicional, a fim de reafirmar a importância dos pressupostos científicos, técnicos, metodológicos e pedagógicos advindos dos referenciais da escola reformada e nova. Nesse sentido, podemos dizer que o projeto de reforma que Fernando de Azevedo pretendia desenvolver encontrava-se assentado em três pilares centrais: a saúde, a moral e o trabalho. A partir desses parâmetros, acreditava poder traçar um novo perfil para as novas gerações, estabelecendo, portanto, a base necessária para a reconstrução do país. A reorganização dos aparelhos escolares, tendo em vista uma nova finalidade pedagógica e social, implicava a redefinição do papel da escola. A escola que, até então, vivia como uma instituição solitária em nosso meio, enquistada na vida social, com a qual não se relacionava intimamente e sobre a qual não influenciava, passava a ser vista como uma instituição social que iria variar em função das formas sociais e do desenvolvimento da sociedade. Para Fernando de Azevedo, essa nova perspectiva, preconizada com o projeto de reforma, antagonizava-se com os antigos procedimentos com os quais a escola vinha se organizando no Distrito Federal e sobre o qual era preciso incidir. Quando assumiu o cargo de Diretor Geral da Instrução Pública do Distrito Federal em 1927, Fernando de Azevedo trouxe consigo a convicção quanto ao poder da educação como elemento de progresso e civilização. Educar significava não só assegurar os interesses do país, mas também criar a identidade do povo em consonância com o conhecimento de suas necessidades e tradições nacionais. Em sua concepção, a reconstrução social e nacional do país não poderia ser realizada senão por uma educação sólida capaz de dar às novas gerações a consciência do seu destino e prepará-las para viver num ambiente de compreensão e solidariedade. Com a colaboração da Comissão de Planejamento e Reestruturação do Ensino e das Escolas, composta por Frota Pessoa, Renato Jardim e Jonathas Serrano, Fernando de Azevedo objetivou elaborar um corpo sistemático e apropriado de leis que regulassem o ensino que se encon- 162 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 trava, segundo ele, sob a influência de uma legislação fragmentária e confusa, pois expressava a “apatia” do Estado pelos problemas da educação. O Regulamento do Ensino, decreto n. 2.940, de 22 de novembro de 1928, constituiu um conjunto de textos normatizadores e operacionalizadores das transformações que se pretendia realizar na escola a partir da reorganização dos procedimentos administrativos, pedagógicos e educativos que orientavam o seu funcionamento. Fomentar um projeto que conseguisse extirpar do cenário carioca os males do seu atraso, identificados com o analfabetismo e a doença, significava a possibilidade de o Estado estabelecer as bases para promover o ajustamento e a inserção da capital e, por conseguinte, do país à ordem capitalista internacional fomentando e potencializando progressos técnicos e científicos na edificação de uma nova idéia de civilização. Entre as formulações apresentadas, o projeto de reforma previa uma ampla reestruturação do ensino, inspirando-se no propósito de atribuir à escola uma tarefa “social” e “nacional”, desenvolvendo para isto a sua renovação interior a fim de adequar o ensino à criança. A preocupação com a formação social do indivíduo vai aparecer como tônica a orientar as práticas desenvolvidas na escola pelas diferentes instituições criadas pela reforma, uma vez que visava a contribuir para a formação cívica e moral, ressaltando sua importância para a coletividade social. Nesse sentido, o sistema escolar assumiu um duplo papel: o de formar os indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade (Chervel, 1990, p. 184). Para isso, estratégias foram concebidas a fim de assegurar o desenvolvimento das escolas como “colméias sociais” vibráteis e laboriosas, onde todos deveriam ter o dever de trabalhar e tornar-se parte desta comunidade solidária. A criação das instituições e associações auxiliares do professor, integradas aos métodos advindos com o escolanovismo, conferiam à escola um caráter novo e dilatava seu raio de ação sobre o meio social e seus freqüentadores. O ensino público assumiu o caráter de obrigatoriedade e gratuidade como elementos fundamentais para a expansão da educação, passando a constituir-se da seguinte maneira: ensino infantil ministrado nos jar- a constituição dos saberes escolares... 163 dins de infância, ensino primário de cinco anos1, ensino vocacional e ensino profissional, bem como o curso normal. A reorganização das escolas colocava em foco a necessidade de a reforma atuar sobre a organização, e o que era ministrado no ensino público do Distrito Federal. A fim de intervir sobre o emaranhado de conteúdos que a escola ensinava, Fernando de Azevedo organizou, em 1929, uma comissão, composta pelos educadores Paulo Maranhão, Everardo Bacheuser, Celina Padilha, Maria dos Reis Campos, Afonsina das Chagas Rosa e Alcina de Souza, que tinha como objetivo organizar os Programas para as Escolas do Distrito Federal. Para além de elencar as matérias e os conteúdos a serem ensinados, os programas apresentavam orientações pelas quais deveriam se pautar as escolas, estabelecendo as finalidades objetivas às quais professores, alunos e demais funcionários deveriam nortear seus procedimentos e condutas. Nesse texto, pretendo, de forma preliminar, analisar o programa elaborado para as escolas primárias do Distrito Federal. Procurando, a partir da definição das finalidades objetivas e da constituição dos saberes escolares selecionados para compor o plano de matérias, identificar as diferentes representações de infância que configuraram como modelo desejável para a formação desse “novo cidadão” a ser forjado na capital do país. Acredito ser imperioso, para o desenvolvimento de minha reflexão, pensar sobre o significado do que a escola ensinava e como os conteúdos selecionados inseriram-se na constituição de uma perspectiva de sociedade moderna nos anos de 1920. Para esse intento, voltarei minha atenção prioritariamente para o plano de matéria da disciplina de Educação Higiênica a ser oferecida nos cinco anos do curso primário, como parte das iniciativas fomentadas pela reforma para configuração de um novo tipo de educação direcionada à formação dos indivíduos oriundos das camadas populares da sociedade carioca. 1. A matrícula tornou-se obrigatória nas escolas primárias às crianças de 7 a 12 anos e facultativa às crianças de 13 a 16 anos. É interessante observar que permanece a referência de criança para designar os de 13 a 16 anos numa indicação, ao nosso ver, do tempo de duração da infância à época. 164 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Com este intento, podemos dizer que esse texto se organiza em dois momentos: no primeiro, pretendo analisar o programa para as escolas primárias concebido pela Reforma Fernando de Azevedo e, nele, entender as finalidades que sustentaram a seleção e organização dos conteúdos expressos na disciplina de Educação Higiênica; no segundo momento, problematizar as representações de infâncias constituídas no programa da Reforma. Saberes escolares para quê? A Educação Higiênica em perspectiva Os Programmas para as escolas primárias, elaborado em 1929, com a reforma de ensino partiu de uma noção comum sobre o que seriam o papel do professor, o lugar da escola e as finalidades gerais que deveriam orientar a reorganização da escola em suas técnicas de leitura, escrita, cálculo, nos hábitos de higiene, de saúde, de patriotismo, nos valores morais, nas normas de polidez, nas noções de vida doméstica e social, selecionando e estabelecendo o que necessitava ser fixado como centro propulsor da reforma das escolas. A preocupação com as condições físicas, pedagógicas e de equipamentos orientou a perspectiva intervencionista estabelecida por Fernando de Azevedo que via na organização material das escolas, na sistematização de um “guia para os professores” e na reorientação das finalidades educativas da escola a possibilidade de se construir uma verdadeira “Revolução da educação do país”. Partindo dos princípios da escola única, escola do trabalho e escola do trabalho em cooperação, Fernando de Azevedo e sua equipe definiram o caráter da escola reformada, moderna, em que os programas apareciam associados à construção dos “novos fins, novos meios” de se pensar a escola em suas relações educativas, passando a ser concebida como “laboratório de saúde da raça” e espaço de formação de hábitos sadios e desejados para a integração moral e social da criança. A saúde é a condição primordial de uma vida completa, a base da felicidade individual e da contribuição que possa prestar o homem à coletividade. Edu- a constituição dos saberes escolares... 165 car um povo para que tenha saúde é dar-lhe maior eficiência de trabalho, é realizar verdadeira obra de patriotismo [Programmas, 1929, p. 51]. As disciplinas de Observação (Geografia, Ciência Física e Natural); disciplinas de Expressão (Linguagem, Desenho, Trabalhos Manuais); Iniciação Matemática (Aritmética, Geometria); História Pátria; Educação Social; Educação Higiênica (Higiene e Puericultura) e Educação Doméstica foram pensadas em conjunto, agrupadas em torno de centros de interesses que passaram a definir o que deveria ser ensinado pelos professores, tendo em vista a composição que adquiriu o programa para as escolas primárias com a Reforma Fernando de Azevedo. O programa trouxe um plano de distribuição de disciplinas comum pelos cinco anos da escola primária, diferindo os conteúdos e metodologias a serem adotados pelos professores a cada ano. As disciplinas do curso primário assim se estruturaram: Conhecimentos Gerais, disciplinas de Expressão; Iniciação Matemática; Educação Higiênica e Educação Doméstica. Para além de se constituir como currículo a ser desenvolvido na escola, o programa se estabeleceu como um balizador das condutas a serem observadas pelo professor a partir da fixação de princípios que nortearam as práticas produzidas na escola. Nesse particular, é interessante ressaltar que algumas disciplinas passaram a constituírem-se como auxiliares imprescindíveis dos professores, independentemente da disciplina que trabalhassem. Exemplar disso são as disciplinas de Expressão (Desenho, Linguagem, Trabalhos Manuais) que deveriam ser utilizadas no ensino de todas as demais disciplinas, uma vez que eram vistas como os meios mais usuais para a expressão do que sente e pensa a criança (Programmas, 1929, p. 34). Como nos afiança Bittencourt, a presença de cada disciplina escolar no currículo, sua obrigatoriedade ou sua condição de conteúdo opcional e, ainda, seu reconhecimento legitimado por intermédio da escola não se restringe a problemas epistemológicos ou didáticos, articula-se ao papel político que cada um desses saberes desempenha ou tende a desempenhar, dependendo da conjuntura educacional em que se constituiu (2003, p. 10). 166 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 O destaque dado à disciplina de Educação Higiênica em sua dimensão de conteúdos escolares, de práticas instituídas e de assistencialismo realizado deve ser pensado no contexto de sua institucionalização como saber legítimo e imprescindível à realidade escolar, uma vez que veio se processando em diferentes lógicas discursivas (médica, jurídica, urbanística) presentes na sociedade dos anos de 1920, a prerrogativa de se estabelecer os parâmetros necessários para higienização, medicalização, controle e conformação dos corpos e da cidade em relação a uma lógica que identificou o progresso e a modernidade à idéia de limpeza, beleza, educação e saúde. Transformar-se numa sociedade moderna e civilizada significava, entre vários aspectos, suplantar-se o viver de acordo com os conhecimentos e ensinamentos de um grupo que se destacava do conjunto, exatamente por ter o domínio deste conhecimento. Este era o critério para diferenciar a ordem da desordem. Os higienistas pretendem erigir-se assim como a razão nesta ordem. A desordem associada à ignorância das regras de higiene é desqualificada e justifica a ênfase na questão da educação [Cavalcante, 1985, p. 102]. Além da transmissão dos conteúdos a serem ensinados a partir das práticas dos professores em sala de aula, as finalidades que orientavam a constituição de formas de intervenção na escola devem ser analisadas para que desta maneira se possa entender que a materialidade que assumiram as idéias no contexto educacional não se encontrava subsumida a uma única lógica discursiva de intervenção social, constituindo o entrelaçamento entre as expectativas do poder público e os diferentes setores da sociedade, visando a estabelecer o predomínio de soluções para os problemas do país2. Compete à inspeção médica “zelar pela saúde das crianças das escolas, manter as condições higiênicas do meio escolar e difundir princípios gerais 2. Neste texto não me proponho a discutir a aceitação ou recusa desses pressupostos defendidos e colocados em prática nas escolas pela Reforma. a constituição dos saberes escolares... 167 de higiene, cabendo à autoridade técnica incumbida de sua execução realizar: a) palestras nas classes, a propósito de assuntos sugeridos por fatos da vida escolar, no momento de visita; b) preleções sistemáticas sobre puericultura prática; c) organizar pelotões de saúde etc.” [...] [Velloso, 1929]. A ampliação do papel da escola envolvia também a influência que essa passaria a exercer na formação mental e moral da criança, ampliando seus domínios e dando a ela lugar preponderante na racionalização de procedimentos necessários para a formação do novo cidadão que se esperava formar. Para além de instruir, a escola deveria dar lições de higiene e de cultura nacional, educando os costumes, os hábitos e instaurando um novo perfil de aluno, de professor e de espaço escolar. Objetivando promover uma educação integral, Fernando de Azevedo defendeu a importância de se implementarem atividades complementares como o pelotão de saúde, o prato de sopa, as ligas de bondade, o escotismo, a assistência dentária, as colônias de férias, os clubes de leituras, as cooperativas escolares através das quais a escola passaria a ser pensada como escola de saúde, graças ao seu ambiente de conforto e pelas suas instalações próprias e ações conjuntas de todas as autoridades e auxiliares. O programa construído com a reforma alargou a ação da escola para além dos seus domínios, alcançando os lares das camadas “desprezadas da sorte”. Nesse particular, parece-me bastante significativa a orientação que se estabeleceu para a disciplina de Educação Higiênica oferecida, indistintamente para meninos e meninas, nos cinco anos da escola primária. Sendo, particularmente, interessante à introdução, no quinto ano da disciplina de Puericultura. Educação Higiênica Primeiro ano • Hábitos de higiene bucal. Uso da escova de dente. • Higiene dos olhos, ouvidos, nariz, das mãos e dos pés. 168 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 • Hábitos de higiene da pele, banhos, fricções, banhos de sol. • Higiene da alimentação. Escolha de alimentos. Como mastigar engolir; hábitos de temperança. • Hábitos de regularização das principais funções de excreção (urinária e intestinal). Hábitos higiênicos no uso dos aparelhos sanitários. • Higiene do vestuário. • Hábitos higiênicos relativos ao sono. Segundo ano • Ar. Poeiras. Ventilação. Quarto de dormir. • Água. Utilidade. Asseio. Moléstias transmissíveis pela água. Meios de evitá-las. Filtragem. • O sol como centro de energia vital e microbicida. Vantagens e perigos do sol de verão. Iluminação natural e artificial. Trabalho à noite. • Perigos dos animais domésticos. Doenças transmitidas pelos mosquitos, moscas, pulgas. Meios de exterminá-los. • Frutas e verduras. Seu papel na alimentação. • Asseio da habitação. • Hábitos higiênicos. Terceiro ano • O ar – Papel do oxigênio e do azoto (sic) – A hematose e a função clorofiliana – Respiração defeituosa. Ar viciado e seus efeitos sobre a saúde e o trabalho. • Meios de evitar a tuberculose. • Alimentos em geral – Sua utilização na ração normal. Sua importância no crescimento. Pesagem dos alunos. Relação entre o peso e a altura. Horário das refeições; inconvenientes das irregularidades e dos abusos. Super e sub-alimentação. Doenças transmissíveis pelos alimentos. Precauções higiênicas com as frutas e saladas. Regime vegetariano e misto. • A febre amarela e o tifo – profilaxia. a constituição dos saberes escolares... 169 • Saneamento da cidade do Rio de Janeiro. O Rio antigo e o moderno. Hábitos higiênicos. Quarto ano • Bebidas estimulantes. • Alcoolismo – agudo e crônico. Malefícios para o indivíduo, para a família e para a sociedade. • O leite e seu papel segundo a idade – sub-nutrição. • Profilaxia das principais moléstias transmitidas por insetos. Impaludismo, ancilostomose. • Verminoses. Modos de propagação e meios de combatê-las. • Higiene da visão. • Moléstias contagiosas mais comuns. Hábitos para evitá-las. • Princípios de higiene mental. Quinto ano • Puericultura. • Higiene do recém-nascido. O quarto da criança, o vestuário, o asseio corporal, os passeios. • Aleitação natural. Aleitação artificial. Aleitação mista. • Alimentos próprios da criança. • Desmame. Alimentação da criança nas diversas idades. • Alimentação da criança doente. • Desenvolvimento normal da criança: o peso e a estatura; a pele e as mucosas; a musculatura; o desenvolvimento físico; o sono; as fontanelas; os dentes; a temperatura; o trabalho digestivo. • Higiene dos olhos, da boca, dos ouvidos, do nariz, da garganta e dos órgãos sexuais da criança. • Higiene mental das crianças (Programmas, 1929, pp. 56-57). Os saberes que foram introduzidos a esta nova finalidade educativa da escola denotaram a preocupação de associar o homem aos princípios da natureza, do trabalho e da sociedade como formas fundamentais para a formação completa desse futuro cidadão a ser incorporado à socieda- 170 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 de que se pretendia moderna e civilizada. A perspectiva de infância desejada, a se constituir a partir do programa, demonstrava a ênfase atribuída à consolidação de princípios higiênicos a serem ensinados e interiorizados pelas crianças das escolas públicas, intervindo no corpo, na casa, na família e nos seus hábitos a fim de contribuir para a formação de mentes sãs e corpos sãos. Não há matéria, não há atividade escolar, não há solenidade que não dê ensejo a uma lição de moral ou de civismo. Incutir no espírito do aluno à consciência do dever e da responsabilidade formar-lhe o caráter; criar e desenvolver o espírito de brasilidade despertar-lhe a consciência dos deveres de cidadão [...] todos os professores unidos por um ideal comum e empenhados por um profundo sentimento cívico em preparar o cidadão capaz de amar a sua terra [idem, p. 14]. A educação integral pretendida com a reforma objetivou preparar o aluno para o trabalho e para isso era fundamental desenvolver hábitos higiênicos, despertando-lhe o sentido da saúde como elementos imprescindíveis em sua formação tanto através das matérias ensinadas, como nas orientações prescritas pelas enfermeiras e inspetores médico e dentista, visando a promover a prática, a propaganda e a defesa dos hábitos higiênicos necessários à formação de uma “infância civilizada” e “útil” ao meio escolar e social. Por um lado, é possível observar que o interesse que se tencionou incutir no aluno, bem como as práticas que se desenvolveram em classe (asseio, ordem, disciplina, ornamentação da sala de aula, pesquisa, confecção de material para museu) e, por outro, o sentimento de solidariedade, cooperação e responsabilidade que se buscou despertar e desenvolver nas crianças foram os fatores que contribuíram para a reorganização das atividades escolares dentro de sua finalidade social (idem, p. 15). Visavam a despertar no aluno o desejo de praticar hábitos sadios, tanto pelo aconselhamento que se daria nas escolas, como também pela prática de atividades que o levassem a desenvolver desenho, redação, confecção de cartazes, representações, canções a propósito da educação a constituição dos saberes escolares... 171 sanitária e da necessidade de sua pronta adaptação ao cotidiano escolar e familiar das crianças, pois, como salienta Chervel, “[...] as disciplinas escolares intervêm na história cultural da sociedade, preparando a aculturação dos alunos em conformidade com certas finalidades, sendo isto que explica sua gênese e constitui sua razão social” (1990, p. 220). Neste sentido, poderia então inquirir sobre que representações de infância foram constituídas e quais as finalidades de sua organização no contexto de implementação da Reforma no Distrito Federal? Os saberes escolares e as representações de infâncias A representação de uma infância desejada estava intimamente associada ao referencial de criança saudável, ajustada e em consonância com a perspectiva de civilização pretendida para o país nos anos de 1920. É sugestivo pensar que, ao propor os conteúdos da disciplina de Educação Higiênica, os métodos de ensino e as práticas educativas a serem desenvolvidas nas escolas, Fernando de Azevedo pretendia, para além de configurar uma nova cultura escolar, estabelecer um novo padrão de infância moldada aos princípios de higiene e aos referenciais científicos que definiram pelos vieses da psicologia e da puericultura os parâmetros a partir dos quais se forjaram as idealizações mental, física e pedagógica para a infância do país em mudança. As inspeções escolares foram estimuladas e com elas a elaboração de práticas normatizadoras, ações de vigilância e fiscalização sobre o corpo da criança corporificaram-se. Se a escola era vista como laboratório, a criança passava a ser objeto de investigação. A prática da pesagem e da medida, bem como a revista diária e os exames constantes dos aparelhos respiratório, visual, auditivo, garganta e nariz indicavam a necessidade maior ou menor da intervenção por parte da escola na vida da criança (Camara, 2003, p. 408). A higiene individual, ressaltada na limpeza das roupas, unhas, cabelos, orelhas e dentes foi minuciosamente observada, uma vez que possibilitava juntamente com a ficha médica e sanitária traçar o perfil 172 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 familiar da criança. A higiene da criança, tanto nos aspectos físicos quanto nos mentais, foi objeto de atenção onde a partir do seu comportamento, o professor deveria ser capaz de enquadrá-la como normal ou anormal. A definição dessa natureza deveria ser seguida de procedimentos específicos, a fim de identificar e intervir na adaptação dos indivíduos que apresentavam qualquer problema ou que fossem diagnosticados como anormais3. A preocupação em organizar de forma sistemática as finalidades e os conteúdos a serem ensinados na escola expressou a tentativa por parte da Diretoria de Instrução Pública de se estabelecerem referenciais a partir dos quais se instituiu a caracterização de uma infância desejável e simetricamente o seu oposto. Sendo assim, é possível dizer que a condição de escolar atribuída à criança sancionou a afirmação de uma identidade própria a ser assumida por ela no espaço da escola denotando o sentido ideal de infância4 desejada e civilizada a ser construída a partir da implementação e dos procedimentos a serem encaminhados pela reforma do ensino. Neste contexto, forjou-se uma nova representação de criança e de aluno, uma vez que se associou a sua imagem à mudança de foco da educação reformada, e a essa criança seria preciso associar novas capacidades, negligenciadas pela escola tradicional. Além de observador atento, investigador tenaz, deveria a criança ter discernimento e iniciativa pessoal, constituindo-se como “[...] ser vivo pensante, como unidade sob o ponto de vista físico, intelectual e moral” (Moraes, 1997, p. 615). Quanto à essa dimensão de infância escolarizada é possível perceber que se constituíram adjetivações a partir das quais as “crianças” 3. 4. Objetivando atender às crianças anormais, Azevedo mandou construir na Quinta da Boa Vista a escola para débeis físicos, onde as condições de higiene e salubridade foram ressaltadas na arquitetura concebida por Nereu Sampaio. Utilizo a idéia de infância desejada como acepção correlata a criança/aluno disciplinado e afeito aos pressupostos propugnados pelo Programa da Reforma, por considerar que, ao estabelecer os referenciais a partir dos quais as crianças escolarizadas deveriam pautar-se, sancionaram uma prerrogativa de infância, vista como fase da vida da criança na qual a escola teria o papel de encaminhar, moldar e construir hábitos saudáveis. a constituição dos saberes escolares... 173 seriam pensadas, escutadas, prescritas e silenciadas no espaço da escola. Nessa perspectiva, buscaram associar os aspectos psíquicos, sociais, culturais e físicos para reforçar as representações construídas acerca do lugar da criança na sociedade, estabelecendo as distinções por sexo, compleição física, normal, anormal e de raça como elementos significativos na configuração da identidade da infância desejada e “perfeita” para a capital do país, numa alusão clara à necessidade de a escola exercer um papel preventivo no sentido de inibir os perigos provenientes de um cotidiano vicioso e condenável a oferecer toda sorte de perigos às crianças em formação. Como parte educativa devemos considerar a que procura desenvolver no indivíduo qualidades e sentimentos que o tornem apto a preencher da melhor maneira o seu papel na coletividade política de que faz parte, ocupa-se, portanto, dos deveres e direitos do cidadão. Mas as qualidades do perfeito cidadão ligam-se intimamente as do homem perfeito [Programmas, 1929, p. 48]. Nesse sentido, como salienta Chartier, as representações constituem como matrizes de práticas construtoras do mundo social e, nesse particular, a noção de representação coletiva autoriza a articularmos três modalidades de relação com o mundo social. Primeiramente, que a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos que compõem uma sociedade; segundo, que as práticas visam a fazer reconhecer uma identidade social, exibe uma maneira própria de ser no mundo e, terceiro, que as formas institucionalizadas e objetivadas das representações marcam de modo visível e perpétuo a existência do grupo, da comunidade ou de classe. A partir desta constatação, abre-se uma dupla via: uma que pensa a construção das identidades sociais como resultado de uma relação de forças entre as representações impostas pelos que detêm o poder de classificar e de nomear, implicando aceitação ou resistência que cada comunidade produz de si, outra que considera o recorte social objetivado como a tradução do crédito conferido à representação que cada grupo dá de si mesmo (1991, pp. 183-186). Se por um lado, o programa pretendia, a partir das disciplinas selecionadas, construir a intervenção na sociedade, estabelecendo os padrões 174 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 desejáveis de comportamento para o aluno, por outro, encontramos um contingente enorme de crianças excluídas desses espaços escolares, cabendo a elas o atendimento filantrópico promovido por associações assistenciais ou pelas escolas, através do assistencialismo realizado com a distribuição dos pratos de sopa para as “crianças pobres e necessitadas”. O ensino obrigatório impõe-se, a meu ver, como única medida eficaz a ser adotada. Somente depois que se der um destino certo a essa multidão de almas inocentes que perambulam a esmo pelas sarjetas, em completa imundície física e moral, é que se poderá modificar o aspecto desolador que esta grande cidade nos oferece diariamente [Werneck, 1929]. A preocupação de “ajustar” a escola ao meio social trouxe a necessidade de constituí-la como um elemento dinâmico, criador e disciplinador de atividades, capaz de transmitir valores e ideais às novas gerações, exercendo sobre as crianças uma pressão poderosa, capaz de contribuir para a transformação do meio social para o qual foi criada. À medida que se vivia num meio que necessitava ser modificado, a escola assumiu o papel de agente prioritário desta ação, uma vez que atuando junto às crianças, tinha a função de colaborar para a implementação de hábitos sadios e saudáveis junto à população pobre que habitava a cidade, para isso associaram esforços no sentido de transformar a escola em modelo exemplar de higiene e saúde. Materializando-se em “lugar de saúde”, a escola, aberta à luz do sol e ao ar, limpa, espaçosa, ordenada e clara, exerceria por si só uma “poderosa sugestão higiênica sobre as crianças. Contrastando com a sujeira dos seus sapatos e das suas mãos, o assoalho limpíssimo e os móveis polidos e lustrosos ensinariam às crianças a necessidade de limpar a sola dos sapatos e lavar as mãos. Agindo sobre a tendência à imitação, a escola, impecavelmente limpa e iluminada, transbordaria a sua ação educativa para o ambiente doméstico,“e assim, a instalação escolar, pela sua simples força de presença, irá repercutir nas condições sanitárias do domicílio” [Rocha, 2003, p. 48]. a constituição dos saberes escolares... 175 Embora os programas elaborados visassem a conformar as escolas às finalidades estabelecidas, havia na apropriação construída pelos sujeitos professores e alunos o lugar da criação, da recusa do enfrentamento surdo em relação aos procedimentos a serem desenvolvidos na escola. É possível dizer que a composição dos programas associava-se à perspectiva de se construirem práticas no espaço da escola que modificasse a cultura das crianças oriundas das classes populares, denotando à escola o papel de intervenção no social e de transformação dos indivíduos, sem a qual, a criança estaria sujeita a toda sorte de vícios e degradação. Nesse aspecto, posso inferir que os conhecimentos que passaram a compor a disciplina de Educação Higiênica assumiram um papel normatizador e disciplinador, uma vez que expressavam as finalidades que deveriam estruturar os ideais de formação de uma sociedade identificada com os preceitos higiênicos a serem socializados, e incorporada como práticas cotidianas no viver da população, para além do espaço da escola. Assim, uma disciplina define-se tanto por suas finalidades quanto por seus conteúdos, e para entender a seleção do que se deve ensinar é preciso ter claro quais as finalidades que orientam as escolhas. Embora as finalidades das disciplinas aparecessem como preocupação fundamental no Programa da Reforma, é possível afirmar que isto não garantia a sua existência no ensino real das salas de aula, pois “as finalidades das disciplinas nunca são unívocas. Procedem, normalmente, de arquiteturas complexas, nas quais estratos sucessivos, que se sobrepuseram a partir de elementos contraditórios, se mesclam” (Julia, 2002, p. 51). A obra fundamental da escola não estava associada apenas à difusão do ler, do escrever e do contar como base necessária à extensão das aprendizagens para todos, isto é, ao lado do aumento quantitativo da alfabetização pretendida pela reforma encontrava-se, também, a constituição dessas e de outras aprendizagens como saberes escolarizáveis, o que conferiu a essas aprendizagens estatutos diferentes, imprescindível à passagem dos conhecimentos amadores para conhecimentos profissionais, sob a batuta dos referenciais advindos com a ciência e a técnica. 176 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 A escola não só transmitiu valores, mas também se apropriou deles, produzindo novos saberes, através dos quais pretendeu intervir no meio social. No caso da disciplina de Educação Higiênica, a presença maciça de conteúdos associados a usos e práticas do cotidiano das famílias denotava a tentativa de se escolarizar os saberes naturalmente adquiridos, instituindo a competência da escola e a legitimidade dos saberes escolares a serem apropriados pelas crianças. Afora as medidas assistencialistas adotadas nas escolas, foram as medidas preventivas e profiláticas que adquiriram papel preponderante, uma vez que visavam não só a contribuir para a coibição dos avanços dos vícios do fumo e do alcoolismo, como também das epidemias que infestavam a cidade. Exemplar dessa iniciativa intervencionista na constituição ou na conformação dos comportamentos das crianças pode ser pontuada na forma como a disciplina de Educação Higiênica foi organizada. Logo no primeiro ano, a criança deveria constituir hábitos de higiene pessoal (higiene bucal, associada ao uso da escova de dente; higiene dos olhos, ouvidos, nariz, mãos, pés, pele, banhos, banhos de sol; higiene alimentar, como mastigar e engolir, hábitos de “regularização das funções de excreção”, hábitos no uso dos aparelhos sanitários; higiene do vestuário e hábitos higiênicos relativos ao sono. Para, então, no 2o, 3o e 4o anos direcionarem o foco de preocupação para a natureza e sua relação com o homem, o trabalho e a sociedade). No 5o ano, a Educação Higiênica assumiu a designação de Puericultura e seus conteúdos foram direcionados para a aprendizagem da higiene, da alimentação e do desenvolvimento intelectual, físico e psicológico da infância, permitindo aos alunos, ao final da escola primária, estarem imbuídos de “todos os conhecimentos necessários” para a sua formação como homens e mulheres conscientes de seus deveres e de seus papéis sociais. A higiene individual constituiu o meio a fim de se promover a higiene social, estabelecendo-se como hábitos internalizados e incorporados ao viver das camadas mais pobres da sociedade e, dessa forma, modificando os seus costumes. A presença da Puericultura em lugar da Educação Higiênica, no 5o ano da escola primária, é sugestiva da preocupação do reformador em a constituição dos saberes escolares... 177 encaminhar as crianças na escolha por uma profissão, e a partir desse momento a escola se organizava de maneira diferenciada para meninos e meninas5. A escola primária, vista como escola do trabalho educativo, deveria fornecer o escopo necessário para o enraizamento dos valores e sentidos necessários para a conformação das crianças aos papéis sociais que exerceriam, atribuindo-lhes a “responsabilidade que têm para com o futuro se não prevenirem sua prole contra as deficiências e deformações provenientes da má saúde dos pais” (Programmas, 1929, p. 53). O maior esforço deve ser exercido evidentemente sobre as crianças às quais convém dar hábitos novos “tão bem enraizados que elas lhes obedeçam como a verdadeiros preconceitos”. Mas à escola, além dos cuidados do espírito e do corpo de que deve cercar as crianças, compete trabalhar, por intermédio das educadoras sanitárias, para lhes criar, nas famílias, por mais modestas que sejam, um ambiente mais favorável à saúde, reagindo contra todos os elementos que possam alterá-la ou pô-la em perigo [Azevedo, s/d., p. 181]. Além dessas medidas preventivas, a adoção de critérios médicos para realização da matrícula escolar passou a definir o padrão desejável da criança que ingressaria no mundo escolar. O exame médico6 realizado deveria observar se a criança apresentava retardamento mental, doenças contagiosas ou incuráveis e se havia sido vacinada. Concomitantemente, as premissas de higienização dos corpos e normatização das 5. 6. Para entender melhor a perspectiva do gênero na escola primária no período da Reforma Fernando de Azevedo, ver o texto de Diana Vidal, “A Educação Doméstica e a Reforma da Instrução Pública do Distrito Federal (1928-1930)”, 1996. Segundo Antonio Leão Velloso, existiam diferenças entre a inspeção médica escolar que tinha a finalidade de amparar, auxiliar e assistir os escolares, e a inspeção médica sanitária escolar, que atuava de forma profilática na escola, identificando as crianças portadoras de doenças e prescrevendo tratamento e o seu afastamento do espaço escolar. Neste mesmo artigo, Velloso demonstra a existência de dois encaminhamentos quanto ao problema da assistência escolar. De um lado a visão defendida por Oscar Clark, chefe do serviço da Inspeção Médica da Diretoria Geral de Instrução Pública, e de outro lado, Zopyro Goulart, médico escolar que defendia a prerrogativa profilática para a inspeção escolar. “Profilática ou assistência?” Jornal Correio da Manhã de 14 de maio de 1929. 178 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 condutas tornaram freqüente a preocupação com a ordenação dos espaços escolares e da cidade, como podemos observar no discurso proferido por Fernando de Azevedo, no salão do Jockey Club, no dia 8 de setembro de 1927, sobre a questão da higiene escolar e higiene física do aluno. Esta questão não basta enunciar para avaliar o seu alcance, reveste excepcional gravidade, em face da miséria orgânica e social da população da maioria das escolas rurais e suburbanas. Eu falo em nome das crianças dos meios rurais e operários, filhos da rua e da miséria, brotadas em lares onde escasseia o pão e sobram as provações e onde o agasalho do corpo e a própria subsistência não provém do salário certo, mas de expedientes aleatórios. Eu falo em nome dessas crianças enfezadas e anêmicas, quase maltrapilhas que enchem grande número de escolas públicas, bem perto do bulício e do fausto dos brandes centros da cidade, e trazem, na tristeza apática, nas olheiras fundas e no olhar sem brilho, quando não nas escolioses, e em toda espécie de estigmas, a marca do meio social em que detinham, e todos os sinais de uma debilidade congênita agravada pelas taras hereditárias e pela penúria de meios malsãos, e oferecida como presa fácil à contaminação ambiente. Por menor que pareça, constituem essas crianças quase a metade da população em idade escolar que rumoreja em casarões sombrios ou cochicholos infectos, em que a higiene não pode, pela força irremovível das condições dos prédios, passar do papel, e a própria educação física se ministra nos saguões dos edifícios, nos quintais e em pátios de recreio, inapropriados sujeitos a emanações insalubres de instalações sanitárias [Programmas, 1929, p. 50]. O discurso de Azevedo trouxe a intenção de processar uma intervenção no espaço da cidade, através da construção dos prédios escolares adaptados às condições sanitárias e higiênicas, como também na forma de inserção das crianças na cidade. A argumentação produzida procurou patentear as reivindicações e necessidades das camadas mais pobres da sociedade, representadas pelos operários e trabalhadores em geral, com a intenção de criar representações acerca de uma infância “desprezada”, “doente”, “estigmatizada”, “triste”, o contraponto para defender os pressupostos necessários para criar na criança o “sentido da a constituição dos saberes escolares... 179 saúde”, associado a uma infância protegida, saudável, assistida, alegre e robusta a ser educada na escola reformada. Os saberes escolares e as práticas pedagógicas que se desenvolveram nas escolas inscreveram-se como estratégias de configuração do campo escolar e, por conseguinte, de intervenção no campo social pelos sujeitos envolvidos no processo de escolarização da sociedade por meio da “escola da saúde” implementada com a Reforma Fernando de Azevedo. Estiveram, neste particular, em diálogo e em consonância com outros movimentos que, empreendidos por diferentes setores da sociedade, tais como o jurídico e o médico, vislumbraram na educação direcionada à criança e na ação desempenhada pela escola, elementos cruciais para se realizar o esforço transformador da sociedade nas décadas de 1920 e 1930. A seleção dos conteúdos escolares constitutivos da disciplina de Educação Higiênica, expresso no plano de matérias da Reforma Fernando de Azevedo, bem como as práticas e fazeres introduzidos por ela, balizamme a pensar que tais referenciais corroboraram para a configuração, na capital do país, das produções das representações de “infâncias desejadas” como reverberação da idealização do homem novo a constituir-se como esteio fértil para o futuro do país em bases modernas e identificadas com a civilização proclamada e desejada pelos reformadores. Referências bibliográficas Fontes primárias AZEVEDO, Fernando de (s/d). Novos caminhos e novos fins. São Paulo: Melhoramentos. DECRETO n. 2.940 de 22 de novembro de 1928. In: Coleções de Leis Municipais e Vetos. Regulamento do Ensino. MORAES, Deodato (1997). “A Escola Nova”. In: COSTA, Maria José Franco (org.). I Conferência Nacional de Educação. Brasília: INEP. 180 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 PROGRAMMAS PARA OS JARDINS DE INFÂNCIA E PARA AS ESCOLAS PRIMÁRIAS (1929). Rio de Janeiro: Gráfica do Jornal do Brasil. WERNECK, Otávio M. (1929). “Combate à miséria”. Jornal Ordem, 27 jun. VELLOSO, Antonio Leão (1929). “Profilaxia ou assistência?”. Jornal Correio da Manhã, 14 maio. Fontes secundárias BITTENCOURT, Circe (2003). “Disciplinas escolares: história e pesquisa”. In: OLIVEIRA, Marcus T. & RANZI, Serlei (orgs.). História das disciplinas escolares no Brasil: contribuições para o debate. Bragança Paulista: EDUSF. CAMARA, Sônia (2003). “As reformas de instrução pública e a educação profissional feminina no Distrito Federal durante os anos 20”. In: MAGALDI, Ana M.; ALVES, Claúdia & GONDRA, José (orgs.). Educação no Brasil: história, cultura e política. Bragança Paulista: EDUSF. CAVALCANTE, Berenice de O. (1985). “Beleza, limpeza, ordem e progresso: a questão da higiene na cidade do Rio de Janeiro, final do século XIX”. Revista Rio de Janeiro, vol. 1, n. 1. CHARTIER, Roger (1991). “O mundo como representação”. Estudos Avançados, vol. 5, n. 11, jan./abr. CHERVEL, André (1990). “História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa”. Revista Teoria & Educação, n. 2. JULIA, Dominique (2002). “Disciplinas escolares: objetivos, ensino e apropriação”. In: LOPES, Alice Casimiro & MACEDO, Elizabeth (orgs.). Disciplinas e integração curricular: história e políticas. Rio de Janeiro: DP&A. ROCHA, Heloísa Helena Pimenta (2003). “Educação escolar e higienização da infância”. Cadernos CEDES, Campinas, vol. 23, n. 59. VIDAL, Diana Gonçalves (1996). “A educação doméstica e a reforma da instrução pública do Distrito Federal (1928-1930)”. Cadernos de Pesquisa, n. 99, nov. DOSSIÊ TEMPOS SOCIAIS, TEMPOS ESCOLARES Apresentação Os textos aqui reunidos tratam de períodos históricos diferenciados (contemplando desde o século XVII ao século XX), contextos diversos (Brasil e México) e abordam temáticas diferentes (as excursões e ritos escolares, a organização curricular, a produção da idade escolar), trazendo em comum a centralidade da categoria tempo no estudo dos fenômenos educativos investigados. Busca-se, a partir de pesquisas empíricas diversas, demonstrar como a produção e ordenação de tempos escolares constituíram elemento central no processo de escolarização do social, articulado à modernidade. A partir desse eixo, os autores analisam como a aquisição de uma determinada concepção do tempo, ordenada no interior da escola, foi fundamental para a introjeção de um conjunto de habitus, identificado com a modernidade. Modernidade essa que assumiu significados singulares, tendo em vista as especificidades de cada momento histórico, das instituições e atores sociais postos em cena. Assim é que Lucía Moctezuma aborda, no diálogo com os estudos sobre as inovações pedagógicas introduzidas no cotidiano escolar do ensino elementar do final do século XIX e início do XX, um tema ainda pouco investigado: as excursões escolares. Essas buscam introduzir uma nova ordenação do tempo, na organização do cotidiano das salas de aula. É a ordenação dos tempos escolares no interior dos espaços pedagógicos que constitui o tema desenvolvido por Anne Staples. Em seu artigo, a autora contempla os rituais institucionais, bem como a definição do calendário escolar no início do século XIX, no bojo da introdução do método simultâneo. 182 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Já tendo como foco de estudo, não a escola elementar, mas a destinada à formação da juventude, ao final do século XVIII, Eduardo Flores Clai, em seu texto, contempla a análise da vida acadêmica, no interior do Real Seminário de Mineria. Tal instituição, voltada para difusão de conhecimentos científicos relacionados à exploração mineral, buscou irradiar uma representação coletiva do tempo, através da produção de um ritmo da vida escolar no cotidiano dos sujeitos ali inseridos. Também centrando-se na formação da juventude, Antonio Padilla Arroyo aborda a relação entre tempos escolares e tempos sociais. Seu estudo contempla a análise dos processos disciplinares conformadores de regulações e controles, a serem introjetados pelo indivíduo, identificados com o projeto civilizador. Por fim, o artigo de Maria Cristina Gouveia tem como foco, não o contexto mexicano, mas o estudo da produção histórica de uma idade escolar na província brasileira de Minas Gerais ao longo do século XIX. Idade compreendida como período de vida do indivíduo (a meninice), em que esse deveria obrigatoriamente estar inserido na escola elementar, para ali adquirir saberes para sua formação para a vida adulta. Maria Cristina Gouveia El aula al exterior El tiempo de las excursiones escolares en México, 1904-1908 Lucía Martínez Moctezuma* Las modernas prácticas de enseñanza impuestas en Europa a finales del siglo XIX fueron dicutidas y practicadas en diferentes regiones de México. La organización pedagógica y el plan de estudios de la escuela moderna buscaba lograr el desarrollo intelectual, moral y físico de los alumnos, para ello se prescribió la práctica de la gimnasia, los ejercicios militares, el trabajo manual y la realización de excursiones escolares. Esta última fue una de las innovaciones pedagógicas que se recibió con mayor entusiasmo debido a que representó una actividad lúdica de socialización y de aprendizaje fuera de la disciplina impuesta en el aula escolar. La aplicación del procedimiento intuitivo en toda la curricula escolar transformará el tiempo y el espacio escolar. CULTURA ESCOLAR; TIEMPO Y ESPACIO ESCOLAR; EDUCACIÓN INTUITIVA. The modern practice of teaching education imposed in Europe at the end of the 19th century has been argued and practiced in different regions of Mexico. The pedagogical organization and studies plans of modern school, was searching the intellectual, moral and physical development of the pupils, it was prescribed a program of physical educational, military exercises, manual work and school excursions. This last one was determined to be one pedagogical innovation, and was received with great enthusiasm, therefore it represented a playful activity of socialization and learning out of the curriculum impost in the classroom. The application of the innovative procedure in all school curriculum had transformed the school time and space. SCHOOL CULTURE; TIME AND SCHOOL SPACE; INTUITIVE EDUCATION. * Doctora en historia por la Universidad de París X-Nanterre, Francia. Profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Entre sus últimas publicaciones está la coordinación de La infancia y la cultura escrita (México, Siglo XXI Editores, 2001). 184 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 El tiempo escolar ha sido concebido como una construcción cultural y pedagógica que no se reduce simplemente a un esquema formal o a una estructura neutra en la cual se vacía la educación. Se trata de una secuencia donde se distribuyen procesos y acciones educativas, en la que intervienen el currículo y la cultura escolar, a saber, los determinados supuestos psicopedagógicos, una jerarquía de valores y las formas de gestión de la escuela. El tiempo escolar es un tiempo normado y organizativo, donde el calendario y los cuadros de horarios distribuyen las actividades y las materias por semana, día y hora. El calendario establece el principio y el fin de las actividades escolares, la entrada y la salida, los periodos vacacionales, los lectivos y los feriados. En la configuración del tiempo escolar influyen aspectos económicos, religiosos y políticos que se conjugan con los hábitos y ritmos temporales al mismo tiempo que con las inercias y las tradiciones de la sociedad. Además del calendario y el horario escolar existe una doble red de relaciones temporales. La primera está implícita en la estructura del sistema educativo con sus niveles, ciclos, cursos y ritos que pretende sustentarse en una determinada concepción evolutiva de la infancia y adolescencia. La segunda tiene que ver con el reparto de las tareas y las actividades en cada una de las unidades temporales que de manera tradicional se han pensado como parte de un lugar determinado, aunque ha sido la práctica escolar que ha revelado que este espacio se ha ampliado más allá de las fronteras del aula. Es este último planteamiento el que nos interesa ahora, pues hace unos años, Antonio Viñao hacía un recuento de los problemas que aún estaban pendientes en la historiografía del campo de la historia de la educación. Uno de ellos tenía que ver con el tiempo dedicado a los ejercicios escolares, fuera del ámbito espacial y temporal del centro docente. Un tiempo donde el alumno estaba dedicado a las tareas escolares, sin estar dentro del aula pero en un horario que podía considerarse propio de la escuela (Viñao Frago, 1996, pp. 47-48, 51-53). Así, pues, este trabajo tiene como objetivo conocer el tiempo que destinaron los alumnos mexicanos en el aprendizaje de los nuevos saberes que propuso la escuela moderna. A finales del siglo XIX, la escuela mexicana sufrió una transformación que se reflejó en la curricula, en los libros de texto y sobre todo en el tiempo que los alumnos dedicaron a el aula al exterior 185 sus tareas dentro y fuera del aula escolar. La realización de los paseos escolares permitió a los alumnos adquirir de manera intuitiva una serie de conocimientos con la visita que realizaron a las industrias, las haciendas, los talleres, las imprentas y el campo. Una actividad pedagógica innovadora que llevó a los maestros, los pedagogos, los autores de libros de texto y a las autoridades escolares de la época a reorganizar el tiempo de aprendizaje fuera de las limitaciones del espacio escolar. Para dar cuenta de este problema y siguiendo la propuesta de Antonio Viñao, confronté los tres puntos de vista que él había puesto en práctica en algunos de sus trabajos: el teórico, el de los pedagogos, los inspectores y los maestros; el legal, siguiendo las normas que regularon la cuestión y el punto de vista escolar, es decir, lo que sucedía al interior de las escuelas, tratando de ver la evolución y sus cambios, pero también sus influencias recíprocas. Sólo así pude observar la triple naturaleza del tiempo escolar: como medio disciplinario, como mecanismo de organización curricular y condicionada por la cultura escolar (idem, pp. 51-53). Aprendiendo de la naturaleza: el procedimiento intuitivo en la escuela En el último tercio del siglo XIX, la mayor parte de los países europeos establecieron modernos sistemas educativos cuyas finalidades fueron dos principalmente: asegurar la reproducción de ciertos valores e ilustrar a las clases populares de acuerdo con las transformaciones económicas de la época. De esta manera, el desarrollo del sentimiento nacional y el mantenimiento del orden social fueron una prioridad tanto como la propagación de ciertos conocimientos útiles para la vida. Se vinculó entonces la divulgación de la ciencia aplicada y las necesidades de la reciente industrialización (Melcón, 2000, p. 135). Estas modernas prácticas de enseñanza también fueron discutidas y aplicadas en América Latina. En México, el régimen del General Porfirio Díaz (1876-1910) había adoptado como modelo de desarrollo el francés, fundado en una nación moderna, cosmopolita y urbana, que suponía a la nación como una construcción homogénea y occidentalizada orienta- 186 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 da hacia el mercado internacional, reglamentada y organizada científicamente, donde los inmigrantes blancos y la inversión extranjera eran componentes claves de este concepto. En materia educativa se mostraba la imagen de un país liberal y positivista que ponía el acento en una enseñanza laica, gratuita, obligatoria, moral, cívica, nacional, física e intelectual (Tortolero, 2002). Tanto en Brasil como en México, la organización pedagógica y el plan de estudios buscaban lograr el desarrollo intelectual, moral y físico de los alumnos a través de la enseñanza intuitiva. En Brasil, la reforma de la enseñanza pública de 1892 impuso el procedimiento intuitivo como obligatorio en la escuela pública. En México, como resultado de las discusiones académicas llevadas a cabo en dos Congresos de Instrucción Pública (1889-1890 y 1890-1891), se acordó también adoptarlo en el proceso de aprendizaje de casi todas las asignaturas. Llamado intuitivo o de Pestalozzi, fue desarrollado por el pedagogo suizo en su tratado Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, donde, inspirado en el pensamiento de filósofos y pedagogos como Bacon, Locke, Hume, Rousseau, Rabelais, Comenius y Froebel, señalaba la importancia del desenvolvimiento gradual de las facultades intelectuales de los niños a través de la observación y el análisis de los objetos que le rodeaban. Un procedimiento que consistía en la valoración de la intuición como fundamento de todo el conocimiento, que exigía sobre todo de los sentidos y de la observación. Se recomendaba su aplicación sobre todo en las materias científicas del currículum escolar como la aritmética y las ciencias físico-naturales (lecciones de cosas) aunque se aconsejaba también su uso en la enseñanza de la historia, la geografía y nuevos saberes como la gimnasia, los ejercicios militares, el trabajo manual, la higiene en la escuela y la realización de paseos escolares. Esta última fue una de las innovaciones pedagógicas más interesantes de la época debido a que representó una actividad lúdica y de aprendizaje fuera de la disciplina impuesta en el aula escolar (Souza, 1999, pp. 120, 121, 130; Bazant, 1995, p. 34; Bazant, 1999, pp. 145-146). El desarrollo de esta propuesta innovadora significó una reorganización del ambiente escolar. Con el marco legal que estipulaba la uniformidad, el laicismo, la gratuidad y la obligatoriedad (1891), se el aula al exterior 187 crearon una serie de instituciones como la Dirección de Enseñanza Normal (1901), la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes (1905), un órgano de vigilancia como el Consejo Superior de Educación Pública (1902) y un cuerpo de inspectores (1901) que concediera atención a la práctica de la enseñanza de la lengua nacional, los trabajos manuales y los conocimientos elementales intuitivos y coordinados de las cosas, los seres y los fenómenos que estuvieran al alcance de los niños, a efecto de que pudieran aprovechar y fomentar los recursos del lugar en que se vivía (Boletín de Instrucción Pública, 1909, p. 194). El aprendizaje intuitivo implicó un cambio en la curricula y en el espacio escolar. El saber no fue otra cosa que el conocimiento de las leyes naturales y la aplicación que de éstas había hecho el hombre para alcanzar su bienestar. Observar directamente a la naturaleza para interpretar y aprovechar la vida que les rodeaba era la mejor manera de obtener la ciencia teórica y práctica. No podía prescindirse ni de los elementos que existían en la ciudad y en el campo como tampoco del aprendizaje en el aula y en los libros. La aceptación del método se explicaba por la correspondencia que existía entre sus principios y las aspiraciones de la reforma social, donde se privilegiaba la formación de los trabajadores para la industria: “[...] la observación engendra el raciocinio y el trabajo prepara al futuro productor, haciendo indisolubles el pensar y el construir” (Souza, 1999, pp. 120-121). El procedimiento intuitivo era un medio del que hacía uso el maestro en asignaturas tales como las lecciones de cosas que aparecieron en la ley de instrucción pública desde 1890. El programa escolar señalaba que los alumnos del nivel elemental que cursaban el primer año debían observar los objetos materiales que les rodeaban para saber su composición y su uso. En el segundo año, los niños conocían de cerca las plantas y los animales vertebrados además de los instrumentos que se empleaban en la agricultura, las artes y la industria. En el tercer año adquirían nociones sobre los meteoros, el clima, la producción de la localidad (maíz, trigo y otros cereales) además de los animales invertebrados. Y en el último año se acercaban al conocimiento de la anatomía, la fisiología y la higiene del cuerpo humano. 188 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Estas lecciones proponían dar al niño ideas o conocimientos variados de cosas que podían ser vistas. Cuando el contacto directo no era posible, se recurría a las láminas o a las imágenes de los libros escolares con el objeto de provocar la curiosidad y la atención del niño para enriquecer y ampliar su experiencia. Las lecciones de estos libros estaban orientadas a la lectura de temas que los ponían en contacto con los vegetales, los animales y sobre todo los aparatos construidos por el hombre. Todas las disciplinas procuraron adaptarse a este método. Los libros de texto podían ser de dos clases: los que trataban de la naturaleza, una ciencia o un solo oficio y aquellos que estudiaban objetos heterogéneos, una suerte de modelo enciclopédico, de carácter sincrético que reunía en un solo volumen toda la cultura escolar (Gómez R. de Castro, 1997, pp. 450-453; Escolano, 2000, pp. 28-29). A este segundo grupo correspondieron casi todos los libros de la asignatura de lecciones de cosas de la escuela elemental debido a que durante el Segundo Congreso de Instrucción Pública, se acordó que sólo sería obligatorio el libro de texto de lectura para todos los grados (Martínez Moctezuma, 2001, pp. 396-399). Esta propuesta pedagógica modificó la presentación de los libros de texto, pues desde entonces los editores y los autores procuraron que el educando se interesara en sus publicaciones, pues con ellas podrían asimilar asuntos “de más valor para su vida práctica”. Para lograrlo fue necesario que el libro resultara atractivo por su contenido y presentación, lleno de grabados, figuras coloridas y letra clara (Ruiz, 1903, p. 38). Entre 1904 y 1908, para cubrir el programa de lecciones de cosas, se autorizó para la Ciudad de México la circulación de textos como El lector enciclopédico mexicano de Gregorio Torres Quintero, El niño Ilustrado. Libro Cuarto de lectura o preparación al estudio de las ciencias de José María Trigo, donde se abordaban temas como la observación, el uso del barómetro y el termómetro junto a mensajes sobre el trabajo y la honradez (Trigo, 1896, p. 98; Torres Quintero, 1908, p. 11). También circularon traducciones del francés como las Lecciones de Cosas en 650 grabados del profesor Luis G. León, que rebasó las fronteras mexicanas e hizo conocer a los niños españoles las enseñanzas el aula al exterior 189 del doctor en ciencias de la Facultad de París, Georges Colomb (Melcón, 2000, p. 156). Una situación que se explica debido a la falta de interés por esta enseñanza en España, como bien lo ha demostrado Bernal, ya que aún a principios del siglo XX, no aparece ningún texto específico del área de ciencias en las listas de texto para la escuela elemental. (Bernal, 2001, pp. 31 y 58) Pero el conocimiento de estos temas no se limitó al uso del libro en el aula escolar pues el programa de lecciones de cosas se reforzó con la realización de paseos y excursiones escolares cuyo principal objetivo fue aumentar los conocimientos prácticos de los alumnos. Hacia 1904 empezaron a generalizarse, por ejemplo, en la primaria anexa a la Escuela Normal de Profesores esta actividad se llevó a cabo los miércoles de cada semana (Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, en adelante AHSEP, 1892). En las escuelas primarias superiores de la Ciudad de México se realizó una excursión por escuela durante los meses de mayo y junio de cada año escolar. En general, las visitas escolares estaban destinadas a los futuros profesores que se preparaban en la Escuela Normal de la Ciudad de México y tenían dos objetivos: el estudio de un tema en particular y el recreo de los alumnos. El Plan de Estudios establecía que, a petición del director, los alumnos de 4º, 5º y 6º grado podían visitar alguna institución para estudiar la organización, observar los métodos y el régimen disciplinario. Cuando se elegía una temática (geografía, historia, física, topografía, botánica y otras), se podía visitar algún establecimiento industrial o una gran propiedad, donde el profesor daba la lección sobre el terreno. También podían realizarse paseos al campo o a lugares históricos, con el fin de recoger muestras de la flora y la fauna, rocas o minerales de la región, que servían de temas en la clase y posteriormente formarían parte del museo escolar. Los estudiantes realizaban viajes escolares por ferrocarril, tranvía o a pie, pero siempre bajo la vigilancia y dirección de sus profesores, inspectores, celadores o autoridades escolares que financiaron los traslados (La Enseñanza Normal, 1905, p. 273; AHSEP, 1892). 190 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Los paseos escolares, 1904-1908 La práctica de los paseos escolares puede situarse desde 1879 en Francia. El profesor Paul Berton preconizaba el enriquecimiento educativo con la práctica de esta actividad cuyo fin era utilizar todo lo que llamara la atención de los niños para lograr un verdadero aprendizaje práctico de las ciencias y artes (Chanet, 1996, p. 329). Dado que las maravillas de la naturaleza no podían ser trasladadas al aula, había que desplazar a los alumnos a ella para mostrarles “… à savoir voir… à l’école comme au dehors”, era necesario ir a los campos, los terrenos, los puertos, las minas, ahí donde el trabajo del hombre la transformaba. Paulatinamente, con este conocimiento, los alumnos podrían ser capaces de trazar sus propios itinerarios en una carta geográfica, evaluar las distancias y las alturas, conocer la composición de los terrenos y el funcionamiento de la maquinaria en los trabajos agrícolas (Berton, 1879, pp. 581 y 593). De manera general, todo paseo escolar, en la época, era considerado como aquella salida del alumno fuera del aula escolar bajo la dirección del maestro para cumplir un fin educativo. Si la salida era corta, para visitar un establecimiento o un punto determinado se le llamaba visita escolar. Pero si se hacía a sitios distantes de la población, por un tiempo más o menos largo y por un medio de transporte, se le llamaba excursión escolar. Como lo hemos señalado, los paseos escolares eran considerados como los medios ideales para cultivar determinados sentimientos. En el orden físico, permitía al alumno una completa libertad de acción en oposición al sedentarismo de la sala de clases. En el orden mental permitía poner a la vista de los niños multitud de objetos reales que despertaban su curiosidad y deseo de saber. En el orden moral, el desarrollo de un sentimiento estético (La Escuela Moderna, 1893, p. 78). Entre 1904 y 1908, los alumnos de las escuelas primarias superiores de la Ciudad de México realizaron visitas escolares de un solo día mientras que los alumnos de las escuelas normales de profesores y profesoras de la Ciudad de México hicieron excursiones escolares hasta por ocho días. el aula al exterior 191 Por ejemplo, entre mayo y junio de 1905, los alumnos de las escuelas primarias realizaron 11 paseos escolares repartidos de la siguiente manera: tres visitas a una gran propiedad, cinco a una fábrica y quatro a sitios naturales como los Dínamos de Contreras y Xochimilco. Resulta interesante analizar como se empleaba el tiempo escolar durante una de estas visitas fuera del espacio tradicional, un espacio que permitía el relajamiento de la disciplina impuesta en el aula pero también el aprendizaje de ciertos conocimientos que eran dirigidos por la parte que administraba de la propiedad. Una de estas visitas llevó a los alumnos a la Negociación Agrícola de San Rafael en el Valle de México, cuya producción se había elevado debido a la desecación del lago de Chalco y a la tala de bosques. Los registros escritos narran como fueron recibidos por el director técnico de la compañía, quien después de la visita les ofreció una comida en uno de los locales de la fábrica. Terminada ésta, los alumnos se divirtieron jugando en los terrenos de la propiedad y por la tarde los acompañó a tomar el tren de regreso que se había preparado especialmente para los viajeros. Otra excursión que reunió a 106 alumnos y a cuatro profesores se dirigió a la Hacienda de Zavaleta, en la misma zona, donde fueron recibidos por el director técnico, quien les explicó del éxito de las labores agrícolas con la desecación de los lagos de Chalco y Texcoco. Es curioso que en estos dos relatos no se mencionan nunca los problemas a los que la Compañía Agrícola se enfrentó constantemente con los pueblos por la posesión de las tierras y las aguas, tampoco hubo indicios que dejaran ver el castigo ecológico que sufriría la zona debido a la desecación del lago, como ahora lo han revelado diversos investigadores (La Escuela Moderna, 1905). Esta idea de aprender una realidad ajena a los escolares fue criticada por un profesor de la época como Gildardo Avilés. En su opinión era importante la labor del maestro pues era únicamente a él a quien competía directamente la elección, el ordenamiento y la distribución de los ejercicios escolares durante esas visitas, era él quien conocía de cerca el clima, las costumbres locales, el desarrollo intelectual de los niños y las necesidades de la escuela. De acuerdo con Avilés, el empleo del tiempo contenido en el reglamento limitaba el aprendizaje pues culpaba directamente a los inspectores de hacer seguir actividades ajenas a la realidad de la escuela. 192 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Hacia 1906, el año escolar era de 10 meses, igual a 298 días, a los cuales se descontaban seis días de enero, 86 días entre sábados y domingos, cinco días de vacaciones de primavera y 11 días entre fiestas cívicas y religiosas, menos otros 15 días por enfermedad del maestro o cualquier otra causa imprevista como los exámenes, en realidad quedaban 181 días útiles en el año que servían de poco pues era el inspector quien limitaba el trabajo del maestro exigiéndoles estas visitas que poco provecho tenían en el rendimiento escolar (Avilés, 1910, p. 16) En cuanto a las excursiones de los estudiantes de la Escuela Normal de la Ciudad de México, los objetivos giraron en torno al conocimiento pedagógico de otras instituciones escolares, cumplieron fines temáticos, conocieron el progreso de ciertas industrias del país, pero, también, influidos por los planteamientos higienistas y sanitarios de la época, pudieron advertir “la mano arrasante del hombre” y los inconvenientes de las aglomeraciones urbanas. Uno de los destinos preferidos fue el estado de Veracruz, pues veían, con mucho aprecio, los logros educativos del pedagogo suizo Enrique Rébsamen en la región. Una primera excursión de tres días fue financiada por la propia entidad. La reseña del viaje dio cuenta del buen humor y de la expectación que causó el cambio de paisaje al que estaban acostumbrados. Los viajeros conocieron el funcionamiento de vapores, corbetas y barcos-escuela, visitaron el palacio municipal, la escuela naval, las cantonales y las municipales, el Hospicio Zamora y el histórico castillo de San Juan de Ulúa, que sirvió de motivo para recordar pasajes de la historia de México. Los estudiantes asistieron a una serie de actividades en las escuelas veracruzanas: durante su visita presenciaron la entrega de una bandera nacional ofrecida por los mexicanos residentes en Tampa, Estados Unidos; conocieron diferentes planes de estudio de las instituciones educativas; asistieron a una representación en el teatro Dehesa; supieron del funcionamiento del hospital, de la escuela del Hospicio Zamora y participaron de la tertulia literaria del Casino español (La Enseñanza Normal, 1907, pp. 18-21). En un segundo trayecto hacia Veracruz, los alumnos recrearon hechos históricos en los sitios que visitaban. Por ejemplo, en el cerro de el aula al exterior 193 Guadalupe, en Puebla, recorrieron a pie el camino por donde transitaron los franceses el 5 de mayo de 1862 y entonaron el himno nacional mientras descendían, un interés que los aspirantes a profesor debían cultivar, pues, en el futuro, serían ellos los encargados de “[...] reanimar y fortificar en las generaciones [...] el sentimiento que guió a los defensores de Puebla [...]” (La Enseñanza Normal, 1905, p. 243 y 1907, p. 10). Los alumnos normalistas conocieron también detalles interesantes en torno a la educación de la región: las condiciones materiales y el funcionamiento de las escuelas Normal y Lafragua que, entre sus curiosidades, exponía un cuadro mural con motivo de la campaña antialcohólica impulsada en la época. Cabe señalar que uno de los momentos más interesantes de la visita escolar se suscitó cuando los alumnos asistieron a una clase de geografía impartida para los alumnos de cuarto año, pues el profesor de la clase, sirviéndose del mapa respectivo, hizo un recordatorio sobre la división política del país y la orografía de México, que le sirvió para reflexionar con los alumnos sobre el problema de las fronteras y del regionalismo, “tan perjudicial a la unidad nacional” (La Enseñanza Normal, 1907, pp. 5-17). También se realizaron visitas a la Escuela de Comercio Miguel Lerdo y a la de Artes y Oficios para mujeres que permitió discutir sobre “el triunfo real del feminismo”, pues al observar una clase práctica de farmacia, se insistió en el hecho de que la profesora pudiera dedicarse a ciertas ramas de la ciencia, con lo que se ofrecía a la mujer una enseñanza fácil y un trabajo lucrativo, y con ambas se contribuía “al aumento de la riqueza nacional y el mejoramiento de la Patria” (idem, p. 46). Todo lo que se atravesaba en el camino de una excursión escolar podía ser motivo de aprendizaje, como “la lagunilla de agua” que encontraron los alumnos y el profesor de la escuela elemental de San Pablo de la municipalidad de Toluca en la visita que hicieron a la hacienda de Jiltepec, donde “las ondulaciones que hacía el viento [...] corriendo del poniente hacia el oriente [...]” permitieron mostrar el movimiento que hacían las olas en el mar, tan grandes “... como los cerros que se ven por aquí” (Bazant, 1999, p. 153). Una explicación del profesor de química sobre el procedimiento para extraer la plata llevó a los alumnos normalistas a visitar la hacienda de 194 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 beneficio de Loreto en Pachuca, Hidalgo. En esta visita los alumnos conocieron, paso a paso, el método de patio para la extracción de la plata, inventado y puesto en práctica en la región, desde 1557, por Bartolomé de Medina. Conocieron el funcionamiento de la maquinaria importada que poseía la hacienda, es decir, los molinos quebradores y los chilenos, las mesas concentradoras Johnston y el aparato repasador Parrés Waters, una innovación tecnológica del ingeniero Parrés, jefe de la hacienda (La Enseñanza Normal, 1904, p. 31). Este interés hacia los forjadores del progreso en las haciendas se muestra también en la visita que la clase normalista de geografía e historia hizo a Puebla cuando mostraron respeto frente a las estatuas ubicadas a lo largo del Paseo Nuevo: Nicolás Bravo, los Héroes de la Independencia, el doctor Gabino Barreda y don Esteban de Antuñano “introductor de la industria de hilados y tejidos en el país” (La Enseñanza Normal, 1905, p. 243). Al realizar viajes escolares a diferentes puntos del país, los alumnos normalistas también tuvieron oportunidad de comparar diferentes actitudes entre la población. Una que les causó gran impresión fue la de los indios del mercado poblano a quienes calificaron de escrupulosísimos para recibir monedas, pues las revisaban detenidamente y preferían conservar sus mercancías cuando las monedas no eran de su gusto (idem, ibidem). A través de un viaje por ferrocarril, los alumnos normalistas de la clase de geografía e historia siguieron las interminables hileras de magueyes finos que producían el mejor pulque de los llanos de Apam; en Texcoco, en su visita a una fábrica de vidrio, conocieron el procedimiento en la elaboración de garrafones y de cristales planos; tomaron clase de geografía y botánica en el Valle de México donde recolectaron plantas en la fábrica de papel y coincidieron en señalar la diferencia que sentían en el ambiente frente a la viciada atmósfera que atosiga y oprime en la ciudad de México (La Enseñanza Normal, 1907, p. 78). Una excursión escolar efectuada hacia Dos Ríos, estado de México, nos da idea de la impresión que los estudiantes tenían del cambio drástico de la naturaleza. En su opinión, la región se había modificado lamentablemente, “[...] las encinas corpulentas y majestuosas, los ve- el aula al exterior 195 tustos y venerables sabinos, los sauces exuberantes y jugosos [...] ¿en dónde están? [...] se han vuelto humo [...]”. Pero este humo no había vuelto al suelo en forma de agua, por lo que las sequías, “inflexibles e inconmovibles”, habían castigado duramente a la población debido a la imprudencia de algunos hombres que habían talado los bosques convirtiéndola en “[...] una comarca desarbolada y sin agua [...]”. Su descubrimiento los llevó a cuestionar el nombre de la población, que de Dos Ríos “[...] mañana no podrá llevar ni el de Dos Arroyos [...]” (La Enseñanza Normal, 1905, pp. 158-160). Una afirmación que dista de ser real, pues contradice la visión de un especialista del México rural cuyo modelo de la hacienda mexicana ha sobrevivido más de un siglo: “[...] la enorme cantidad de parcelas de cultivo que perfectamente suben hasta la cima de las montañas de Las Cruces [...] ¿no les habrá ocurrido a todos quienes han visto ese pueblo que si las grandes planicies de las haciendas estuvieran cultivadas así, otros serían los destinos nacionales?” (Molina Enríquez, 1978 p. 153). Esta advertencia sobre el medio ambiente también se hizo patente en libros de texto como Tercer año de lecciones de cosas de Luis G. León. Influido por los planteamientos higienistas y sanitarios de la época, el autor invitaba a los niños a aprovechar cualquier oportunidad que tuvieran para salir de la ciudad y respirar el aire puro del campo, libre de la aglomeración humana, el polvo provocado por el tráfico de animales, de vehículos y de las chimeneas de las fábricas. Según el autor, su efecto se percibía en la alteración del sistema nervioso causado por los mil ruidos del rodar de los coches y las carretas, las bocinas, los gritos de los vendedores, los timbres de los motores y el zumbar de los aserraderos. El clima malsano de la ciudad se revertiría con las obras del desagüe del Valle de México, que devolvería a la ciudad el calificativo de ser uno de los lugares más sanos del mundo (León, 1913, p. 45). El agua también fue un tema recurrente en los libros escolares. Igual se describían sus virtudes que su poder para provocar verdaderos desastres en una región. Como en la reseña sobre una excursión escolar al Popocatépetl, un volcán donde desde lo alto “pensábamos que desde ahí todo parece dichoso y tranquilo [donde] no llegan [...] los gritos de guerra de los roedores... los crujidos de la fúnebre entonación [...] que 196 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 derriba el hacha del leñador, o que castiga [...] el dios furibundo de las tempestades o el fuego del incendio [...]” (Avilés, 1910, p. 24). El tema también sirvió para dar lecciones de higiene, pues se recomendaba a los niños hervir el agua por quince minutos para purificarla y evitar los microbios antes de tomarla (Colomb, 1904, p. 32). Las excursiones escolares también cumplieron objetivos temáticos. Una de ellas, hacia el pueblo de Tizapán, en el Distrito Federal, dio oportunidad a los profesores del curso de metodología aplicada de mostrar la enseñanza de la geometría empírica con el levantamiento de planos, siguiendo el método de rumbo y distancia. El éxito de los trabajos permitió al profesor asegurar que este tipo de ejercicios representaba el medio más seguro y divertido para el aprendizaje de los teoremas (La Enseñanza Normal, 1905, pp. 182-183). Este último ejemplo me permite reflexionar en torno a la documentación producida a raíz de las excursiones escolares. La información publicada en la revista La Enseñanza Normal fue producto de los ejercicios que los alumnos normalistas redactaron y captaron con una cámara fotográfica. Esto era una exigencia, pues debido a su carácter flexible, los paseos escolares fueron catalogados en ocasiones como el aula al exterior 197 pérdida de tiempo o simple excursión de recreo, lo que llevó a las autoridades educativas a establecer dos estrategias para evitar la dispersión de los alumnos: fijar claramente el fin de cada visita – histórica, agrícola, industrial, topográfica – y exigir a los alumnos un relato escrito de su salida donde se ordenara claramente y con un buen nivel de redacción sus experiencias de viaje. Un ejercicio creativo y útil para los intereses del investigador pues permite recrear sus impresiones. Cabe decir que hay una riqueza enorme en la información que circuló en estas revistas pedagógicas que se editaron en diferentes regiones del país a finales del siglo XIX. En la Ciudad de México se publicaron La Revista Escolar, El Eco Pedagógico, El Educador Práctico Ilustrado, La Voz de la Instrucción, La Enseñanza Normal; en Colima, La Enseñanza Primaria; en Yucatán, La Escuela Primaria y en Veracruz, México Intelectual, entre muchas más. Como en el caso de otras publicaciones escolares de la época, desconocemos el número exacto y los tirajes de estas revistas, aunque sabemos con exactitud que estaban dirigidas a los cerca de 8.000 maestros del nivel elemental que laboraron en el país. Tenían como objetivo principal unificar criterios en torno a la escuela mexicana, por lo menos era lo que se esperaba de las guías metodológicas, los boletines de instrucción pública y las revistas pedagógicas, que habían surgido como producto de las discusiones académicas llevadas a cabo entre 1890 y 1891, en el Segundo Congreso de Instrucción Pública. El contenido de estas revistas era muy variado. Había secciones dedicadas a la legislación escolar, las novedades bibliográficas, avisos para los padres de familia, informes sobre dotaciones de material y sobre todo artículos orientados hacia diferentes temas del saber escolar. La mayor parte de estos escritos fueron trabajos originales, pero también hubo traducciones de artículos publicados en otras revistas de circulación internacional. Casi todos fueron escritos por la elite educativa de la época, es decir, por aquel grupo de maestros de reconocido prestigio, autores de libros de texto, que formaban parte de la administración educativa, aunque también hubo lugar para el testimonio escrito de los alumnos de la Escuela Normal de Maestros y Maestras de la Ciudad de México (Martínez Moctezuma, 2004, p. 134). 198 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 La formación del futuro profesor fue una de las preocupaciones constantes de finales del siglo XIX. En 1902 se reformuló en México el plan de estudios de la Escuela Nacional de Maestros, retomando la idea de 1892, cuyo objetivo principal se centraba en la formación de dos clases de profesores: los que impartirían instrucción primaria elemental (4 años) y aquellos que se dedicarían a la primaria superior (6 años). Las asignaturas aumentaron a 40 (14 más que en 1892) y se prescribieron prácticas en las escuelas anexas para los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º grados, visitas de observación a otras escuelas primarias, conferencias pedagógicas y excursiones de carácter científico. La curricula muestra que los alumnos recibieron clase de ejercicios militares y las profesoras practicaron labores domésticas y a partir de 1908, ejercicios físicos. Cabe señalar que en la distribución del tiempo escolar no hay ninguna asignatura que deje entrever el aprendizaje en el uso de la fotografía, sin embargo, en el programa de metodología aplicada se señala que durante los meses de junio y julio, los alumnos que estudiaban en el primer año de Instrucción Primaria Superior debían aprender la geografía descriptiva a través de la gráfica y la narrativa a través del uso de proyecciones topográficas, pláticas de viaje y proyecciones luminosas, lo que evidentemente les preparaba para ilustrar sus relatos sobre las excursiones escolares que realizaban (Jiménez, 1987, pp. 150-189). Los registros escrito e iconográfico de estos paseos escolares son una representación del mundo que no era real pero que nos permite acercarnos a un problema concreto. Conocer bien era describir y describir significaba desarrollar un discurso verídico en el que las curiosidades, además de suscitar el interés, constituían un espacio (Lepetit, 1999, p. 197). Resulta interesante conocer los procedimientos de elaboración de ese discurso y mostrar el espacio que abordaron desde la perspectiva de la imagen fotográfica, sobre todo teniendo presente que la finalidad era hacer llegar a los profesores de todo el país un modelo educativo por el que abogaron los intelectuales mexicanos de finales del siglo XIX (Kossoy, 2001, p. 74). Esta realidad que quería imponerse se muestra en la siguiente fotografía que los alumnos tomaron en su visita a la Escuela Anexa a la Normal de la ciudad de Toluca, donde sorprende ver la disci- el aula al exterior 199 plina, la cantidad y la variedad de material pedagógico y la calidad de las instalaciones. Es claro que el primer acercamiento de los viajeros a la realidad que se visitaba se hacía a través de los sentidos. Un método fundado en la descripción de la apariencia de las cosas cuyo proceso de abstracción le llevaba a seleccionar fragmentos de la realidad y a elaborar un inventario parcial. Sin embargo, el estilo literario de sus reportes no logra esconder el enfrentamiento entre el modelo moderno de educación urbana que se quería imponer y los problemas a que se enfrenta a causa de la inasistencia escolar, la falta de capacidad económica que se refleja en la infraestructura escolar o la actitud celosa de quien era visitado. Esto resulta claro cuando el objetivo del reportaje no se centra en el salón de clases sino en la práctica de topografía; es así que descubrimos un salón de clases más cercano a la realidad rural del país. 200 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Notas finales Las excursiones escolares estuvieron destinadas a mostrar a los alumnos los diversos aspectos del medio que habitaban. Junto con ellas, las fiestas de fin de año, las de premiación o cualquier festejo que reuniera a la comunidad en torno a la escuela, permitieron tanto a los alumnos como a los padres de familia mantener contacto con la escuela, un contacto que hizo disminuir el aislamiento de la institución frente a la realidad económica y social que vivía el país. Las excursiones y los viajes estuvieron orientados a aprender fuera del aula. Con estos paseos escolares, los alumnos observaron diferencias y particularidades de cada región explorada, una gran paradoja pues la idea general de la época abogaba por la uniformidad del país, donde no existía diferencia alguna, pues el discurso oficial apuntaba a conseguir que México estuviera orientado al desarrollo industrial. Sin embargo, es curioso reconocer en los textos que narran los itinerarios de los viajes que los relatores señalan claramente las diferencias para cada región, incluso se atreven a decir que fuera de la Ciudad de México también hay patria. el aula al exterior 201 Gracias a los testimonios escritos de los viajeros, sabemos que reconocieron el valor de los viajes escolares en su formación profesional, pues como lo señala uno de ellos: “¿Quiénes [...] más urgentemente necesitados de conocer la patria, de un modo tan exacto y preciso como el que suministra la observación directa de las cosas que la constituyen, que aquellos que luego han de contribuir a la renovación del espíritu patrio?” (La Enseñanza Normal, 1907, pp. 31-32). Como puede advertirse en los testimonios, los paseos escolares permitieron a los alumnos escapar de la vida sedentaria del aula y de la disciplina escolar, pero no siempre reinó la armonía, pues debido a su carácter aparentemente flexible, las excursiones crearon malestar no sólo dentro de la escuela, cuando algunos padres de familia las catalogaron como “simple pérdida de tiempo”, sino que también otros habitantes de la comunidad las vieron con recelo. Hacia 1900, por ejemplo, el maestro de la escuela San Pablo, de la municipalidad de Toluca, llevó de paseo a sus alumnos a la “pedrera” de la hacienda de Jiltepec y fueron acusados de romper la compuerta y obligados a pagar una cantidad por la pérdida de agua que habían sufrido; este hecho motivó a cancelar, en 1902, las excursiones escolares en el Estado de México (Bazant, 1999, p. 153). Es claro que los viajeros que participaron en estos paseos escolares fueron alumnos privilegiados por tener acceso al conocimiento y a la experiencia, un privilegio que no sólo tiene que ver con lo pedagógico sino también con lo económico, puesto que sabemos que la población mexicana viajaba poco debido a las altas tarifas del transporte. Si consideramos que, hacia 1910, un boleto en primera clase resultaba tres veces más caro que uno en diligencia, o el costo de un viaje promedio de 67 km en segunda clase era de $1.63, equivalente a 9.4 días de salario mínimo diario en la agricultura y dos días de trabajo para los grupos mejor remunerados como los burócratas, comprenderemos que se evitaba viajar, excepto en casos en que las largas distancias hicieran poco práctico o peligroso el viaje por otro medio. Esto explica por qué, en 1910, sólo viajó a Veracruz una tercera parte de la población del país (Coatsworth, 1984, pp. 63-66 y 136-137). Hasta ahora conocemos únicamente los reportes de quienes viajaron desde la Ciudad de México a Veracruz y dentro del Estado de México, 202 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 sin embargo aún falta mucho por conocer, pues los viajes y las excursiones escolares han tenido larga vida. Hacia 1910 fue un tema común en los discursos de los intelectuales y de los pedagogos, en los informes de los inspectores, en las reuniones académicas de los profesores, en las reseñas que los alumnos publicaron en las revistas pedagógicas y en los temas de los libros de texto. Su historia está aún por escribirse, pues, en la actualidad, se sigue realizando esta práctica pedagógica en las escuelas primarias, aunque los viajes sólo sobrevivieron hasta 1984, cuando la formación normalista tomó el carácter de licenciatura, una historia de largo alcance que nos permitirá dar a conocer el impacto y la difusión de una innovación pedagógica puesta en marcha a finales del siglo XIX en México. Archivos y referencias bibliográficas ARCHIVO HISTÓRICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (AHSEP) (1892). Historia y origen de la primaria anexa a la escuela normal. tomo IV. 5.2. AVILÉS, Gildardo (1910). Nuestra patria. Geografía elemental de la República Mexicana. París / México: Librería de la Vda. de C. Bouret. BAZANT, Mílada (1995). Historia de la educación durante el porfiriato. México: El Colegio de México. . (1999). “La mística del trabajo y el progreso en las aulas escolares”. In: CIVERA, Alicia (coord.). Experiencias educativas en el Estado de México. Un recorrido histórico. México: El Colegio Mexiquense. BERNAL MARTÍNEZ, José Mariano (2001). Renovación pedagógica y enseñanza de las ciencias. Medio siglo de propuestas y experiencias escolares (1882-1936). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. BERTON, Paul (1879). “L’énseignement par l’aspect à l’école primaire”. Revue Pédagogique, Paris, Librairie de Ch. Delagrave, jui.-dec. BOLETÍN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Órgano de la Secretaría del Ramo (1909). México, Tipografía Económica. CHANET, Jean-François (1996). L’Ecole républicaine et les petites patries. Paris: Aubier. el aula al exterior 203 COATSWORTH, John H. (1984). El impacto económico de los ferrocarriles en el porfiriato. México: Era. CORREA, Alberto (1905). “Excursiones escolares, su objeto”. La Enseñanza Normal, publicación periódica de la Dirección General de Enseñanza Normal en el Distrito Federal, n. 10, pp. 154-156, jun. . (1907). “Excursión escolar a Puebla y Jalapa”. La Enseñanza Normal, publicación periódica de la Dirección General de Enseñanza Normal en el Distrito Federal, n. 6, pp. 5-7, nov. C OLOMB , G. (1904). Lecciones de cosas en 650 grabados. Adaptación hispanoamericana por el Prof. Luis G. León, México / París: Librería de la Vda. de C. Bouret. ESCOLANO, Agustín (2000). “Los comienzos de la edición escolar moderna en España”. El Libro y la educación, catálogo editado con motivo del XXII Congreso de la Ische, España, Anele. GÓMEZ R. DE CASTRO, Federico (1997). “Lecciones de cosas y centros de interés”. In: ESCOLANO, Benito Agustín (dir). Historia ilustrada del libro escolar en España. Del antiguo régimen a la Segunda República. Madrid: Fundación Sánchez Ruipérez. JIMÉNEZ, Alarcón Concepción (1987). Escuela Nacional de Maestros. Sus orígenes. México: SEP. KOSSOY, Boris (2001). Fotografía e historia. Buenos Aires: Biblioteca de la Mirada. LA ENSEÑANZA NORMAL (1904-1908). Publicación periódica de la Dirección General de Enseñanza Normal en el Distrito Federal. LA ESCUELA MEXICANA (1904). Órgano de la Dirección de Instrucción Primaria del Distrito y Territorios. México. LA ESCUELA MODERNA (1893). Revista Pedagógica Ilustrada. México. . (1905). Revista Pedagógica Ilustrada. México. LEÓN, Luis G . (1913). Tercer año de lecciones de cosas. México / París: Librería de la Vda. de C. Bouret. LEPETIT, Bernard (1999). “En présence du lieu même. Pratiques savantes et identification des espaces à la fin du XVIII”. Carnet de Croquis, Francia, Bibliotheque Albin Michel Histoire. 204 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 MARTÍNEZ MOCTEZUMA, Lucía (2001). “Miradas porfiristas: Sierra, Lavisse y la innovación pedagógica”. In: MARTÍNEZ MOCTEZUMA, Lucía (coord.). La infancia y la cultura escrita. México: Siglo XXI / Universidad Autónoma del Estado de Morelos. . (2004). “Retrato de una élite: los autores de libros escolares en el México porfirista”. In: GALVÁN, Luz Elena; CASTAÑEDA, Carmen & MARTÍNEZ MOCTEZUMA, Lucía (eds.). Lecturas y lectores en la historia de México. México: CIESAS-UAEM. MELCÓN BELTRÁN, Julia (2000). “Currículo escolar y lecciones de cosas”. In: TIANA FERRER, Alejandro (coord.). El libro escolar, reflejo de intenciones políticas e influencias pedagógicas. España: UNED. MOLINA ENRÍQUEZ, Andrés (1978). Los grandes problemas nacionales. México: Era. RUIZ, Luis E. (1903). Cartilla de higiene escrita para la enseñanza primaria. México: Librería de la Vda. de C. Bouret. SOUZA, Rosa Fátima de (1999). “Ciencia y moral en la escuela primaria: un proyecto favorable al orden y la construcción de la nación brasileña”. Revista de Estudios del Currículo, vol. 2, n. 1, pp. 114-144. TORRES QUINTERO, Gregorio (1908). Lector enciclopédico mexicano número 3 para uso de las escuelas primarias. México / París: Librería de la Vda. de C. Bouret. TORTOLERO, Alejandro (2002). “Modelos europeos de aprovechamientos del paisaje agrario: la desecación de los lagos mexicanos durante el siglo XIX”. In: CONGRESO DE HISTORIA ECONÓMICA, 12. Buenos Aires, Argentina. TRIGO, José Ma. (1896). El niño ilustrado. Libro cuarto de lectura o preparación al estudio de las ciencias. San Luis, Mo: Spanish-American Educational Co. Libreros Editores. VIÑAO FRAGO, Antonio (1990). Innovación pedagógica y racionalidad científica. La escuela graduada pública en España (1898-1936). Madrid: Ediciones Akal. VIÑAO FRAGO, Antonio (1996). Espacio y tiempo. Educación e Historia. Morelia: Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación-Cuadernos del IMCED, pp. 51-53. De cuándo a cuándo La transformación del calendario escolar en las escuelas mexicanas del siglo XIX Anne Staples* En este artículo se observa cómo la realización de ciertos rituales como el sonido de la campana escolar, el empleo de días festivos y de vacaciones escolares, impusieron un nuevo ritmo dentro del calendario escolar mexicano del siglo XIX que por primera vez exigía el empleo del método simultáneo. TIEMPO Y ESPACIO ESCOLAR; MÉTODO SIMUTÁNEO; CULTURA ESCOLAR. In this curriculum we observe how some of the ritual realizations as the impact caused by the school campaign, the utilization of comemorative days and school vacations, had imposed a new rhythm in the mexican school calendar in the 19th century, which for the first time demanded the utilization of simultaneous method. TIME AND SCHOOL SPACE; SIMULTANEOUS METHOD; SCHOOL CULTURE. * Doctora en historia. Profesora investigadora de El Colegio de México. 206 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 De cuándo a cuándo. Días festivos y vacaciones del alumno mexicano Cuando los mexicanos recién liberados de España observaron su entorno se dieron cuenta de las enormes tareas que estaban por delante: construir un Estado moderno, educar a la ciudadanía, incorporar al indígena a la “civilización”, colonizar las tierras del norte y de las costas, reconstruir la red de transportes, defender al país de las invasiones extranjeras y de los intentos de reconquista de la madre patria – la lista era interminable. Todo esto significaba, en una palabra, trabajar. Y trabajar, la esencia de una ideología utilitarista e ilustrada, significaba, a su vez, quitarle las trabas al trabajo. ¿Cómo aumentar la eficacia, cómo disponer de más mano de obra, cómo motivar, cómo contagiar a las masas con los sueños de progreso material de los nuevos dirigentes, ansiosos de poner en práctica las mil ideas que les surgían para desterrar viejas y dañinas prácticas y sustituirlas con una entusiasta entrega al racionalismo? Ante todo, se necesitaba un nuevo concepto del tiempo. El tiempo se tenía que emplear con una intención en mente, se tenía que dedicar a un fin, se ahorraba, se gastaba y por todos los medios se evitaba su desperdicio. Desperdiciar el tiempo llevaba al vicio, al relajamiento de las costumbres, al dispendio, a la inconciencia de rutinas sin sentido. Para los educadores se volvió un reto enseñar a los niños y a la población en general a medir el tiempo. Para eso eran las campanas, para eso los relojes que empezaban a aparecer en las torres de las iglesias. El tiempo tenía ahora un sentido secular, marcaba los segmentos de la actividad que no era litúrgica. Las campanas decían cuándo levantarse, ir a misa, rezar, recogerse en la noche. Avisaban de nacimientos, matrimonios, muertes y de los grandes acontecimientos. También avisaban a los parroquianos de los sucesos locales, de incendios, de peligros. El reloj avisaba silenciosamente de la hora de entrada a la escuela, del comienzo de las sesiones del congreso, del inicio de la obra de teatro. La vida fuera de la iglesia tenía ritmos que la población interiorizaba lentamente. Ser puntual se aprendía en la escuela, en familia, en las oficinas, en las fábricas. Fue una enseñanza muy incompleta, como de cuándo a cuándo 207 lo demuestra nuestra sociedad contemporánea, adornada hasta la fecha por individuos que hacen poco caso del tiempo oficial y de los demás. Había, pues, que aprender a usar el tiempo y a trabajar. Para lograr lo último, había que arreglar aquél. No todo el tiempo le pertenecía a uno. Una cantidad considerable pertenecía a la Iglesia, a la Corona y posteriormente al Estado. ¿Qué tanto? Según las constituciones de la Universidad de Guadalajara, aprobadas en 1792, era mucho. Días festivos eran todos los designados para oír misa, más del 24 de diciembre hasta el primero de enero, dos días de Carnestolendas (Carnaval), Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos hasta el martes siguiente de Domingo de Pascua, cuatro días de rogaciones, todos los jueves, cumpleaños reales, días de entierro de doctores de la universidad, más 40 de vacaciones entre el 8 de septiembre y el 18 de octubre (Constitución XXVII de la Real Universidad de Guadalajara, en Razo Zaragoza, 1963, pp. 183 y 197-199; Staples, 1977, pp. 177-194). Después de separarse del gobierno español, esta carga de festividades se tenía que adecuar a las nuevas circunstancias nacionales. Desde luego que ya no tenía sentido festejar a reyes y reinas, porque ahora había otro panteón de héroes. No faltaron nuevas fechas claves en la vida pública. Como decía un decreto de marzo de 1822, “para perpetuar los grandes acontecimientos de la instalación del soberano congreso constituyente, [...] el plan de Iguala, jura del ejército trigarante en Iguala, primer grito de libertad en Dolores (Hidalgo), ocupación de la capital por el ejército mexicano, y para honrar la memoria de los primeros defensores de la patria y de los principales jefes que proclamaron el plan de Iguala” había que apartar por lo menos los días 24 de febrero, 2 de marzo y 16 y 27 de septiembre. Se celebrarían con “salvas de artillería y misa de gracias, a la cual debería asistir la regencia con las demás autoridades, vistiéndose la Corte de gala y usando del ceremonial de las felicitaciones, lo que se hará extensivo a todos los lugares del imperio” (Decreto 1º de marzo de 1822, Dublán y Lozano, I, 1876-1904, p. 599). Es decir, en vez de reducir el número de días festivos, lo primero que hizo el gobierno independiente fue aumentarlos. Al caer el primer imperio y la estrella de Iturbide, su ingreso con el ejército trigarante a la ciudad de México perdió importancia. Para 1824, además de las cívicas, sólo 208 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 había cuatro fiestas religiosas nacionales (Jueves y Viernes Santo, Corpus Christi y el 12 de diciembre) (Decreto 27 de noviembre de 1824, Dublán & Lozano, I, 1876-1904). La independencia trajo muchos cambios, aunque algunas costumbres fueron inalterables. Desde luego que había que escuchar misa cada domingo. Siempre se celebraría Corpus Christi, aunque no lo digan específicamente las fuentes. La celebración de la virgen de Guadalupe no está entre las autorizadas por el Vaticano hasta 1839, aunque se encuentra en los documentos mexicanos desde 1822. La Semana Santa podía durar desde el Domingo de Ramos hasta el martes siguiente de Domingo de Pascua o sólo tres días. A veces no se mencionaba el Carnaval. Festejar a santa Rosa de Lima es un evento aislado en 1822; lo mismo pasa con San Juan Bautista en 1835. Parece que la tendencia general era convertir las fiestas de guardar, que obligaban a misa y adoración durante el día entero, a media fiesta, donde cumplir con la misa, antes de regresar al trabajo o al estudio, era el único requisito (Escriche, 1996, pp. 200-201)1. La Navidad, cuando los jóvenes estaban de vacaciones, era una de las festividades donde participaban activamente, ya que representaban pastores y ángeles en los carros alegóricos y pequeñas obras teatrales, las pastorelas de hoy. En Querétaro, tal vez por la presencia de los “preciosos niños”, el inmenso concurso de gente sentado en las banquetas de las calles para ver desfilar los carros quedó sin moverse, en el mayor silencio y buen orden, sin que hubiera “ni un solo ebrio ni herido, desgracias comunes en estas funciones” (Águila Mexicana, 9 de enero de 1827, IX, p. 4). Pronto se tuvo que tomar una decisión en cuanto a cuáles festividades del antiguo régimen habría que conservar. Las políticas fueron fáciles de acomodar, no así las religiosas. Un caso fue el de San Hipólito, titular de México, gran ayuda a la hora de vencer a los indígenas en la conquista, identificado completamente con el gobierno español. Las autoridades escogieron retener los servicios protectores de este mártir y conti- 1. Los días de precepto obligaban a dejar los trabajos serviles, pero nada decía la ley de no estudiar. de cuándo a cuándo 209 nuar celebrando, como antaño, la purificación de la virgen, Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, San Pedro y San Pablo, Corpus Christi y su octava, la Asunción de la Virgen, Santa Rosa de Lima (primera vez que lo encuentro mencionado específicamente) y la fiesta de la Virgen de los Remedios, más una misa de aniversario por los muertos en la guerra de independencia, del bando que fueran, el 17 de septiembre. Se daba importancia especial al 12 de diciembre, “el más grande para esta América, por la maravillosa aparición de María Santísima de Guadalupe”, a pesar de no haber figurado en la lista de días notables anteriores (Decreto 16 de agosto de 1822, Dublán & Lozano, I, 1876-1904, p. 628. Sesión 10 de agosto de 1822, Mateos, 1877, I, p. 767. Fernández de Lizardi, XII, 1991, p. 554)2. Para equilibrar la presencia de San Hipólito, desde principios de 1826 quedó en el santoral de la patria el día del único santo mexicano de aquel entonces, San Felipe de Jesús, cuyo día sería el 5 de febrero (Decreto 28 de enero de 1826, Dublán & Lozano, I, 1876-1904), transformado, en aras de la secularización, en el día de la firma de la Constitución de 1917. Bajo el pretexto que fuera, es un día de asueto hasta la fecha. Este tipo de festividad tenía un alto contenido educativo para los niños, que aprendían algo de su propia historia y de las fuentes del orgullo nacional. No podía pasar desapercibido un evento de esta magnitud, sobre todo la primera vez que tuvo lugar. Hubo salvas militares; las campanas se echaron a volar en todas las iglesias, siguiendo, como siempre, el ejemplo de las mayores de catedral; también se realizó una procesión con vistosas colgaduras en los balcones; el presidente Guadalupe Victoria, con su comitiva de ministros, generales, la plana mayor de ejército, el ayuntamiento y por supuesto los alumnos de los colegios, hizo “un cuadro magnífico que sorprendió al numeroso pueblo que ocupaba la gran plaza” (Gazeta de México, 8 de febrero de 2. Hubo una fuerte discusión en el congreso acerca de la conveniencia de quitar del calendario a San Hipólito, “para borrar el recuerdo ignominioso de nuestra depresión”. Fernández de Lizardi había notado que únicamente en México era día de guardar. Preguntaba “¿Y el día 13 de agosto ha de seguir festivo en memoria de tan inauditas atrocidades?”, sobre todo cuando se trataba de enseñar a los niños a ensalzar a México y olvidarse de España. 210 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 1826, n. 39, vol. II, p. 3). No hacía falta participar en la educación formal para comprender la exaltación de un personaje nacido en tierras mexicanas, en cuyo honor había que suspender clases y labores. Las fiestas eclesiásticas, según decretos de 1824 y 1826, además de los días de precepto, eran los domingos, las de Carnaval, Semana Santa desde el Viernes Santo hasta el siguiente martes, Corpus Christi, los días de Guadalupe, San Felipe de Jesús, San Hipólito y Navidad, más los civiles (Rodríguez de San Miguel, 1978, p. 281). José María Luis Mora, reformador hasta en esto, denunció que “de los 365 días del año entre vacaciones, asuetos, asistencia a fiestas o funciones religiosas, actos literarios procesiones o entierros”, se les iban a los estudiantes más de 200 días (Mora, 1986, p. 465). Sólo les quedaban cinco meses y medio de clases. Al mismo tiempo que algunos funcionarios aumentaban el número de fechas donde se ocuparía una parte del día en misa, o de plano no habría labores ni clases, otros hacían lo posible por aumentar la productividad y la asistencia a la escuela. Parecía a algunos críticos una aberración la cantidad de tiempo dedicado a actividades no conducentes al progreso. Pero el cambio se producía lentamente. En 1826, el congreso de Puebla advirtió a los alumnos que tendrían únicamente un mes y medio de vacaciones y asueto los días de guarda religiosa o civil, pero sin especificar cuáles eran (Decreto 20 de mayo de 1826, Puebla. Colección de decretos, 1828, p. 63). De hecho, no se ve mucha diferencia entre este calendario y el observado a finales del virreinato. Para la década de 1830, la situación tampoco había mejorado sensiblemente, a pesar de las buenas intenciones. Un periódico de Toluca hizo el siguiente cálculo de los días de descanso observados en los establecimientos de educación: 52 domingos, 31 días festivos, 12,5 jueves (medio día o completos), 26 sábados por la tarde (cuando estudiaban el catecismo de Ripalda), 59 días de vacaciones desde el 20 de agosto en que comenzaban los exámenes hasta el 18 de octubre, cuando empezaba el año escolar), 20 días de vacaciones menores de las dos Pascuas, 8 días de los santos patronos y 2 de fiestas nacionales, lo que sumaba 210,5 días para los asistentes a la primera instrucción. En las facultades mayores, de estudios secundarios o profesionales, sólo eran útiles 168 días del año. Además, de cuándo a cuándo 211 se daba únicamente una hora de clase y ninguna de estudio, así que había 168 horas de clase, más 72 de academias (estudio extracurricular), para un total de 240 horas en el año. Se consideraba que un joven necesitaba por lo menos tres horas de estudio al día para “formarse en la jurisprudencia”; “ya es inútil preguntar porqué la juventud camina con pies de plomo”, muy despacito, observaba el autor de este artículo (El Reformador, Toluca, 1º de enero de 1834, p. 3). Evidentemente, había que tomar medidas. El gobierno central envió una circular a las autoridades de la Ciudad de México en que denunciaba el permitir a los alumnos ausentarse todo el día cuando era media fiesta “en que únicamente obliga la misa” y que volaban “además [...] las tardes de los sábados”, “resultado de ahí, que al excesivo número de días de descanso, se añaden otros en que está permitido el trabajo”. A partir de la publicación de la circular, los únicos días feriados serían los domingos, los días completos de guardar, los tres últimos de Semana Santa y el 16 de septiembre (Circular 22 de mayo de 1835, repetida 13 de junio de 1838, Dublán & Lozano, III, 1876-1904, pp. 49 y 534). Por lo menos se habían reducido las festividades cívicas a una sola. Parece que no se prestó mucha atención a esta medida, ya que se tuvo que repetir tres años después, ahora con una advertencia explícita acerca de los perjuicios que hacía este abuso “a los intereses nacionales y del aprendizaje, causando, además, otros daños a la moralidad y buena educación”. No había un acuerdo firme acerca de los días de clase y los de asueto. Entre las fechas de los dos decretos mencionados se publicó un volumen sobre legislación, donde se supone que estaban vigentes las de la Virgen en sus tres advocaciones: Carmen, Ángeles y Pilar, 10 días de Resurrección, de Navidad a Año Nuevo y tres días de Cuaresma. No se menciona el 12 de diciembre (Escriche, 1996, pp. 200-201)3. El Estado, respetuoso del poder y prestigio de la Iglesia, no cambiaba tan fácilmente el calendario ritual católico, aunque solamente fuera un asunto de disciplina externa comprendida dentro de las facultades del 3. Los días de precepto obligaban a dejar los trabajos serviles, pero nada decía la ley de no estudiar. 212 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 antiguo patronato real. Era mejor seguir los caminos correctos y solicitar a Roma la reducción de las fiestas religiosas. Ningún trámite tuvo éxito ante el Vaticano hasta no acceder al trono Gregorio XVI, en 1831. A pesar de no reconocer la independencia de México, que la Santa Sede hizo hasta que España tomó la medida en 1836, el nuevo papa reconoció la urgencia de reafirmar la presencia de la jerarquía sin mencionar específicamente a la república mexicana. En 1831 nombró a seis obispos, ya que el último, Antonio Joaquín Pérez Martínez de Puebla, había muerto en 1829 (Staples, 1976). A pocos meses, nombró a otros tres. El Vaticano también emitió un breve que reducía el número de días festivos eclesiásticos. Los razonamientos para hacerlo están dentro de los lineamientos ilustrados: más ocio equivale a mayores oportunidades de incurrir en vicios. Al disminuir el número y frecuencia de festividades, los fieles “andarían más celosos en la observancia de las que quedaran”. Esto iría cerrando la puerta al crimen, haría más industriosos a los creyentes, quienes se aplicarían “con más amor al trabajo en beneficio personal y de sus familias, con aumento del culto y del alimento” (En plena revolución industrial, los dueños de las fábricas usaban la misma lógica para exigir largas jornadas y poco descanso. Si el obrero trabajaba, no tomaría alcohol ni apostaría su magro sueldo). Se esperaba remediar en algo el hecho de que “en algunos el estudio de la religión y de la piedad se ha resfriado [...] de manera que prefieren la ociosidad, el vicio y la complicidad en los crímenes y maldades, aplicándose al estudio de las novedades” en vez de seguir por el camino del bien (Breve pontificio, 1836). El papa redujo los días de misa obligatoria a cinco celebraciones de Cristo, cinco de la Virgen, el nacimiento de San Juan Bautista, las festividades de San Pedro y San Pablo y Todos Santos. Las fiestas patronales se celebrarían el domingo más próximo a su fecha. Nada decía el breve de Semana Santa. Curiosamente, este documento no menciona la aparición de la Virgen de Guadalupe como día especial. Esta ausencia se remedió cuatro años después en otro breve pontificio donde se le enlista específicamente, pero desaparecieron otras cuatro fechas de la Virgen y la Navidad como días obligatorios de misa. Se redujo la prohibición de trabajar y de ir a la escuela a los 52 domingos más nueve de cuándo a cuándo 213 días de guardar (Dado en San Pedro 17 de mayo de 1839; pase el 14 de septiembre de 1839, Colección de decretos, 1851, pp. 209-210). Evidentemente, se estaba alargando el año escolar. Pero no en todas partes. Había clérigos más papistas que el papa. A poco tiempo del último breve pontificio mencionado, el obispo de Sonora decretó que además de los asignados por el Vaticano, los fieles de su diócesis tendrían que guardar la Navidad, el martes siguiente de Pascua, el día siguiente de Pentecostés y el día de San José. Se complicaba la vida en la República porque no todas las localidades de un estado se ubicaban dentro de la misma diócesis, de modo que algunas escuelas podrían seguir un calendario, otras, otro. Hacía falta que los obispos del país se pusieran de acuerdo para que los calendarios religiosos y cívicos coincidieran (Colección de decretos, 1851, pp. 251-252). Los periodos vacacionales eran distintos, lo que daría lugar a los calendarios A y B, según la región del país, que tanto trabajo costó eliminar en el siglo XX. Uniformar la educación en México fue justamente una de las metas de los gobiernos ilustrados desde la constitución de la monarquía española de Cádiz, de 1812. Se logró en el papel por primera vez en el México independiente con el Plan General de Estudios de 1843, que daba pie para normar las vacaciones y los días de estudio en todo el país. Oaxaca hizo caso a partir de finales de 1844. Para hacer este ajuste, las autoridades estatales perdonaron a los estudiantes de facultad dos meses y medio de su último año de estudios; los de recién ingreso tendrían que cursar los 40 meses que prevenía la ley de 1843 (Oficio del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública al gobernador Benito Juárez, 2 de agosto de 1844, Benito Juárez, 1987, p. 11). El Colegio de Minería quiso seguir el mismo esquema, con vacaciones desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre, para empezar el primero de enero. “El objeto de esta medida es acortar las vacaciones, que son demasiado largas en este seminario, con perjuicio del aprovechamiento de los alumnos” (“Oficio de la dirección del Colegio Nacional de Minería”, 31 de agosto de 1843, “Justicia”, El Observador Judicial, IV, pp. 208-209). Parece que hubo tantas ausencias durante la Navidad que era mejor dar a los estudiantes toda la temporada y quitarles el mes y medio tradicional entre el 8 de 214 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 septiembre y el 18 de octubre, cuando había pocas festividades religiosas y familiares. El estado de Puebla hizo un intento de modificar la cantidad de días de asueto. En 1849 decretó que los de precepto eclesiástico serían los comprendidos en la Semana Santa, del 25 de diciembre al primero de enero, el 16 y 27 de septiembre y el 4 de octubre, día de la promulgación de la constitución de 1824 (Decreto 15 de marzo de 1849, Puebla. Colección de decretos, 1851, p. 344). La Universidad de Mérida tampoco vio con buenos ojos tantas vacaciones. El año escolar correría del 19 de octubre al primero de septiembre y los días de asueto serían los domingos y fiestas dobles, del 25 de diciembre hasta el primero de enero, dos días de Carnestolendas y los tres últimos de Semana Santa (Artículo 19, Reglamento de la Universidad de Mérida, Mérida, Tipografía de Rafael Pedrera, 1851, en Instrucción Pública, vol. 88, f. 102, Archivo General de la Nación, México, en adelante AGNM). No se menciona ningún cívico. En Guanajuato, se decretó en 1827 que las vacaciones serían proscritas “para siempre” (Decreto 8 de marzo de 1827, Colección de decretos, 1834, p. 42). San Luis Potosí no quedó atrás. Para los alumnos del Colegio Guadalupano Josefino, tampoco habría vacaciones jamás (El Siglo XIX, 1 de abril de 1842, citado en Staples, 1985, nota 81). El director del Instituto de Educación Comercial y Preparatoria compartió el mismo criterio de lo perjudicial que eran las vacaciones, así que decidió no darlas “en ninguna época del año” (Plinio D. Ordóñez, Historia de la educación pública en el estado de Nuevo León 1591-1942, Monterrey, Talleres Linotipográficos del Gobierno del Estado, I, 1942, p. 78 en Staples, 1985, nota 81). Si era difícil desterrar los días festivos religiosos, más difícil todavía era combatir el San Lunes. Éste afectaba el buen funcionamiento del gobierno, del comercio, y por puesto de las escuelas. El presidente José Joaquín de Herrera explicó que “deseando [...] no fomentar, ni aun indirectamente, el inmoral vicio del juego, en que por abuso muy lamentable han degenerado las fiestas de la Pascua de Espíritu Santo, en la ciudad de Tlalpan”, todos los burócratas y militares tendrían que reportarse a sus oficinas el lunes y martes “de dicha pascua” y desde luego no prestarse al “ejercicio indecoroso de tallador” (Circular 16 de de cuándo a cuándo 215 mayo de 1849, Dublán & Lozano, V, 1876-1904, p. 561). Por supuesto, esto incluía a los maestros pagados por el gobierno. En 1854 hizo falta un oficio donde expresamente se prohibiera a los alumnos de San Ildefonso asistir a los juegos de azar y bailes en Tlalpan (Oficio de Teodosio Lares a Sebastián Lerdo de Tejada, rector de San Ildefonso,14 de mayo de 1854, Caja 15, RS0-1025, Catálogo ordenes dirigidas al Colegio, p. 507, Centro de Estudios Sobre la Universidad, Universidad Nacional Autónoma de México, en adelante CESU, UNAM). Ese año el calendario escolar correría entre el primero de enero y el 15 de noviembre, con las usuales ausencias en Cuaresma y Pascua, Todos Santos, el 11, 16 y 27 de septiembre. La lista no era excluyente, pues dejaba entrever la existencia de más fiestas nacionales (Instrucción Pública, vol. 65, f. 62, 28 de septiembre de 1854, AGNM). La Guía de forasteros anotaba ocho días de guardar, además de los domingos. A pesar de haber abolido la clasificación de individuos por su origen étnico desde 1822 (Orden de 17 de septiembre de 1822, en Dublán y Lozano, I, 1876-1904, pp. 628629), todavía se hacía una excepción para los indios, que sí podían trabajar esos días y no escuchar misa (Galván Rivera, 1854, pp. 7-27; Fernández de Lizardi, XII, 1991, pp. 553-554)4. Sin duda, la intención era sacarles el mayor provecho posible. En la década de los cincuenta, el régimen de Antonio López de Santa Anna, en una vuelta a las tradiciones, hizo hincapié en la observancia de las costumbres religiosas. Impuso media hora de estudio diario del catecismo de Ripalda y otra media hora de historia de la Iglesia de Fleury en las escuelas elementales (Decreto 31 de marzo de 1853, Dublán & Lozano, VI, 18761904, pp. 351-352), exigió fe de bautismo a los maestros y envió a toda la República un regaño por “el olvido en que han caído las varias leyes vigentes que prescriben la cesación de toda clase de trabajo en los días de festividad religiosa o nacional”. Mandaba Su Alteza Serenísima observar las disposiciones escrupulosamente y castigar a los infractores 4. A José Joaquín Fernández de Lizardi le llamaba la atención esta gracia concedido a los indígenas, por ser neófitos o cristianos nuevos, y preguntaba hasta cuándo se les seguiría considerando aparte del resto de la población. 216 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 (Circular del Ministerio de Gobernación, 2 de julio de 1853, Dublán y Lozano, VI, 1876-1904, pp. 580-581). Otro indicio de esta mentalidad muy observante de las formalidades religiosas se encuentra en el decreto que designó festividad nacional el 8 de diciembre “para perpetuar dignamente la memoria de la solemne declaración dogmática de la Inmaculada Concepción” de María (Decreto 21 de abril de 1855, Dublán & Lozano, VII, 1876-1904, p. 468). Había sido festejado durante el virreinato y todavía estaba incluido en el breve pontificio de 1835, pero había desaparecido en el de 1839. El gobierno santannista se inmiscuía hasta en los detalles de la vida ritual de los colegios. Señaló el viernes de Semana Santa para la comunión obligatoria de los alumnos del Instituto Nacional del Espíritu Santo (antiguamente Colegio del mismo nombre) y el traje talar para los internos (Oficio 10 marzo 1855, Instrucción Pública, vol. 85, ff. 67-69, AGNM). El no presentarse en las festividades ordenadas por el gobierno, como el cumpleaños de Dolores Tosta, joven esposa de Santa Anna, ocasionaba severas reprimendas. Fue requerida la presencia del rector de San Ildefonso en palacio para esa ocasión (Oficio de Teodosio Lares a Sebastián Lerdo de Tejada, rector de San Ildefonso, 29 de marzo de 1855, Caja 16, RS0-1053, Catálogo de órdenes dirigidas al Colegio, p. 521, CESU, UNAM). El calendario escolar no resentía únicamente las festividades. Se podía matricular en los colegios de segunda enseñanza en cualquier momento. Por ejemplo, en el examen anual de latín celebrado en 1850 en el Colegio Clerical de Campeche, aprobaron jóvenes que tuvieron dos, tres, seis y diez meses de estudio respectivamente; en otro caso, con siete meses de asistencia los jóvenes aprobaron sintaxis española y latina, las oraciones y los primeros tres libros de las fábulas de Fedro; otro joven después de seis meses de matrícula supo todo lo anterior más las fábulas de Esopo y la oración de Cicerón contra Catilina. Otro más estuvo en el colegio un mes y presentó un examen sobre sintaxis y la IX oración de Cicerón (Alcocer Bernés, 1997, pp. 147, 157, 175, 186). El tiempo de matrícula no guardaba proporción con el grado de avance de los conocimientos. Los alumnos podían estudiar en casa y presentarse cuando sentían que dominaban la materia. de cuándo a cuándo 217 Lo que parece indicar un cambio es el hecho de no permitir a los alumnos matricularse cuando quisieran. A partir de 1854, en los colegios 25 faltas en el año llevaría a la expulsión (Artículo 50, Plan General de Estudios, 19 de diciembre de 1854; decreto 22 de septiembre de 1855, Dublán & Lozano, VII, 1876-1904, pp. 350 y 563-564)5. El tiempo había adquirido otra dimensión, se había vuelto una unidad no sólo medible sino limitante para el alumno. Sin embargo, nueve meses después se derogó este plan, regresando a usos y costumbres anteriores. Estos cambios en el calendario no fueron permanentes. En 1861, el año escolar terminaba el 15 de septiembre, así que hubo otro ajuste (Decreto 23 de febrero de 1861, Arrillaga, XII, 1834-1850). Las quejas fueron muchas y perennes por la reducida duración del año escolar, por lo poco que aprendían los alumnos, por sus faltas de asistencia y por la ociosidad de la población. Fue un problema de larga duración. Lo mismo se escuchaba en la gran ciudad que en la provincia. La escuela municipal de Tlacotlalpan, Veracruz, avisaba al ayuntamiento del “culpable abandono en una gran parte de los padres de estos niños, que mejor consienten que anden de ociosos por la calle y lugares públicos donde no aprenderán otra cosa que vicios y malas costumbres, que tener cuidado de hacerlos concurrir con puntualidad...”. Los padres luego culpaban a la escuela de que no progresaban los niños. El maestro de la escuela estaba “cansado de mandar infinidad de listas a las autoridades los años pasados y principios del presente sin resultado alguno favorable” (Escuela Municipal de Varones, 31 de enero de 1860, Archivo Histórico de Tlacotlalpan, Veracruz). Ni padres ni autoridades tomaban suficientemente en serio el aumentar la asistencia a la escuela. Intentaron reducir el número de festividades para que no hubiera pretextos, pero no se pudo motivar a las familias ni a los alumnos a entregarse a las labores escolares con dedicación. Todo el mundo tenía la culpa. La Iglesia por 5. El 11 de septiembre era para festejar la derrota de Isidro Barradas en su intento de reconquista española en 1829, victoria con la cual se adornó Antonio López de Santa Anna. 218 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 las festividades religiosas, el gobierno por las cívicas, los padres de familia por la inasistencia. Una constante fue el resultado pronosticado: no lograr los sueños de un país moderno, poblado de ciudadanos instruidos, educados, responsables. Ni el orden y progreso del porfiriato fueron suficientes para resolver el problema de los tiempos escolares. Todavía no se ponían de acuerdo en cuanto a los horarios, planes de estudio, método de enseñanza etc. (El Partido Liberal, 10 de junio de 1890 citado en Meneses Morales, 1983, p. 448). En 1908 un artículo de periódico señalaba que “las familias protestan por las consecuencias de las inexplicables vacaciones que ordena el secretario después de las fiestas patrias. No hay ninguna razón para tal descanso que perjudica las labores escolares”. Nuevamente se pensaba mover el calendario escolar; el gobierno ahora quería que coincidiera con el año fiscal, corriendo las vacaciones hasta junio. Habría clases en invierno, con los fríos tan perjudiciales a la salud de los niños, justo cuando las buenas familias con recursos buscaban climas más benignos (El Diario del Hogar, 23 de septiembre de 1908, citado en Meneses Morales, 1983, p. 579). Desde los primeros tiempos de la independencia, se entendía que había que trabajar más. Fernández de Lizardi decía que “ciertamente la multitud de días de fiesta es muy dañosa, en especial a los pobres artesanos que no tienen otro patrimonio para subsistir diariamente con sus familias sino el trabajo de sus manos, de manera que el día que no trabajan empeñan, o se endrogan o ayunan” (Fernández de Lizardi, XII, 1991, p. 555). Sólo le faltaba agregar que tampoco iban a la escuela los pocos alumnos inscritos en las escuelas. Las enseñanzas sacadas de estas festividades públicas no concordaban con las virtudes de moralidad y orden que tenían que ser la base de la educación mexicana. Al contrario, “en tales días, por ejemplo, en los de Corpus, Todos Santos, Nuestra Señora de Guadalupe, etcétera, etcétera, se aumentan las diversiones, se pueblan los paseos, se venden más licores, entran más heridos al Hospital de San Andrés y más presos a las cárceles. El desenfreno de las pasiones siempre es fruto de la ociosidad” (Fernández de Lizardi, XII, 1991, p. 555). La queja se repetía a lo largo del siglo XIX y del siguiente. de cuándo a cuándo 219 ¿En qué gastar el tiempo? Los alumnos de las escuelas mexicanas lo gastaban en vacaciones, en asistir a ceremonias religiosas o cívicas, en esperar mientras sus compañeros presentaban sus exámenes, en festejar al maestro y al director, en quedarse en casa por enfermedades o compromisos familiares. A pesar del esfuerzo por reducir el número de festividades eclesiásticas y nacionales, el número real de días de asistencia y horas verdaderamente aprovechadas en el estudio parece haber sido poco. Si descontamos el tiempo dedicado a memorizar los textos y definimos el proceso de aprendizaje como el de explicación y exposición, se reduce todavía más el tiempo que tuvieron los jóvenes para entender el mundo que les rodeaba. 220 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Apéndice DÍAS FESTIVOS Y VACACIONES Festividades 18226 1824-18267 18358 18379 1839 1844 184910 185111 1854 Ascensión de la Virgen (15 de agosto) * Circuncisión (1° de enero) * Corpus Christi * Cuatro días rogativos Domingos * * * Epifanía * Nacimiento de la Virgen * Del 24 ó 25 de diciembre al 1 de enero * Dos días de Carnaval * Dos días de Carnaval y el Miércoles de Ceniza * * * * * * * * * * Tres días del Carnaval y el Miércoles de Ceniza * Del Domingo de Ramos al Domingo de Pascua (Semana Santa) Del Domingo de Ramos al martes después de Pascua * * * * (continua) 6. 7. 8. 9. 10. Dublán & Lozano, I, 1876-1904, p. 599. Idem, p. 600 Idem, pp. 49-534. Escriche, 1996, pp. 200-201. Únicamente se refiere al estado de Puebla. Puebla. Colección de decretos, 1850, p. 344. 11. Se trata de la Universidad de Mérida. Artículo 19, Reglamento de la Universidad de Mérida, Mérida, Tipografía de Rafael Pedrera, 1851, en Instrucción Pública, vol. 88, f. 102, AGNM. de cuándo a cuándo 221 (continuação) Festividades Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo 1822 1824-1826 1835 1837 1839 1844 1849 * * Jueves y Viernes Santo * Del Viernes Santo al siguiente martes * Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección * * Diez días de Resurrección * Tres días de Cuaresma * Purificación de la Virgen * * Purísima concepción San Hipólito * * *A * * San Juan Bautista San Pedro y San Pablo * Santa Rosa de Lima * * Todos Santos Virgen de Guadalupe * * San Felipe de Jesús (5 de febrero) * * * * * Virgen del Carmen (16 de julio) * Virgen de los Ángeles (2 de agosto) * Virgen del Pilar (12 de octubre) * Virgen de los Remedios * 24 de febrero * A 1851 1854 * (continua) Únicamente en la capital del país. Dublán & Lozano, VII, 1876-1904, p. 350. 222 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 (continuação) Festividades 2 de marzo 1822 1824-1826 1835 1837 1839 1844 1849 1851 1854 * * 11 de septiembre (Derrota de Barradas) * 16 de septiembre (Grito de Dolores) * * 27 de septiembre (Entrada del Ejército Trigarante) * * * 4 de octubre (Promulgación de la Constitución de 1824) Del 28 de agosto al 18 de octubre Del 15 de noviembre al 31 de diciembre (período vacacional en Oaxaca) Del 16 de noviembre al 1° de enero B C * * * * * *B *C * Se trata del plan provisional de arreglo de estudios de 1834. Dublán & Lozano, II, 1876-1904, p. 761. El Colegio de Minería de la Ciudad de México quiso adoptar también este período en 1843. El Observador Judicial, IV, pp. 208-209. de cuándo a cuándo 223 Fuentes ÁGUILA MEXICANA, 9 de maio de 1827, IV, p. 4. ALCOCER BERNÉS, José Manuel (1997). Fuentes para la historia del Colegio Clerical de San Miguel de Estrada, 1823-1852. Campeche: Instituto Campechano. ARRILLAGA, Basilio José (1834-1850). Recopilación de leyes, decretos, bandos, reglamentos, circulares y providencias de los supremos poderes y otras autoridades de la República Mexicana. México: Imprenta de J.M. Fernández de Lara, XII. Ronald, Spores, comp., Irene Huesca, Manuel Esparza (1987). BENITO JUÁREZ. Benito Juárez, gobernador de Oaxaca. Documentos de su mandato y servicio público, Oaxaca: Archivo General del Estado de Oaxaca/Documentos del Archivo. BREVE PONTIFICIO (1836). Breve pontificio autorizando a los diocesanos de la república mexicana, para reducir en ella el número de días festivos. México: Imprenta del Águila. COLECCIÓN DE DECRETOS (1834). Decretos del Congreso Constituyente y del primero constitucional del Estado de Guanajuato. México: El Águila. . (1851). Colección de leyes y decretos de la República Mexicana publicados en el año de 1839 (y 1840). México: Imprenta en Palacio. DUBLÁN, Manuel & LOZANO, José María (1876-1904). Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república. 30 vols. México: Imprenta del Comercio. EL OBSERVADOR, Foluca, 1o de enero de 1834, p. 3. EL REFORMADOR JUDICIAL, IV, pp. 208-209. ESCRICHE, Joaquín (1996). Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense, con citas del derecho, notas y adiciones por el licenciado Juan Rodríguez de San Miguel. Edición y estudio introductorio María del Refugio González. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Jurídicas. FERNÁNDEZ DE LIZARDI, José Joaquín (1991). Obras XII-Folletos (1822-1824). Recopilación, edición y notas Irma Isabel Fernández Arias y María Rosa Palazón Mayoral, prólogo María Rosa Palazón Mayoral. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Filológicas. 224 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 GALVÁN RIVERA, Mariano (1854). Guía de forasteros en la Ciudad de México, para el año de 1854: contiene las partes política, judicial, eclesiástica, militar y comercial. México: Santiago Pérez. GAZETA D MÉXICO, 8 de febrero de 1828, n. 39, vol. II, p. 3. MATEOS, Juan A. (1877). Historia parlamentaria de los congresos mexicanos de 1821 a 1857. México: V. S. Reyes. MENESES MORALES, Ernesto (1983). Tendencias educativas oficiales en México 1821-1911. México: Editorial Porrúa. MORA, José María Luis (1986). Obras completas de José María Luis Mora. Obra política II, inv., recop., sel. y not. Lillian Briseño Senosian, Laura Solares Robles y Laura Suárez de la Torre, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Secretaría de Educación Pública, II. Colección de decretos (1828). Colección de los decretos y órdenes más importantes que expidió el Primer Congreso Constitucional del estado de Puebla en los años de 1826, 1827 y 1828. Puebla, Imprenta del Supremo Gobierno del Estado. . (1850). Colección de leyes y decretos de la autoridad legislativa del estado libre y soberano de Puebla, correspondiente a la segunda época del sistema federal. Puebla: Imprenta de J. M. Macías, II. RAZO ZARAGOZA, José Luis (1963). Don Manuel López Cotilla. Vida y obra de un ilustre jalisciense. Guadalajara: Edición del Gobierno del Estado de Jalisco. RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Juan (1978). Curia filipica mejicana, obra completa de práctica forense en la que se trata de los procedimientos de todos los juicios, ya ordinarios, ya extraordinarios y sumarios, y de todos los tribunales existentes en la República. Prólogo de José Luis Soberanes. México: Universidad Nacional Autónoma de México [edición facsimilar de la de 1850]. STAPLES, Anne (1976). La iglesia en la primera república federal mexicana: 1824-1835. México: Sepsetentas 237. . (1977). “El abuso de las campanas en el siglo pasado”. Historia Mexicana, XXVII: 2 (oct.-dic.). . (1985). “Panorama educativo al comienzo de la vida independiente”. In: VÁZQUEZ, Josefina Zoraida et al. Ensayos sobre historia de la educación en México. 2. ed. México: El Colegio de México. Tiempo y sociedad, en el Real Seminario de Minería,1792-1821 Eduardo Flores Clai* La industria de metales preciosos, oro y plata, a finales del siglo XVIII, recibió un gran impulso de la corona española. Para ello, intentó modernizar el sistema productivo de la minería con el fin de aumentar la recaudación fiscal. El Real Seminario de Minería (RSM) fue un engranaje más de esta maquinaria que tenía como objetivos difundir los conocimientos científicos, instruir a la juventud novohispana en las técnicas más modernas de explotación y refinación de minerales. En esta historia queremos llamar la atención sobre la vida académica. ESCUELA MODERNA; HISTORIA; INDUSTRIALIZACIÓN; JUVENTUD; MODERNIZACIÓN. At the end on the 18th century, the precious metal industry, gold and silver, received a great impulse from the Spanish crown. For this, it needed to modernize the productive system of the mining with the purpose to increase the fiscal collection. The Real Seminary of Mineração (RSM) was a strategy that had objectives to spread out the scientific knowledge, to instruct new Hispanic youth in the most modern techniques of exploration and mineral refinement. It is on this history that we want to call the attention of the academy. MODERN SCHOOL; HISTORY; INDUSTRIALIZATION; YOUTH; MODERNIZATION. * Doctor en historia por El Colegio de México. Profesor investigador del Departamento de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre sus artículos se encuentra La educación minera en México, Los amantes de la ciencia. Una historia económica de los libros del Real Seminario de Minería y otros. 226 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 La industria de metales preciosos, oro y plata, a finales del siglo XVIII, recibió un gran impulso de la corona española. De hecho, la política borbónica se convirtió en una fuerza de arrastre de la economía colonial que tenía como finalidad solventar las necesidades presupuestarias de la metrópoli. Para ello, intentó modernizar el sistema productivo de la minería con el fin de aumentar la recaudación fiscal1. El Real Seminario de Minería (RSM) fue un engranaje más de esta maquinaria que tenía como objetivos difundir los conocimientos científicos, instruir a la juventud novohispana en las técnicas más modernas de explotación y refinación de minerales, incorporar a cuadros cualificados que se encargaran de la dirección de las empresas y diseñaran políticas de desarrollo en las oficinas de gobierno2. Desde mucho tiempo atrás, diversos autores habían señalado que uno de “los males más graves” que aquejaban a la industria minera era precisamente la escasez de trabajadores “instruidos”. Se sabía que un sin número de obras de infraestructura habían fracasado por falta de planificación, la ignorancia de sus ejecutantes y los “vicios” de los operarios. La impericia de los trabajadores se demostraba en distintos niveles: los empresarios invertían cuantiosas sumas y, ante la frustración de los trabajos, se arruinaban; los pueblos mineros eran incapaces de aprovechar los recursos minerales y vivían en una constante decadencia, y la Real Hacienda dejaba de abastecer de recursos a la metrópoli con lo cual se empobrecía irremediablemente. Estos mismos autores coincidían en que era imprescindible aprovechar los conocimientos acumulados en la industria minera centro europea y difundirlos a través de los centros educativos. De esta manera, la capacitación para el trabajo dejaría de ser 1. 2. Entre otros, véase David. A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico, México, Fondo de Cultura Económica, 1971; Cuauhtémoc Velasco Ávila et al., Estado y minería en México (1767-1910), México, Fondo de Cultura Económica, Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, 1988. Santiago Ramírez, Datos para la historia del Colegio de Minería, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, ed. facsímil, 1982; José Joaquín Izquierdo, La primera casa de las ciencias de México; El Real Seminario de Minería, 1792-1811, México, Ediciones Ciencia, 1958. tiempo y sociedad 227 una instrucción meramente empírica, se le reconocería como una actividad de gran mérito y nobleza, se apegaría a las normas escolares y postulados científicos3. En general podemos decir que el despotismo ilustrado y los sectores interesados en la industria minera tenían urgencia de capacitar a los jóvenes novohispanos con el fin de renovar el conjunto de técnicas tradicionales4. En esta historia queremos llamar la atención sobre un tema muy significativo en la vida académica del RSM: nos referimos a la concepción del tiempo. En este trabajo, el tiempo es una representación colectiva del ritmo de vida escolar. De hecho, es la estructura que organizaba al conjunto de actividades colectivas y se manifestaba por medio de un calendario que determinaba los ritmos periódicos de labores educativas, las fiestas, las ceremonias y los ritos. Intentamos resolver: ¿Cuáles fueron las mediciones del tiempo en el Seminario de Minería? ¿Existió una diferencia tajante entre el tiempo cronológico y el tiempo escolar? ¿En qué medida el tiempo fue un factor determinante para cumplir los objetivos de capacitar a los jóvenes novohispanos en las áreas que la industria minera demandaba? ¿Las representaciones del tiempo constituyeron un sistema normativo que permitió disciplinar el comportamiento de los actores involucrados en el proceso de enseñanza minero? El tiempo todo lo descubre En siete años, el Seminario de Minería tenía la obligación de formar “peritos” en las áreas de explotación y beneficio (refinación o metalur- 3. 4. Entre otros podemos nombrar a: Juan Lucas de Lassaga y Joaquín Velázquez de León, Representación que a nombre de la minería de esta Nueva España, hacen al rey nuestro señor. Los apoderados de ella..., introducción de Roberto Moreno de los Arcos, ed. facsímil, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, 1979; Francisco Xavier Gamboa, Comentarios a las Ordenanzas de minería dedicados al católico rey nuestro señor don Carlos III..., México, obra reimpresa por Díaz de León y White, 1874. Al institucionalizar la enseñanza del trabajo minero, el conocimiento empírico quedó al margen y fue menospreciado, aunque prevaleció en los centros mineros y compitió fuertemente contra el conocimiento científico. 228 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 gia) de minerales. Los alumnos recibirían una instrucción teórica durante cuatro años para enseñarles las ciencias (matemáticas, física, química y mineralogía) y las artes mecánicas (dibujo, delineación, maquinaria, entre otras). Asimismo, los estudiantes pondrían en práctica sus conocimientos durante tres años en los reales de minas del virreinato y elaborarían una tesis para que se les expidiera el título correspondiente5. Pero de hecho, las mediciones del tiempo de enseñanza sufrieron una serie de modificaciones a lo largo del tiempo. Como bien afirma José Joaquín Izquierdo, biógrafo de esta institución, “el plan académico se fue creando [a lo largo de su vida]”6. A grandes líneas, en el debate pedagógico afloraron dos posiciones irreconciliables. Por una parte, algunos funcionarios reales y representantes de los comerciantes de la Ciudad de México manifestaron una concepción utilitaria de la educación; partían de una idea simple: el Real Seminario tenía características similares a un negocio. En otras palabras, la educación demandaba cuantiosos recursos económicos y los estudiantes invertían mucho tiempo en su preparación. Por lo tanto, la escuela debía de proporcionar utilidades en el corto plazo y los alumnos tendrían que ser recompensados por su dedicación. Con el fin de acortar los estudios o inclusive de cerrar la escuela, advertían que entre los novohispanos existía una falta de interés por el estudio de las ciencias. Los datos de ingreso eran más que concluyentes: de 1792 a 1821, se matricularon 323 jóvenes y sólo lograron graduarse 42. Con base en estos resultados, afirmaron que la educación minera era un “bellísimo proyecto que sólo sirve para estamparse en el papel y arrancar al lector un ojalá tan fervoroso como estéril”7. Por otra parte, un grupo de mineros, que tenían una gran influencia de las distintas escuelas mineras europeas8, consideraba que la educa5. 6. 7. 8. Archivo General de la Nación México (en adelante AGNM), Minería, vol. 11, exp. 2. Izquierdo, op. cit., pp. 41-43. Archivo General de Indias (en adelante AGI), México, 2237, “Sobre el cierre del Colegio y la desaparición del Tribunal de Minería, datos del gasto del Colegio, el recorte presupuestal y plan de gastos del Real Tribunal y colegio en 1814”. Nos referimos principalmente a la escuela de Almadén, al Real Seminario Patriótico Bascongado y a la Escuela de Freiberg, en Sajonia. tiempo y sociedad 229 ción era una pieza clave para resolver los problemas técnicos que enfrentaban y el ciclo escolar se podría prolongar hasta por diez años o más si era necesario. Fausto de Elhuyar, quien fuera el primer director del RSM, señaló respecto a este punto que la educación se iniciaba en el seno de las familias, continuaba en la escuela, proseguía en el trabajo y la vida entera era insuficiente para cultivar con plenitud las ciencias. Ante la imposibilidad de que los estudios se prolongaran al infinito, introdujo dos cambios sustanciales: por una parte, propuso que los estudios teóricos comprendieran cinco años, por el bajo nivel académico de los alumnos9, y en segundo término, las prácticas de campo se redujeran a sólo dos años10. En general, entre 1792-1821, el ciclo educativo, en términos formales, abarcó siete años11. Sin embargo, las condiciones para llevar a cabo los cursos en los plazos fijados no se cumplieron por una amplia gama de problemas de diversa índole. Por ejemplo, la infraestructura de la escuela fue inadecuada; el suministro de profesores españoles no se realizó en los plazos señalados y principalmente a causa del atraso de los alumnos que fueron incapaces de terminar en el tiempo fijado y requirieron hasta nueve años para culminar sus estudios12. De hecho, podemos señalar que el tiempo otorgado para el ciclo escolar minero no se basó en los propósitos académicos, tampoco en el nivel educativo de los alumnos y mucho menos en la preparación de los profesores, sino que estuvo inmerso en una serie de intereses que dictaron 9. Archivo Histórico del Palacio de Minería (en adelante AHPM), caja 52, doc. 1. “Instrucción sobre la constitución y estado actual del Real Seminario de Minería de México” (1791). 10. AGI, México, 2238, “Testimonio del plan propuesto por el Tribunal de Minería para el gobierno del Colegio Metálico o Seminario, que debe establecerse en virtud de la Real Orden”. 11. AHPM, caja 52, doc. 1, “Instrucción sobre la constitución y estado actual del Real Seminario de Minería de México” (1791). 12. Las causas del abandono de los estudios fueron diversas: iban desde los asuntos familiares, pasando por la falta de recursos económicos e incluso por no aprobar las materias. En general, los alumnos tuvieron muchos problemas de aprovechamiento en la clase de matemáticas, como ocurre hoy en día en distintos centros escolares. 230 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 las políticas educativas, diseñaron la vida interna de la escuela, proporcionaron los recursos económicos indispensables y por lo tanto determinaron los tiempos de la enseñanza. En esta escuela concurrían distintos actores cuyos tiempos estaban condicionados por sus intereses inmediatos y de largo plazo. Muchos maestros y alumnos vivían fuera de tiempo, se atrasaban o adelantaban, se enfermaban y sanaban, interrumpían sus estudios y los continuaban, ingresaban o se jubilaban, sostenían la idea de un porvenir promisorio o veían su futuro con nubarrones. No obstante, contra esta diversidad la escuela imponía su tiempo, homologaba las diferencias y le asignaba un sentido coherente, con el fin de ubicar al Real Seminario de Minería en el tiempo histórico13. En términos generales, podemos decir que la educación minera no fue ajena a los calendarios de otras instituciones similares de su época14. Como principio político se intentó un equilibrio entre el tiempo dedicado a las labores de la enseñanza y el tiempo destinado a otro conjunto de actividades cotidianas. En este sentido, por el hecho de vivir en comunidad, el tiempo de la escuela tendía a homogenizar el ritmo de vida; como bien dice Jacques Attali, todos y cada uno deben vivir en horas idénticas o, en todo caso, coherentes entre sí; todos y cada uno deben estar rodeados de un tiempo definido, tomado al segundo, para interiorizarse de la nueva disciplina15. 13. Adolfo Carrasco Martínez escribió que “el tratamiento del tiempo histórico a lo largo de la evolución de la historiografía nos revela las discontinuidades de la actitud hacia el pasado, precisamente porque el diálogo entre la experiencia y las expectativas no ha empleado siempre el mismo código” en: “La trama del tiempo. 14. Las Constituciones o reglamentos de las escuelas de internado eran muy similares en Nueva España y en Europa, lo cual hace pensar que al elaborarlos, se copiaran las ideas de unos a otros, inclusive en la forma de distribuir el tiempo. Véase Jorge René González y Ma. Magdalena Ordóñez, Colegio Seminario de Tepotzotlán para instrucción, retiro voluntario y corrección de clérigos seculares, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1993. 15. Jacques Attali, Historias del tiempo, México, Fondo de Cultura Económica,1985, p. 201. tiempo y sociedad 231 Tiempo antes El calendario del RSM no fue común, la distribución del tiempo cronológico se llevó a cabo teniendo en cuenta las distintas actividades, tales como: el desarrollo temático de cada una de las materias impartidas, los sistemas de evaluación, las fiestas religiosas, las ceremonias civiles y, como hemos dicho, los intereses políticos. El año escolar comenzaba con el año calendario, en las primeras semanas de enero; sin embargo, el inicio de las clases oscilaba y no existía un día prestablecido. Los alumnos se incorporaban con cierta parsimonia, los que vivían en provincia regresaban de sus casas entre la segunda y la tercera semana ya iniciadas las clases. El año se dividía en dos grandes periodos teniendo en cuenta los cambios de clima o estación del año; el primero abarcaba de enero a abril y el segundo iba de mayo a final de año. Podemos señalar que, al transcurrir los meses, el ritmo de trabajo iba aumentando; primero se interrumpía por la celebración de la Semana Santa (de fecha móvil entre marzo y abril) y posteriormente por los exámenes privados que se realizaban entre junio y julio. Enseguida se iniciaba una etapa menos dinámica y culminaba con los exámenes públicos llevados a cabo entre octubre y diciembre16. Los ritmos y calendarios de las escuelas europeas eran diferentes, como por ejemplo: el Seminario Patriótico de Bergara, que disfrutaba de vacaciones veraniegas entre el 8 de agosto al 1° de octubre17. El RSM, en sus primeros tres años, no tuvo descanso alguno, las lecciones se prolongaron hasta diciembre y el tiempo les fue insuficiente para practicar en los reales mineros. Sin embargo, los profesores fueron adquiriendo experiencia y los cursos posteriores se terminaron entre septiembre y octubre. 16. AHPM, caja 120, doc. 9, Reglamento sobre asuetos que debe haber en el Real Seminario de Minería con distinción de sus clases, 6 de septiembre de 1806. 17. Inés Pellón y Ramón Gago, Historia de las cátedras de química y mineralogía de Bergara a fines del siglo XVIII, Gipuzkoa, Ayuntamiento de Bergara, 1994, p. 39. Cabe aclarar que Koldo Larrañaga afirma que las vacaciones se iniciaban el 18 de agosto, Día de la Asunción, y se prolongaban hasta el 18 de octubre, Día de San Lucas; véase Las manifestaciones del hecho ilustrado en Bergara, Bergarako Udala, Ikerlan Saila, 1991, pp. 42-43. 232 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 En 1795, debido a que se había cumplido con el calendario, el director, Fausto de Elhuyar, aprovechó la ocasión para introducir un nuevo cambio; solicitó ante el Tribunal de Minería que se les perdonaran las prácticas, tanto a los profesores como a los alumnos, con el fin de que pudieran disfrutar de un reposo merecido. De hecho, los profesores estaban cansados de lidiar con los jóvenes y, en su mayoría, eran hombres casados y tenían que atender a sus familias. Este periodo vacacional les permitiría tener desahogo y podrían usar el tiempo a su arbitrio, para volver con ánimo a la fatiga del año próximo18. Asimismo, las vacaciones tenían un sentido pedagógico. Elhuyar consideraba que el tiempo de convivencia de los alumnos resultaba muy prolongado y por tanto era necesario cambiar de aires y de ambiente social. Aunque existía un factor extra académico, el director hizo énfasis en que las prácticas de campo implicaban un mayor gasto económico, pues era necesario cubrir el costo de transporte y la manutención de profesores y alumnos19. Hasta ahora no sabemos cuál fue el factor que determinó la aceptación de un periodo vacacional. Pero dedicarle tiempo al descanso se consideró como una medida prudente y muy provechosa. Para los alumnos, representaba la posibilidad de visitar a sus padres (en su caso tutores) y prolongar su convivencia para que hubiera un mayor acercamiento familiar. A los que tenían un origen minero, se les recomendó que inspeccionaran las obras de las minas y las haciendas de beneficio, con el fin de formarse algunas ideas sobre lo que debe explicárseles en el curso próximo, como también repasar lo que en este año han estudiado20. Cabe añadir que las vacaciones también eran vistas como un castigo para los alumnos flojos, aquellos que habían reprobado alguna asignatura y durante ese periodo debían ponerse al corriente. En realidad, los días de descanso tenían el carácter de premio para los estudiantes más sobresalientes y aquellos que habían mostrado un “mediano aprovechamiento”. 18. AHPM, caja 76, doc. 13, “Vacaciones para los colegiales”, 26 de octubre de 1795. 19. AHPM, M.L. 90 B, “Libro de oficios 1789-1800”, pp. 126-128v. 20. AHPM, caja 76, doc. 13, “Vacaciones para los colegiales”, 26 de octubre de 1795. tiempo y sociedad 233 Por otra parte, los días de fiesta eran abundantes, y en general estaban destinados a reforzar la fe en los dogmas católicos. En este renglón, el RSM, a pesar de su carácter ilustrado, midió fuerzas con las instituciones, no sólo educativas, que imponían el ritmo de vida en el virreinato y que estaban fuertemente consolidadas, detentaban fueros poderosos y representaban profundas tradiciones de la cultura novohispana. Por tal motivo, el colegio minero se vio inmerso en las prácticas sociales prexistentes y fue incapaz de imponer su tiempo, aunque logró introducir algunos cambios que arrebataron parte del tiempo destinado a las ceremonias religiosas. Las conmemoraciones autorizadas eran las relacionadas con la vida de Jesucristo y María Santísima, y con todos aquellos miembros de la Corte celestial que se contaban entre las preferencias devocionales de los novohispanos. Sólo por poner un ejemplo, en 1808 hubo cuarenta y dos fiestas religiosas y cinco ceremonias de carácter “civil”21. En el mes de enero, las celebraciones más importantes fueron la Circuncisión del Señor y el Día de Reyes o Epifanía. En febrero se conmemoró la Purificación de Nuestra Señora Candelaria y se recordó a dos Santos que tenían estrecha relación con Nueva España, reunían los atributos de juventud y castidad y por tanto eran buenos ejemplos para los estudiantes: Felipe de Jesús y Sebastián Aparicio22. Marzo se esperaba con los brazos abiertos por el desenfreno y el jolgorio del Carnaval y las Carnestolendas23. Inmediatamente después venía la reflexión; la Cuaresma se iniciaba con el Miércoles de Ceniza y se prolongaba durante cuarenta días. Además, en este mes se recordaba a San José, patrono de Nueva España, la Encarnación del Verbo y a los 21. En las fiestas civiles se contemplaban los cumpleaños del rey, el director del RSM, el administrador del Tribunal de Minería, el rector y vicerector del RSM. 22. Albert Cristian Sellner, Calendario perpetuo de los santos, Buenos Aires, Sudamericana, 1994. 23. Carnestolendas, los tres días de carne que proceden al Miércoles de Ceniza, en los cuales se hacen fiestas, convites y otros juegos para burlarse y divertirse. Diccionario de Autoridades, Madrid, Gredos, ed. facs, Biblioteca Románica Hispánica, 1964, tomo 1, p. 188. 234 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Santos Casimiro, Tomás de Aquino y Eulogio, quienes tenían los atributos de la juventud, la castidad, el estudio y la enseñanza de la fe. Como mencionamos, el ciclo sufría su primer interrupción considerable durante la Semana Santa que se prolongaba desde el viernes de Dolores hasta el tercer día Pascua de resurrección. Alumnos y profesores disfrutaban de vacaciones cortas y tenían el derecho de pasarlas al lado de sus familias o podían quedarse en las instalaciones del Colegio. Todos aquellos que no salían, se ocupaban de sus obligaciones académicas y religiosas; en general tenían permiso para abandonar el edificio durante las tardes. El Jueves Santo se modificaba la rutina; los alumnos permanecían en la calle para realizar la visita de las siete casas y tenían permiso de regresar hasta las ocho de la noche24. Asimismo, estudiantes y profesores participaban en la procesión del Cristo de Santa Teresa y en la peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. A principios de mayo se festejó la Santa Cruz, el día 26 se asistió al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y al final del mes se celebró el Día de San Fernando, en honor al cumpleaños del Príncipe de Asturias. Para junio las celebraciones fueron la Pascua, el Corpus Christ, San Juan y San Pedro y San Pablo. En julio se festejó a Nuestra Señora del Carmen, a Santiago patrono de España y a la Señora Santa Ana; también se efectuó una fiesta por el armisticio con Inglaterra25. El mes de agosto se recordó a Nuestra Señora de los Ángeles y se paseó el pendón el Día de San Hipólito. Asimismo se festejó a San Lorenzo, San Bartolomé, Santa Rosa de Lima y la Asunción. Por la invasión francesa a la península ibérica y el golpe de estado contra el virrey Iturrigaray, se efectuaron rogaciones públicas con el fin de que hubiera una tregua y “el nuevo aire trajera la paz”. Durante septiembre se continuaron las oraciones públicas y se reforzó con un novenario a Nuestra Señora de Guadalupe. Y celebraron la Natividad de Nuestra Señora, a San Mateo y San Miguel Arcángel. 24. Santiago Ramírez, op. cit., p. 271. 25. El 31 de ese mes era la fiesta de San Ignacio de Loyola, pero suponemos que a raíz de la expulsión de los jesuitas no se conmemoró oficialmente. Hernández y Dávalos, 1889, p. 321. tiempo y sociedad 235 En el último trimestre del año, las fiestas religiosas eran menos frecuentes y se asomaba el fin de las clases. En octubre se recordó a San Francisco de Asís, Nuestra Señora del Pilar, San Calixto Papa y San Judas Tadeo. Noviembre iniciaba con la ceremonia de Todos Santos y Difuntos y se llevaba a cabo la fiesta de uno de los patronos de los mineros: San Andrés. En diciembre se conmemoraba a la Purísima Concepción y se efectuaba la fiesta más grande del año en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, en la que participaban todos los funcionarios del Tribunal de Minería26. Y el año cerraba con otra gran celebración que era la Natividad. Esta situación en algunas escuelas europeas podía adquirir tintes más dramáticos. Como por ejemplo, el testimonio de un estudiante de la Universidad de Valencia arroja luz sobre la diferencia entre el tiempo de fiesta y los días de estudio: En esta Universidad donde algunos amigos y yo hemos sacado el cómputo, del que resulta que el año se dan cincuenta y cinco a cincuenta y seis clases, y si no, saque usted del diez de mayo hasta el cuatro de noviembre que la puerta permanece cerrada, saque un mes en derredor de Navidad, a que un mes por Pascua, saque quince días por Carnaval, saque usted los jueves, fiestas de misa y precepto, todos los días de un poco de frío y de agua y verá lo que queda del año. Los días de clase se tendrán tres cuartos de hora a lo más; los unos fuman, otros hablan, otros cantan, y lo que quieren los maestros es que los estudiantes sigan tan burros como ellos mismos27. En el caso de la Nueva España, la situación no era muy distinta, los funcionarios del Tribunal de Minería manifestaron una gran molestia porque los días de asueto representaban la “cuarta parte año”, lo que 26. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe era la más fastuosa del año y en ella se llegaba a gastar una suma considerable. Sabemos que en 1792 ascendió a 423 pesos. AHPM caja 56, doc. 1, “Comprobantes de las cuentas del Factor” (1792). 27. Citado por Baldó i Lacomba, Marc, Profesores y estudiantes en la época romántica, La Universidad de Valencia en la crisis del Antiguo Régimen (1786-1843), Valencia, España, Ayuntamiento de Valencia, 1984, p. 37. 236 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 traía como consecuencia un atraso considerable en los estudios de los alumnos y un despilfarro de las arcas mineras. El calendario era tan amplio y las tradiciones estaban tan acendradas que poco se logró en este renglón. El director, Fausto de Elhuyar, se encargó de reglamentar el tiempo con el fin de reducir los días de fiesta y las horas muertas. Los días de fiesta fueron divididos en tres categorías, con el fin de restringir las salidas de los estudiantes a la calle y evitar la vagancia. En este sentido aún los días asueto, los alumnos tenían que dedicar una hora por la mañana y otra por la noche para repasar sus clases. Se estableció que en los días de fiesta, en lugar de dedicarse a la enseñanza de la “doctrina cristiana”, utilizaran el tiempo para estudiar algún tema pendiente de sus asignaturas. Esta regla se exceptuaba el día domingo. Por último, se buscó darles mayor libertad a los jóvenes a fin de que pasearan hasta anochecer y por ello la hora nocturna de estudio variaba de acuerdo con las estaciones del año28. Las horas pasan ¿lentas o veloces? Las aulas del RSM dieron cabida a tres tipos de estudiantes, quienes se distinguían por el tiempo dedicado a los estudios en el interior de la escuela. Los alumnos de dotación, becarios, estaban bajo el régimen de internado y pasaban largas temporadas bajo la vigilancia de las autoridades del seminario. En segundo término estaban los “pensionistas”, quienes realizaban todas las actividades escolares al igual que los anteriores, pero se diferenciaban porque sufragaban los gastos de su manutención y dormían en sus casas. Por último, se encontraban los “externos”, los cuales mantenían una débil relación con la escuela, vivían fuera del recinto y sólo asistían a las horas de clase29. De igual manera, 28. AHPM, M.L. 90 B, “Libro de oficios 1789-1800”, pp. 129-131. 29. Ordenanzas de minería y colección de las leyes y ordenes que con fecha posterior se han expedido sobre la materia, compilada por el licenciado José Olmedo y Lama, México, Imprenta de Vicente G. Torres a cargo de Mariano García, 1873, pp. 41-43. tiempo y sociedad 237 los profesores residían fuera de las instalaciones de la escuela y sólo tenían la obligación de dictar su cátedra, pero algunos de ellos pasaban largas horas con los estudiantes y aprovechaban la biblioteca, los laboratorios y gabinetes para desarrollar sus temas de investigación30. Por los testimonios sabemos que el tiempo era utilizado de una forma intensiva y las tareas de cada uno de los miembros de la institución estaba normada de manera exhaustiva. En otras palabras, la vida diaria estaba regida por un horario que marcaba en forma estricta las horas de clase, estudio, ejercicios cristianos, distracciones, alimentación y aseo personal. Esta división era un reflejo de la enseñanza integral que se impartía; cada una de estas actividades nos remite a un tipo de educación en distintas áreas, pero englobaba todos los aspectos indispensables en la formación del nuevo sujeto ilustrado de finales del siglo XVIII. Pero al mismo tiempo no se diferenciaba de la distribución temporal aplicada en otras instituciones con mayor tradición. Durante las dieciséis horas “hábiles” que tenía el día, se destinaba en forma prioritaria la impartición de clases y el estudio individual de los alumnos. Con esto se cumplía el principal objetivo, es decir la formación de los jóvenes. En segundo lugar el tiempo se dedicaba a la recreación. Ésta se realizaba en distintas modalidades que incluían el ejercicio físico, la sociabilidad, la aplicación del ingenio e intelecto o la simple ociosidad; sobra decir que las autoridades procuraban mantener una vigilancia sobre cada una de estas prácticas. En tercer lugar, la alimentación y el aseo de los educandos ocupaban otra parte importante de su tiempo, pero se aprovechaba para inculcar las reglas de urbanidad en la mesa y la higiene. En cuarto lugar, se cultivaba el espíritu de los jóvenes; a lo largo del día, en forma individual y colectiva, se llevaban a cabo una serie de ritos religiosos. Por último, se destinaban al de descanso nocturno, ocho horas, para un buen rendimiento físico e intelectual. Para mostrar con mayor claridad la distribución del tiempo diario, según el primer reglamento, elaboramos el cuadro 1º. 30. AHPM, M. L. 89B, “Libro de oficios 1801-1808”. 238 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 CUADRO 1º DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DIARIO Distribución Horas Porcentaje Clases 5 31% Estudio 3.5 22% Recreación 4.25 26.5% Alimentación-Aseo 2 12.5% Religión 1.25 Total 16 8% 100% Durante todo el día, se intercalaban actividades de los tipos antes descritos en una forma armónica; el descanso iba a continuación de un periodo de actividad intensa; la recuperación del desgaste físico se lograba con la ayuda de la alimentación. El estudio de la ciencia se alternaba con la doctrina cristiana. Y las necesidades fisiológicas, casi todas, se atendían a su debido tiempo. Las actividades se regían por los instrumentos de medición del tiempo, tales como el reloj mecánico de la oficina del director, el reloj de sol del patio y al alcance de todos y, sobre todo, el tañer de la campana de la escuela31. Ésta marcaba el horario puntualmente de cada una de las actividades y establecía el ritmo cotidiano de todos los moradores del recinto. Pero las campanas no sólo eran el instrumento que regía la vida diaria de los estudiantes sino que tenían una función social de mayor trascendencia. Como ha escrito Anne Staples, la iglesia ha reservado las campanas para el uso ritual, ligado a momentos específicos de la vida litúrgica, pero tradicionalmente han servido también 31. En el Real Seminario de Nobles de Madrid, la campana se tocaba sólo cuatro veces al día, para anunciar la primera clase de 7 ½ de la mañana, el inicio de las clases de habilidades a las 9 ½ de la mañana, para rezar el Rosario de las 11 de la mañana y para anunciar la clase de la tarde de 5 ½. Archivo Histórico de Madrid, Sección Universidades, Real Seminario de Nobles, legajo 689, expediente 3, “Actividades de los alumnos”, 8 julio de 1792. tiempo y sociedad 239 para marcar el horario de las actividades seculares. Inclusive, en vez de hablar de cierta “hora”, se acostumbraba hablar de cierto toque, como “después de ánimas”, reforzando así el aspecto ritual de la vida cotidiana. [En los colegios y universidades] tenían varias campanas en el campanario, de modo que un acontecimiento extraordinario podría provocar un tremendo coro de tañidos vibrantes32. Por lo que sabemos, las labores se iniciaban a las seis de la mañana con una oración, seguida del aseo de cara y manos y el desayuno. A continuación, se dedicaba una hora al estudio individual y posteriormente se asistía a misa33. Con el espíritu fortalecido, concurrirían a los cursos principales y después tenían un tiempo de recreación. Antes de la comida, dedicaban una hora más al estudio individual para repasar las lecciones o preparar las disertaciones. Para reposar sus alimentos y hacer la digestión, contaban con un periodo de descanso, que podían aprovechar para dormir la siesta. Antes de reiniciar las clases vespertinas, tenían otro momento de estudio individual y, después de dos horas, disfrutaban de un lapso más de recreación, durante el cual recibían un estimulante chocolate. Esto les daba la energía necesaria para dedicar otra hora al estudio y culminar con alguna de las clases auxiliares antes de rezar el Rosario. Finalmente se dirigían una vez más al refectorio para recibir la cena, y acabando con el examen de conciencia se acuestan los que quieren, y los que no, se quedan en tertulia o conversación con el rector y vice-rector hasta las diez, a cuya hora se recogen todos. El director consideraba que mandarlos a la cama sin que tuvieran sueño se prestaba para que tuvieran malas ideas y alguna alteración en la decencia y buenas costumbres34. 32. Anne Staples, “El abuso de las campanas en el siglo pasado” en Historia Mexicana, octubre-diciembre de 1977, p. 178. 33. Al parecer este horario tuvo una vigencia muy larga. Sólo hemos encontrado una modificación aplicada a partir de enero de 1819, cuando el director determinó que el día se iniciara a las 6:30h con el oficio de la misa. 34. AHPM, caja 52, doc. 1, “Instrucción sobre la constitución y estado actual del Real Seminario de Minería de México” (1791). 240 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Este horario era el que regulaba todos los días de la semana, pero no se aplicaba de manera uniforme debido a todos los imprevistos y cambios en el plan de estudios; sin embargo se conservó su estructura general. En general, casi en todas las semanas existía un día destinado a la celebración de una fiesta religiosa y, cuando no era el caso, las autoridades del Colegio permitían a los escolares salir a pasear por la tarde de los jueves35. El Día del Señor o la “dominica” (el domingo) eran días dedicados casi por entero a las actividades espirituales; las horas de estudio se sustituían por pláticas y sermones, ya fuera en la sede de la escuela o en las iglesias vecinas. Asimismo, de manera colectiva tenían la obligación de frecuentar los autos sacramentales en los distintos templos de la ciudad. Después de cumplir con los rituales, podían utilizar sus horas libres en paseos, visitar a sus amistades y parientes. En estas salidas, se les proporcionaban dos reales con el fin de que pudieran comprar sus golosinas preferidas. Eso sí, tenían que regresar a las siete, para participar en la oración, estudiar por una hora más, prepararse para la cena, apagar las velas y dormir36. El tiempo huye irreparable En este trabajo he presentado de manera breve los elementos más significativos de las mediciones del tiempo del RSM en tres niveles. En primer lugar, el ciclo escolar, que daba lugar a la formación de distintas generaciones que se sucedían. Cada una de ellas tuvo sus diferencias respecto al tiempo que vivieron en la escuela. La primera generación 35. A grandes líneas, hemos encontrado que en muchas escuelas los jueves eran considerados como fiesta de guardar. Es posible que esta situación se deba a que en la religión cristiana el jueves se instituyó el sacramento eucarístico, en la cena que tuvo Cristo con sus apóstoles para celebrar la Pascua. 36. A petición del director José Francisco Robles, en 1828 se presentó un informe en el que se critican las horas de estudio de los domingos; al parecer los estudiantes no las cumplían. AHPM, caja 52, doc. 1, pp. 53-55, “Instrucción sobre la constitución y estado actual del Real Seminario de Minería de México” (1791). tiempo y sociedad 241 abrió el camino y fue la que se enfrentó a los problemas más serios en términos de la organización académica, la distribución del tiempo e inclusive la aceptación social. En segundo término, el estudio del tiempo nos muestra hasta donde la doctrina cristiana formaba parte de la educación de los jóvenes novohispanos; era una enseñanza ineludible que normaba la educación moral y regulaba la conducta de los alumnos. Establecía los límites de lo permitido e inculcaba un sistema de valores donde reinaba el sometimiento y la disciplina. En tercer lugar, la descripción minuciosa de las prácticas llevadas a cabo de manera cotidiana distingue la vigilancia estrecha que se tenía con cada uno de los actores involucrados en el proceso educativo. Como afirma Michel Foucault, se trata de establecer las presencias y las ausencias, de saber dónde y cómo encontrar a los individuos, instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir las que no lo son, poder en cada instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o los méritos [...] La disciplina organiza un espacio analítico37. Otro de los problemas planteados es la relación existente entre tiempo y conocimiento. Aquí las dificultades académicas son dejadas de lado y lo que prevalece son los intereses políticos. La urgencia de formar técnicos mineros con el fin de aprovechar al máximo los recursos minerales y crear fuentes de riqueza era la misión a cumplir. En esta relación tiempoconocimiento, se pone en juego el principio de la educación como palanca del progreso, esta idea tan difundida en nuestro país a lo largo del siglo XIX por los liberales. Sin embargo, se nota una contradicción entre el tiempo de la sociedad o más bien dicho la demanda social y la formación y consolidación de las instituciones educativas, las cuales tuvieron un ritmo diferente que las mantuvo rezagadas y muy a largo plazo se convirtieron en elementos de transformación social. 37. Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, México, Siglo Veintiuno Editores, 1976, p. 147. 242 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 El RSM era una institución letrada, impregnada de modernidad, que había abrevado de los principios ilustrados, pero fue incapaz de imponer un nuevo tiempo. En realidad, se plegó al ritmo de las instituciones educativas que le precedieron. Siguió la tradición y contribuyó a que se continuara con la mitificación de la cotidianidad. La representación del tiempo se expresó a través de símbolos y ceremonias ritualizadas. Escenarios donde se teatralizaban los debates intelectuales y los logros obtenidos para demostrar públicamente la utilidad pero a la vez ensanchar el abismo entre los letrados y los analfabetos por medio de las prácticas culturales. Según Roger Chartier, “la representación se transforma en máquina de fabricar respeto y sumisión, en un instrumento que produce una coacción interiorizada, necesaria allí donde falla el posible recurso a la fuerza bruta”38. Finalmente, la planeación detallada de cada una de las actividades y la vigilancia estrecha en la distribución del tiempo en el proceso educativo tenían como principal enemigo a la ociosidad. Era imprescindible mantener a los educandos ocupados todo el tiempo con el fin de evitar fisuras que pudieran acarrear desvíos que dieran pauta al cultivo de la pereza. El ocio era considerado un veneno que podía convertirse en un caldo de cultivo que generara prácticas delictivas, con lo cual echaría por la borda toda la labor y principios de la educación. Por esta razón, se tenía que vigilar el tiempo y castigar su desaprovechamiento. 38. Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación, Barcelona, Gedisa Editorial, 1992, p. 59. De jóvenes a estudiantes La forja del tiempo y el orden escolares Antonio Padilla Arroyo* Una de las dimensiones culturales más significativas de las formas del tiempo social lo constituye el tiempo escolar, el cual se convierte en un instrumento primordial en los “procesos civilizatorios” en la medida en que regula las actividades que el niño y el joven necesitan realizar en un espacio como la institución educativa. Esto implica la organización de los hábitos del trabajo escolar mediante una disciplina que incorpora incentivos, estímulos, saberes, sentimientos, conductas, habilidades, valores e ideas, todo ello en un marco de regulaciones y controles específicos, cuyo objetivo es la configuración de una naturaleza humana. TIEMPO SOCIAL; TIEMPO ESCOLAR; CULTURA ESCOLAR. One of the more significant cultural dimensions of the social time pertains to school time, which converts into a primordial instrument in the “process that civilize” and at the same time it regulates the activities that the child and the young need to carry through in a space as the educative instruction. This implies that the organization habits of the school work by means of one of the disciplines that incorporate incentives, stimulus, knowledge, feelings, behaviors, abilities, values and ideas , all that in landmarks of regulations and specific controls whose objective is the configuration of a human being. SOCIAL TIME; SCHOOL TIME; SCHOOL CULTURE. * Doctor en historia por El Colegio de México. Profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Autor de libros y artículos de historia de la educación y de la cultura, así como del pensamiento social en los siglos XIX y XX. 244 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Tiempo social, tiempo escolar En la actualidad, el tiempo social y las formas de medirlo, calcularlo, regularlo y fragmentarlo tienen relación directa con los procesos habituales del ciclo escolar, esto es, con definiciones ocupacionales precisas del tiempo y con una disciplina específica que se producen y se concretan en la vida escolar. El tiempo social, sobre todo en las etapas de la vida de los individuos definidas y delimitadas como infancia, adolescencia y juventud, se impone como una estrategia necesaria para inculcar y regular las actividades que los actores están obligados a desplegar en espacios específicos, la escuela, y, en una duración determinada, el tiempo escolar. Esto significa estructurar los hábitos del trabajo mediante una labor metódica que incluye la enseñanza y el aprendizaje de normas, ideas, creencias, valores, incentivos, estímulos, saberes, sentimientos, conductas, actitudes y habilidades físicas y mentales, en pocas palabras, sujetarse a un proceso civilizatorio de amplia duración con ritmos fijados por la institución escolar, así como por sus actores, con regulaciones y controles específicos, cuyo objetivo primordial es inducir una naturaleza humana. Dicho proceso se percibe, se experimenta, se vive y se representa, en un primer lapso, como experiencia e imposición externa, en apariencia objetiva, que pertenece al mundo físico, pero que en realidad es una construcción y representación socio-cultural. En tanto figura objetiva, la escuela se concibe como una serie de dispositivos que inducen cierto tipo de acciones a partir de rutinas sensoriales, mientras que, considerada como producto social, es, en realidad, un sistema organizado de tal modo que los individuos están impelidos a aprender comportamientos y a construir con base en sus experiencias modelos de conciencia y autocontrol (Whitrow, 1990, p. 237). Este proceso conlleva la necesidad de establecer disciplinas y etapas en un espacio social, la institución educativa, que producen una economía organizada y regulada para garantizar sus propósitos. El tiempo y la distribución escolar contienen dos símbolos con significados precisos: el reloj y la comprobación de los conocimientos obtenidos. De este modo, una categoría fundamental del tiempo es la duración porque de jóvenes a estudiantes 245 encierra las notaciones de proceso, ciclo, curso, periodo, sucesión, secuencia y graduación, en otras palabras, de principio y final que, a su vez, modulan y dotan de sentido no sólo las experiencias adquiridas sino el mismo orden en que éstas habrán de adquirirse, así como los límites que las acotan (Illescas Nájera, 1995, pp. 24-25). De acuerdo con Norbert Elías, el reloj se convierte en el símbolo más importante porque cumple con la función de situar y orientar los intercambios entre los hombres y de estos con la naturaleza, transformándose en una herramienta mental y física para propiciar los procesos sociales y naturales. Permite organizar y regular las actividades humanas. El tiempo social, su construcción cultural, adquiere entonces un sentido preciso al facilitar que los individuos se ubiquen en el mundo y organicen los modos de convivencia en etapas y periodos regulados para su existencia. Ejemplo de esto son el calendario, las fiestas, las celebraciones, los periodos vacacionales, los cursos, los exámenes, las etapas de escolarización de la infancia y la juventud (Elías, 1997, pp. 12-13). Por lo tanto el proceso civilizatorio se fundamenta, entre otras dimensiones, en la posibilidad de habilitar a los individuos para amoldarse a tiempos, ritmos y rutinas según quehaceres particulares y busca imponer una autodisciplina en cada uno de los sujetos que los ponga en conformidad las relaciones entre individuo y sociedad. Esta prepara, según la tesis clásica de Emilio Durkheim, a aquellos para integrarlos a una red de determinaciones temporales, que configuran el tiempo social, con el propósito de crear una personalidad que entraña una “finísima sensibilidad y disciplina del tiempo”. Esto significa, para retomar a Elías, un proceso continuo, constante, externo, que se desplaza de la organización social al individuo, hasta convertirse en hábito, costumbre y comportamiento interno. Su manifestación más acabada es: “La transformación de la coacción externa de la institución social del tiempo, en una pauta de coacción que abarca toda la existencia del individuo, es un ejemplo gráfico de la manera en que un proceso civilizatorio contribuye a modelar una actitud social que forma parte integrante de la estructura de la personalidad del individuo”. Así, es posible estructurar y organizar 246 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 una segunda naturaleza como un destino que todos los hombres deben asumir (Elías, 1997, p. 20). Con base en estas consideraciones y en algunas tesis sugerentes de E.P. Thompson, quien explora la naturaleza y el significado del tiempo industrial, puede comprenderse la labor primordial de la institución educativa, esto es, modificar el sentido de los tiempos, individuales o colectivos, para hacerlos converger precisamente en el tiempo escolar, lo que explicaría su eficacia y permanencia como una dimensión fundamental de las sociedades modernas. La escuela ha jugado un papel central en la disolución de los tiempos individuales, si bien en un haz de aproximación y coexistencia, en medio de tensiones y conflictos producto de las trayectorias personales y sociales con el fin de tejer un tiempo escolar homogéneo y sistemático puesto a disposición de la institución y compartido por los individuos congregados y recluidos en ese espacio de intercambios y vivencias, discursos y representaciones comunes, pero que tienen lecturas y significaciones múltiples como consecuencia de los orígenes sociales, culturales, geográficos de los actores educativos, lo cual no contradice la intención de formar entre ellos una identidad colectiva con normas y estilos de vida por medio del trabajo y del tiempo escolares (Thompson, 1984, pp. 241-242; Viñao Frago, 1998, pp. 5-6). El tiempo escolar es el eje en torno al cual se origina y se organiza el espacio, lugar y territorio que ocupan los actores, donde, a su vez, se producen y reproduce la cultura escolar, es decir, las normas y las prácticas que inducen percepciones, ideas y actos por medio de la apropiación, la enseñanza y el aprendizaje, cuya condición es la disposición y la sucesión temporal de los saberes y de las maneras a inspirar. Desde luego, la escuela ha demostrado su capacidad a lo largo de su constitución para alterar las diversas nociones del tiempo y de espacios y, por añadidura, hacer posible el aprendizaje de nuevos tiempos y de espacios, así como de sus usos. Por eso, la distribución y el arreglo del tiempo escolar son fundamentales, aunque no sólo por ello. Al convertirse en la institución portadora y transmisora de saberes y conocimientos seleccionados, está forzada a incluir disciplinas específicas en su currículum, en sus planes de estudio, para mantener el pres- de jóvenes a estudiantes 247 tigio y la legitimidad social y cultural, así como a diversificar los niveles educativos y, al mismo tiempo, expandir su influencia para incorporar y reclutar un mayor número de poblaciones para su escolarización, al mismo tiempo, que selecciona y excluye a individuos y grupos sociales particulares por medio de instrumentos con supuestas cualidades objetivas e imparciales, como el examen. Todo esto explica la complejidad del tiempo y la necesidad de reorganizarlo para posibilitar el orden y el funcionamiento de la vida escolar, circunstancia que se devela en la imposición de una idea del tiempo mismo, esto es, la graduación y progresión que se justifica en el dominio de la razón y de la perfección humana. Entonces la escuela expresa una relación entre la medición, la distribución del tiempo y los usos diferenciados de los espacios escolares, tanto físicos como simbólicos, en los cuales se ejecutan con regularidad y en etapas bien delimitadas. Por ejemplo, el tiempo de aprender, recitar y leer, ya sea en voz baja o en voz alta, el catecismo religioso o el político que se enseña y se aprende en la institución educativa que será transformado en el tiempo social de la recitación de la lectura o de la oración cívica en el espacio público del que participa. De este modo, la lectura ajusta los tiempos individuales a las necesidades y convenciones del tiempo escolar, lo que implica adecuarse a los actividades que son prescritas no sólo a los alumnos sino a los maestros, es decir, se impone como una exigencia ineludible del tiempo regulado. Esto supone que el tiempo escolar se ordene a otros tiempos, y la más clara expresión de que esto ocurre es la doble posición que tiene la institución escolar, esto es, espacio público y espacio privado. Ahora bien, esto no significa que el tiempo escolar se contrapone permanente y para siempre al tiempo social sino que en la medida en que se reconoce su importancia social y cultural se incorpora a éste en su condición específica. Así, una vez admitida y lograda su singularidad, tanto en el tiempo como en el espacio sociales, se utiliza como un mecanismo fundamental para transmitir una concepción del mundo y las prácticas sociales que involucran con el fin de hacer posible la reproducción del tiempo social en su conjunto. 248 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 ¿Qué existe detrás del papel que desempeña la escuela y su tiempo específico? ¿Qué más allá de la distribución del tiempo y de las rutinas escolares en relación con la sociedad? Las respuestas no son fáciles ni simples, si bien pueden sugerirse y ellas se orientan hacia los intentos de garantizar un orden, tanto empírico como simbólico, que posibilite la formación de un individuo apto para sujetarse a normas y estilos de vida, de tiempos y espacios que inicialmente se perciben como externos, aunque estas finalidades no están exentas de resistencias o apropiaciones sociales diferenciadas según los grupos sociales, las edades, los géneros, los grupos étnicos, los sectores urbanos o rurales. Así, en esta dialéctica de la construcción del orden y de tiempo, la institución educativa, en particular la educación dirigida a los infantes y a los jóvenes, pretende lo que Foucault define como la fijación de los órdenes empíricos con los que logren orientarse, convivir y dentro de los que se reconocen con espacios, saberes y hábitos determinados según su condición biológica, social y cultural. Así, la institución educativa dispone y distribuye aprendizajes y códigos fundamentales de una cultura, de un lenguaje, así como esquemas perceptivos, jerarquías, técnicas, prácticas y valores para que sean los individuos los que “ordenen” y ensamblen sus tiempos y sus rutinas. El tiempo escolar resume la dinámica en que opera un conjunto de mecanismos que refuerzan el orden, la disciplina y el tiempo social. El éxito o el fracaso de los dispositivos, entre los cuales destacan los modos en que se acondiciona el trabajo escolar, la segmentación y la fragmentación de los espacios, las reglas, los rituales, en suma, la organización de la vida escolar, radica en la asimilación del orden, en general, y del orden escolar, en particular, de los alumnos y de las alumnas, de las habilidades y destrezas que ejerciten para reconocer y hacer explícito un cierto orden, así como para representarlo y practicarlo sin impugnarlo. De acuerdo con Foucault, este “orden es, a la vez, lo que se da en las cosas como su ley interior, la red secreta según la cual se miran en cierta forma una y otras, y lo que no existe a no ser a través de la reja de una mirada, de una atención, de un lenguaje; y sólo en las casillas blancas de este tablero se manifiesta en profundidad como ya estando ahí, esperando en silencio el momento de ser enunciado” (Foucault, 1996, p. 5). de jóvenes a estudiantes 249 Jóvenes y estudiantes En gran medida, la historia de los sistemas educativos modernos es la historia de las tensiones entre el tiempo escolar y el tiempo social, entre la búsqueda de un espacio particular para la escuela como institución social frente a otras instituciones como la familia, las corporaciones, la iglesia, el Estado, las cuales se confrontan, polemizan y acoplan en un largo proceso de conflictos y tensiones en la construcción de un campo de fuerzas, tal y como lo es la educación formal e informal de la infancia y la juventud. Al parecer, esta circunstancia se revela con mayor claridad en la institución escolar primaria, donde el control del proceso civilizatorio del infante se pone en juego, por lo que ahí se presentan las más enérgicas negociaciones, resistencias y apropiaciones. Esta situación se presenta a la luz de la lógica en la que se sobreponen tiempos y formas que le impide a la institución educativa lograr, por un periodo considerable, el control de sus procesos y dispositivos internos. La enseñanza y el aprendizaje del manejo del tiempo están íntimamente vinculados con la construcción de las edades sociales, en especial de la infancia y la juventud. Las representaciones y las prácticas de las edades se hunde en una raíz social y ontológica que se expresa en la justificación y legitimidad de la vigilancia y la supervisión de los tiempos y los ritmos para disciplinarlas a lo largo de un etapa ordenada, metódica, la cual se deposita en la institución escolar, asumiendo que ese proceso es una de sus funciones esenciales. Por eso en la medida en que la escuela logra consolidarse y expandirse se estructura como una red completa y compleja que se traduce en una organización del tiempo y de las rutinas imperceptibles, a la que deben habituarse todos los actores que participan en la institución. La eficacia de la distribución del tiempo escolar y de los espacios que involucra queda de manifiesto cuando cada uno de los individuos están en condiciones de demostrar por si mismos que han asimilado dicha red mediante el ejercicio y el cabal cumplimiento de las tareas encomendadas en los lapsos estipulados (Elías, 1997, pp. 20-21). Si bien durante la infancia se refuerzan los primeros procesos de enseñanza y aprendizaje de los tiempos y las rutinas que le servirán para orientarse en la vida pública y privada, la juventud no deja de ser una fase 250 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 decisiva para fortalecer unos y otras. Esta etapa se ha asociado y se asocia a las instituciones de educación secundaria, en especial a los estudios profesionales y superiores. La “invención” o el “descubrimiento” de la adolescencia es un proceso que puede ubicarse entre los siglos XVII y XIX, el cual tuvo estrecha conexión con la fundación de instituciones escolares que extendieron los procesos de escolarización para un sector reducido de la población. Sin embargo, uno de los mayores problemas historiográficos es delimitar las edades, y aunque las fronteras biológicas y sociales son casi imperceptibles, puede situarse entre el rango de edad de los doce o catorce años hasta los 21 o 22 años, cuando ingresaban y concluían sus estudios superiores y profesionales, lo que se les confería la condición de jóvenes y estudiantes (Ariès, 1998, p. 191 y ss). El tiempo de la juventud es, en gran medida, el tiempo para reclutar, formar y preparar a las elites culturales, de dotarlas de una identidad y de un sentido de comunidad. Así, la ampliación de la escolaridad está en relación directa con la ocupación de los jóvenes en una etapa que se considera crítica. Conviene, por lo tanto, examinar las representaciones en torno a su naturaleza, así como en la función tanto social como personal que les atribuyen en su carácter de jóvenes y su papel de estudiantes. Para ello se ha tomado, a manera de ejemplo y con todas las limitaciones que esta elección supone, un discurso pronunciado por un catedrático de uno de los establecimientos de educación secundaria en México del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, el Instituto Científico y Literario del Estado de México, el cual fue fundado en 1828. Tal alocución se pronunció a propósito de la apertura de los cursos escolares en el año de 1918, año que se singularizó por un conjunto de reformas que pretendían dotar de una nueva racionalidad al sistema educativo en el Estado de México, entre las cuales destacaban el objetivo de uniformar todo el aparato administrativo y articular todos los niveles educativos mediante la creación de un órgano centralizado denominado Consejo General Universitario con la publicación de una nueva Ley General de Educación1. 1. Periódico oficial del Gobierno del Estado de México, Toluca de Lerdo, 17 y 27 de abril; 1 y 4 de mayo de 1918. de jóvenes a estudiantes 251 La inauguración de los cursos era uno de los momentos más simbólicos dentro de los rituales escolares a tal grado que lograba congregar a las más altas autoridades políticas y educativas, encabezadas por el gobernador del Estado, así como a representantes de distintos grupos sociales, desde comerciantes, empresarios, obreros, gremios, hasta intelectuales y vecinos en general. En esa ocasión, uno de los profesores de mayor trayectoria académica y profesional del Instituto, de acuerdo con los criterios que regían el nombramiento de la persona a quien tocaba el honor de pronunciar el discurso correspondiente, presentó una serie de reflexiones y de imágenes acerca de la juventud, de su papel en la sociedad, de sus responsabilidades, así como de la labor que el plantel escolar tenía como formadora de ésta. Inició su disertación explicando la importancia que tenía el acto que los reunía, el principio de los cursos que representaba un suceso trascendental de “vuestra vida de estudiantes”, es decir, esbozó una idea tanto del tiempo individual como del tiempo escolar de cada uno de ellos, lo que significaba “un nuevo triunfo en vuestras lides escolares”. Enseguida refirió algunos de los atributos que poseía la juventud: entusiasmo, fe, ilusiones y esperanzas. A estas se agregaban, en su posición de estudiantes, el “amor por el estudio”, la voluntad inflexible, la perseverancia de sus convicciones y la claridad de su misión. Por su parte, la institución educativa contraía, en reciprocidad con estas cualidades, la obligación de garantizarles el conocimiento de las ciencias y la seguridad en el progreso, “la marcha rectilínea que desde el nacer se trazara y en la que guían sus pasos”, es decir, dos cualidades de la concepción general del tiempo: graduación de los conocimientos y el progreso personal y social2. Del mismo modo, según sugiere Ariès, se develan una imagen y una medida precisa del tiempo escolar, el curso como unidad esencial que caracteriza la situación del joven como una etapa de la adquisición de saberes, de duración y de edad, esto es, el comienzo y el final de un ciclo. Sí al principio del curso se ofrecen “las sabias enseñanzas de los 2. Archivo Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México (En adelante AHUAEM), caja 167, exp. 6315, Toluca, 1º de febrero de 1918. 252 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 doctos varones”, es decir, de los profesores y catedráticos quienes han hecho de la enseñanza y de la difusión de la ciencia su sacerdocio, al término se cosechan los adelantos de la ciencia porque esta era la encarnación del orden mental, del amor y del progreso. También se esperaba que su espíritu se fortaleciera porque, en su condición de jóvenes y estudiantes, buscaban impacientemente el mejoramiento social y el ascenso rápido “hasta la cumbre” para conquistar sus ideales (Ariès, 1998, pp. 239-240). Desde luego, la tarea del instituto era educar el espíritu juvenil y no sólo instruirlo, forjar generaciones e individuos “fuertes por su energía, grandes por su moralidad, respetables por su saber” con el objetivo de perfeccionar sus cualidades morales, intelectuales y sociales, hasta donde fuera posible, porque el ser humano “nunca lo obtiene”. Más aún, un de sus grandes cometidos era moldear al joven en una etapa transitoria y decisiva para que estuviera en aptitud de enfrentar su condición futura de adulto y desempeñarse con éxito en funciones de catedrático o publicista, en las tareas que demandaban los puestos públicos, en los desafíos profesionales, en el campo o en la industria, esto es, en su condición de miembros de las elites culturales. Esta fragorosa obra correspondía fundamentalmente al maestro, quien era responsable de modelar y pulir los espíritus juveniles, “infiltrar ideas de orden, progreso y amor”, los cuales a su vez tenían el compromiso de cumplir con sus familias y la nación”, al “orientar sus energías en el sentido del estudio”. Por último, en alusión a las reformas académicas y administrativas introducidas en el sistema educativo, recordaba que tanto a los profesores como a los estudiantes les concernía comenzar una “nueva era en la historia de la instrucción”, la cual consistía en fundar el sistema universitario contribuyendo con ello a acrecentar las condiciones de la “clase estudiantil”3. En suma, esas representaciones reforzaban la concepción de la juventud como fase transitoria de la vida de los individuos que se situaba entre la infancia y la adultez, al mismo tiempo que la asociaban a su 3. Ariès, 1998, pp. 2-3. de jóvenes a estudiantes 253 estado de estudiantes, cuya principal responsabilidad era formarse y educarse para en el futuro ingresar al mundo de los adultos y profesionistas. Asimismo, ejemplos de estas representaciones pueden leerse en una de las múltiples solicitudes enviadas a las autoridades educativas del estado, así como a las autoridades del mismo Instituto para que les fueran concedidas becas de gracia para realizar estudios preparatorios y profesionales. Uno de los peticionarios, Tomás Tapia, expuso su interés por continuar sus estudios preparatorios una vez que había concluido su instrucción primaria superior obligatoria. Los argumentos que esgrimió para apoyar su solicitud fueron, primero, que estimaba insuficiente su instrucción primaria, porque la que había alcanzado no era “bastante para un joven como yo”, y, segundo, porque aspiraba a “ser mañana útil a la sociedad y a mis padres”. En una proyección del tiempo, con un claro juicio de su posición transitoria y en vías de convertirse en adulto, futuro próximo, requería de mayor educación. Consciente de las responsabilidades que entrañaba su demanda, se comprometía a “ser aplicado” y a “manejarse con la honradez que hasta hoy he observado”. Pasado, presente y futuro reunidos en un solo instante, lo que evidenciaba la capacidad de la organización del tiempo escolar para inculcar las representaciones y los modos de asimilación para medir el tiempo universal. En términos similares pero en su carácter de padre de familia, el profesor Gregorio Becerril se dirigió al gobernador del Estado, Fernando González, para solicitarle le fuera concedida una beca de gracia a su hijo. En este caso lo que llama la atención son las expresiones casi idénticas para caracterizar la condición de su primogénito como joven y estudiante, además de presentar alegatos acerca de los méritos académicos a lo largo de sus estudios primarios y secundarios. Por ejemplo, consideraba que era “un deber de padre” garantizar que su vástago culminara la educación secundaria porque había demostrado aplicación, lo que se demostraba con los premios y distinciones académicas que le habían conferido desde su ingreso al Instituto Literario. También, para el profesor Becerril, el desempeño escolar de su hijo, por si hubiera dudas, era una prueba de las “muy buenas disposiciones para 254 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 el estudio y el aprovechamiento”, lo cual justificaba a plenitud su petición, así como una respuesta favorable, lo que sería un acto de justicia4. El último ejemplo corresponde a la demanda del joven Alberto M. Hernández, quien tan pronto concluyó sus estudios primarios superiores, decidió solicitar su ingreso al Instituto, así como una beca de gracia. Hernández se encargó de redactar y presentar la petición ante el gobierno estatal, en la que destacó su enorme disposición e interés por el conocimiento y aseguró que durante sus estudios había procurado “no solamente cumplir como dominar los programas que la ley asigna”, sino atraer la consideración de sus maestros y superiores. Más aún, estaba seguro de haber descubierto “una verdadera vocación para cursar una carrera profesional, lo que fácilmente podía comprobarse por la conducta que había mantenido, así como por su aplicación, cualidades que mantendría en caso de otorgársele la beca, comprometiéndose a corresponder a “tan señalado favor”5. Rutinas y distribución del tiempo escolar La institución educativa prescribe con minuciosidad cada una de las actividades que deben realizarse en un tiempo determinado, esto es, en tiempos medidos y segmentados que constituyen el tiempo escolar. Esto sucede en el momento en que ésta alcanza cierto nivel de autonomía con respecto al tiempo social “externo”. El detalle con que se elaboran los calendarios escolares, los programas de estudio, los horarios, las actividades cotidianas y los espacios en que se efectúan y desarrollan unos y otras son ejemplos más que evidentes de la necesidad y la impor- 4. 5. Archivo Histórico del Estado de México, Fondo Educación, Sección Educación, Serie Secundaria y Profesional (en adelante AHEM, FE, SP), vol. 19, “Altas de alumnos de gracia y de distrito. Ciudadano Gobernador del Estado, General Fernando González, (de) Tomás Tapia, Villa Guerrero, Diciembre 15 de 1906”; “Ciudadano Gobernador del Estado de México. El que suscribe (Gregorio Becerril), Ixtlahuaca, 7 de mayo de 1907”. Idem, ibidem, “Al Sr. Secretario General de Gobierno, (de) Alberto M. Hernández, Toluca, Calimaya de Díaz y González, 17 de diciembre de 1907”. de jóvenes a estudiantes 255 tancia que tiene para la institución escolar de normar y regular el proceso educativo. Al menos de esta manera puede comprenderse e interpretarse el diseño de los horarios en las instituciones educativas superiores. Una muestra de ello es el “Cuadro de distribución del tiempo y del trabajo en la Escuela Normal para Profesores”, anexa al Instituto Científico y Literario, de 1906, donde se especificaban los horarios y las rutinas que debían cumplir cada uno de los estudiantes que habían elegido esta carrera. En él se estipulaban los tiempos dedicados a cada materia de acuerdo con el año que estaban inscritos, las materias que debían tomar según el tipo de escuelas que habrían de atender, escuelas rurales o escuelas urbanas y escuelas superiores, y los días de la semana en los que se les impartirían6. Un primer elemento que resalta es el tiempo que duraban los estudios según el tipo de escuela. Así, para aquellos que se dedicarían a la instrucción primaria en escuelas rurales, el plan de estudios se reducía a dos años, en tanto que para los de escuelas urbanas tres años y los de escuelas superiores cinco años. Esta distribución estaba en función de que las autoridades estatales consideraban que en las primeras no era necesario enseñar materias que no tenían mayor utilidad y provecho para los alumnos, mientras que en los otros dos tipos de escuelas, localizadas en zonas de mayor actividad económica y social, era preciso responder a las exigencias que demandaban una vida más activa y moderna7. Con base en ello se establecía el plan de estudios y los horarios. Los alumnos concurrían a la escuela de lunes a sábado en un horario de 8 de la mañana a 5:30h de la tarde, con un intervalo de dos horas para sus 6. 7. AHEM, FE, SP, vol. 15, “Cuadro de distribución del tiempo y del trabajo en la Escuela Normal para Profesores, año escolar 1906”. “Estableciendo en la capital del Estado una escuela Normal para Profesores. El C. Lic. José Zubieta, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, á todos sus habitantes, sabed..., Toluca, 10 de abril de 1882”, en Colección de Decretos expedios por el Octavo Congreso Constitucional y por el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, en el periodo corrido del 2 de marzo de 1881 al 2 de marzo de 1883, tomo IX, 1883, Toluca (México), Imprenta del Instituto Literario y de Pedro Martínez, pp. 89-92. 256 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 alimentos. La distribución del tiempo se establecía de la siguiente manera: en el primer año y para todo tipo de estudiantes y escuelas, de las 8 a las 9h se impartía la materia de matemáticas de lunes a viernes de manera invariable; de 9 a 9:30h se abría un intervalo para la actividad denominada estudio también en los tres planes y para todos los años; de 9:30 a 10:30h daba inicio el segundo curso que de manera alternada era caligrafía e idioma nacional, es decir, un día una y al día siguiente la otra, en el primer año, lo cual era una manifestación de la importancia que se le otorgaba a ambas materias dentro del plan de estudios. Concluido este lapso, se daba un intervalo de 30 minutos, lo cual se convertía en una regla, es decir, al finalizar cada curso se dejaba un espacio de 30 minutos dedicado al estudio en todos los años y los planes de estudio. De esta manera, de 11 a 12h se impartía el curso fundamental de pedagogía, tanto para las escuelas rurales como para las urbanas. Finalizada la sesión, se dejaba un espacio de dos horas para ingerir los alimentos y tras haber cumplido con este tiempo, se abrían de nueva cuenta las actividades académicas con los trabajos de estudio el cual se prolongaba durante una hora; de 3 a 4h de la tarde, se impartía en el primer año y para las escuelas rurales la materia de geografía los días lunes y miércoles, mientras que los martes y jueves se disponía para el curso de solfeo y coros escolares, en tato que los viernes y los sábados se destinaban a la enseñanza de los trabajos manuales. De 4 a 4:30h se hacía un paréntesis para estudio y de las 4:30 a 5:30h se impartían los cursos de ejercicios físicos, lunes, miércoles y viernes, metodología aplicada, martes y jueves, y finalmente, los sábados esta última hora se dedicaba al estudio. En el segundo año, para las escuelas rurales, se incluían las materias de geografía, ciencias físico químicas y naturales, metodología aplicada, dibujo, ejercicios físicos, pedagogía e idioma nacional, historia patria, trabajos manuales y moral e instrucción cívica, perfeccionamiento de solfeo y coros. En este año, la materia de mayor importancia era la de ciencias físicas y químicas, pues se impartía todos los días, con horario de 8 a 9h de la mañana, exceptuando martes y jueves que se dictaba de 4:30 a 5:30h de la tarde. Geografía se dictaba dos días consecutivamen- de jóvenes a estudiantes 257 te, otros dos se dedicaban a la historia patria y los restantes a moral e instrucción cívica, en el mismo horario, de 9:30 a 10:30h. En igual orden de importancia, al menos en cuanto hace al tiempo dedicado y la forma de distribución de los horarios, se encontraban pedagogía e idioma nacional, pues se alternaban los días: la primera se impartía los lunes, miércoles y viernes de 11 a 12h y la segunda los martes, jueves y sábados a la misma hora. Dibujo y trabajos manuales y solfeo y coros compartían horarios e intercalaban días: el primero se enseñaba los días lunes, miércoles y viernes de 3 a 4h y trabajos manuales martes y jueves, mientras que solfeo y coros los sábados en este mismo horario. Por último, de 4:30 a 5:30h, se daba un respiro y un espacio al relajamiento de los estudiantes en tanto que tocaba su turno a ejercicios físicos; éste curso se daba los lunes, miércoles y viernes y el sábado se ocupaba para las clases de solfeo y coros. La lógica de la distribución del tiempo de trabajo escolar era el eje sobre el cual se construía la representación de las tareas y las rutinas que debían cumplirse, pero no se agotaba en esta distribución8. Orden y disciplina Había espacios de convivencia cotidiana que formaban parte fundamental de la institución educativa sobre los que también era necesario ejercitar un control y un orden que moldearan las conductas de los alumnos. Fuera de los salones de clase, de las rutinas que marcaba el calendario de los programas de las materias, de la graduación de los conocimientos, se estructuraban espacios sociales y simbólicos que los estudiantes debían aprender, respetar y reproducir. En este sentido, se volvían aún más importantes que los tiempos formales dedicados a la transmisión de los conocimientos. Las normas que regulaban la convivencia social de los diferentes actores involucrados en la institución educativa buscaban garantizar la plena y completa instauración de la vida social interna. 8. AHEM, FE, SP, vol. 15, “Cuadro de…” 258 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Un ejemplo de esta pretensión lo constituyen sin duda los diversos reglamentos internos que rigen las instituciones educativas. En el caso del Instituto Científico y Literario tenemos los reglamentos del internado de la Escuela Normal para Profesores de Instrucción Primaria vigente en 1905. Dicho reglamento se componía de 30 artículos y fijaba cada una de las atribuciones y obligaciones de los actores: dirección, prefectura, administrador, médico, jefes de los alumnos y los alumnos. La organización del internado mantenía una fuerte estructura jerárquica y dependiente en relación vertical con cada uno de los actores. Naturalmente a la cabeza de este orden se encontraba el director de la institución, quien ejercía control y vigilancia del establecimiento educativo. Por principio, tenía a su cargo la admisión de los alumnos en sus diversas modalidades, esto es, de gracia, de dotación municipal y pensionistas. Asimismo, tenía la facultad de conceder las licencias para que éstos pudieran abandonar el local, aunque se le recomendaba no autorizarlas cuando la petición fuera para salir después de la seis de la tarde o se hiciera con el propósito de no pernoctar dentro del plantel, salvo cuando se tratara de casos plenamente justificados y, de preferencia, se hiciera a solicitud de los padres o los encargados de los alumnos. De igual manera, tenía bajo su supervisión la higiene privada de los alumnos, así como velar “empeñosamente por la moralidad y la buena disciplina de los alumnos internos”, lo cual le permitía imponer las medidas correctivas que considerara necesarias, si bien en este caso tenía la obligación de ponerlas a consideración del gobierno estatal. Inmediatamente después del director le seguían, en el orden jerárquico, los prefectos, piezas centrales en la implantación de la vida escolar. Éstos ejercían un control constante y una supervisión estrecha sobre los estudiantes internos. A su cargo estaba garantizar el estricto cumplimiento de la ejecución de la distribución del tiempo y las rutinas escolares, desde la primera hasta la última actividad del día. Así, dentro de sus atribuciones destacaba vigilar que los alumnos hubieran aseado sus camas, antes de salir de sus dormitorios, y posteriormente practicaran el aseo de sus personas, advirtiendo que no podía permitirse que se infringiera esta disposición. También tenía como encomienda cuidar “con empeño” que durante los tiempos y los espacios en que no estuvieran de jóvenes a estudiantes 259 dedicados a las labores escolares, “fuera de las horas de sus distribuciones escolares”, es decir, en los descansos y los recreos, los alumnos mantuvieran “una conducta moral y decorosa”, los cuales eran atributos de los “jóvenes decentes”. Esta medida se completaba con la obligación del prefecto hacer que los alumnos asistieran con puntualidad a las clases u ocupaciones que les señalaba “el cuadro de distribución del tiempo”. Más aún, estipulaba que en el tiempo destinado a los alimentos, los prefectos se colocarían en una posición “conveniente” para inspeccionar que se presentaran aseados, reiterando la prescripción de conducirse con “buenos modales” y sobre todo conservar el “orden debido”. No menos importante era la atribución de vigilar que los alumnos no leyeran o guardaran libros o impresos que se opusieran “a la moral y las buenas costumbres”, así como impedir “por todos los medios posibles” que tuvieran en sus manos armas o instrumentos que les pudieran causar daño. En igual sentido, los preceptos tenían la obligación de permanecer día y noche en el establecimiento y llegado el caso, de dormir dentro de los dormitorios de los alumnos “a fin de hacer mas eficaz la vigilancia”. En resumen, el dispositivo de vigilancia sobre los alumnos internos tenía en el prefecto a su más eficaz medio. El artículo 4 no dejaba dudas al respecto: “Siendo el internado una institución en la que los alumnos quedan enteramente confiados á la vigilancia de los superiores del plantel, la Prefectura tiene la estricta obligación de ejercer esta vigilancia de la manera más activa y celosa en lo que se refiere á la aplicación, al estudio y buena conducta de dichos alumnos; por lo que en ningún caso omitirán corregir las faltas que notaren, valiéndose de medios prudentes y según las prescripciones reglamentarias, sin perjuicio de dar conocimiento de dichas faltas á la Dirección”9. Bajo la lógica de este ordenamiento jerárquico, el papel estratégico de los jefes de los alumnos porque encadenaban y cohesionaban el dispositivo que se ponía tanto al servicio del director como del prefecto en 9. AHEM, FE, SP, vol. 11, “Proyecto de Reglamento del Plantel. Internado. Reglamento del internado en la Escuela Normal para Profesores de Instrucción Primaria”, p. 4, artículo 1º, fracciones I-VIII”. También artículos 2º a 4º. Estas disposiciones también regían en el internado del Instituto Científico y Literario ese mismo año. 260 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 el orden interior. Quienes ocupaban este puesto eran alumnos que “por su conducta” se consideraban “dignos de esta distinción”, a propuesta del prefecto y nombrados por el director. Dicho cargo era honorífico y de confianza, convirtiéndose en auxiliares del primero. Estos jefes sustituían a los prefectos en sus faltas accidentales y sus funciones las fijaban éstos de acuerdo con el departamento que tuvieran a su cargo. En total había siete jefes: de refectorio, de enfermería y botiquín, de ropería, de la sala de aseo y los baños, uno por cada dormitorio y uno más para la vigilancia del estudio. Sin embargo, el director podía nombrar a “cuantos crea necesarios para la conservación del órden y observancia de las distribuciones reglamentarias”. Éstos garantizaban una mediación entre las autoridades superiores y los alumnos, gozando de algunos privilegios conferidos por el director del plantel, entre ellos salir a la calle sin permiso especial a cualquier hora del día aunque con la obligación de cumplir con las distribuciones del tiempo escolar. En realidad, éstos representaban el modelo de alumno que se pretendía forjar, estipulando las normas de conducta que debía observar, es decir, desempeñar a cabalidad sus obligaciones y deberes escolares. Por eso, debían ser “modelos de buena conducta y exactitud en el cumplimiento de sus obligaciones”, lograr el respeto, conducirse con benevolencia y aconsejar al resto, valiéndose de la persuasión y evitando imponerles castigos o correctivos pues esto haría perder la confianza y la obediencia entre sus compañeros. Más aún, pondría en riesgo la atribución que era exclusiva de sus superiores. De esta manera, se diseñaba y se ponía en práctica el dispositivo para garantizar la disciplina escolar en el internado. Por lo que respecta al actor sobre el que recaía la estructura real y simbólica de los tiempos y las rutinas escolares, el reglamento dejaba ver la intención primordial de formación que se deseaba. De este modo, los alumnos estaban obligados a asistir a la inauguración del ciclo escolar, disposición que sólo en apariencia parecía obvia, pero que el reglamento se encargaba de puntualizar. Asimismo, la observación puntual de la distribución del tiempo era una obligación junto con el acatamiento “sin observaciones” de los mandatos u órdenes de sus superiores, que si bien podían ser impugnadas no podían sino hacerlo ante “el inmediato superior gerárguico (sic)”. La obediencia a la jerarquía de jóvenes a estudiantes 261 entonces se convertía en un elemento central de la imposición del tiempo y del orden. Negarse a admitirla era poner en juego el equilibrio de la vida social de la institución educativa. Esta regulación de la vida social explica porque era indispensable subrayar el comportamiento que tenían que seguir en relación con los otros actores y los espacios propios de su condición de alumnos y, sobre todo, de su futura actuación: portarse dentro como fuera del plantel “con la moralidad, buena educación, corrección en el lenguaje y modales propios de jóvenes decentes” aseguraba la responsabilidad de éstos ante la sociedad, honrando “á sus familias y al plantel en que se educan”. De ahí la prohibición de entablar relaciones de “familiaridad con los sirvientes” y el compromiso de emplear “las horas de asueto en recreaciones lícitas”, así como abstenerse de emitir silbidos y gritos “escandalosos”. Estas disposiciones se completaban con las relativas a denegar absolutamente la venta de cualquier objeto o realizar contratos que pudieran establecer los alumnos de su ropa, libros, útiles de enseñanza o aseo10. Un aspecto que resultaba crucial en este orden escolar, como ya se ha hecho notar sobre todo tratándose de la institución del internado, era el control de las salidas y entradas de los alumnos. De este modo, antes de salir los domingos y días festivos “a la calle”, es decir, al mundo exterior que representaba lo desconocido, lo incontrolable y, por añadidura, lo peligroso, los alumnos estaban obligados a presentarse ante la prefectura para recoger una boleta que era expedida por el personal correspondiente y que tenía que ser devuelta a su regreso, medida que se completaba con la prohibición de no pasar la noche fuera del plantel escolar con excepción de la autorización de la autoridad superior y a petición de los padres o encargados del estudiante. Por último, este orden fuertemente jerárquico no podía estar completamente articulado sino mediante la imposición expresa de éste orden y del reconocimiento del mismo por los actores, haciendo poco menos que imposible cualquier posibilidad de solidaridad horizontal, esto es, 10. Idem, ibidem, artículos 7-13; 18-19. 262 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 que los alumnos pudieran crear espacios de discusión y organización propios. Así, para evitar una eventualidad de este tipo, el reglamento era muy explícito en sancionar y prohibir “absolutamente” las reuniones para tratar “asuntos políticos, así como las manifestaciones en masa” y, no deja de llamar la atención, a esta disposición se sumaba aquella que impedía los juegos de cartas, dados “y todos aquellos en que se presuma que versa algún interés”, a juicio de las autoridades. Como corolario de este conjunto de medidas que ordenaban la vida y los tiempos de la vida escolar, estaba la facultad de las autoridades educativas del plantel y de las estatales de expulsar a los estudiantes por faltas graves que sin lugar a dudas ponían en peligro la vida interna, máxime cuando se reconocía la naturaleza del internado como institución total. El artículo final era en realidad una declaración de principios, de medios y fines que perseguía esa institución: “Siendo el internado una institución que requiere una prudente severidad en la disciplina, cualquiera transgresión (sic) de ésta, será enérgicamente corregida según las prescripciones del reglamento”11. En pocas palabras, el joven estudiante debería adquirir una formación y una educación integral en lo físico, lo intelectual y lo social para que su carácter impulsivo, arrebatado e insolente fuera sosegándose y esto era posible a condición de establecer un régimen disciplinario riguroso porque así lo exigía la convivencia de toda colectividad “sabiamente establecida”. Así, una herramienta central lo constituía el tiempo escolar porque con este garantizaba forjar el “futuro escolar y el ciudadano”. Bibliografía ARIÈS, Philippe (1998). El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. México: Taurus. ELÍAS, Norbert (1997). Sobre el tiempo. México: Fondo de Cultura Económica. 11. Idem, ibidem, artículos 19; 25-26 y 30. de jóvenes a estudiantes 263 FOUCAULT, Michel (1996). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. México: Siglo XXI Editores. ILLESCAS NÁJERA, María Dolores (1995). “Sobre la pluralidad de las experiencias del tiempo”. In: ILLESCAS NÁJERA, María Dolores (coord.). Un haz de reflexiones en torno al tiempo, la historia y la modernidad. México: Universidad Iberoamericana. THOMPSON, E.P. (1984). Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona: Crítica. VIÑAO FRAGO, Antonio (1998). Tiempos escolares, tiempos sociales. Barcelona: Ariel. WHITROW, G. F. (1990). El tiempo en la historia. La evolución de nuestro sentido del tiempo y la perspectiva temporal. Barcelona: Editorial Crítica. Tempos de aprender A produção histórica da idade escolar Maria Cristina Soares de Gouveia* A emergência de um tempo escolar, nas sociedades ocidentais, com o advento da Modernidade, relaciona-se com a definição de um marco cronológico no decorrer da vida do indivíduo, ao longo do qual este deveria inserir-se na escola, a chamada idade escolar. Esse marco constitui não um recorte absoluto, mas é fruto de uma construção histórica, ao longo da qual se modificaram os parâmetros de sua definição. Para analisar essa relação, cabe compreender a produção da representação da infância como período de formação para a vida adulta, no interior da instituição escolar, de acordo com princípios pedagógicos característicos de tal instituição. Princípios esses centrados no pressuposto da educabilidade desse período de vida. Tal pressusposto tornou possível a emergência, no decorrer do século XIX, em diferentes países, das leis de obrigatoriedade escolar, que conferiram visibilidade social à idade da meninice (por volta dos 7 aos 14 anos) entendida como idade escolar. Tendo como fontes primárias a legislação educacional e a documentação referente à instrução pública, busca-se analisar, no contexto da província mineira, o significado da noção de idade escolar ao longo do período e suas características, de modo que se apreendam suas permanências e deslocamentos. ESCOLA; CRIANÇA; TEMPOS; ESPAÇOS. * Esse texto constitui parte da pesquisa: “A construção da infância escolarizada: a criança nos discursos e nas práticas pedagógicas na província mineira (1820-1906)”, desenvolvida no interior do GEPHE (Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação da UFMG), que conta com o apoio do CNPq, através da concessão de bolsa de produtividade. Insere-se também no Programa Internacional de Pesquisa CAPES/GRICES: “A infância e sua educação: materialidades, práticas e representações Brasil/Portugal (1830-1950)”. 266 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 The emergence of a “scholar time” in occidental societies in modernity is related with the historical conformation process of an “scholar age”. In this sense, its necessary to understand the construction of childhood as the period of life when the individuate must be prepared to adult society, according to pedagogical principles in a school institution. Those principles are centred on the idea of childhood specificity, there educability. That notion turned possible the school, and the emergence of the “obligation scholar laws”, in differents nations, during the nineteen century, that institucionalized a scollar time into social time. Using as primary sources the scholar legislation and public instruction documents from this period, the paper analyses the meaning of scholar age in Minas’s province and its characteristics. SCHOOL; CHILDREN; TIMES; SPACES. O século XIX afirma-se, em termos gerais, como período ao longo do qual se formularam, nos países ocidentais, políticas públicas de extensão da instrução elementar ao grosso da população. Tais políticas constituíam estratégia privilegiada de construção de uma ordem pública nos Estados–nações nascentes (Cambi, 2000). Esse movimento, evidentemente, não se deu de maneira uniforme e unívoca. Os discursos e práticas de valorização da instrução básica como instrumento de normatização social foram apropriados pelos diferentes agentes históricos em contextos nacionais e regionais que imprimiram um significado diferenciado ao projeto de escolarização. No interior de tal processo, assumiu destaque a conformação, em diferentes países ocidentais, das leis de obrigatoriedade escolar. Leis que buscavam garantir a adesão social à educação escolar, através da definição de um extrato populacional a ser necessariamente submetido à sua ordenação. É interessante observar que as leis de obrigatoriedade escolar atravessaram diferentes contextos nacionais e regionais, pautando-se por dois elementos básicos em sua estrutura: a definição de uma idade escolar e a responsabilização dos pais ou tutores das crianças pelo envio destas às escolas de primeiras letras, sob pena de pagamento de multa1. 1. Não irei me ocupar, nesse texto, do estudo do processo de efetivação da lei de obrigatoriedade escolar, tema desenvolvido no interior do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação por Cynthia Greive Veiga e Luciano Faria Filho. tempos de aprender 267 No Brasil , é à luz de novos estudos desenvolvidos nos últimos anos que, apontam inúmeras fontes primárias ainda não contempladas, vem permitindo dar visibilidade ao projeto(ou projetos) de implementação da instrução pública, bem como os embates, fluxos e refluxos nesse processo. Assim é que, ao refinar o olhar, e no acúmulo das pesquisas recentemente desenvolvidas, é possível perceber que a institucionalização da forma escolar não constituiu um movimento ascendente de afirmação do valor da escola e sua importância na formação das novas gerações. Ao contrário, verifica-se nos discursos das elites dirigentes, bem como nos mecanismos de implementação da educação escolar que essa se deu no embate com estratégias de formação da população a cargo de outras agências, como a família e o trabalho, bem como na disputa entre as escolas públicas e particulares, em torno da oferta da instrução básica2. As leis de obrigatoriedade escolar foram promulgadas pelas diferentes províncias, em períodos diversos, haja vista que o Ato Adicional de 1834 imputou-lhes a responsabilidade pela oferta e ordenação da instrução elementar. A semelhança do contexto europeu, nos textos legais, foi a identidade geracional que definiu o perfil do aluno das primeiras letras. No caso da província mineira, em 1835, a lei n. 13 e seu regulamento n. 3, assim determinava: Art. 12: os pais de família são obrigados a dar a seus filhos a instrução primária de 1 grau ou nas Escolas Públicas ou particulares, ou em suas próprias casas, e não os poderão tirar enquanto não souberem as matérias próprias do mesmo grau. A infração desse artigo será punida com multa de dez a vinte mil réis... Art 13: A obrigação imposta no artigo precedente aos pais de família começa aos 8 anos de idade dos meninos; mas estende-se aos que atualmente tiverem 14 anos de idade [no caso da população feminina a frequência não era obrigatória]. 2. Cabe destacar que os termos público e privado assumem significados diferenciados no século XIX, demandando uma análise mais aprofundada acerca da caracterização desses dois modelos. 268 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 A identidade do aluno produziu-se superposta à identidade geracional, conferindo visibilidade e uma nova função social a idade da meninice, ou idade pueril. Cabe destacar que, no Brasil, essa questão tomou contornos particulares, tendo em vista a composição da população, já que os escravos eram legamente impedidos de freqüentar a escola. Busco aqui analisar a produção histórica da idade escolar no Brasil, ao longo do século XIX e, mais exatamente, entre 1830 e 18853, em um contexto particular: a província mineira. Tendo como fontes primárias a legislação educacional do período, os relatórios dos delegados de ensino, os mapas de matrícula e freqüência dos alunos, tenho em vista investigar como foi definida pela legislação educacional e apropriada pelos professores e delegados a identidade geracional do aluno das escolas de primeiras letras da província mineira. Para tal, recupero o percurso histórico de definição das diferentes etapas da existência humana nas sociedades ocidentais, para melhor situar a apreensão histórica da idade da infância. A partir daí, situo a produção de saberes sobre a educabilidade da criança, definidora de uma especificidade da idade infantil, a partir da indicação dos principais tratados pedagógicos produzidos na Europa entre os séculos XVI e XVIII. Finalmente, busco analisar a produção histórica da idade escolar no contexto brasileiro, ao longo do século XIX, voltando-me para o estudo documental das fontes sobre a ordenação da instrução na província mineira. As classes de idade Ao resgatar a construção histórica da idade infantil, entendendo-a como período de vida distinto cognitiva e afetivamente do adulto, de realização de aprendizagens sociais, nos remetemos à historicidade das 3. O recorte histórico foi definido a partir da data da promulgação da lei de obrigatoriedade escolar na província, em 1835 e na década de 1880. Como a pesquisa se encontra em andamento, ainda estão sendo coletados os dados acerca do período posterior. tempos de aprender 269 representações sobre as idades humanas. Na verdade, o fluxo da existência humana, suas rupturas e continuidades, constitui tema constante nas produções das culturas, em momentos históricos diversos. Para Franklin Leopoldo Silva (2001, pp. 82-83): “sei o que é o tempo porque ele é o extrato mais fundamental do drama vivido pela criatura finita: a sua transitoriedade”. As diversas culturas produziram recortes que demarcavam os diferentes momentos no desenrolar da vida do indivíduo, construindo classes de idade, produzindo delimitações e rupturas ao longo do continuum da experiência humana. Tal produção mostra-se ancorada em mudanças biológicas. Essas, no entanto, como domínio humano, passam a ser significadas pela cultura. Assim, as classes de idade afirmam-se como produção no entrecruzamento da natureza com a cultura. Como nos alerta Elias: “não são o homem e a natureza, no sentido de dois dados separados, que constituem a representação cardinal exigida para compreendermos o tempo, mas sim ‘os homens dentro da natureza’” (1998, p. 12). A temporalidade da existência humana nas culturas tradicionais era apreendida como um ciclo em que o início, a gênese, constituía também seu momento final, de acordo com uma concepção cíclica do tempo. Nessas culturas, tal apreensão só se fazia possível no interior de um ciclo maior, o da natureza, cujo fluxo determinaria as diferentes formas de existência, definidas biologicamente pelo nascimento, crescimento, amadurecimento e drecrepitude do corpo. Geertz, ao estudar a concepção de tempo dos balineses, vem falar das marcas coletivas do tempo, que inscrevem as vivências individuais. Schwarcz, ao analisar o trabalho do antropólogo, destaca que: “Geertz comprova como existe um grande elo entre a concepção de um povo do que é ser uma pessoa e sua concepção da estrutura do tempo” (apud Schwarcz, 2001, pp. 18-19). Elias chama atenção para o fato de que a associação entre a idade do indivíduo e o calendário mostra-se uma construção histórico-cultural. Segundo ele: Nas sociedades desenvolvidas, parece uma evidência que um indivíduo saiba sua idade. É com assombro [...] que descobrimos que existem, em socie- 270 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 dades menos avançadas, homens incapazes de dizer com precisão qual é a sua idade. Na medida em que o patrimônio de saber compartilhado por um grupo não inclui o calendário, é difícil, com efeito, determinar o número de anos que se viveu. Não é possível comparar diretamente a duração de um período de vida com o outro. Para tanto, é preciso tomar como quadro de referência uma outra seqüência de acontecimentos cujas divisões repetitivas sejam o objeto de uma padronização na escala da sociedade. Em suma, precisa-se daquilo que chamamos calendário [1998, p. 10]. Pensando nas designações das diferentes etapas da existência humana, nas sociedades tradicionais, verifica-se que, na Grécia antiga, a criança era designada por pais. Termo que se referia tanto a crianças, quanto a jovens de diferentes idades, no caso masculino, até chegar a cidadania, e no feminino, até o matrimônio, sendo mais freqüente seu uso para designar filho ou filha e mesmo escravo ou escrava (Kohan, 2003) . Não havia uma palavra específica para nomear alguma idade particular. O tempo do indivíduo era, portanto, entendido como um continuum. Na Idade Média, foi conformando-se uma preocupação com a designação das diferentes etapas da vida humana, ainda inserida numa concepção cíclica do tempo. Concepção que informava a construção de uma representação dos períodos da existência humana centrada na idéia de ciclos: as idades da vida, em que a lógica do seu desenrolar era definida pela natureza. O homem era parte de um ciclo maior, o qual conferia sentido à experiência individual, demarcada pelas diferentes idades. Idades que, como destaca Ariés (1981), referiam-se não propriamente ao indivíduo, mas à vida, tomada como elemento autônomo. Segundo Gélis: Durante séculos, e apesar dos esforços da Igreja para aboli-la, predominou na Europa ocidental o que podemos chamar de consciência “naturalista” da vida e da passagem do tempo [...] cada indivíduo descrevia um arco de vida mais ou menos longo, segundo a duração de sua existência; saía da terra através de sua concepção e a ela voltava através da morte [1991, p. 311]. tempos de aprender 271 Para Ariés, na Idade Média, caracteristicamente, havia uma produção em torno da definição e diferenciação dessas idades da vida, a qual se expressava em tratados “pseudo científicos”, que usavam a seguinte terminologia: infância e puerilidade, juventude e adolescência, velhice e senilidade (1981, p. 33) termos que depois foram incorporados ao senso comum. Nas diferentes definições das idades da vida, subjazia uma concepção que relacionava a biologia humana a correspondências secretas internaturais, como a associação das sete idades da vida aos sete planetas então conhecidos, ou aos 12 signos do zodíaco, ou aos quatro temperamentos. Segundo o autor: “as idades da vida não correspondiam apenas a etapas biológicas, mas a funções sociais” (1981, p. 39). Nas sociedades européias, lentamente foi sendo afirmada uma concepção do tempo definida não mais pela natureza, mas por uma cultura antropocêntrica. O tempo deixou de ser representado como cíclico, para afirmar-se evolutivo e linear. No dizer de Marcio Silva: Nas sociedades de tradição européia, uma concepção do tempo como um meio contínuo no qual os eventos se sucedem em momentos irreversíveis subjaz às noções de inovação social e mudança histórica, tão familiares entre nós. Tal concepção de tempo se traduz numa cronologia, atividade do espírito destinada a conferir uma determinada inteligibilidade aos acontecimentos ordenado-os linear e progressivamente [2001, pp. 90-91]. Com isso, progressivamente, segundo Gélis (1991, p. 302): “uma consciência mais linear, mais segmentária da existência sucede a consciência de um ciclo de vida circular”. As terminologias definidoras das diversas etapas da vida humana iriam subsistir, sendo, no entanto, redefinidas a partir do século XVI. É nesse momento que, com os tratados pedagógicos, surgem novos termos para designar as diferentes idades da vida. Porém, para Ariés, uma definição mais precisa da idade pessoal, marcando sua individualização, viria apenas com o século XVIII, através dos registros paroquiais, que passaram a demarcar a data correta de nascimento. A consciência diferenciada da existência humana significou um deslocamento das formas tradicionais de aprendizado social. Não era mais 272 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 a natureza que guiava a transformação da criança em adulto, mas uma educação racionalizada, capaz de refrear as forças dessa natureza, moldando-as aos limites da razão. É nesse contexto que surgem os primeiros tratados pedagógicos. Erasmo, ainda no século XVI, no seu tratado de formação da infância: A civilidade pueril (1530) designava pueril a criança que já falava corretamente, com vocabulário adequado (Boto, 2002), período ideal para realização dos aprendizados sociais. Nesse sentido, a puerícia definiu-se como tempo do aprender. O sucesso da obra de Erasmo, sua circulação ao longo dos dois séculos posteriores, atestam que o autor não apenas contribuiu para a construção de um campo de reflexões sobre a educabilidade da infância, mas também foi capaz de dialogar com o “horizonte de expectativas” do leitor da época. Podemos então compreender que, mais do que rotular o indivíduo de pouca idade, foi a partir do século XVI que foi produzida nas sociedades européias uma nova identidade infantil. Seus contornos foram definidos por educadores e estudiosos que construíram uma concepção de criança como sujeito aprendiz, quer nos espaços familiares, quer nos escolares, percurso que cabe ser mais bem analisado. Comenius, na Didática Magna, estabeleceu um diferenciação entre quatro períodos da existência articulados ao aprender, compreendidos como estágios de formação, geradores de quatro tipos de escola: infância, até os 6 anos de idade, puerícia, dos 6 aos 12 (quando o autor propõe uma escola de língua nacional, em oposição ao ensino de latim, então em vigor), adolescência dos 12 aos 18 (quando deveria dar-se a aprendizagem do latim), juventude dos 18 aos 24 (período de entrada na academia ou universidade). Essa, segundo o autor “deveria ser freqüentada apenas pelos engenhos mais selectos a flor dos homens; os outros (deveria) enviar-se – a para a charrua, para as profissões manuais, para o comércio, para que aliás nasceram” (1957, p. 39). Assim definiu a organização de um sistema de ensino, no título de seu capítulo XXVII: “As instituições escolares devem ser de 4 graus, em conformidade com a idade e o aproveitamento”. Para tal, tomamos para exercitar os espíritos, todo o tempo da juventude, desde a infância até a idade viril, ou seja, 24 anos, repartidos em períodos determina- tempos de aprender 273 dos os quais se devem dividir tomando por guia a natureza. Efetivamente a experiência mostra que o corpo do homem, em geral cresce em estatura, até a idade de 24 anos, e não até mais tarde; depois robustece-se, adquirindo vigor. E esse crescer lento é de crer que a divina providência o tenha reservado á natureza humana, precisamente para que o homem tenha todo o tempo necessário para se preparar para realizar as funções da vida [1957, p. 410]. No seu tratado de educação escrito em 1685, intitulado A arte de criar bem os filhos na idade da puerícia, Alexandre Gusmão (2000), refere-se ao menino, na idade da puerícia e aos anos da adolescência, em que esse se tornaria mancebo. O tratado volta-se para a afirmação da educabilidade da infância, a cargo de pais e mestres, incutindo a importância da intervenção no período da puerícia, ou meninice, condição de formação de um adulto “morigerado”. Assim é que um dos capítulos intitula-se “Da obrigação que tem os pais de criar bem os filhos na idade da meninice”, revelando como esse papel ainda não era socialmente afirmado. Locke, com seu tratado Some thoughts concerning education (1693), também afirmava a importância da educação da infância, voltando-se para a apresentação dos mecanismos de formação e instrução da criança, condição de criação de um futuro gentleman (Cambi, 2000). Ao longo do século XVII e XVIII, filósofos e educadores voltaram-se para a construção de tratados pedagógicos centrados na discussão da importância da educação para o desenvolvimento da natureza humana e para o processo civilizatório. Kant afirmava em 1776: Homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação entende-se o cuidado de sua infância (a conservação, o trato) a disciplina e a instrução com a formação [...] o homem não pode tornar-se um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação faz dele [1996, p. 15]. Rousseau, ainda no século XVIII, construiu a obra Emílio, organizada e centrada na descrição das diferentes etapas cronológicas subsumidas na categoria infância, buscando delinear suas características, de forma que norteasse a ação educativa do adulto, de acordo com 274 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 as especificidades internas a cada etapa. Para o autor, o seu tema é o do estudo da “marcha da natureza” (1995, p. 4). A concepção de desenvolvimento humano de Rousseau considerava-o marcado por três dimensões: A educação vem da natureza, do homem e das coisas. O desenvolvimento interno de nossas faculdades é a educação da natureza; o uso que nos ensinam a fazer desse desenvolvimento é educação dos homens e a aquisição de nossa própria experiência sobre os objetos que nos afetam é a educação das coisas” [1995, p. 9]. No dizer de Boto: “Rousseau dando ênfase à demarcação de etapas da vida, salienta que há um tempo próprio para o ensino; para cada ensino” (2002, p. 52). O autor distinguia infância e puerilidade, sendo a infância o período compreendido até os 7 anos, seguida da idade pueril, passagem demarcada pelo domínio da fala, até os 12, 13 anos, idade da puberdade e posteriormente a adolescência. Para Rousseau, o período da realização das aprendizagens seria a idade da razão situada entre os 7 e 12 anos. Como afirma Boto: O Emílo distingue como era hábito do século XVIII, a infância e puerilidade. Nomeava-se infância apenas e exclusivamente o período compreendido até os 7 anos, quando então se ingressaria na idade pueril pela mesmíssima periodização já contida na A civilidade pueril de Erasmo no “século XVI” [2002, p. 49]. Para Foucault, afirma-se caracteristicamente no século XVIII, a concepção de um “ tempo evolutivo”, um tempo social que se expressava também nas técnicas administrativas e econômicas que manifestavam: “um tempo de tipo serial, orientado e cumulativo: descoberta de uma evolução em termos de progresso” (1986, p 45). Nesse tempo evolutivo, a criança constituiria o momento de gênese, e a intervenção no seu processo de desenvolvimento a garantia de progresso individual: “ progresso das sociedades, gênese dos indivíduos, essas duas grandes descobertas do século XVIII são talvez correlatas das novas técnicas de tempos de aprender 275 poder e, mais precisamente, de uma nova maneira de gerir o tempo tornálo útil, por recorte segmentar, por seriação, por síntese e totalização” (1986, p. 45). Retomando Foucault, foram as idéias de progresso e evolução que conferiram legibilidade, quer ao fluxo das experiências coletivas, quer das existências individuais. Com isso, as etapas da existência humana foram definitivamente representadas como articuladas ao progresso e evolução, desde a incompletude da infância, até o ápice corporificado na racionalidade adulta. O século XIX incorporou os discursos pedagógicos defensores da educabilidade da infância, do papel civilizatório da educação e, no interior dessa reflexão, da definição de um período ideal para a aquisição da instrução elementar. Nos oitocentos, essa cada vez mais foi compreendida como devendo se realizar nos espaços escolares. Era à criança no período da meninice, compreendida entre os 7 e 14 anos, que foram dirigidos os projetos de instrução pública. Porém, como destaca Narodowski (1994), operou-se um deslocamento dos estudos pedagógicos em relação ao século XVIII. Não foi mais a afirmação da educabilidade da infância que norteou a produção pedagógica do século XIX, mas a construção de estratégias de ordenação do espaço escolar, de extensão da instrução mínima ao grosso da população, produção corporificada na criação e difusão dos métodos de ensino. Subjaz a concepção de infância articulada ao espaço social da escola, a idéia de progresso e evolução, tornados possíveis pela aprendizagem ocorrida no interior dessa instituição. Se essa idéia de progresso e evolução já se fazia presente anteriormente, na segunda metade dos oitocentos, com as descobertas de Darwin, transformou-se em doutrina científica: o evolucionismo, a explicar a partir de um único eixo, a história das espécies, das sociedades, dos grupos sociais e dos indivíduos, trazendo outra referência para os estudos sobre as fases da existência humana e sua gênese. No entanto, é importante compreender que a construção de diferenciações ao longo do desenvolvimento humano não foi definida uniformemente. As concepções de infância, puerícia e adolescência assumiram significações diversas, de acordo com a pertinência social do 276 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 indivíduo. Para Ariés, tais concepções teriam surgido nas camadas dominantes, estendendo-se depois para as demais camadas sociais. No entanto, Ariés enxerga tal movimento marcado pela undirecionalidade, em que as concepções geracionais seriam definidas pela progressiva uniformidade, num recorte de longa duração. A construção das denominações da infância no Brasil Ao se analisar a história da escolarização da infância no século XIX no Brasil, cabe investigar o que se compreendia como infância no período, ou mais propriamente a “meninice” , como era designado o período de vida no qual o indivíduo deveria ser instruído. Para tal, cabe também, para melhor compreender o significado (ou significados) da infância no período, buscar resgatar a historicidade da construção léxica, compreendendo que o termo infância possui uma historicidade que cabe ser destacada. Nomear é atribuir significado, demarcar. Recorrendo ao Dicionário Aurélio, é afirmado que nome é: “palavra que designa pessoa, animal ou coisa”. Ou seja, ao designar o indivíduo por criança circunscrevemse suas ações numa teia de significados remetidos à condição infantil. Nesse sentido, também recorrendo ao Aurélio, nomear é associado a criar, instituir, designar. No Brasil, as concepções das idades da vida dialogaram com os padrões europeus, ao mesmo tempo que seriam marcadas por recortes diferenciados, tendo em vista os pertencimentos não apenas sociais, mas também raciais, diversos dos europeus. Assim é que as várias denominações dadas aos indivíduos de pouca idade revelam, por um lado, uma concepção difusa das diferenciações internas às etapas da vida. Por outro, a centralidade do pertencimento social e racial na percepção de tais indivíduos. Segundo Priori (2000), os termos criança, menino e adolescente já se faziam presentes nos dicionários de 1830. “Criança era definida como cria da mulher, associando-se criança ao ato da criação, sendo que apenas na primeira metade dos oitocentos o termo criança passa a se dirigir à espécie humana”. Leite (1997) aponta, entre as denomina- tempos de aprender 277 ções dadas à infância, o termo: “desvalido de pé”, a designar aqueles que já andavam e poderiam desempenhar pequenas tarefas. Os termos deslocavam-se, referindo-se não apenas à idade cronológica do indivíduo, mas ao seu status social. Segundo a autora, os termos “cria” ou “moleque” referiam-se tanto a um tipo de criado, o moleque nascido em casa do senhor, ou filhos de escravos. Moleque significava negrinho, como também indivíduo sem palavra, ou apenas menino de pouca idade, ou ainda escravo jovem recém-chegado da África. É importante ressaltar que as formas de apreensão das diferentes infâncias tinham em vista não apenas o momento cronológico do indivíduo, mas sua identidade étnica, de gênero, grupo social. A definição de infância não assumiu um significado unívoco, remetido exclusivamente à faixa etária, ao momento de vida do indivíduo. A identidade infantil construiu-se associada à condição social da infância, à inserção da criança num grupo social, étnico e de gênero que se superpõe à condição geracional. Leite, ao analisar a percepção dos viajantes acerca da criança brasileira, cita Luccock que, em 1810, comentava “[...] deve-se levar em conta a idade prematura em que as pessoas novas deixam já de ser consideradas como crianças” (1810-1817, p. 28 apud Leite, 1997, p. 28). O viajante analisava as diferenciações internas à categoria infância a partir da observação do vestuário: Tanto meninos quanto meninas vivem a trançar nus pela casa, até que atinjam cerca de 5 anos, e durante três ou quatro anos ainda, após essa idade, nada mais usam que a roupa de baixo [...] quando em raras ocasiões têm que ir à Igreja ou em visitas, vestem-nas com toda elegância rígida de uma época que já passou; não há diferença, salvo nas dimensões entre os trajes, de um rapaz que faz pouco adquiriu o garbo viril e os de seu pai, entre os de uma menina e os de sua majestosa mãe [p. 28]. Ou no depoimento de Edgecumbe: No Brasil não existem crianças no sentido inglês. A menor menina usa colares e pulseiras e meninos de 8 anos fumam cigarros. Encontrei um bando de 278 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 meninos voltando da escola. Um pequeno de aparentemente 7 anos tirou do bolso um maço de cigarros e ofereceu a cada um [1886, p. 47 apud Leite, 1997, p. 37]. No decorrer do século XIX, no Brasil, se diferenciaram as denominações que designavam as divisões internas a esse período de vida. Tais diferenciações, ao demarcarem fronteiras no interior da categoria geracional infância, demarcavam formas diferenciadas de apreensão dos sujeitos, bem como estratégias e espaços sociais diversos de formação para a vida adulta. Segundo Leite, “para o código filipino, que continuou a vigorar até o fim do século XIX, a maioridade se verificava aos 12 anos para as meninas e aos 14 para os meninos, mas para a Igreja Católica que normatizou a vida das famílias nesse período , 7 anos já é a idade da razão” (1997, p. 19). Tempo escolar Ao apontar as diferentes denominações e responsabilidades sociais atribuídas ao indivíduo em função de seu pertencimento geracional, verificam-se a ambigüidade e a fluidez na definição das etapas da vida humana. Porém, como apontado inicialmente, a produção histórica de um tempo da vida associado ao aprender, no interior da escola, contribuiu para a conformação de uma especificidade do tempo da infância. No Brasil, as leis de obrigatoriedade escolar estabeleceram parâmetros para a identidade etária da figura do aluno, relacionando-a ao período da meninice, ao mesmo tempo que fixando as faixas etárias fora desse limite (a população infantil), bem como os de mais de 14 anos (a mocidade e idade adulta). A construção da figura do aluno na cultura escolar nascente foi entendida, portanto, como associada ao(à) menino(a), na idade da razão. O tempo escolar introduz, na experiência de uma sociedade ainda não escolarizada, uma concepção de um tempo determinado, no dizer de Frago: tempos de aprender 279 [...] lienal, rectilíneo, ascendente y segmentado en etapas o fases a superar [...] el papel de la escuela como instrumento de inculcación de una noción del tiempo baseada en la precisión de los encuentros, la sequenciación de atividades la previsión, el sentido del progreso, y la idea del tiempo como um valor en si mismo [1993, p. 21]. A experiência escolar significou, na vivência das crianças que a freqüentaram ao longo do século XIX, a conformação de novos tempos e espaços da experiência da infância, que estendeu seus efeitos para outras instituições, como a família. Essa deveria reordenar a distribuição do tempo da criança, de forma que o adaptasse às exigências do tempo escolar. A construção de um novo ordenamento do tempo marcou o cotidiano infantil, ressignificando a construção biográfica do indivíduo criança, bem como alterando outros espaços sociais. Na análise dos relatórios dos inspetores de ensino, é constante a referência à tensão na distribuição do tempo entre as atividades escolares e as demais responsabilidades imputadas à criança. Tenho a honra de informar à V.Ex. que é proveitosa, tanto ao progresso da mocidade como cômoda aos pais de famílias, uma só lição diária em cinco horas continuas na escola de 2o grau desta Vila, a vista do que mostrou a experiência no ensaio feito na mesma, apresentando mais a utilidade de evitar falências de meninos pobres, cujos pais não lhes podem dispensar algum serviço doméstico, porém é de se crer, que será melhor e mesmo de equid. que em vez das cinco horas letivas se contasse das nove às duas, se desse princípio às dez da manhã e terminasse às três da tarde, porque tinham tempo de prestar o serviço mister daquele dia à sua casa e recebiam o alimento necessário para estarem na aula as cinco horas, alias o prof. se vê na extrema necessidade de atender aos vogos daqueles que vem para a aula sem o primeiro e necessário sustento do dia, e embora com a condição que se lhes impõe de voltar, muitas vezes isso não se realiza: o que não se deixa de cooperar para atrasamento dos mesmos e por isso me parece razoável semelhante alteração4. 4. Fundo de Instrução Pública. S.P. 234 – 5/10/1839. 280 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 A noção de tempo produzida pela escola tem sua lógica referida a uma racionalização da administração do cotidiano, facilitadora da produção escolar que, como analisou Foucault (1986, p. 201), atravessou diferentes instituições sociais: a prisão, o sistema judiciário, a escola. “lei fundamental da boa administração do tempo: a regularidade”. No interior desses espaços, a regularidade toma forma através da repetição de atividades distribuídas em horários predeterminados, marcando uma nova vivência do cotidiano. Mesmo que a escola tenha sido pouco presente no cotidiano das Minas oitocentistas, a definição de um recorte geracional conferiu visibilidade social a um grupo específico de indivíduos: os meninos e meninas de 8 a 12 e, posteriormente, de 7 a 14 anos, anunciando, ainda que de forma pouco efetiva, uma idade escolar. Porém, fica claro que a concepção de idade no período referia-se não a uma associação com o calendário anual como se afirmou ao longo do século XX, principalmente através dos estudos de uma psicologia genética e com a conformação de uma escola seriada. O progresso individual, seu desenvolvimento, envolvia recortes geracionais mais difusos, no qual a idade da razão, período de realização da aprendizagem escolar, englobava um período de mais ou menos 7 anos de duração, uniforme internamente quanto às possibilidades de aprendizagem. No estudo da composição etária das salas de aula na província mineira, verifica-se a presença de alunos entre 5 e 14 anos, concentrandose na faixa entre 9 e 11. Nos mapas de freqüência se faziam regularmente presentes registros de alunos menores de 7 anos, ao longo de todo o período investigado, estando registrados alunos de até 4 anos de idade, muito antes do momento de entrada na “idade da razão“, período considerado propício à aprendizagem das primeiras letras. Já os alunos de mais de 14 anos tinham uma presença esporádica e ocasional, revelando que a escola elementar era espaço da infância e meninice e não da mocidade, provavelmente já inserida no mundo do trabalho5. 5. Os liceus, voltados para a formação secundária, eram praticamente inexistentes, sendo dirigidos à mocidade das classes abastadas. tempos de aprender 281 Num dos relatórios analisados, o delegado assim apresenta a composição etária de uma sala de aula dirigida ao público feminino: [...] Fala do exame das meninas, constando na lista o estado de adiantamento das discípulas. Grau de adiantamento tido: 14 anos – Aproveitada em todas as doutrinas marcada no artigo 6 e 12 da Lei de 15/10/1827 8 anos – Lê e escreva mal 9 anos – Lê, sabe a taboada, soma e sabe princípios de doutrina 14 anos – Lê, escreve, sabe a taboada, duas espécie de contas, doutrina 14 anos – Aproveitada em todos os quesitos do Art. 6 e 12 da lei de 15/10/1827 6 anos – Lê sílabas 6 anos – Lê ABC 20 anos – Lê, escreve, sabe taboada, doutrina e cose6 Em outro relatório, um delegado analisa como a lei de obrigatoriedade escolar era apreendida por alguns pais como definidora apenas do compulsório envio dos filhos com menos de 14 anos. Após essa idade, eram retirados da escola, independentemente das aprendizagens ali realizadas. Na escola de Santa Catharina se procedeu aos exames pelo Natal e se conheceu o adiantamento em 28 alunos que se apresentaram faltando grande número comparativamente aos da matrícula e alguns pais tem tirado seus filhos que tem completado a idade de 14 anos, a título de já se não acham compreendidos na letra da lei, o que eu entendo pelo contrário [...] Estou notificando aos pais que tem tirado seu filhos das Escolas antes de haverem completado a instrução primária, e na diligencia de o fazer a respeito que a não tem dado, o que vou verificando por novas listas que exigi dos juízes de paz e que me vão pouco a pouco chegando7. 6. 7. Fundo de Instrução Pública, P.P.1/42 Cx.01 – 30/07/1830 Env. 34. Fundo de Instrução Pública, S.P. 232 – 25/03/1839. 282 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Se era rara a presença de alunos com mais de 14 anos, os de menos de 7 anos, não previstos no texto legal, eram considerados aptos a freqüentarem as salas de aula. No dizer de um delegado: [...] em que me pede informações dos habitantes livres que compreende este arraial e seus subúrbios, ao que respondo que no arraial e suas vizinhanças contém 557 almas livres e entre estas 135 meninos de ambos os sexos de 5 a 12 anos de idade quase todos sem saberem ler e todos estes podem vir à escola8. No Regulamento Escolar de 1884, a questão da idade prevista para a inserção na escola já se mostrava mais precisa e restritiva. No artigo 5o, claramente eram excluídos os menores de 5 e maiores de 14 anos: A matricula estará aberta durante todo o anno. § unico: Não serão admittidos à matricula e à freqüencia da eschola: 1o – Os que soffrerem molestias contagiosas, ou repugnantes 2o – Os que não tiverem sido vaccinados, havendo pús vaccinico no logar 3o – Os menores de 5, e maiores de 14 annos 4o – Os escravos Não havia uma distinção interna à categoria meninice, pela análise dos mapas, sendo essa faixa etária representada como homogênea quanto a suas condições e níveis de aprendizagem. Assim é que nas observações sobre a aprendizagem dos alunos, não se estabelecia relação entre seu rendimento escolar e a idade. Apenas nos registros do aluno de 4 anos, o professor observa: “é adiantado para a idade”9 demonstrando uma diferenciação entre a meninice e a infância, no que se refere a condições particulares de aprendizagem. Fizeram-se presentes dois únicos registros de alunos com 20 anos de idade, mas em períodos anteriores ao Regimento de 1884, sendo que num deles assim é descrita sua inser- 8. 9. Fundo de Instrução Pública, S.P. 234 – 30/08/1839. Fundo de Instrução Pública, IP 13, caixa 25, 1832. tempos de aprender 283 ção na escola: “Joaquim é o único de meus alunos que tem 20 anos, porém, não presta para nada porquanto apenas faz q.q. pequeno exercício fica logo muito enfermo todos os mais alunos regulam de 17 para baixo”. Na verdade, no estudo das fontes primárias utilizadas, fica claro que o objeto de análise dos professores e delegados de ensino era o aluno, no exercício de seu ofício, tornado possível por sua capacidade e empenho em aprender e na freqüência cotidiana à escola. A sua identidade geracional aparece subsumida à identidade de aluno, categoria a partir da qual se operava a percepção de sua individualidade. No estudo dos dispositivos escolares de análise e avaliação dos alunos: os mapas trimestrais de freqüência e os relatórios dos inspetores de ensino, verifica-se que é constante uma análise do grau de adiantamento dos alunos, em que os professores registravam o nível incial de aprendizagem e os progressos feitos. Tais progressos tinham em vista um talento inato para realização da aprendizagem escolar, não estando associados à idade cronológica do aluno. Em todos os mapas de freqüência, o termo talento constituía a categoria que conferia visibilidade à sua produção. Segundo um dicionário da época10, talento era: “habilidade, boa disposição natural para as ciências, artes. Enterrar os talentos, não os cultivar, sujeito de grande habilidade”. Assim é que o talento referia-se ao contexto escolar, refletindo uma habilidade intrínseca ao indivíduo, que tornaria possível a aprendizagem. É interessante fazer notar que o termo inteligência pouco se fazia presente nos mapas analisados na primeira metade do século. Já na segunda metade, a partir da década de 1860, os mapas passam a registrar a inteligência do aluno, compreendida como habilidade inata, expressando-a em termos como “medíocre”, “não tem”, “fraca”, “boa”, “muito boa”. No mesmo dicionário, a inteligência é assim compreendida: “essência espiritual – os anjos são pura inteligência, faculdade de entender, conhecimento, juízo, discernimento”. Verifica-se, por- 10. Dicionário da Língua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, Ouro Preto, Typographia de Silva, 1832. 284 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 tanto, um deslocamento na construção de critérios para aferir o desempenho dos alunos, em que se foi constituindo progressivamente uma terminologia propriamente escolar, demonstrativa de uma cultura em conformação (Gouveia, 2003). Se o termo inteligência afirmou-se ao longo do século XX como fator explicativo dos desempenhos individuais, tal termo se mostra ainda pouco presente ao longo do século XIX. A inteligência era entendida como faculdade espiritual, quando no século XX será compreendida como característica psicológica. Um delegado se expressa num relatório: Pede a criação de mais uma escola de 2o grau pois que não é possível ao professor prestar toda a atenção no ensino das matérias que compõem o mesmo grau a 140 e mais alunos a seu cargo, do que resulta de que os mais talentosos apresentam adiantamento porque não precisam de explicações tão reiteradas, e os menos dotados das faculdades intelectuais, que necessitam de muito trabalho e paciência por parte do mestre para os fazer compreender, ficam atrasados, por isso dependem de muitos anos nas escolas. Transparece a visão da existência de diferenças individuais nos alunos, em função do talento inato para aprendizagem, o que determinaria uma duração diversa do tempo da escola, no exercício do ofício do aluno. Ao longo do século XX, produziu-se progressivamente uma determinada consciência precisa, refinada e minuciosa de diferenciações não apenas biológicas,mas cognitivas e afetivas do indivíduo, a partir da ciência da psicologia, fundada numa homologia entre o desenvolvimento biopsíquico individual e uma cronologia fundada no calendário anual. Tal pressuposto que nos parece hoje “natural”, foi fruto de uma construção histórica. Ao longo do século XIX, no contexto brasileiro, parece que a diferenciações etárias não se referiam a uma cronologia anual, mas a ciclos maiores: a infância, a meninice, a mocidade, a idade adulta. Assim é que a concepção de idade referia-se a um período maior da existência. Em contrapartida, as diferenciações etárias entre os alunos não eram inicialmente percebidas como fatores relacionados a distintas e progres- tempos de aprender 285 sivas capacidades de aprendizagem. Porém, ao longo do período analisado, foi aos poucos se delineando uma diferenciação entre as diferentes idades dos alunos, que deveria ser considerada na ordenação do cotidiano escolar. Essa questão aparece claramente em alguns artigos do Regimento de 1884: Art. 9o O professôr, attendendo as distancias das residencias dos alunnos, suas idades, e quaes quer outras conveniencias, dividirá os alunnos em duas turmas, uma das quaes freqüentará a aula da manhã, e outra a da tarde. Art. 15o Havendo pateo ou area de terreno annexa á eschola, durante o intervalo, de que trata o art. antecedente, poderão os meninos entregar-se aos brinquedos proprios de sua idade, que concorrerem para o desenvolvimento physico, sob a vigilancia do professôr. Art. 17o Os meninos menores de 7 annos, doentios ou mofinos, poderão ser despedidos antes da hora regimental. Art. 20o As lições serão curtas e variadas, principalmente para os meninos de tenra idade, a fim de evitar-lhes a fadiga, e o aborrecimento, causas da indisciplina na eschola. Embora as diferenciações etárias fosssem contempladas no regimento, como fator que influiria na ordenação das salas de aula, não eram diretamente articuladas ao desempenho dos alunos, nem à apresentação dos conteúdos. Isso parece também ter ocorrido no contexto europeu, como aponta Chervel: “es de destacar que, hasta finales del siglo XIX, la consideración de la edad no influyó en absoluto en esta distribuición, ni la ensenanza primaria ni en la secundaria, pues en todas las classes se daban diferencias de edad considerables, de hasta diez o doce anos” (1991, p. 82). 286 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Conclusão O estudo das transformações históricas da percepção social da infância revela que tais transformações não são nem ascendentes, nem uniformes num mesmo período histórico. Para conferir visibilidade às diferenciações presentes num mesmo período, bem como às mudanças operadas ao longo dos últimos séculos, cabe resgatar a produção de teorias pedagógicas, compreendidas não como informações diretas de práticas de socialização da infância, mas como expressões culturais das representações históricas acerca da infância, ou como denomina Foucault “práticas discursivas”. Para resgatar a complexidade e a multiplicidade de discursos e práticas em torno da infância, cabe compreender como tais práticas discursivas dialogavam com outras práticas, situadas no âmbito institucional, buscando captar a polifonia de saberes e práticas em torno da criança. Tais estudos nos permitem cada vez mais desnaturalizar concepões historicamente situadas. Assim é que o debate contemporâneo acerca da organização da escola fundamental, na oposição entre os modelos de escola seriada e a escola ordenada em torno de ciclos de aprendizagem, pode ser enriquecido na análise da construção histórica da idade escolar, associada à produção de saberes definidores das diferentes etapas da existência humana. Mais exatamente, o estudo da composição etária das salas e a análise dos níveis de aprendizagem dos alunos ao longo do século XIX nos permite perceber que não havia uma relação direta entre a idade cronológica do indivíduo e suas progressivas condições de aprendizagem. A relação entre níveis escolares de aprendizagem e idade cronológica, essa apreendida a partir do calendário romano, constitui uma construção relativamente recente na história da escolarização no Brasil; bem como a produção de saberes sobre o desenvolvimento humano fundado numa progressiva diferenciação biopsíquica anual constitui um recorte também recente. Como afirma Lloret, ao analisar o contexto contemporâneo: “mais do que ter uma idade, pertencemos a uma idade. Os anos nos têm e nos tempos de aprender 287 fazem; fazem com que sejamos crianças, jovens, adultos ou velhos [...] e isto nos situa uns e outros em grupos socialmente definidos” (1998, p. 14). Referências bibliográficas ARIÉS, Phillipe (1981). História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar. BOTO, Carlota (2002). “O desencantamento da criança: entre a Renascença e o século das Luzes”. In: FREITAS & KULMANN (orgs.). Os intelectuais na história da infância. São Paulo: Cortez. CAMBI, Franco (2000). História da pedagogia. São Paulo: Campus. CHERVEL, Andre (1991). “Historia de las disciplinas escolares: reflexiones sobre un campo de investigacion”. Revista de educación: Historia del currículum, Madri, n. 295, maio/ago. ELIAS, Norbert (1998). Sobre o tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. FARIA FILHO, Luciano & GONÇALVES, Irlen (2004). “Processo de escolarização e obrigatoriedade escolar: o caso de Minas Gerais (1835-1911)”. In: FARIA FILHO, Luciano (org.). A infância e sua educação. Belo Horizonte: Autêntica. FOUCAULT, Michel (1986). Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes. FRAGO, A. (1993). Tiempo, historia y educacion. (mimeo). GÉLIS, Jacques (1991). “A individualização da criança”. In: ARIÉS, P. (org.). História da vida privada. São Paulo: Companhia das Letras, vol. 3. GOUVEIA, Maria Cristina Soares (2003). “A escolarização da meninice nas minas oitocentistas: a individualização do aluno”. In: FONSECA, Thaís & VEIGA, Cynthia Greive (org.). História e historiografia da educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica. GUSMÃO, Alexandre (2000). A arte de criar bem os filhos na idade da puerícia. Pelotas: Seiva. KANT, Imanuel (1996). Sobre a pedagogia. São Paulo: UNIMEP. 288 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 KOHAN, Walter (2003). Infância. Entre a educação e a filosofia. Belo Horizonte: Autêntica. LEITE, Miriam Moreira (1997). “A infância no século XIX segundo memórias e livros de viagem”. In: FREITAS, M. (org.). História social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez LLORET, Caterina (1998). “As outras idades ou as idades do outro”. In: LARROSA, J. (org.). Imagens do outro. Petrópolis: Vozes. NARODOWSKI, M. (1994). Infancia y poder. Buenos Aires: Aique. PINTO, Luiz Maria da Silva (1832). Dicionário da língua brasileira. Ouro Preto: Typographia de Silva. PRIORI, Mary (2000). “Introdução”. In: PRIORI (org.). História da criança no Brasil. São Paulo: Campus. ROUSSEAU, J. J. (1995). Emílio ou da educação. São Paulo: Martins Fontes. SCHWARCZ, Lilia (2001). “Falando do tempo”. Sexta feira, São Paulo: Hedra, n. 5 [tempo]. SILVA, Franklins Leopoldo (2001). “Tempo: realidade e símbolo”. Sexta feira, São Paulo: Hedra, n. 5 [tempo]. SILVA, Marcio (2001). “Perspectivas do tempo”. Sexta feira, São Paulo: Hedra, n. 5 [tempo]. Resenha A educação dos negros: uma nova face do processo de abolição da escravidão no Brasil autor cidade editora ano Marcus Vinícius Fonseca Bragança Paulista EDUSF 2002 “Elucidar o sentido da questão educacional no contexto do processo de abolição do trabalho escravo e sua importância para a proposta de integração dos negros à sociedade como seres livres” (p. 11) é o objetivo de A educação dos negros: uma nova face do processo de abolição da escravidão no Brasil de Marcus Vinícius Fonseca. Marcus Vinícius Fonseca graduou-se em Filosofia pela PUCMG e fez o mestrado em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG. É professor de Filosofia e História da Educação na FUMEC e na UEMG, e atualmente faz doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Este trabalho vem acrescentar mais um título à importante série Coleção Estudos CDAPH, editada pela EDUSF, que muito vem contribuindo para os estudos de história da educação na atualidade. Através da análise de fontes primárias como as Falas do Trono; relatórios e anexos de relatórios dos ministros e secretários de estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas; os projetos de lei apresentados à Câmara dos Deputados sobre a Lei do Ventre Livre e a própria Lei; anais de congressos agrícolas, que reuniram proprietários rurais; além de obras de ativistas políticos que militaram em prol da abolição; e embasado numa importante bibliografia sobre escravidão, história da infância e história da educação brasileira, o autor pretende “realizar uma análise das concepções e práticas educacionais em relação aos negros e que foram apresentadas como essenciais para o encaminhamento da abolição do trabalho escravo no Brasil” (p. 9), analisando de 1867 a 1889, sendo a ênfase dada à Lei do Ventre Livre, de 1871. 290 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 Fonseca adverte que os sujeitos da pesquisa são políticos, intelectuais e senhores de escravos, “os indivíduos que mais diretamente se envolveram com o projeto de abolição da escravidão e a arquitetura jurídica construída para realizar essa tarefa” (p. 11). Fonseca justifica a utilização da visão dos senhores, pois essa representaria “a tentativa de se produzir novas estratégias de dominação para os negros durante os anos finais da escravidão”, já que ele entende essa educação como “um mecanismo de dominação que permitisse a manutenção da hierarquia social e racial” (p. 16). Mesmo sendo o objetivo do autor tomar como pontos de vistas o dos opressores, faz falta ao trabalho uma nota sobre a importância de se pensar na posição dos próprios negros em relação à educação. O livro se divide em três partes: “A educação dos negros na legislação abolicionista: a Lei do Ventre Livre (1871)”, “Propostas e práticas educacionais em relação à educação de crianças negras de 1871 a 1888”, e “Características das práticas educativas nas associações para as crianças nascidas livres de mães escravas”. Na primeira parte do Capítulo 1, “A Lei do Ventre Livre em meio ao processo de abolição”, o autor realiza uma discussão sobre a historiografia da abolição e explicita sua posição: seu objetivo seria ressignificar a Lei do Ventre Livre, entendendo-a não apenas como um instrumento usado pela elite, mas como possibilidade de “reconhecimento dos negros como elementos presentes na sociedade [...] como também de forjar resistências no cotidiano de uma sociedade que se encontrava em transformação” (p. 29). Ele discute mais especificamente a Lei do Ventre Livre na historiografia e o próprio texto da Lei, considerando haver nela uma intencionalidade pedagógica, que seria a concepção de liberdade associada a um modelo de sociedade desejado pela elite brasileira, principalmente a agrária, que era a detentora do maior número de escravos. A segunda parte, “A educação como uma das condições para a abolição do trabalho escravo”, traça um panorama da situação brasileira no período da abolição. A estrutura escravista estaria sofrendo pressões pela abolição: as internas – as mais variadas formas de resistência dos escravos, que o autor não aprofunda; e as externas representadas pela revolução no Haiti, presente no imaginário da elite brasileira, revolução esta que coloca em cheque a noção de controle social sobre os escravos; a guerra civil americana, que teria mostrado resenha ao Brasil como a questão servil divide um país, e por último a pressão inglesa pelo fim do tráfico, que ameaçava a soberania nacional. Essa conjuntura teria levado a que “o governo iniciasse um processo de tratamento da questão da escravidão” (p. 41), momento em que a questão da educação dos escravos aparece, já que para Fonseca era um consenso entre o grupo analisado a necessidade de extinguir a escravidão lenta e progressivamente, de forma que não abalasse a sociedade. A Lei do Ventre Livre, que previa que os filhos de escrava nascessem livres mas sendo mantidos no mínimo até os oito anos de idade com os senhores, e caso estes desejassem, até os 21 anos, seria a preparação dos negros para a liberdade, já que nesse tempo os senhores deveriam “crial-os e educal-os”. Fonseca resume: “a libertação do ventre e a educação eram articuladas como dimensões fundamentais na preparação dos negros para a liberdade” (p. 44). Por fim, “Criação e educação: entre o público e o privado”, trata da discussão sobre a quem recairia a responsabilidade de educar as crianças nascidas livres. O autor mostra que a Lei do Ventre Livre trouxe um problema: os filhos de escravas nasceriam livres, mas seriam mantidos até os oito anos com os senhores, portanto seriam educados como escravos. Fonseca recupera os debates acerca do projeto da Lei do Ventre Livre e identifica a intenção de alguns setores de atribuir aos senhores a obrigação da educação das crianças negras, enquanto os setores afinados com os proprietários desejavam que o Estado se incubisse da tarefa. Fonseca mostra que a Lei ganhou um caráter dúbio, já que a palavra “educar” foi trocada por “criar”, eximindo os proprietários da obrigação legal de destinar instrução para os escravos nascidos após 1871. Segundo o autor, essa troca se deveu à negociação feita entre parlamentares e senhores de escravos para que a lei fosse aprovada, já que “criar e educar eram praticamente sinônimos no domínio social” (p. 53). Fonseca considera, portanto, que há uma cisão: as crianças que fossem mantidas pelos senhores até 21 anos, como a lei previa, seriam tratadas como escravos, não recebendo instrução; as que fossem entregues aos Estado aos oito anos, estariam ligadas à educação escolar. A distinção entre educar e criar se daria, portanto, pelo acesso à instrução. Ele finaliza o capítulo se apropriando do termo cunhado por Célia Maria Marinho de Azevedo, a pedagogia da transição, que trata de como se deu o processo de abolição no Brasil, que foi direcionada para a manutenção da ordem 291 292 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 vigente. Para Fonseca, mesmo que nem todas as crianças nascidas após 1871 de mãe escrava tivessem acesso à instrução, o debate gerado acerca da importância desta mostra que a educação “foi defendida como uma estratégia voltada [...] para a manutenção da hierarquia racial construída ao longo da escravidão” (p. 59). O capítulo 2 começa com a subdivisão “A educação das crianças nascidas livres de mãe escrava de 1871 a 1879”, em que Fonseca retoma a discussão sobre a ambigüidade da Lei do Ventre Livre acerca dos padrões educacionais destinados às crianças nascidas livres. Isto é, as entregues ao Estado, sendo instruídas e as mantidas pelos senhores, educadas nos moldes escravocratas. Para ele, 1879 é um marco, pois nesse ano os proprietários deveriam optar por entregar as crianças, recebendo uma indenização por elas, ou mantê-las em seu poder até os 21 anos. O autor acompanha as discussões efetuadas durante o período, mostrando a preocupação do ministro da Agricultura com o destino das crianças: o governo não teria recursos para indenizar os senhores se uma grande parte deles optasse por entregar as crianças, e também não haveria instituições educacionais suficientes para receber as crianças, caso isso ocorresse. Ele analisa os debates do Congresso Agrícola do Rio de Janeiro e o Congresso Agrícola do Recife, realizados em 1878, como um espaço de discussões do governo com os senhores de escravos. A principal preocupação presente neles seria a “crise na lavoura”. No congresso realizado no Rio de Janeiro, a carência de braços era identificada como uma das preocupações, assim como a carência de capitais. Esses proprietários reivindicavam a necessidade de investimentos e a imigração externa. No congresso realizado em Recife, a crise seria um problema de capitais, com os proprietários de terra reivindicando financiamentos, sendo desfavoráveis à imigração. Segundo Fonseca, todos esses agricultores apresentavam opniões favoráveis à educação dos ingênuos, mas uma educação voltada para o trabalho, com um caráter agrícola, o que para o autor teria levado à geração de propostas de criação de escolas agrícolas, mas que se dividiria em dois sistemas diferenciados: “um, voltado para os filhos dos proprietários, verdadeiros centros de excelência que propiciariam a absorção e a introdução de técnicas modernas na agricultura brasileira; e outro, uma rede de escolas-orfanatos, colônias ou escolas primárias, que propiciariam a habilitação profissional dos ingênuos e dos resenha pobres de uma maneira geral” (p. 84); sendo que Fonseca entende que a educação dos ingênuos para os agricultores da região Norte seria uma parte da preparação da chamada mão-de-obra nacional, enquanto para os da região Sul, seria um estágio de preparação para a introdução do trabalho estrangeiro no país. Além disso, a educação agrícola representaria um modo de prender os ex-escravos ao campo, evitando a fuga para os centros urbanos que seria mais um fator de perda de trabalhadores para a agricultura. O autor finaliza o capítulo mostrando que toda essa preocupação com uma pretensa educação diferenciada para os nascidos livres (a “instrução”) não se concretizou plenamente, já que houve uma prática generalizada de manter os menores até 21 anos, uma forma de manter uma mão-de-obra barata e acessível. Apresentando um relatório do ministro da Agricultura de 1885, Fonseca mostra que menos de 1% das crianças foram entregues ao Estado, o que para ele representa que “a maioria das crianças que nasceram livres de mãe escrava após 1871 foram educadas, ou criadas, pelos senhores de suas mães e não necessariamente a partir dos padrões educacionais que os debates em torno da Lei do Ventre Livre haviam sugerido como necessários à transição para a sociedade organizada a partir do trabalho livre” (p. 98). No item seguinte, “A educação das crianças nascidas livres de mãe escrava de 1879 a 1888”, Fonseca analisa a educação das crianças entregues ao governo a partir das instituições que as receberam. Esse período seria de refluxo nas preocupações acerca da educação das crianças negras, a relação do Estado com as instituições criadas para receber as crianças teria mudado: antes de 1879 estas instituições eram incentivadas, recebiam apoio financeiro, eram objeto de preocupação do Estado. Com a verificação de que a quantidade de crianças entregues fora abaixo das expectativas, a preocupação com essas crianças muda. A questão dos ingênuos teria se deslocado do lugar de origem: da questão abolicionista para a questão da infância desamparada. Segundo ele, essa inversão seria uma “forma promissora descoberta pelos senhores para resolver os problemas relativos à falta de mão-deobra” (p. 113). Essas crianças, depois de passarem pela educação em determinadas instituições – especialmente agrícolas –, seriam aproveitadas como “agregados” que virariam mão-de-obra gratuita e fiel. Fonseca analisa alguns casos de asilos e colônias agrícolas criadas nesse período em diferentes estados (Goiás, Rio de Janeiro, Pernam- 293 294 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 buco) para mostrar isso, entretanto deixa de lado possíveis especificidades de cada região e das instituições. Mas ele mostra como crianças pobres, vindas ou não do cativeiro, foram igualmente utilizadas para suprir a falta de mão-de-obra no período. Para ele, a questão da educação dos ingênuos foi sendo “rapidamente diluída em meio aos problemas da infância pobre, que passa a ser o lugar onde as questões relativas às crianças negras serão tratadas durante o final do século XIX e, possivelmente, nas décadas iniciais do século XX” (p. 115). No capítulo 3, a primeira parte constitui-se de “A condição racial dos alunos das associações para educação dos filhos livres da mulher escrava”, em que Fonseca discute a terminologia “libertos” utilizada para as crianças nascidas livres, que segundo ele “revela os limites da definição da liberdade contida na lei, reafirmando, no plano social, a condição de escravidão dessas crianças” (p. 118), já que em tese elas nasceriam livres, não podendo, portanto, ser chamadas de “libertos”. Analisando estabelecimentos voltados para a educação de crianças pobres, ele conclui que se não eram explicitamente destinadas às crianças negras, a maior parte de sua clientela o era. A seguir, Fonseca passa às “Características das práticas pedagógicas das associações para educação das crianças nascidas livres de mulher escrava: instrução, moral e trabalho”. Ele analisa os três elementos colocados em destaque pelos programas de ensino das instituições que se voltaram para a educação daquelas crianças: a educação para o trabalho, a educação moral de caráter religioso e a instrução. Mostrando que os dois primeiros elementos seguiam parâmetros da escravidão, serviam para formar seres úteis à sociedade, isto é, bons trabalhadores que teriam virtudes como paciência, humildade, resignação, submissão. Segundo o autor, a instrução elementar foi o único elemento novo, a valorização da escrita e da leitura teria sido “apresentada como um fator importante no período de transição para a sociedade livre” (p. 139), sendo mesmo cobrada pelo Estado às associações ou aos particulares que recebiam tutelas de crianças entregues. Infelizmente, ele não se pergunta por que essa instrução não era cobrada dos senhores que mantinham as crianças, já que a divisão estanque sugerida entre criar (senhores) e educar (Estado) o impediu de procurar ações diferentes, pois sabe-se da existência de crianças mantidas em poder dos senhores e que tiveram acesso à educação escolar. Mesmo considerando a instrução um elemento de resenha “vantagem” (p. 126) das crianças entregues ao Estado sobre as mantidas pelos senhores, ele demonstra que “o discurso educacional em relação aos negros e sua liberdade nada tem de revolucionário e de transformação radical” (p. 142). A educação vinculada à abolição da escravidão na verdade seria responsável por conservar os negros como trabalhadores subalternos, como base da pirâmide social: a educação foi reivindicada com propósitos claros de minimizar o processo de transformação da sociedade e conservar a ordem herdada do período escravocrata” (p. 142). O terceiro capítulo é finalizado com “A infância negra no processo de abolição do trabalho escravo”. Para o autor, a criança negra seria uma métafora do trabalhador ou da sociedade futura, as discussões que a cercaram não tinham como prerrogativa sua proteção ou a defesa de seus direitos, mas sim faziam parte de “uma proposta mais ampla de reorganização da sociedade” (p. 143). Através dos debates realizados entre juristas, políticos e intelectuais do período acerca dos termos atribuídos às crianças negras (filhas de escravos e exescravos) Fonseca conclui que o fato de serem tratadas como ingênuos ou libertos demonstra o espaço social a que esses indivíduos são relegados, trariam o estigma da escravidão, o que inviabilizaria o surgimento de uma sociedade igualitária. Fonseca considera o período que analisa como um momento de ressignificação da infância escrava: haveria uma mudança de atitude em relação a essas crianças, cuja principal caracterísitca seria a importância dada à educação, evidenciada nas críticas que as práticas educativas em relação a elas começaram a sofrer a partir de vários setores da sociedade. Para isso, ele analisa o romance As vítimas-algozes: quadros a escravidão, de 1869, escrito por Joaquim Manoel de Macedo, que criticaria a educação recebida pelas crianças escravas no cativeiro e defenderia a necessidade de que elas recebessem uma educação que as preparasse para a liberdade, o que para Fonseca “levou para o texto literário aquilo que se encontrava como uma preocupação fundamental dos articuladores da Lei do Ventre Livre, de que era preciso não só pensar as formas mais convenientes de se colocar fim na escravidão mas projetar estratégias que preparassem os negros para a liberdade e combatessem os vícios que eles traziam da escravidão” (p. 166). Fonseca analisa a mudança do estatuto das crianças negras, que de um “adestramento” que recebiam durante a escravidão teriam passado a “edu- 295 296 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 candos” ou “alunos” nas instituições que os receberam, assim como uma mudança nos ciclos de idade, diferentemente do que ocorria no cativeiro, quando a partir de 7 ou 8 anos já recebiam atribuições e responsabilidades de escravos. Fonseca retoma a discussão da fusão da questão da criança negra com a questão da criança pobre e desamparada, mostrando que a especificidade das primeiras seria o preconceito racial que elas sofriam. Seu intuito não é aprofundar a questão, mas ele mostra uma relação interessante entre educadores e higienistas, sugerindo que a relação entre higienismo e práticas discriminatórias na educação que vigiriam no início do século XX são resultado desse amplo processo, quando os negros são percebidos como um problema a ser enfrentado pelos interesses da pátria. Apesar de alguns problemas pontuais citados durante essa resenha (generalizações partindo de algumas instituições específicas e considerando-as para todo o país; uma divisão muito estanque entre criar e educar, não levando em conta que crianças mantidas pelos senhores também tiveram acesso à escolarização; desinteresse em tentar apreender a percepção que os próprios negros tiveram do processo estudado e os diferentes modos como a educação foi recebida e usos que dela podem ter feito os próprios escravos e ex-escravos), Marcus Vinícius da Fonseca realiza um trabalho de peso sobre a educação de escravos e ex-escravos, um assunto ainda pouco estudado e que merece a reflexão dos pesquisadores, pois diz respeito diretamente à formação da nação brasileira. Durante todo o trabalho, Fonseca chama a atenção para a importância de novas pesquisas sobre o assunto, concluindo que “ao contrário do que se possa pensar em relação à educação enquanto mecanismo de uma possível promoção social dos negros em uma sociedade livre e de um discurso transformador, o que encontramos foi a construção de sofisticadas estratégias de dominação, cujo aspecto mais relevante foi a tentativa de estabelecer uma linha de continuidade com a sociedade escravista” (p. 184). Surya Aaronovich Pombo de Barros Mestranda no Programa de História e Historiografia da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo E-mail: [email protected] Nota de Leitura História da Educação e da Cultura en Galícia autor cidade editora ano Antón Costa Rico Galícia Vigo Edicións Xerais de Galícia 2004 Este sugestivo e ambicioso título encabeça uma obra de nada menos que 1.245 páginas, recentemente lançada na Espanha, mais precisamente na região da Galícia. Escrito em galego, com o fito de contribuir para a normalização do idioma, como confessa o autor, o livro combina a busca da identidade cultural da Galícia a um sério tratamento historiográfico, cujas filiações são estabelecidas com a Nova História francesa e a História Cultural. Construída em três planos que se interpenetram e se completam – a Europa, a Espanha e a Galícia –, a obra se estende do século IV, com a configuração do território galego do ponto de vista social e político, ao século XX, com a análise do contexto educacional dos anos 1990. Ao longo do texto, acompanhamos a tessitura de uma história dos processos educativos na Galícia do legado clássico ao medievo, da renovação cultural renascentista à ilustração, do Antigo Regime ao Estado Liberal, das inovações técnico-científicas à Escola Nova, atravessando os vários níveis e modalidades de ensino, sempre a partir de uma perspectiva comparativa que ao mesmo tempo que destaca as singularidades da cultura escolar galega, constantemente examina a correspondência e as inter-relações entre o panorama educacional da Galícia e o espanhol e europeu. Assumindo como proposta escrever “uma história que toma em consideração a Galícia como sujeito histórico e cultural e aos galegos como atores fundamentais”, Antón Costa Rico percebe homens, mulheres e crianças como personagens privilegiados da narrativa histórica e procura recuperar as estratégias de escolarização masculina, feminina e infantil empreendidas na longa duração. Nesse sentido, recusa-se a elaborar uma história das idéias pedagógicas e das políti- 298 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 cas educacionais tout court, almejando adentrar os processos educativos na percepção das inteligibilidades internas dos discursos e práticas tomados historicamente. O texto condensa e reelabora os investimentos anteriores de pesquisa do autor na arena historiográfica. Nele reencontramos, dentre outros, os aportes de seu doutoramento, Mestre e escolas, publicado em 1989, sobre a escola primária galega entre 1900 e 1936, no qual as teorias e práticas escolares escolanovistas são visitadas. Revemos La educación de la ninez y de la juventud, em colaboração a Maria Álvarez Lires, compilação de textos escritos pelo monge beneditino Martin Sarmiento, no século XVIII. O volume se completa com mapas, ilustrações e tabelas e reúne índices analítico e onomástico, de instituições educativas e obras citadas, tornando aprazível a leitura e facilitando o acesso às informações coligidas e aos entendimentos construídos. É um trabalho de fôlego, tramado com erudição e argúcia. Por certo, como assume o próprio autor, traduz uma história militante da Galícia, elaborada, entretanto, sem perder de vista o rigor histórico e teórico. Porta-se, aliás, como toda boa história: apresenta seus compromissos com o passado e os laços que a prendem ao presente, assentando as análises sobre o terreno da sólida pesquisa em fontes e apoiando a escrita na requintada arte de narrar. Diana Gonçalves Vidal Profa. Dra. de História da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo Orientação aos Colaboradores A Revista Brasileira de História da Educação publica artigos, resenhas, traduções e notas de leitura inéditos no Brasil, relacionados à história e à historiografia da educação, de autores brasileiros ou estrangeiros, escritos em português ou espanhol, reservando-se o direito de encomendar trabalhos e compor dossiês. Os artigos devem apresentar resultados de trabalhos de investigação e/ou de reflexão teórico-metodológica. As resenhas devem discorrer sobre o conteúdo da obra e efetuar um estudo crítico, além de poder versar sobre textos recentes ou já reconhecidos academicamente. As notas de leitura devem trazer uma notícia de publicação recente. Seleção dos trabalhos Os artigos são submetidos a dois pareceristas ad hoc, sendo necessário a aprovação por parte de ambos. No caso de divergência dos pareceres, o texto será encaminhado a um terceiro parecerista. A primeira página deve trazer o título da matéria, sem indicar nome e inserção institucional do autor. Deve conter também o resumo em português ou espanhol e o resumo em inglês (abstract), com extensão máxima de sete linhas, e cinco palavras-chave em português ou espanhol e em inglês. Em folha avulsa, o autor deve informar o título completo do artigo em português e em inglês, seu nome, titulação e instituição a que está vinculado, projetos de pesquisa dos quais participa, endereço, telefone e e-mail. As resenhas e notas de leitura são avaliadas pela Comissão Editorial. Normas gerais para aceitação de trabalhos Os originais devem ser encaminhados em três vias impressas e uma cópia em disquete, observando-se o formato: 3cm de margem superior, inferior e esquerda e 2cm de margem direita; espaço entre linhas de 1,5; fonte Times New Roman no corpo 12. Os trabalhos remetidos devem respeitar a seguinte padronização: Extensão mínima e máxima, respectivamente: • Artigos – de 30 mil caracteres a 60 mil caracteres (aproximadamente de 15 a 30 páginas). Cada resumo que acompanhar o artigo deverá ter, no máximo, 700 caracteres (contando 300 revista brasileira de história da educação n° 8 jul./dez. 2004 espaços). Para contar os caracteres no Word, no item “Ferramentas”, a opção “Contar palavras”. Para as palavras-chave, consultar as Bases de Dados: Lilacs, Medline, Sport Discus. • Resumos e abstracts – os resumos e abstracts dentro de cada artigo não devem ter mais de 4 linhas cada. • Resenhas – de 8 mil caracteres a 15 mil caracteres (aproximadamente de 4 a 8 páginas). • Notas de leitura – de 2 mil caracteres a 4 mil caracteres (aproximadamente de 1 a 2 páginas). As indicações bibliográficas, no corpo do texto, devem vir no formato sobrenome do autor, data de publicação e número da página entre parênteses, como, por exemplo, (Azevedo, 1946, p. 11). As referências no final do texto devem seguir as normas da ABNT NBR 6023:2000. Notas de rodapé, em numeração consecutiva, devem ter caráter explicativo. Vale notar que todas as citações devem vir entre aspas e não devem estar em itálico, salvo trechos que se deseja destacar. A Comissão Editorial não aceitará originais apresentados com outras configurações. A revista não devolve os originais submetidos à apreciação. Os direitos autorais referentes aos trabalhos publicados ficam cedidos por um ano à Revista Brasileira de História da Educação. Serão fornecidos gratuitamente aos autores de cada artigo cinco exemplares do número da revista em que seu texto foi publicado. Para as resenhas e notas de leitura publicadas, cada autor receberá dois exemplares. Os originais devem ser encaminhados à Comissão Editorial, com sede no Centro de Memória da Educação – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. Av. da Universidade, 308 – Bloco B – Terceira Fase – Sala 40, CEP 05508-900, São Paulo-SP. Informações adicionais podem ser obtidas no e-mail: [email protected] ou no telefone (11) 3091-3194, das 13h às 18h. Contents EDITORIAL 7 ARTICLES Celebration and visibility: Teacher’s Day and the different images of the profession in Brazil (1933-1963) Paula Perin Vicentini The law of the school: meanings of building of primary schooling in Portugal and Brazil (Santa Catarina State) through legislation (1880-1920) António Carlos Luz Correia and Vera Lucia Gaspar da Silva Ugly, dirty and wicked: the sailor apprentices in Paraná in 19th century Vera Regina Beltrão Marques and Sílvia Pandini Between the cultural history and literary theory: poin to one history of school criterions in Brazil Luis Eduardo M. de Oliveira Between the pedagogical biography and autobiography: the childhood daily Egle Becchi The constitution of school knowledge and the childhood representation in Fernando Azevedo improvement from 1927 to 1930 Sônia Camara 9 43 85 105 125 159 FILE: SOCIAL TIMES, SCHOOL TIMES Presentation Maria Cristina Gouveia 181 The class given out of room: time of school excursion in Mexico, 1904-1908 Lucía Martínez Moctezuma 183 Sometimes. Festivity days and Mexican student vacations Anne Staples 205 Time and society in the Real Seminario of Minería 1792-1821 Eduardo Flores Clai 225 From young to students. The power of time and the school order Antonio Padilla Arroyo 243 Time to learn: The historical production in the school age Maria Cristina Soares de Gouveia 265 BOOK REVIEWS The education for black: A new approach of the process of slavery abolition in Brazil By Surya Aaronovich Pombo de Barros 289 NOTE READING The history of education and culture in Galicia By Diana Gonçalvez Vidal 297 GUIDES FOR AUTHORS 299
Download