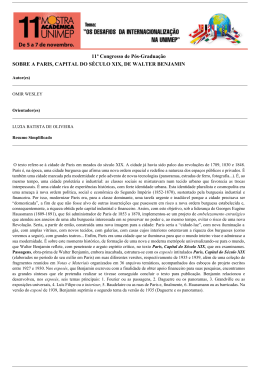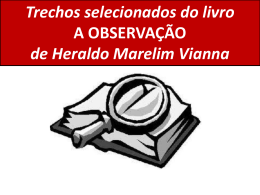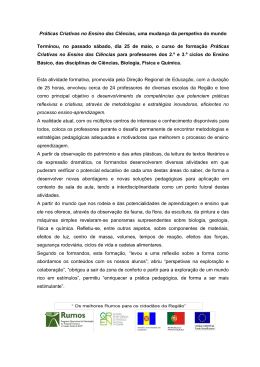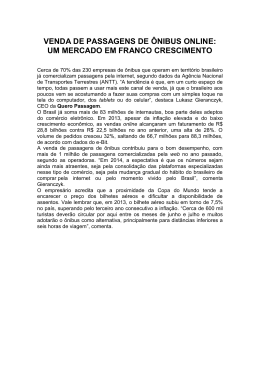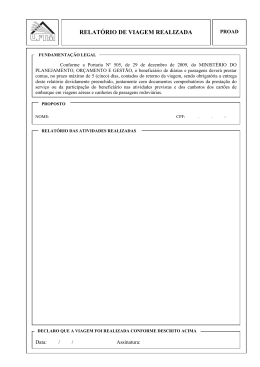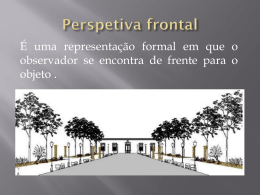Sobre o ver no século XIX: os panoramas e a modernização da visão Elane ABREU1 Resumo: Após a leitura de “Paris, a capital do século XIX”, texto de Walter Benjamin, datado de 1935, foi possível destacar o tema dos panoramas como ponto de partida para este artigo. A fim de discutir o panorama não só como artefato ótico que possibilita ao observador um olhar circular e móvel de paisagens, este texto também aborda a visão panorâmica da cidade - muito própria à literatura da época -, a experiência do flâneur nas passagens e sua dinâmica entre interior e exterior. Os panoramas, formas de entretenimento precedentes ao cinema, muitas vezes, construídos nas extremidades das galerias, atraíam olhares sedentos por novidade. Não foi à toa que sua difusão mundial como espetáculo foi também acompanhada da propagação de vários outros aparelhos de visão, como o panógrafo, o estereorama e o ciclorama. Nessa época, arte e técnica unem-se no artefato e na manifestação de um sentimento de totalidade ilusório, mas ao mesmo tempo verdadeiro àquele que habita a cidade em vias de modernização. Palavras-chave: Visualidade; Imagem; Modernidade. “Em nossa época, tão rica em pano-, cosmo-, neo-, mirio-, kigo- e dioramas”. Walter Benjamin, Passagens, arquivo Q 1,1 Introdução Na cidade de Paris, o modo panorâmico de observar a imagem do mundo e da natureza dentro de uma caixa, na qual o espectador era envolvido pelo espetáculo de grandes 1 Especialista em Teorias da Comunicação e da Imagem (UFC), mestranda em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). pinturas e efeitos de luz, consistiu em uma das perspectivas que alteraram a relação desse espectador com a paisagem, em época de mutações do espaço urbano. O século XIX transformou não só a paisagem, mas o sentimento de pertencimento do habitante a uma cidade que se propunha a abarcar o mundo. Dentre as fantasmagorias do espaço e da natureza, muito próprias aos anseios deste tempo de limiar da modernidade, podemos destacar as passagens e os panoramas. As primeiras por serem a “casa” e, ao mesmo tempo, a “rua” desejadas por esse habitante de olhar ambulante, em especial, o flâneur; e os segundos por terem acolhido, no seu interior, o mundo em uma caixa cercada de pinturas (Ver FIG.1). Os panoramas, provenientes da técnica de imitação da natureza pela pintura, com auxílio de recursos luminosos e ruídos, foram um entretenimento que tornou enfático o efeito ilusório no espectador. Um modo de inclusão da natureza, das paisagens e cenas estrangeiras, na cidade. Uma fantasmagoria. Um esforço de ilusão do real e da totalidade do espaço. “Foi incansável o esforço de tornar os panoramas, por meio de artifícios técnicos, locais de uma imitação perfeita da natureza” (BENJAMIN, 2007, p.42). Esforço esse que, manifestado na reprodução das mudanças de luz na paisagem, simulando o nascer do dia e até o murmúrio das cascatas, ajudou na constituição daquilo que posteriormente emergiria: o cinema, tanto mudo quanto falado. FIGURA 1 – Desenho que acompanha a patente do Panorama de Fulton (Paris, 1799). FONTE – Coleção INPI Apropriar-se da visão do mundo por meio de técnicas óticas que propiciem imagens mais próximas da visão total e que eliminem distâncias entre real e ilusão, tem sido um dos anseios do observador que se vem constituindo já antes do século XIX, por meio, por exemplo, da câmera escura. A visualidade da cidade neste tempo já dava sinais de um indivíduo cada vez mais intrigado com suas múltiplas possibilidades de pontos de vista. O caso das vistas do pintor Canaletto, ainda no século XVIII, aponta, neste sentido, para a existência de um observador monádico2 da cidade de Veneza. Johnatan Crary (1992, p.52), em sua revisão crítica da visualidade construída pelo modelo da câmera escura, comenta que “…the mid-eighteenth century views of Venice by Canaletto, for example, disclose a field occupied by a monadic observer, within a city that is knowable only as the accumulation of multiple and diverse points of view” 3. Canaletto, fazendo uso da câmera escura, preocupou-se com a teatralidade da cidade. Sua perspectiva cenográfica (scenography) mostrava a cidade como se vista por um observador monádico, dotado de vários graus de clareza ou pontos de vista sobre um quadro. Seus cenários são possíveis organizações do espaço confuso das cidades, como mônadas, que dão a ver o todo por vários ângulos, cada um em seu quadro, sem privilegiar um centro. O olhar é deslocado. Quando se passa, no entanto, da câmera escura (séculos XVII e XVIII) para os aparelhos óticos (estereoscópio, panorama, diorama etc.), emerge, segundo Crary (1992), um novo observador, que rompe com a visão estática e posicionada do mundo. O olhar, a partir de então, deixa de ser o do olho direto e passa a ser o das práticas visuais, ganhando uma mobilidade antes não experienciada. E neste sentido, destacamos a prática visual dos panoramas, no intuito de discutir não só o artefato técnico, mas os seus efeitos e inter-relações com o espaço das passagens. 2 Esclarecendo: o termo mônada, segundo Leibniz, refere-se a uma unidade espiritual indivisível e eterna, componente simples do universo. Sendo parte e também todo, ela é um ponto de vista sobre o mundo ao mesmo tempo em que é todo o mundo sob determinado ponto de vista. 3 Tradução livre da autora: as vistas de Veneza por Canaletto em meados do século dezoito, por exemplo, abrem um campo ocupado por um observador monádico, dentro de uma cidade que é reconhecível apenas como a acumulação de múltiplos e diversos pontos de vista. O panorama, o observador e a ilusão “Pela Invenção... pretende-se, através do desenho, da pintura e da disposição correta do todo, apresentar uma vista inteira de algum país ou situação, conforme aparece a um observador que gire em torno de si”. Esse pequeno trecho, segundo o pesquisador Laurent Mannoni (2003, p.188), foi extraído do texto de patente do panorama, de 1787, que pertence ao pintor irlandês Robert Barker. Já dessa breve descrição da “invenção”, destacamos o observador como figura central e o empenho em dar a ele uma “vista inteira” de determinada cena. Uma cena que abarque todo o alcance de sua visão. Era a estímulos visuais desse tipo que o habitante da metrópole (Paris, em especial) estava também sujeito nas famosas galerias comerciais. Ainda que a criação da palavra “panorama” seja datada do final do século XVIII, sob a patente do já referido pintor, o momento de forte difusão dos panoramas como espetáculo foi simultâneo à época das passagens (galerias), ou seja, na primeira metade do século XIX. Não era à toa que as construções dos panoramas, muitas vezes, eram nas extremidades das galerias e, também, não era por acaso que as galerias recebiam nomes que remetiam ao espetáculo: “Passagem dos panoramas”, “Passagem do Cairo”, dentre outros. A época dos panoramas, coincidindo, então, com a das passagens, está no limiar da modernidade. Os panoramas consistiam em grandes painéis circulares pintados de forma contínua e iluminados artificialmente, fixados nas paredes de uma rotunda. O observador ocupava uma plataforma central elevada, de onde podia ver, sob efeito da ilusão de ótica (iluminação, profundidade), um grande quadro que abarcava todo o seu horizonte. As mudanças na iluminação utilizada davam a impressão do decorrer do dia. Eram cenários de efeito de realidade, os quais simulavam a visão da natureza como uma representação fiel da cidade, em que o observador mergulhava em uma ilusão. Foram exemplos de sistemas de representação da natureza e da história4 mais monumentais do século XIX, sendo, muitas vezes, construídos em rotundas equivalentes a dois ou três andares. Vários aparelhos de visão que se difundiram nesse tempo propunham-se a dar a ver imagens “totais” da paisagem. Para citar alguns: panóptico, estereoscópio, panógrafo, 4 Representações da história, segundo Benjamin (2007), por se esforçarem em imitar seu objeto – o tempo. estereorama, ciclorama. O destaque dado ao panorama como prenúncio do espetáculo integral e do “cinema total” é mencionado por Mannoni (2003), que diz que “essas rotundas, essas caixas ópticas gigantes conheceram um sucesso prodigioso ao longo de todo o século XIX, até os anos 1900. Não foram destronadas pelo cinematógrafo senão após uma luta feroz” (MANNONI, 2003 p. 187). Ainda sem efeito de animação, já que sua iluminação era natural, vinda de uma abertura envidraçada no teto, a tela panorâmica descortinava ao observador uma grandiosa representação (seja de uma paisagem, um monumento, uma cena de batalha). O público era estimulado a viajar por outros espaços sem sair do lugar. Os panoramas e os dioramas5 seriam as fantasmagorias de reprodução da paisagem mais acabadas antes do cinema e da fotografia. Nelson Brissac Peixoto (2003, p.111), comenta que Os panoramas deixam transparecer um pathos típico do século XIX: ver. Tal como a natureza é trazida para a cidade, por sua vez, a cidade é convertida num horizonte natural. Nos panoramas, arremata Benjamin, a cidade ganha as dimensões de uma paisagem, como também ela o seria, mais sutilmente, para o flâneur. A mesma disposição a visitar outros tempos e lugares manifesta nas feiras e nas histórias de aventuras. Desde a câmera escura de Canaletto, a visão do mundo pode ser concebida como em um campo de cenas potenciais, em que o olhar só pára com o fim de enquadrar. No entanto, o panorama se estabelece como paradigma do olho que não pára, o olho móvel, que deve girar para abarcar toda a paisagem. Dá-se cabo ao processo de autonomização do observador, que, com olhar móvel e ambulante, distancia-se da perspectiva pictórica, de ponto de vista localizado. A visão das ruas pelo flâneur pode passear com este mesmo princípio de olhar giratório. O flâneur, personagem conceitual desta época, muito discutido por Benjamin, como veremos à frente, incorpora a posição do observador que vê a cidade do seu ponto de vista particularizado. 5 “O diorama iria mais longe, retirando a autonomia do observador, situado numa plataforma que se movia lentamente, possibilitando vistas de diferentes cenas e mudanças nos efeitos de luz. O olhar é adaptado a formas mecânicas de movimento” (PEIXOTO, 2003, p.112). Sobre a forte aceitação dos panoramas e de suas variações no século XIX, André Parente (1999, p.127), aponta como possível motivo a forma de interação naturalmente aceita por quem participa do espetáculo. Esta forma “é muito parecida com o modo pelo qual somos habituados a perceber o mundo (como se nos encontrássemos em seu centro). Eis talvez a explicação psicológica da popularidade dos panoramas e seus variantes”. Vale ressaltar que esta auto-percepção a partir do centro não implica dizer que o espectador está sendo visto no centro. Ele é platéia. Contudo, tem a sensação de ver o espetáculo a partir de seu próprio centro, abarcado pelo espetáculo ilusório. À explicação de Parente, acrescentamos também outro possível motivo: a eliminação da distância entre o observador e o objeto representado. O aparente realismo do espetáculo deixa o objeto representado – a natureza - parecer ao alcance do tato. E isto remete à mesma eliminação de distância na relação entre interior e exterior das passagens, como veremos adiante. Ao mesmo tempo em que a cidade é ampliada em paisagem, ela é miniaturizada em interior. Dá-nos a sensação de que podemos abarcá-la, mesmo que na ilusão. “O panorama é, como nas passagens, fantasmagoria de cidade”, comenta Brissac Peixoto (2003, p. 113). Se não podemos, de fato, abarcar toda a paisagem, no panorama, há uma tensão entre deixar-se levar pela ilusão e distanciar-se em um movimento corporal. Isso se dá pela localização da experiência visual no próprio corpo, autônomo, de quem observa. Parente (1999, p.127-128) explica que esta “tensão leva o espectador a viver a imagem como sendo dupla: imagem da pintura e imagem do corpo se relacionam, se transformam, se hibridizam, juntas, em um movimento paradoxal”. Até aqui, notamos a dinâmica do real com a ilusão, do perto com o distante, do interior com o exterior, muito presente na discussão sobre os panoramas. Isso leva a crer que a forte difusão destes aparatos se deve ao êxito com que as imagens, ao proporcionarem uma visão ilusória, tornam os espetáculos ainda mais próximos da realidade ou, talvez, da verdade. A esse tema Baudelaire se referiu com certa nostalgia. Segundo Benjamin (1994b), Baudelaire gostava da “ilusão útil” proveniente dos dioramas. Estes artefatos, assim como os cenários de teatro, por serem eles “mentirosos”, tinham muito mais proximidade com a verdade. A ilusão ótica era uma maneira de não tomar as coisas como distantes. Baudelaire queria ver destruída a distância das pinturas de paisagem. Eu gostaria de ter de volta os dioramas com sua magia imensa e grosseira a me impor uma ilusão útil. Prefiro olhar alguns cenários de teatro, nos quais encontro, tratados habilmente em trágica concisão, os meus mais caros sonhos. Estas coisas, porquanto absolutamente falsas, estão por isso mesmo infinitamente mais próximas da verdade; nossos pintores paisagistas, ao contrário, são em sua grande maioria mentirosos, justamente porque descuidaram de mentir. (Baudelaire in Benjamin, 1994b, p. 142-143). Baudelaire, ao tocar na querela “proximidade e distância”, “verdade e sonho”, propiciada pelo artefato ótico, acena para uma discussão que vem a ser ainda mais forte na era da reprodutibilidade técnica, principalmente com a fotografia e o cinema: a revolução da arte com a técnica. Nesta direção, panoramas e passagens anunciam o novo que estaria por vir, antes de se tornarem puras mercadorias. É desse momento de mutação na experiência urbana que Benjamin trata em muitos de seus textos sobre Paris em modernização. É essa época que já sonha a próxima a que ele se dirige com a atenção e paciência do flâneur. Com os panoramas, a pintura começa a se emancipar da arte e a difusão desses artefatos, coincidente a das passagens, demonstra uma tendência do século XIX: tornar artísticas as necessidades técnicas. “Desta época originam-se as passagens e os intérieurs, os pavilhões de exposição e os panoramas. São resquícios de um mundo onírico. A utilização dos elementos do sonho no despertar é o caso exemplar do pensamento dialético. Cada época sonha não apenas a próxima, mas ao sonhar esforça-se em despertar” (BENJAMIN, 2007, p.51). Nesse tempo de sonho e despertar, limiar da modernidade, em que a vivência urbana hesita antes de se render às mercadorias propriamente ditas, é por onde flana aquele habitante de olhar ambulante e atento aos ritmos da cidade. Visão panorâmica: passagens e flânerie Benjamin (1994b, p.33) começa seu texto O Flâneur com a seguinte frase: “uma vez na feira, o escritor olhava à sua volta como em um panorama”. Observamos, já de início, literatura e fenômeno ótico se fundindo. O escritor olha a feira em busca do assunto de sua escrita como se estivesse observando uma paisagem panorâmica. Este gênero literário (1840), a literatura panorâmica, ocupa-se das descrições dos tipos humanos encontrados em feiras (vendedores, visitantes etc.), as chamadas fisiologias, vendidas em fascículos de bolso. Dentre os títulos dessa escrita panoramática, podemos citar Le livre Cent-et-un, Le Diable à Paris e La Grande Ville. “A calma dessas descrições combina com o jeito do flâneur, a fazer botânica no asfalto” (Idem, ibidem, p.34). Baudelaire, quando coloca Paris como tema de sua lírica, lança o olhar do homem sobre a cidade em que se sente como estranho, como comenta Benjamin (2007, p.47). “Trata-se do olhar do flâneur, cujo modo de vida dissimula ainda com um halo conciliador o futuro modo sombrio dos habitantes da grande cidade”. O flâneur ainda está no limiar tanto da burguesia quanto da grande cidade. Passeava pelas ruas parisienses sem rumo, anônimo, observando tudo, como em um panorama cuja paisagem é a multidão6. Ao passear, fazia da cidade um mundo em miniatura. E Paris, por ainda não possuir ruas largas - as transformações urbanísticas dirigidas pelo administrador francês Haussmann7 ainda não tinham sido executadas -, o caminhar do flâneur só pôde ser pleno nas galerias, que eram passagens cobertas de vidro e revestidas de mármore, repletas de estabelecimentos comerciais (Ver. FIG.2). Essas galerias “são um meio-termo entre a rua e o interior da casa. (...) A rua se torna moradia para o flâneur que, entre as fachadas dos prédios, sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes” (Idem, 1994b, p.35). 6 “A muitidão é o véu através do qual a cidade familiar acena para o flâneur como fantasmagoria”. (BENJAMIN, 2007, p.47). É a paisagem para o flâneur, que, como Baudelaire, precisava perder-se nela para sentir-se sozinho. 7 Com a “haussmanização”, sob o domínio de Napoleão III, os citadinos sentem-se alienados pelo apogeu do capitalismo. Haussmann faz surgir a especulação fraudulenta de modo que a população proletária, pelo forte aumento dos aluguéis, é impelida para os subúrbios. Conhecido como artista demolidor, causa o estranhamento da cidade nos parisienses. Eles não se sentem mais na cidade como em sua própria casa. Os bairros não parecem ter mais uma própria fisionomia. É despertada uma consciência de que a cidade é desumana (BENJAMIN, 2007). FIGURA 2 – Passage de l’Opéra”, Paris. FONTE – Photothèque des Musées de la Ville de Paris. Clichê: Habouzit Por este mesmo princípio de miniaturização do mundo é que as fisiologias transformaram os bulevares em interiores, ao mesmo tempo em que afastavam qualquer visão perigosa da cidade e dos seus habitantes. Com isso, podiam tecer, à sua maneira, a fantasmagoria da vida parisiense. Davam, portanto, uma visão limitada e inofensiva da cidade grande, na qual, certamente, ninguém estava imune aos conflitos, à concorrência, à disputa de interesses. Logo, os fisiologistas foram ultrapassados, dando lugar à literatura, também popularesca, que expunha o lado inquietante e ameaçador da vida urbana: os romances policiais. No papel do detetive, o flâneur também pôde ter as melhores perspectivas. Sua indolência se une à sagacidade criminal. Seu olhar, sob a perspectiva vigilante, vai fazê-lo seguir uma pista e desvendar um crime. “Com isso se compreende como o romance policial, a despeito de seu sóbrio calculismo, também colabora na fantasmagoria da vida parisiense” (Idem, ibidem, p.39). As aventuras policiais passam a ser espectros da vida em Paris. Mostram a cidade como uma mata em cujo terreno se deve caçar um criminoso. É na época dessas aventuras policiais que o intérieur, recinto do burguês, nas suas diversas facetas, surge como sustento das ilusões. Em seu mundo privado, o morador reprime as reflexões sociais. Ele tenta despir seus objetos do caráter de mercadoria para dar a eles um valor afetivo, em vez do valor de uso, de utilidade, como faz o colecionador. Todos os seus rastros estavam bem guardados no intérieur. Tanto, que sua morada era seu mundo privado e seus objetos eram guardados em caixas, estojos, protetores etc, dando à sua casa um caráter ainda mais particular. A história de detetive, então, vem para investigar os rastros dessas pessoas privadas. Poe, como o primeiro fisiognomista do intérieur, aponta, em seus romances, os criminosos como pessoas da burguesia. Neste sentido, ao mesmo tempo em que a cidade se abre ilimitadamente ao flâneur, ela também se fecha, ao interior. Cada passagem é como uma cidade, um mundo miniaturizado. A rua se transforma em redoma, nas galerias, encarnando a forma de fantasmagoria. “O fenômeno da rua como interior, fenômeno em que se concentra a fantasmagoria do flâneur, é difícil de separar da iluminação a gás. As primeiras lâmpadas a gás arderam nas galerias” (Idem, ibidem, p.47). Com a noite iluminada, a multidão parisiense pôde ter a rua como lar em plena madrugada, quando as lojas também ficavam abertas para o livre vagar. Se a galeria é a forma clássica do interior sob o qual a rua se apresenta ao flâneur, então sua forma decadente é a grande loja. Este é, por assim dizer, o derradeiro refúgio do flâneur. Se, no começo, as ruas se transformaram para ele em interiores, agora são esses interiores que se transformam em ruas e, através do labirinto de mercadorias, ele vagueia como outrora através do labirinto urbano (Idem, Ibidem, p.51). Na segunda metade do século XIX (por volta de 1857), a galeria se torna decadente, com o advento da luz elétrica. A loja passa ser o outro local de vagar do flâneur, o seu labirinto interior de mercadorias, onde se refugia entre as prateleiras. Contudo, esse flanar não era o mesmo. Não havia a mesma magia do caminhar lentamente nas passagens, pois, na loja, as mercadorias já não se escondem sob o véu da multidão. Tudo está visivelmente próximo e tátil e o flâneur não mais se sente em sua própria casa da mesma maneira. As passagens – galerias -, lugares do novo prenhe do antigo, já carregavam em si sua obsolescência. Permanecem até hoje, contudo, como lugar de anúncio da imagem moderna da cidade. Sergio Paulo Rouanet (1999, p.52), sobre as galerias – passagens - de Paris, comenta seu efeito de mônada, apontado por Benjamin. “Elas são mônadas (...) um fragmento do real que abre a via a uma interpretação completa do mundo”. Ou seja, poderíamos dizer que as passagens condensam os elementos para a interpretação de um mundo moderno, que não se resumindo a Paris, mas se estende às cidades que a tinham como modelo de modernização. Além disso, elas condensam em seu espaço as fantasmagorias do habitante da cidade. Rouanet (Ibidem, p.54) enfatiza que as passagens não declinaram, mas se transformaram. E sobre isso, faz um comentário-chave. “Síntese de todas as fantasmagorias do século XIX, as passagens contêm em sua própria estrutura técnica a maior das fantasmagorias: a que leva a interpretar o novo à luz do arcaico, impedindo o advento do genuinamente novo”. Daí, então, podermos destacar que os escritos sobre as passagens, em sua síntese de fantasmagorias, até hoje ecoam como imagens que anunciam o espaço urbano moderno. Inter-relações: o observador dos panoramas e o flâneur Os panoramas, ao tomarem as paisagens como seu conteúdo, despertam um novo sentimento de vida naquele que habita a cidade. Conforme Benjamin (2007), esse sentimento decorre da impressão de superioridade política do habitante da cidade sobre o morador do campo, fazendo com que o campo seja inserido na cidade por meio dos panoramas. A cidade é, pois, ampliada em paisagem, às custas dessa apropriação. Poderíamos acrescentar esse possível motivo à forte aceitação desses artefatos, já que a experiência urbana muito se deveu às suas diferenças ao ambiente campestre. Entre o flâneur, caminhante das galerias, e o observador dos panoramas, há algumas distinções: enquanto o primeiro está no meio-termo entre a rua e o interior da casa, o segundo está imerso no interior de uma rotunda, onde o exterior é convertido em paisagem. Ou seja, aquele que vai assistir ao espetáculo dos panoramas passa por uma experiência de ilusão, que não implica uma relação direta com a cidade propriamente dita. A cidade “total” que os panoramas dão a ver é fruto de uma ilusão de ótica oriunda dos grandes painéis circulares, enquanto o flâneur vivencia de fato as ruas e galerias. Vale destacar que o flâneur faz uso do modo panorâmico de observar, mas não o tem como única característica. Ele não é simples observador, como vimos. Distingue-se da multidão justamente porque não se deixa ir com ela, nem com os encantos das mercadorias. Sua relação com o observador de panoramas é mais afim quando consideramos que ambos estão sob o céu do século XIX, cujo pathos típico é ver. Os dois, desta forma, têm a mesma disposição a visitar outros lugares e tempos. Enquanto no panorama a paisagem é convertida em horizonte natural, nas passagens o flâneur lança um olhar de estranhamento. O flâneur, como vimos, pode lançar seu olhar giratório para a cidade, mas esse olhar, no entanto, é particular. A cidade se abre de forma ilimitada, contudo se fecha ao interior. A autonomia do seu olhar apresenta essa sutil diferença quando a comparamos a do observador de panoramas. Há um modo pessoal de experimentar a cidade no flâneur. Ele ainda não está entregue totalmente à ilusão. A sua relação fantasmagórica com a rua, ao torná-la uma redoma familiar, caracteriza o seu olhar como no limiar da cidade grande e o intérieur burguês. Lança o olhar para as ruas ao mesmo tempo em que o guarda para si. Poderíamos dizer que o observador dos panoramas, ao ver a cidade ampliada em paisagem, está sujeito a uma visão “total” da cidade, mas limitada ao artefato ótico e seus efeitos enganosos. Ele é mais um na platéia do espetáculo em que os ritmos do tempo são simulados. O flâneur é aquele que observa e habita a cidade com seu próprio ritmo. Contudo, ambos vêem a cidade como dentro de uma casa sem janelas. Benjamin (2007), sobre isso, fala que a verdadeira cidade se encontra na casa sem janelas. Panoramas e passagens, resquícios de um mundo onírico, podem ser exemplos do pensamento dialético de Benjamin, em que elementos do sonho são utilizados no despertar. Neste sentido, tanto as passagens quanto os panoramas, por serem fantasmagorias do século XIX, sonharam não só a época que os sucederam, mas despertaram para sua própria época. Não é à toa que as passagens sintetizaram as mais diversas fantasmagorias em uma única: a interpretação do novo à luz do arcaico, impedindo o originalmente novo. O século XIX, desta forma, está presente até hoje nas formas mais acabadas tanto das passagens quanto dos panoramas. As primeiras são o que hoje conhecemos como shopping centers, contudo, sem o flâneur. Os segundos são o que reconhecemos como fotografia e cinema (mais este último, certamente). A cidade continua a ser convertida em interiores, rendendo-se, quem sabe, de forma mais explícita aos encantos das mercadorias. Hoje a cidade pode ser vista como a versão mais atual da mercadoria pura e simples ou no conjunto delas, a que Benjamin se referia. Daí, hoje, a impossibilidade de existência do flâneur nos moldes do século XIX. Para concluir A cidade nomeada “Paris, a capital do século XIX” não se limitou, como modelo, à capital francesa. Sua imagem de modernidade se estendeu às capitais do mundo inteiro, inclusive às do Brasil. Seu modelo de modernização, além dos muito próprios à arquitetura, como as construções de ferro, espalhou um conjunto de hábitos ditos “modernos” ao resto do mundo. Os panoramas também participaram desse processo de divulgação das “novidades” e foram parar nas mais diferentes cidades. Mesmo com certo atraso em relação à capital francesa, suas construções foram presentes, por exemplo, no Rio de Janeiro, como mostra a FIG.3. Esta fotografia de um panorama já arruinado, em 1915, é testemunho não só da existência do panorama na cidade, mas da própria técnica fotográfica já em uso. É sinônimo da emergência do tempo novo, acelerado. FIGURA 3 - “Entrada pra o Novo Panorama”, Rio de Janeiro, 1915. FONTE - http:///www.memoriaviva.com.br Como sistemas de representação tanto da natureza quanto da história, ou, em outras palavras, como fantasmagorias de ambos, os panoramas não foram simples formas de entretenimento. Tornaram-se paradigma do olhar giratório, além de caírem no gosto do público por seus efeitos de “verdade” em tempos que a novidade já era uma constante na vida urbana. A quantidade variada de artefatos desta época testemunha a boa receptividade dessas “máquinas de ver” e, ao mesmo tempo, a sua rápida obsolescência. Neste surgir e desaparecer dos artefatos vemos também representado o ritmo da história. Benjamin menciona a força desses artefatos como fantasmagoria da história não por acaso. A simulação do passar do dia, do decorrer do tempo presente no artefato era inerente à época de mutações que o acompanhava. Fantasmagoria do século XIX, carregava em si o próprio efeito acelerado do tempo, do tempo que não pára. Sobre a rapidez desse efeito, embora sem tanto aprofundamento, Benjamin (2007, p.571) se revela questionador. “É preciso pesquisar o que representa o fato das variações de luz, que um dia proporciona a uma paisagem, transcorrerem nos dioramas em quinze minutos ou meia hora”. O cinema só viria a tornar mais nítido os anseios dessa aceleração. Como literatura, o panorama foi adotado como forma. Nos folhetins, o estilo de figura e fundo, em que o primeiro plano correspondia ao estudo social do personagem e o segundo à paisagem, é um equivalente da visão panorâmica. Também podemos dizer que a diversidade desses títulos foi tão grande quanto a atuação dos panoramas e seus variantes àquela época. Como vimos anteriormente, a literatura possuía uma ligação evidente a esses artefatos, o que atesta, de alguma maneira, que a presença dos panoramas na cidade não foi exclusiva ao interior das rotundas. O fenômeno ótico não se encerrava nas suas construções cercadas de pinturas. Era uma prática social. A partir daí, é importante destacar também que os interiores dos panoramas eram mais uma maneira do habitante se sentir acolhido na cidade, mas não a única. Trazer paisagens para o interior, seja da rotunda ou mesmo da literatura de bolso, como apontamos, ao mesmo tempo em que amplia a cidade em paisagem, é uma forma de estabelecer certa superioridade do habitante da cidade em relação àquele que mora no campo. Nesta direção, o entretenimento não está isento de um uso também político. Quanto às transformações nas relações da arte com a técnica, também não podemos deixar de destacar o seu fim político. Muito do que se denominava “artístico” passou a ser subordinado às necessidades transitórias daquele século. Foi assim que Haussmann, o “artista demolidor”, sob o império de Napoleão III, destruiu Paris: para torná-la “bela” com o fim estratégico de impedir as barricadas. Embelezamento este que, no final das contas, não consegue impedir a revolta proletária nem o incêndio da cidade. A cidade que se anunciava como imagem de modernização, na primeira metade do século XIX, eclodiu da necessidade universal de tudo ver, de todas as maneiras. Totalidade esta desejada e demonstrada no interesse de ter o mundo ao alcance, como no efeito ilusório dos panoramas. E também, nos passeios particulares do flâneur antes de render-se às mercadorias. As passagens foram também expressão da dinâmica entre interesses públicos e privados, exterior e interior, rua e casa, novo e antigo; o que dá relevo ao seu efeito de mônada, de interpretação do mundo. Voltando às imagens que foram colocadas ao longo deste artigo (FIG.1, FIG.2 e FIG.3), em especial, a última, temos a visão de que os anseios modernos, presentes em lugares de passagem, ao mesmo tempo em que se pretendem universais, não se pretendem eternos e, sim, transitórios. O curso do tempo nas cidades segue rumo ao novo, mas não ao genuinamente novo. Dentro das passagens, os panoramas. Dentro dos panoramas, a cidade. Dentro da cidade, as passagens e os panoramas. Muitas relações poderiam ser estabelecidas a partir desses elementos, como uma sobreposição de imagens na frente de um espelho sendo levada ao infinito. Contudo, coube aqui relatar sobre algumas das possíveis relações originadas no contexto limiar da modernidade, fazendo uso, principalmente, dos escritos benjaminianos sobre os panoramas e as passagens. A leitura da escrita fragmentária e reflexiva do autor fez com que este texto, muitas vezes, perseguisse associações permitidas pelo tema, montando um mosaico cuja forma perseguiu o pensamento. Referências Bibliográficas BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. (Obras escolhidas, v. 1). São Paulo: Brasiliense, 1994a. _________. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. (Obras escolhidas, v. 3). São Paulo: Brasiliense, 1994b. BENJAMIN, Walter. Passagens. São Paulo: Imprensa Oficial: UFMG, 2007. CRARY, Jonathan. Techniques of the observer. Cambridge: MIT Press, 1992. MANNONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema. São Paulo: Editora SENAC São Paulo: UNESP, 2003. PARENTE, André. A arte do observador. Revista Famecos, Porto Alegre, n.11, p.124-129, dez. 1999. PEIXOTO, Nelson Brissac. Paisagens urbanas. 3ª ed. São Paulo: Senac, 2003. ROUANET, Sergio Paulo. As razões do iluminismo. São Paulo: Companhia das letras, 1999.
Baixar