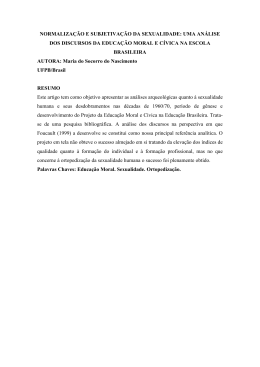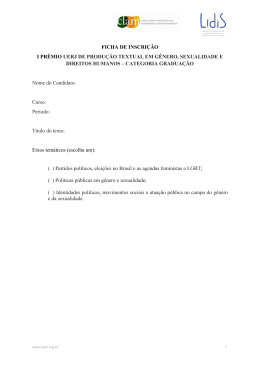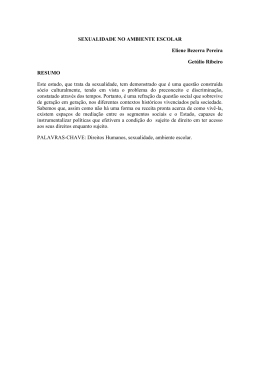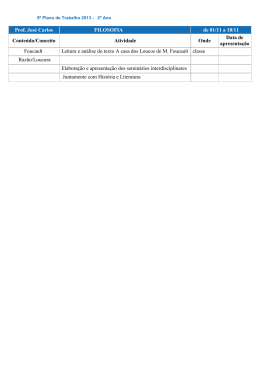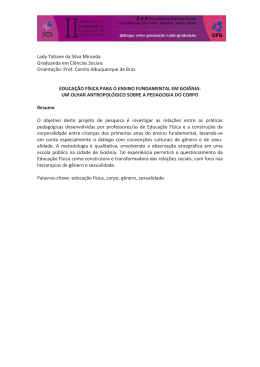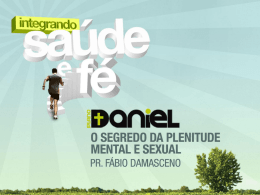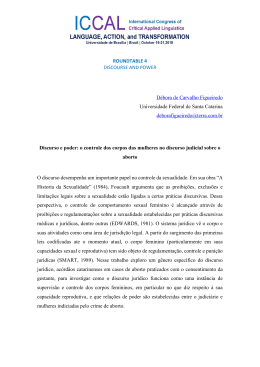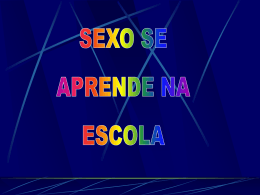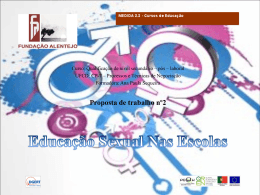1 Sexualidade e Subjetividade na voz do professor do Ensino Médio Rita de Cássia Bighetti Saran Profa. Dra. Célia Regina Vieira de Souza-Leite No processo ensino-aprendizagem, segundo estudos de renomados pesquisadores da área das ciências sociais tais como Araújo e Neves (2006 apud BEZERRA, 2013), Martínez (2011 apud BEZERRA, 2013) e González Rey (2008 apud BEZERRA, 2013), a aprendizagem humana depende do desenvolvimento das capacidades cognitivas, porém não dispensa os fatores subjetivos e sociais. Ao se falar em subjetividade, e, aqui, particularmente, do aluno do ensino médio, há que se levar em conta a sexualidade, uma vez que na Modernidade ela passou a ser o objeto primordial no processo de subjetivação. A sexualidade, uma característica inerente do ser humano, é o instrumento utilizado a partir do qual é estabelecido uma série de parâmetros ligados à moral de uma sociedade, determinando padrões de comportamento. Diante disso, este estudo, a partir da perspectiva de Foucault, teve por objetivo investigar qual o tipo de discurso que embasa a atitude do professor naquilo que concerne à sexualidade, a maneira como o professor atua na constituição do aluno, mais especificadamente, como ele se relaciona com a sexualidade do aluno. O trabalho contou com uma pesquisa de campo com professores do ensino médio e foi dividido em três etapas: referencial teórico com noções de arqueologia e genealogia; Foucault e a educação e, na última etapa, metodologia e análise dos dados da pesquisa a partir das teorias de Foucault. Através do método foucaultiano da genealogia, buscamos mapear as relações de poder que circundam a relação entre o professor, o aluno e a sexualidade, notandose que é impossível compreender adequadamente ou aplicar corretamente a concepção foucaultiana a respeito da genealogia sem, antes, ter passado por um significativo entendimento referente à arqueologia. O método arqueológico aparece bem sistematizado na obra A arqueologia do saber (FOUCAULT, 2007) e tem como objeto de estudo o discurso, um elemento concreto formado pela soma de enunciados. A arqueologia busca encontrar regularidades numa dada formação discursiva, ou seja, as regras de uma determinada formação discursiva que permitem o aparecimento de objetos, modalidades discursivas, conceitos e temáticas. Relaciona, também, os vários discursos e instituições que possam envolver o mesmo objeto. 2 A formação do objeto de um dado discurso é resultado das relações entre emergência, ou melhor esclarecendo, uma prática discursiva depende dos pressupostos ou condições de uma determinada época, bem como está inserido em um domínio ou área do conhecimento ( medicina, educação, justiça entre outros) e deve estar enquadrado em um sistema de classificação. Assim, podemos dizer que, em um determinado período, uma certa área de conhecimento estabelece uma série de classificações sobre um dado objeto dando visibilidade a ele. O sujeito do enunciado, em uma formação discursiva, por sua vez, ocupa um lugar institucional que lhe dá status e poder para pronunciar um enunciado específico: a posição daquele que ensina, daquele que cura, daquele que pesquisa. Naquilo que concerne à constituição dos conceitos, pode-se afirmar que, em uma determinada época e em uma determinada prática discursiva, a formação dos conceitos é o resultado do modo como se organizam os enunciados, as “formas de subordinação de hierarquia e que regem os enunciados de um texto” (FOUCAULT, 2007, p. 66) e os “modos de crítica, de comentários de interpretação de enunciados já formulados” (FOUCAULT, 2007, p. 66). Naquilo que concerne à formação das temáticas (ou estratégias), pode-se dizer que, em uma determinada época e em uma determinada prática discursiva, as temáticas (ou estratégias) serão o resultado do modo como se dá a relação constituída por tal prática discursiva, as escolhas referentes à relação entre os conceitos no interior do discurso, ao conjunto geral em que figura o discurso (a posição da prática discursiva com relação a outras práticas discursivas) e a função exercida pelo discurso no interior do contexto histórico em que está envolvido. Como já foi mencionado, o átomo de toda essa estrutura discursiva é o enunciado. Assim, o discurso é formado por um conjunto de enunciados que deve ser tratado como uma função, ou melhor, uma relação onde um elemento depende do outro. Dessa forma, um conjunto de signos será considerado um enunciado quando não se dirige diretamente a um objeto, mas sim a um conjunto de regras que permitem que tal objeto seja digno de tal discurso. O sujeito de um enunciado, por sua vez, é impessoal e adota uma postura impessoal, irracional que apenas reproduzem verdades irrefutáveis. Para o arqueólogo, uma frase ou qualquer outra proposição será considerada um enunciado quando for relacionada a um contexto e requer uma consistência material. Essa espécie de “formula” da função enunciativa constitui-se na base do método de Foucault: se uma coisa for submetida às quatro exigências da fórmula 3 (conjunto de regras que constroem o objeto, postura do sujeito, contexto e materialidade), essa coisa será um enunciado, notando-se que, no momento em que distinguimos ou produzimos um determinado enunciado, podemos distinguir o discurso no qual tal enunciado é um átomo e procurar estabelecer aquelas unidades discursivas que são: objeto, modalidade enunciativa, conceitos, temas e estratégias. Existe, no entanto, a continuidade necessária entre as noções de arqueologia e de genealogia: a “arqueologia faz também com que apareçam relações entre as formas discursivas e domínios não discursivos (instituições, acontecimentos políticos, práticas e processos econômicos)” (FOUCAULT, 2007, p. 182-183). Como vemos, claramente, por esta breve citação, fica difícil, a rigor, estabelecer uma rígida cisão entre os objetos de estudo da arqueologia e da genealogia de modo que, apesar de nossa divisão didática, a aplicação desses dois métodos está intimamente relacionada: não é possível aplicar o método arqueológico sem entrar no campo institucional da genealogia, e, por outro lado, não é possível entender a genealogia, sem entender as regras da produção discursiva (ou da produção de saber, como veremos melhor) estudadas na arqueologia. O conceito chave da genealogia consiste na noção de poder: para Foucault o discurso, necessariamente, possui hierarquias em seu interior; essas hierarquias, por sua vez, estão intimamente relacionadas com hierarquias institucionais que influenciam e, às vezes, até determinam a conduta dos sujeitos de um determinado período histórico. Essa situação é, grosso modo, o que, para Foucault, define o poder: o poder se constitui no conjunto das relações hierárquicas que provêm das interações entre discursos e instituições, e geram hierarquias nas condutas dos indivíduos. Para Foucault, o poder não é, necessariamente, decorrente da riqueza ou dos meios de produção, uma vez que é, antes de tudo, uma relação entre forças e discursos. Dessa forma, a repressão, decorrente do poder, é, assim, vista sob outro ponto de vista. Ela não gera opressão (abuso da soberania), e deve ser entendida como luta entre forças. Existe uma repressão muito acima desse conceito tradicional (de opressão) estabelecendo os mecanismos do poder. Dessa forma, o poder para Foucault difere da concepção da existência de um poder central e é entendido como um conjunto de relações hierárquicas, sendo praticado em rede. A relação saber-poder estabelece verdades que são divulgadas através das instituições. E, nesse momento, a repressão não é o que era a repressão em relação ao contrato, ou seja, um abuso, mas, ao contrário, o simples efeito e o simples prosseguimento de uma relação de dominação. A repressão nada mais seria do que o emprego, no 4 interior dessa pseudopaz solapada por uma guerra contínua, uma relação de força perpétua (FOUCAULT, 2005, p. 24). Através da análise genealógica, pretende-se chegar à raiz de um determinado saber (discurso), acompanhando seu percurso, regularidades, técnicas e mecanismos e compreender como um saber que gerou um poder atinge níveis globais. Observando as análises históricas de Foucault no primeiro volume de sua História da sexualidade (FOUCAULT, 2011), foi-nos possível a aplicação geral da genealogia às temáticas mais específicas de nosso trabalho: a sexualidade e a educação. Essa obra inicia-se com uma consideração a respeito das reflexões de Foucault sobre a questão da sexualidade no período vitoriano. Embora, no século XVIII, os lugares em que se permitia falar sobre sexualidade, bem como o vocabulário fossem determinados, e aqui entra o papel das instituições, houve, a partir de então uma enorme produção discursiva sobre a sexualidade: quanto mais se fala sobre o sexo, maior controle podem as instituições exercer sobre os indivíduos prescrevendo regras de comportamento daquilo que pode e não pode ser pensado e falado (controle da enunciação); as quatro instâncias do discurso condicionam o discurso, e este, por sua vez, também condiciona tais instâncias. Foucault questionou, então, a repressão vitoriana e nomeou essa postura de hipótese repressiva. A partir do século XVIII, porém, o discurso sobre a sexualidade transpõe o campo da moralidade religiosa e passa para o campo da ciência e do biológico. Os discursos vigentes, servindo aos interesses econômicos, levam a população a acreditar na legitimidade dos saberes que são proferidos e a induz a uma autorrepressão. Fala-se, agora, em controle populacional, taxas de natalidade, práticas contraceptivas e todo tipo de comportamento relacionado à vida sexual dos cidadãos. Por meio dos discursos, determina-se o que é lícito e ilícito dizer. O espaço físico das instituições, a literatura sobre educação sexual para crianças e jovens impõe-se no controle da sexualidade. Os comportamentos ou práticas sexuais diferentes da norma, agora menos perseguidos pela justiça e igreja, são controlados pela medicina que inventa uma série de patologias e implanta o regime da autovigilância. Esse procedimento permite que, através dos dispositivos de vigilância, essas práticas sejam desnudadas e controladas. E o estímulo à confissão é a grande arma para estabelecer esse controle: o indivíduo precisa confessar a verdade sobre si naquilo que diz respeito à sua sexualidade. Pode-se dizer, assim, que todo aparelho social passa a existir a partir do poder, ou, em função dele: as relações de força, que começam de forma periférica, encadeiam-se e formam os grupos homogêneos. 5 Importante ressaltar que a produção dos discursos, também, não está, apenas, centrada em fixar o certo e o errado, mas simplesmente são elaborados discursos diversos cujos conteúdos seguem estratégias que interessam à incessante produção de poder. Assim sendo, após o século XVIII, novos dispositivos sexuais, dentro da célula familiar, surgiram e foram se entrelaçando com os já existentes no sentido de se fixar as formas de controle que garantam domínio econômico: há o dispositivo da aliança (regras que estabelecem o que pode e o que não pode nas relações de sexo familiar) e o dispositivo da sexualidade (centrado nas sensações do corpo). Os discursos nas instituições de ensino também são veiculados tendo como base a ciência e difundem que o saber (conhecimento) é a arma contra o poder repressivo. Na educação, ele, o poder, circula entre os professores, estudantes, pais e os governantes. Através dessas relações em rede, age o poder disciplinar que leva o aluno praticar o autogoverno: técnicas que estimulam a pedagogia do eu nas quais os alunos se controlam e controlam uns aos outros, submetendo estudantes e professores. Nesse sentido, no contexto da educação, há a multiplicidades de discursos permeados de lutas e resistências. Os dispositivos pedagógicos, naquilo que possuem de realmente repressivo, agem no sentido de estimular o autoconhecimento quando utilizam dinâmicas, tanto no aluno como no professor, que podem ser vistas como formas de um confessionalismo que induza o autogoverno. Enfim, ao se utilizar a linguagem do discurso, objetiva-se um modelo de subjetividade previamente estabelecido. Assim, quando o discurso, por exemplo, coloca, para o indivíduo, a sexualidade como o objeto prioritário na constituição da subjetividade, tal discurso já vem embasado pelos dispositivos sustentados pelas instituições (principalmente escolares) que determinam o normal e o pervertido em termos de comportamento sexual, construindo, dessa forma, uma experiência de si em relação ao objeto. Foucault, então, preocupa-se em mostrar esses dispositivos e como eles podem agir na constituição da subjetividade em meio a um conjunto de normas. É um processo de sujeição nos discursos educacionais que ocorre através de uma série de técnicas: técnicas de vigilância, hierarquia e exame que sujeitam professores e alunos. Através dos discursos carregados de confissão, os sujeitos da educação dizem quem são, classificam-se e se disciplinam mediante os saberes. O exame também serve para classificar, julgar e disciplinar nas instituições educacionais. 6 Assim, para Foucault, o indivíduo já nasce submerso em um mundo construído pela linguagem e discursos e, dessa forma, é impossível, para o sujeito pronunciar enunciados libertos dos discursos que aí estão. O presente trabalho teve o objetivo de constituir-se em uma aplicação, à área da educação, do pensamento foucaultiano (arqueologia e genealogia), e, mais especificamente, dos pensamentos que, na segunda fase, configuraram-se naquilo que concernem a reflexão referente à sexualidade: investigamos qual tipo de discurso, naquilo que refere à sexualidade, que embasa a atitude do professor, ou seja, a maneira como o professor atua na constituição do aluno, como ele se relaciona com a sexualidade do aluno. Esse pensamento sobre a sexualidade foi desenvolvido, aqui, em íntima correlação com uma pesquisa de campo concernente à subjetividade, naquilo que diz respeito à sexualidade humana, que predomina em professores de ensino médio. Para detectarmos os “núcleos de sentido”, utilizamo-nos da pesquisa qualitativa denominada por Minayo, Deslandes e Gomes (2012) de Método de Interpretação de Sentido e análise de conteúdo de Bardin (1979). Porém, para análise dos enunciados utilizamos o pensamento arqueológico e genealógico de Foucault. A presente pesquisa procurou encontrar, nos enunciados contidos nos discursos dos professores, os dispositivos disciplinares que estão por trás dos regimes de verdades veiculados nesses discursos, ou seja, qual a trama discursiva que está sob determinadas visibilidades. A pergunta feita aos professores foi: como você, professor, lida com a sexualidade dentro da sala de aula? No exame dos enunciados contidos nos discursos dos professores entrevistados, procuramos recortar as sequências enunciativas relacionadas à sexualidade e, refletindo sobre suas regularidades (arqueologia) e poderes (genealogia), agrupá-las formando campos associativos específicos em torno de temas e expressões foucaultianos tais como: norma, hipótese repressiva, scientiasexualis, “técnicas de si” e “vigilância, dispositivo de aliança e dispositivo de sexualidade. A partir dos séculos XVII e XVIII, os discursos sobre sexo, que antes eram circunscritos à igreja, ganharam grande abrangência, passando, assim, a fazer parte das prioridades das instituições tais como escolas, hospitais, prisões entre outros com o intuito de controlá-lo. Assim, o filósofo questiona se houve mesmo repressão ao sexo na modernidade e chamou de hipótese repressiva um dos dispositivos do poder para controlar corpos. As instituições escolares com sua arquitetura, suas regras disciplinares criaram estratégias pedagógicas autorizando e incentivando a 7 intensificação dos discursos sobre sexualidade, investidos de saberes e verdades. No entanto, de acordo com Foucault (2011), todos esses discursos revestem-se de uma linguagem que controla e limita os enunciados sobre sexualidade, produzindo efeitos de sentidos moralistas e repressores. Ao lermos os enunciados dos professores acima, nos foi possível relacioná-los com a estratégia que Foucault (2011) chamou de hipótese repressiva, uma vez que eles estimulam a confissão dos alunos e, em seguida, exercem seu papel de conduzir e controlar a sexualidade dos alunos de acordo com as verdades sobre sexualidade estabelecidas a partir da relação saber-poder: Sim, qualquer lugar, não é só em sala de aula não... Qualquer lugar, filha. Até entre nós adultos, às vezes surge um papo na brincadeira que acaba indo para um lado mais sério, acaba tirando dúvida de certas pessoas que tenha (sic) alguma pergunta que ficou ali dentro sem resposta / entre outros. A scientiasexualis declara que a sexualidade dos indivíduos é passível de vir acompanhada de patologias, necessitando, portanto, de acompanhamentos para normalizar esses comportamentos tidos como anormais. Essa classificação bipolar entre anormal e normal estende-se por todas as instituições inclusive pelas instituições escolares. Ao traçarmos paralelo com o momento atual da educação, através da nossa pesquisa de campo, pudemos perceber que essa estratégia de normalização atrelada ao controle da sexualidade continua vigente e, mais ainda, fica claro o foco dos docentes nas sexualidades periféricas : Ahn... Pra (sic) mim o aluno, a sexualidade do aluno é indiferente, tanto faz se ele tem tendência prum (sic) lado ou pro (sic) outro, eu lido com ele normalmente, como se eu lidasse com a pessoa hete...hetero/, entre outros. A confissão sobre a sexualidade, a partir do século XIX, penetra nos consultórios médicos, a escuta clínica investiga sujeitos, constrói saberes articulados com os discursos científicos e dita a verdade sobre o sexo. Assim foi criada a scientiasexualis que impregnou o sexo de patologias e prescreveu receitas de normalização contra os ditos perigos do sexo. Então, os livros científicos, a medicina que engloba a psiquiatria passaram a oferecer a sexualidade sadia sem riscos. A confissão sobre a sexualidade, a partir do século XIX, penetra nos consultórios médicos, a escuta clínica investiga sujeitos, constrói saberes articulados com os discursos científicos e dita a verdade sobre o sexo e o professor alimenta esse discurso: Entendeu? “Oh, sexo oral é seguro? Não é?” Deixo bem claro esses conceitos.../ Se, por um acaso, chega alguma coisa que... que eu não tenha formação, que eu não tenha... Eu sempre dou um jeito. Deixo claro isso pra (sic) eles que eu vou 8 pesquisar melhor, que eu vou me inteirar melhor do assunto, tudo o mais,/,entre outros. Segundo Foucault (2005), nossa modernidade é constituída por sociedades disciplinares que agem através de micropoderes, ou seja, uma rede de poderes em que o médico, o professor, o psiquiatra entrecruzam discursos, criando uma microfísica do poder. As regulações pedagógicas existentes na formação de professores são um dispositivo de vigilância. Esse tipo de estratégia irá “definir, formar e transformar um professor reflexivo, capaz de examinar e reexaminar, regular e modificar constantemente tanto sua própria atividade prática, quanto, sobretudo, a si mesmo, no contexto dessa prática profissional” (LARROSA, 2011, p. 49). Essa postura de autoanálise, autocrítica que o professor incorpora leva-o a adotar posturas e atitudes ligadas à “sua identidade moral como educador, com o valor e o sentido que confere à sua prática, com sua autoconsciência profissional” (LARROSA, 2011, p. 50). E é nessa posição de um profissional ciente de seu papel que o educador lança mão de práticas pedagógicas que, de acordo com Foucault (2011), são dispositivos de vigilância na produção da experiência de si do aluno: Eu acho, é... Explicar que têm hora e lugar pra fazer isso. Ali dentro é um lugar cada um na sua, sem... Porque não tá (sic) só os dois ali, nós tamos (sic) em quarenta e cinco alunos.../, Oh, (nome do entrevistador), você sabe que eu nunca presenciei coisas assim... Já vi menina passando a mão na perna de outra menina, tal... Mas eu ficava observando, dando as minhas aulas observando.../, entre outros. A partir do século XVIII, com o vínculo entre saber-poder, surgem quatro estratégias ou dispositivos específicos para colocar o sexo em discurso, estimular corpos e intensificar prazeres. A essas estratégias Foucault (2011) deu o nome de Dispositivo da sexualidade que usa como método de controle a histerização do corpo da mulher, a pedagogização do sexo da criança, socialização das condutas de procriação e a psiquiatrização do prazer perverso. Porém, antes dos dispositivos de sexualidade, o que dominava no controle da sexualidade era o dispositivo de aliança que defendia, relações de parentesco, transmissão de bens, definindo, a partir de então, o permitido e o proibido. Ao olharmos de forma mais atenta os discursos dos entrevistados em nossa pesquisa, pudemos perceber a ação desses dispositivos quando os professores mostraram ter olhar acentuado nas ditas sexualidades desviantes e inseri-las nos discursos pedagógicos: Olha, como anda o mundo hoje, como anda, pra (sic) mim foi normal, sabe...Eles...elas me respeitaram dentro da sala e eu respeito o lado delas. Tanto uma como a outra nunca me desrespeitaram, tava (sic) sempre as duas uma 9 sentada do lado da outra, mas as duas sempre trabalhavam... Uma mais que a outra, lógico, mas em relação a isso, eu não tive problema nenhum com elas, entre outros. Portanto, baseados nos depoimentos dos professores, observamos as teorias foucaultianas cortando os enunciados que, grosso modo, defendem que o indivíduo é constituído de forma sujeitada por intermédio de sua inserção em discursos que veiculam verdades construídas a partir da relação saber poder. E para que isso se dê, existem procedimentos disciplinares e dispositivos agindo nesse processo. Outrossim, a sexualidade do indivíduo, principal objeto de controle para disciplinar corpos, está inserido no discurso pedagógico e são propagados pelos professores que aceitam essa postura como algo natural. REFERÊNCIAS. BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Ed. 70, 1979. BEZERRA, M dos S. Aprendizagem e subjetividade: um caminho possível. Disponível em: <http://repositorio.uniceub.br/bitstream/123456789/1472/1/20767418.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2013. FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. ______. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2007. ______. História da sexualidade: A vontade de saber. São Paulo: Graal, 2011. LARROSA, J. Tecnologias do Eu e educação. In: SILVA, T. T (org.). O sujeito da educação. Petrópolis: Vozes, 2011, p.35-86. MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S. F.; GOMES, R. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2012.
Download