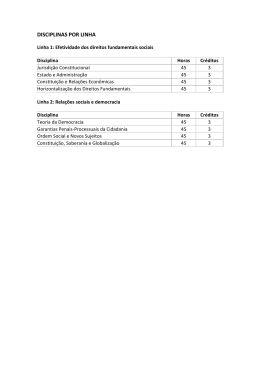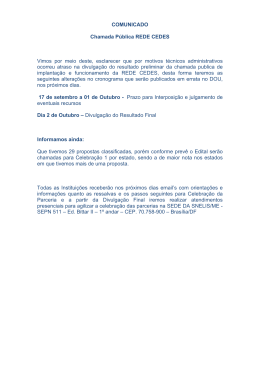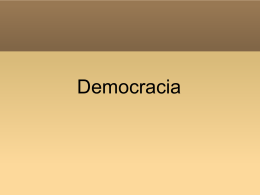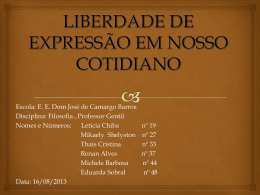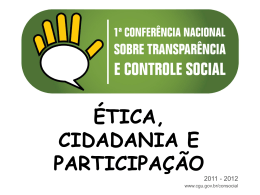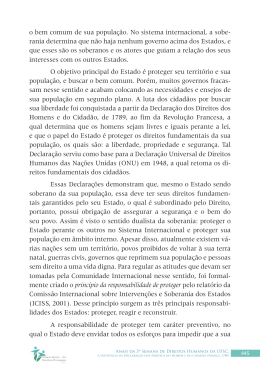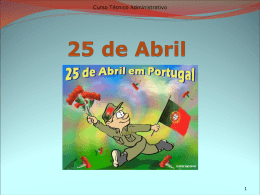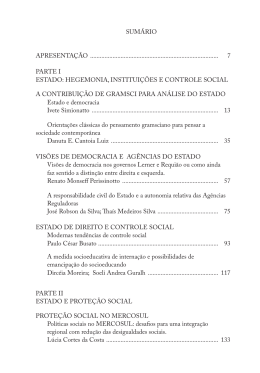CEDES – CENTRO DE E STUDOS DIREITO E S OCIEDADE – B OLETIM/OUTUBRO DE 2006 DIREITOS, REPRESENTAÇÃO E A CIDADE: OS JURISTAS E A DEMOCRACIA. Maximiliano Godoy 1 Uma reflexão sobre a proposta institucional do CEDES, tal como consta na seção de “Apresentação” deste site e como vem se transmitindo à orientação de seus projetos, permite abrir ao debate os termos em que deve operar sua idéia central, de que é preciso dar um passo além da academia. Junto com esse propósito vem, necessariamente, um consenso mínimo quanto ao que é e o que deve ser a democracia brasileira. As linhas desse texto que apresento não visam à delimitação exata dessa visão de mundo que dá vida ao CEDES, mas sim pretendem, dentro da minha modesta e restrita reflexão pessoal, pontuar alguns aspectos de sua formulação. Em um primeiro momento é apresentada uma perspectiva sobre a ascensão contemporânea do tema dos direitos, contabilizando-se os aportes de uma nova maneira de pensar a soberania popular e da idéia de que as particularidades da argumentação jurídica e das garantias formais nela incutidas não são um óbice para que o Judiciário e outras instituições jurídicas se elevem a um novo patamar de legitimidade democrática. Em seguida, sugere-se que o tema do território urbano pode se tornar um lugar privilegiado para o encontro entre juristas e movimentos populares. Inicio a elaboração acima descrita com o conceito mais importante do projeto de reflexão e de ação que originou o CEDES: a emergência do homem comum como sujeito de direitos. Do ponto de vista da teoria republicana da democracia, sugiro dois caminhos para a avaliação desse fato. O primeiro deles separa a esfera dos direitos e a esfera da democracia, mas as separa apenas para proclamar a função de cada uma na delimitação recíproca de papéis. Liberdade e igualdade se opõem, mas é o equilíbrio entre ambas que evita a tirania. Nessa chave, a ascendência e a ampliação da esfera dos direitos geram um problema básico: desestabilizam o equilíbrio de poderes e corrompem tanto as 1 Mestrando em sociologia no IUPERJ e pesquisador do CEDES. 1 CEDES – CENTRO DE E STUDOS DIREITO E S OCIEDADE – B OLETIM/OUTUBRO DE 2006 instituições das liberdades subjetivas quanto as da representação igualitária. A solução para esse novo estado de coisas consiste em alçar o ativismo cívico e a solidariedade patriótica ao mesmo nível atingido pela consciência jurídica. O segundo caminho advoga pela inexistência de dois princípios em oposição, de duas vertentes de poder institucionalizado cujo combate entre si levaria ao afastamento do despotismo. O Estado democrático de direito é visto como um conceito unitário em que o sujeito de direitos e a cidadania política só se desenvolvem em conjunto. O núcleo petrificado da constituição democrática é apresentado como um conjunto de garantias jurídicas essenciais à participação igualitária na formação da vontade política. Nesse modelo, a defesa contra o despotismo reside na livre formação, constitucionalmente garantida, de uma opinião pública que assedia cada etapa e cada lugar institucional do sistema representativo. Igualdade e liberdade só se realizam juntas. Como o direito é a linguagem com que o poder político e essa “esfera pública” tentam influenciar um ao outro, a generalização da cidadania jurídica – isto é, a ampliação dos direitos de cidadania, passando dos direitos civis e políticos para os direitos sociais e para os direitos difusos, e atingindo assim de maneira cada vez mais intensa a vida do homem comum – nada mais é que a concretização do modelo. O problema da “juridificação” tem que ser assim desdobrado naquilo que ele se origina da usurpação da soberania popular por quadros do sistema político-administrativo ou do próprio Judiciário e naquilo que ele resulta legitimamente de necessidades sociais e de demandas ressoadas na esfera pública. O primeiro caminho inspira-se em obras como os artigos de Charles Taylor, em Argumentos Filosóficos, sobre a política contemporânea. Como as referências tocquevillianas são claras, pode-se explicar a formulação acima proposta começando pelo modo como o “Montesquieu do século XIX” atualiza o seu pai filosófico. Para Montesquieu, o governo em que se atinge o maior nível de liberdade não é o que funciona segundo o valor político da igualdade (a república democrática), mas sim aquele que favorece uma constituição em que os elementos monárquico e aristocrático, com seus princípios da soberania de um e 2 CEDES – CENTRO DE E STUDOS DIREITO E S OCIEDADE – B OLETIM/OUTUBRO DE 2006 do amor aos privilégios jurídicos, figuram ao lado do elemento democrático em um entrelaçamento de papéis institucionais que resulta na moderação de cada um deles. No pensamento político de Tocqueville, contudo, a liberdade é defendida muito mais pelas escolas cívicas do associativismo, ao difundirem o interesse bem-compreendido como substituto da virtude política antiga, que pelas garantias jurídicas oriundas do sistema medieval de estamentos, mais afinadas estas – pelo menos na exposição do autor em A Democracia na América – com a sensibilidade aristocrática em decadência do que com o mundo do inte resse que se impõe ao homem democrático. A igualdade é para Tocqueville um pano de fundo inescapável, mas ele não previa a importância que viria a ter o homem comum como o novo campeão dos direitos – o que renovou democraticamente a valorização dos direitos contida na monarquia constitucional de Montesquieu. Para se passar ao contraste com o segundo caminho, pode-se esclarecer ainda sobre o primeiro que as interpretações contemporâneas de Tocqueville – fiéis a seu intento, com efeito – são modos de se refletir sobre como suscitar a solidariedade republicana quando temos diante de nós os valores incomensuráveis do regime de direito e do autogoverno participativo. Se para Charles Taylor a solução está em reforçar o sentido de ação comum entre as massas e seus segmentos, alcançando este o mesmo nível de um senso juridificado, de antagonismo de interesses, que hoje prevaleceria no ativismo popular, para Antoine Garapon não há porque lutar contra a substituição do cidadão pelo sujeito de direitos – desde que a judicialização das relações sociais permita, no interior de sua dinâmica de oposição de interesses, a formação de um direito pluralista nascido da interação entre sociedade e juiz, o que significa o abandono das expectativas democráticas quanto à representação política. Já no plano do segundo modelo, Jürgen Habermas, no artigo Soberania do Povo como Processo, afasta ambas essas maneiras de pensar em razão de o princípio da soberania e do autogoverno não precisar se relacionar com o princípio liberal de direitos naturais pré-políticos em um contexto de limitação do primeiro, sendo melhor que se proceda a uma interpretação unitária dos mesmos. 3 CEDES – CENTRO DE E STUDOS DIREITO E S OCIEDADE – B OLETIM/OUTUBRO DE 2006 Certamente a inspiração de Habermas é Rousseau, mas resolve o problema da necessidade de homogeneização social (oriundo da conciliação rousseauniana entre as autodeterminações pública e privada através de um conceito de lei que atenda aos critérios formais da generalidade e abstração) por meio das idéias de fragmentação comunicativa do soberano e de assédio ao sistema de representação política por parte de uma esfera pública livre e racional. Permanecendo com Rousseau, permanece no campo republicano, de modo que, como no primeiro caminho, uma cultura cívica é ainda necessária. Para enfatizar mais alguns aspectos da distinção entre essas duas vias de apreciação do fenômeno em tela, cumpre atacar a questão da soberania, a que ainda retornaremos. Isso porque, como foi dito, o cânon do primeiro modelo remonta a Montesquieu, cuja concepção de separação de poderes atribuída à política moderna tem por objetivo a anulação da soberania. Se no liberalismo de Locke a soberania persiste, mas fica adormecida na possibilidade de desobediência civil por parte dos sujeitos de direitos, e se em Rousseau ela é um tema concreto a ser vivido em uma sociabilidade pública que homogeneíza, no segundo modelo acima apresentado a soberania toma um caráter diluído, na medida em que o paradigma corporificado da assembléia de cidadãos é sublimado em uma rede segmentada de associações livres orientadas para um entendimento racional, falsificável e espontâneo. Antes de prosseguir, é possível sugerir com um breve panorama histórico as questões práticas que a evolução clássica do sujeito de direitos pode suscitar. De início, pode-se recuperar os textos organizados por Terence Halliday e Lucien Karpik em Lawyers and The Rise of Western Political Liberalism , obra que assume uma visão interessada no processo de formação de sociedades políticas liberais em que o poder de Estado é moderado pela conquista de garantias jurídicas por parte da sociedade civil. Em suma, observa-se que as liberdades civis surgem em contextos de luta contra o absolutismo, especificamente a partir da ação de homens do direito no sentido do fortalecimento de instituições judiciais. Com essa ação, criam uma esfera pública que se define inicialmente como extrapolítica e que algumas vezes se proporá a canalizar os interesses e as reivindicações de 4 CEDES – CENTRO DE E STUDOS DIREITO E S OCIEDADE – B OLETIM/OUTUBRO DE 2006 autonomia do homem comum para a linguagem de um direito abstrato que é o móbil da limitação das potências instaladas no Estado. Já o processo que origina direitos políticos e sociais é bem distinto. A generalização da cidadania política por meio do sufrágio universal não trouxe consigo – como esperavam pensadores democratas da Europa dos 1830, ou o Marx das glosas de 1843 – a síntese entre sociedade civil e Estado, entre o homem concreto, produtor cotidiano de suas condições de vida, e o cidadão abstrato, pessoa moral orientada para o interesse geral. O que se seguiu à universalização do direito de votar e ser votado não foi a radicalização do princípio da esfera pública, criando uma esfera de deliberação e decisão pública acerca do conjunto de processos de reprodução social, mas o recrudescimento do poder de Estado em direção a um bonapartismo ancorado na transformação da administração pública em instrumento eleitoral. O cenário político passa a despertar, de maneira cada vez mais intensa, o sentimento de ameaça por uma ditadura de especialistas. As cores do estatismo podem variar – podem ser, como sugere a história do século XX lida por Poulantzas em O Estado, o Poder, o Socialismo, as da social-democracia, as do stalinismo ou as de movimentos fascistas de reação –, mas o seu resultado é sempre o enfraquecimento das iniciativas das massas populares e a experiência, por estas, do Estado como um poder heterônomo. Ainda assim, não é demais reforçar que se os direitos sociais surgem muitas vezes a partir dessa dinâmica de autoprogramação do sistema políticoadministrativo, quase sempre está presente, em algum grau, o influxo de pressões democráticas. Como já argumentado anteriormente, cada caso de proclamação de um direito social pode ser avaliado nas respectivas medidas de paternalismo e instrumentalismo político, ou de interpelação popular e ação comum legitimadas. Por fim, o aparecimento dos direitos difusos, notadamente os de caráter ambiental, vem para aprofundar uma experiência de representação funcional que já se conhecia especialmente através da jurisdição trabalhista coletiva, em que a administração arbitra entre grupos de interesses devidamente representados por seus sindicatos. A representação funcional, tal como 5 CEDES – CENTRO DE E STUDOS DIREITO E S OCIEDADE – B OLETIM/OUTUBRO DE 2006 apresentada por Pierre Rosanvallon, encontra -se a meio caminho entre a democracia direta e a representação pelo voto, e é um ponto importante para as concepções de democracia que admitem a “soberania complexa”, isto é, a idéia de que a diversificação de representantes permite uma submissão mais efetiva do governo aos cidadãos. Quando se mencionou acima as conseqüências perversas da ampliação de direitos políticos, não se quis daí concluir pela abolição dos mesmos, mas sim pela idéia de que eleições e referendos não levam automaticamente a uma situação de democracia plena. Desde a mesma década de 1830, em que democratas discutiam a reforma eleitoral na Europa, os liberais desconstruíam a noção de soberania com a relativização sociológica do conceito de povo. A existência complexa, inacabada e intangível do povo não precisa, contudo, levar à idéia de que a soberania não existe ou, ao menos, é algo a ser limitado. Pelo contrário, ela deve levar à consideração da Constituição, do Judiciário e dos órgãos parajudiciais, no tocante à sua legitimação para atuar em pé de igualdade com os representantes eletivos, como a forma mais viável e mais próxima da democracia direta para a realização desencantada da vontade geral. Entre o paradigma monológico do juiz Hércules de Dworkin, tradutor solitário dos ideais da comunidade política impressos em leis e decisões passadas, e a redução por Habermas do direito jurisprudencial a um perigoso foco de usurpações da função legislativa, pode-se propor que a representação funcional judiciária seja tratada segundo aquilo que o conceito de representação indica, mas sem abandonar a centralidade da política tradicional como faz Garapon. Em Direito e Democracia, Habermas escreve que a lógica da esfera pública não é capaz de penetrar no discurso jurídico, dado o fato de que a sucessão de garantias formais oriundas do direito processual permite aos atores sociais adotar em suas disputas de interesse uma orientação estratégica, aniquilando os pressupostos da ação comunicativa. A idéia que se contrapõe a Habermas é a do “fórum judicial” – fórum no sentido não-técnico do lugar de discussão pública e de decisão. Comparativamente, Robert Badinter afirma nos diálogos que editou com Stephen 6 CEDES – CENTRO DE E STUDOS DIREITO E S OCIEDADE – B OLETIM/OUTUBRO DE 2006 Breyer (Judges in Contemporary Democracy) que a democracia deliberativa tem mais chances junto ao Judiciário do que no Legislativo. A esfera pública jurídica, que é a dos especialistas na dogmática e na teoria do direito, terá cada vez mais a oferecer para a democracia na medida em que trouxer para si tudo aquilo que resulta da jurisprudência-esfera pública, isto é, a esfera pública judicial e jurisdicional em sentido lato, que é por definição aberta às demais esferas públicas aninhadas tematicamente, através das quais os movimentos sociais podem se fazer ouvir. A dificuldade de haver uma rede de esferas públicas, ao invés da esfera pública política unitária do passado, é algo que deve ser enfrentado como questão premente. Mas perceba-se que essa mudança estrutural vai ao encontro de um padrão que é característico da sociabilidade urbana. Nas cidades, o associativismo se expressa espacialmente, formando “redes territorializadas de apoio social e mútua proteção” que não condizem nem com o paradigma do interesse, nem com o da virtude cívica – ver o artigo de Maria Alice Rezende de Carvalho, Dilemas Contemporâneos da Cidade Moderna, disponível no Boletim do CEDES anterior. E nem por isso se apaga o potencial de esses públicos locais galgarem os degraus de argumentação pública que podem levar à renovação da experiência republicana. Como dito acima, o direito é a arena mais propícia à canalização dessa sociabilidade, ao mesmo tempo em que impõe às esferas públicas territoriais a necessidade de se referir à vontade geral. A prática da representação funcional suscita a transformação da tradição jurídica em uma fonte alternativa, ou pelo menos adicional, para a formação de identidades simpáticas à nova dinâmica da democracia, de multiplicação dos modos de representação. É claro que a renovação da tradição jurídica, sem deixar de ser uma missão própria dos intelectuais, depende de que chegue até os gabinetes dos especialistas uma opinião formada exteriormente às dinâmicas sistêmicas do circuito político-administrativo, no âmbito da sociedade civil – tratase, contudo, de um processo de dupla vinculação, em que os movimentos sociais e a ação comum temática são o substrato e o motor da abertura democrática das instituições públicas que, por sua vez, faz enraizar-se o sentido de eficácia da 7 CEDES – CENTRO DE E STUDOS DIREITO E S OCIEDADE – B OLETIM/OUTUBRO DE 2006 ação comum, o que faz intensificar o associativismo popular e assim por diante em uma espiral de consolidação democrática. A tendência é que uma cultura de participação e de cidadania ativa renovada pela representação funcional resgate também os valores perdidos da representação política clássica. Especificamente quanto ao tema das cidades e das lutas pelo território urbano, há um perigo que aqui não se pode furtar ao registro: trata-se da transformação do debate sobre a questão social da expansão das favelas em um palco de ataques à falta de fiscalização sobre as construções informais e, vez ou outra, à falta de uma política de habitação eficiente – pergunta-se com isso onde estão o Estado-polícia e o Estado-de-bem-estar. Outra ameaça é a questão das remoções, cuja cobertura da grande mídia é em geral tão unilateral que impede de enxergar, por exemplo, que o dano ambiental da ocupação de um parque ecológico pode ser remediado sem os custos sociais e humanos da destruição de uma rede territorializada, ou que os habitantes de tais locais podem ter uma opinião própria sobre a melhor maneira de fazer ou de não fazer uma remoção, ou ainda que essas mesmas pessoas podem querer resguardar bens coleti vos traduzíveis em direitos sociais e culturais a ser devidamente sopesados – em suma, um quadro em que não se consegue nunca perguntar como dar uma chance ao Estado democrático de direito. 8
Download