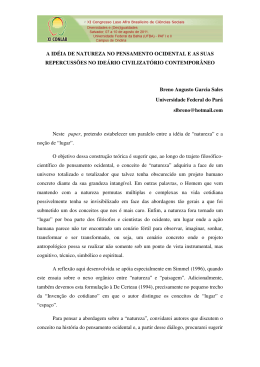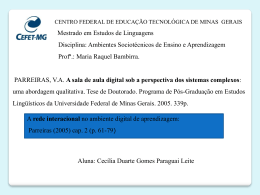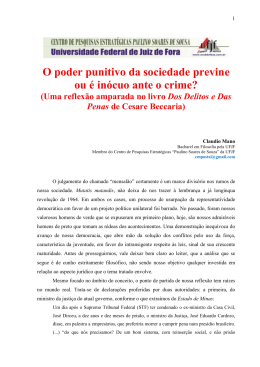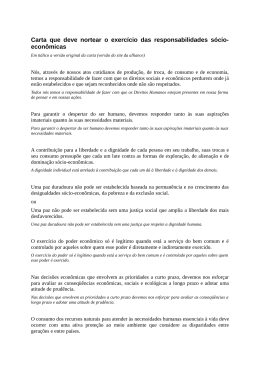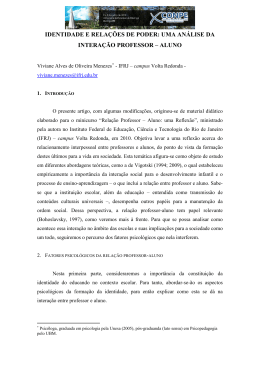LEONARDO FRÓES: POESIA, DEVIR & ÊXTASE Por Mauro Cezar de Souza Junior Aluno do Curso de Mestrado em Teoria Literária (Ciência da Literatura) Dissertação orientada pelo Prof. Dr. João Camillo Penna e apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro como requisito para a concessão do título de Mestre em Teoria Literária. Faculdade de Letras – UFRJ Primeiro semestre de 2007 2 Sem muitas, este trabalho é dedicado ao meu amigo Leonardo Fróes. Evoé. 3 AGRADECIMENTOS: Primeiramente, ao meu amigo e orientador João Camillo Penna, pela liberdade oferecida para o desenvolvimento do presente estudo e pela confiança depositada em mim; Ao meu grande amigo Thiago Noya, que não apenas me apresentou à poesia de Leonardo Fróes, mas à Poesia como um todo; Ao Fernando Assis, que me fez experimentar de uma tranqüilidade inédita em minha vida – e extremamente necessária para os tensos últimos meses de composição desta dissertação; À minha mãe, Marilia, ao meu pai, Mauro, aos meus irmãos, Pedro e Juliana, e à minha avó Nilza, pelo apoio, carinho, admiração e compreensão; Ao professor Alberto Pucheu, que, além de ter contribuído fundamentalmente para muito do que se segue nas próximas páginas, aceitou gentilmente participar da banca de avaliação deste trabalho; À professora Paula Glenadel, que, de maneira extremamente generosa, aceitou suprir a falta, na banca de avaliação, do professor Marco Lucchesi – que, por um imprevisto, infelizmente não pôde confirmar sua presença; Aos meus amigos Agatha Bacelar, André Nag, Ângelo Antônio, Bruno Molleri, Carolina Soares, Cindy Leopoldo, Elson Bemfeito, Fábio Henrique Pinheiro, Fábio Ricardo Campos, Flávia Ferreira, Franklin Amorim, Franklin Costa, Geisy Leopoldo, Gisele Portella, Heloísa Gomes, Lílian Pinto, Luciane Gaspar, Márcia Quintella, Michele Allonso, Paulo Vitor, Tatiana Pequeno, Thiago Castro e Thiago Motta; Aos professores Ana Alencar, Lúcia Ricotta, Marcelo Jacques, Marco Lucchesi, Sérgio Martagão Gesteira e Vera Lins, cujas idéias sugeridas através de seus cursos – e 4 também através de deliciosos papos informais – foram essenciais para o desenvolvimento desta dissertação; Ao CNPq, que nos cedeu uma bolsa de estudos sem a qual o presente trabalho não poderia ter sido plenamente realizado. 5 SINOPSE: Investigação de uma das mais fundamentais questões da poética de Leonardo Fróes: o êxtase e o devir proporcionados pela experiência poética (PUCHEU: 1999). Diálogo com o conceito de “despersonalização”, de Hugo FRIEDRICH (1978), e com as idéias de “morte do Autor”, de Roland BARTHES (1988), e de “êxtase lírico”, de Michel COLLOT (2004), verdadeiras atualizações do paradigma grego arcaico-platônico do poeta éntheos (DETIENNE: 1988; PLATÃO: 1988; PLATON: 1933). O viés ontológico do êxtase poético (NIETZSCHE: 2001, 2005; COLLOT: op. cit.). O devir e a noção de natureza dele decorrente na poesia de Leonardo Fróes, em diálogo (1) com os conceitos de “imanência” e “devir”, de Gilles DELEUZE (1997, 2004), (2) com certos aspectos da Naturwissenschaft goetheana (GOETHE: 1958, 1987, 2003), (3) com as críticas ao antropocentrismo, ao antropomorfismo e à ciência de base iluminista contidas na poética de Isidore Ducasse, o Comte de LAUTRÉAMONT (1997), e herdadas pelos surrealistas (MORAES: 2002), e, finalmente, (4) com os posicionamentos de Gary SNYDER (2005) acerca da indissociação entre o que se convencionou classificar como “natureza” e “cultura”. 6 7 O mundo só é miserável para aqueles que projetam nele sua própria miséria. (Michel MAFFESOLI) 8 ÍNDICE 9 Introdução ........................................................................................................................... 11 I – A Despovoação da Pessoa ............................................................................................. 20 1 – Um brevíssimo panorama histórico da relação entre êxtase e poesia ............... 21 1. 1 – O aedo éntheos da poesia grega arcaica e sua herança nos pensamentos de Demócrito e Platão .................................................. 21 1. 2 – De Platão para a poesia moderna: a despersonalização e morte do Autor como estratégias do poeta voyant ............................................ 25 2 – A potência estético-ontológica do êxtase poético ............................................. 32 2. 1 – O êxtase enquanto força artística da própria natureza e revelação da verdade além das aparências .............................................................. 32 2. 2 – O viés ontológico do êxtase lírico para a modernidade ..................... 36 3 – Leonardo Fróes, poeta em êxtase ...................................................................... 41 II – A Confusa Hibridação .................................................................................................. 54 1 – Imanência, devir, metamorfose e a ilusão antropocêntrico-antropomórfica ..... 55 1. 1 – Literatura e Vida como casos de devir .............................................. 55 1. 2 – Natureza, experiência e Metamorphose ............................................. 58 1. 3 – A crise do antropomorfismo .............................................................. 67 1. 4 – O chamado selvagem ......................................................................... 78 2 – As possibilidades para o corpo na poesia de Leonardo Fróes ........................... 93 10 Conclusão .......................................................................................................................... 108 Bibliografia ....................................................................................................................... 114 Notas ................................................................................................................................. 121 11 INTRODUÇÃO 12 Caso pudéssemos, de acordo com o que sugere Johann Wolfgang von Goethe com seu conceito de Versuchi (“experiência”, “ensaio”), nos aproximar de modo radical daquilo que tradicionalmente se espera que nos limitemos a assegurar, já, como o mero objeto de estudo do presente trabalho – e, para isso, buscássemos, no muro das convenções que cerca o texto acadêmico, fissuras através das quais fosse possível nos aventurarmos numa escrita que afrouxaria as fronteiras entre nós e esse suposto objeto –, pareceria tentador que convertêssemos nossa introdução de dissertação numa espécie de invocação desse objeto enquanto alteridade viva, capaz de compartilhar conosco a responsabilidade por tudo o que aqui estaria exposto. E como o nosso objeto de estudo – que seria, portanto, nessa aproximação radical, nessa incorporação, também um sujeito – não passa do êxtase e do devir experimentados a partir da poética de Leonardo Fróes, acabaríamos equalizados, fundidos num único corpo também com o modo por que optamos estruturar nosso estudo, isto é, com a nossa “metodologia”, esta que agora estaríamos a delinear, fosse ela possível. Soa redundante concluir que abordaríamos o êxtase e o devir estando em êxtase e devir, encarnando o êxtase e o devir. Alheios ao caráter forçoso de tal possibilidade, talvez chegássemos, ainda, baseados exatamente na suposta capacidade apresentada por nosso objeto de se nos incorporar, a vislumbrá-lo como uma espécie de divindade, à semelhança dos antigos gregos que, de acordo com Nietzsche, teriam tornado sua visão de arte acessível não por meio de conceitos, mas através das “figuras penetrantemente claras de seu mundo dos deuses” (NIETZSCHE: 2001, p. 27); teríamos, assim, a pretensão de que nos fora conferida a ingênua missão de resgatar e adaptar à realidade do texto crítico a estratégia de composição dos aedos e rapsodos da Antigüidade, que recorriam às potestades para ter acesso à palavra 13 poética – e, no caso específico dos rapsodos, para estarem também aptos a dissertarem sobre a poesia. A acusação a que estaríamos expostos se assim procedêssemos seria não apenas de inocência excessiva, mas também de incongruência. Houvesse, no panorama das religiões ocidentais, uma potência divina que, por excelência, nos remetesse às práticas do êxtase e do devir, encarnasse “não o domínio de si, a moderação, a consciência de seus limites, mas a busca de uma loucura divina, de uma possessão extática”, e nos desse acesso a “um desterro radical de si mesmo” (VERNANT: 1999, p. 158) – houvesse um deus que tramasse as linhas que se seguiriam no presente trabalho, seria aquele cuja aparição é imprevisível e, logo, nada passível de invocaçãoii. Talvez não tenha sido apenas por conta do dinamismo característico da religiosidade de base oral que, em terreno grego antigo, tenha esse deus recebido tantos nomes e tantos epítetos – Diónysos, Bákkhos, Brómiosiii, Zagreúsiv, Íakkhosv, Hemerídesvi, Orthósvii, Dasýlliosviii, Hugiátesix, Aisymnéterx, Aíxxi, Polygethésxii, Mainómenosxiii, Kathársiosxiv, Lýsiosxv, Autophyésxvi, Sphaleótasxvii, Meilíkhiosxviii, Perikióniosxix, Melánaigisxx, Horaîosxxi, Auksetósxxii etc. –; por vezes, nem mesmo tais nomes eram suficientes para invocá-loxxiii. “Divindade sempre em movimento, forma em perpétua mudança” (DETIENNE: 1988, p. 15), “é um deus que impõe, aqui embaixo, sua presença imperiosa, exigente, invasora: um deus da parousía” (VERNANT: op. cit., p. 342). A imprevisibilidade de sua aparição reside exatamente no fato de que, do panteão helênico, ele é o menos sedentário dos numes, não se sentindo em casa nem mesmo – poderíamos dizer: sobretudoxxiv – na Tebas onde nasceu por duas vezesxxv (DETIENNE: op. cit., pp. 8 e 35-40). Estrangeiro em qualquer lugar (id, p. 16), é o deus que chegaxxvi, “que vem de fora”, “de Outro Lugar” (ibid, p. 19), “o deus que salta, que pulaxxvii” (ibid, p. 83) – sua aparição 14 só se dá “sob o signo do jaculatório” (ibid, p. 110). “Deus nômade, seu reino não tem sede” (ibid, p. 8) e “o abrigo ocasional, sobretudo, é de seu particular agrado” (ibid, p. 81). As teofanias de um deus assim vagabundo, diferentemente das dos demais deuses da antiga Hélade, exigem inteira liberdade (ibid, p. 24) – vale retomar um dos termos técnicos de sua epifania, autómaton, que o coloca claramente no “domínio soberano do espontâneo e do súbito”, consagrando-o “príncipe do imediatismo” e deus autophyés, “que faz brotar a si mesmo” como “uma potência autônoma cuja força natural irrompe de repente e que permanece incompreensível, rebelde a qualquer classificaçãoxxviii” (ibid, pp. 94-95). De fato, enquanto os demais Olímpicos desfrutam do krátos, do “poder sobre os outros”, esse deus apresenta, e compartilha com seus seguidores, a dýnamis, a “‘força’ vista em sua autonomia, em sua potencialidade” (ibid, p. 106), simbolizada pelo jorro espontâneo do sangue efervescente e do vinho palpitante (ibid, p. 110), e definida por Aristóteles, na Metafísica, como “princípio da mudança que existe no mesmo ser enquanto outroxxix” (ARISTÓTELES apud DETIENNE: op. cit., p. 107). Somente através da passividade, da entrega extática, era permitido ao fiel desse nume o encontro com a dýnamis, o que desencadeava a “visão recíproca do bacante e do seu deusxxx”, o “estado que é um denominador comum entre o deus e o homem” (DETIENNE: op. cit., p. 44) – a plenitude da “completa e feliz comunhão com o divinoxxxi” (VERNANT e FRONTISI-DUCROUX: 1999, p. 178). Essa comunhão não se exprimia através de um desejo ascético de evasão para o Além, tampouco na esperança de uma outra vida, situada pós-mortexxxii (VERNANT: op. cit., p. 340): o deus de que falamos, não se opondo “à inconsistência e à inconstância da vida humana” (id, p. 342), “insere o sobrenatural em plena natureza” (ibid, p. 347), introduz a dimensão imprevisível do Além na vida cotidiana a partir da revelação da complementaridade do que ordinariamente nos parece em oposição (VERNANT e FRONTISI- 15 DUCROUX: op. cit., p. 173), fazendo “comungar o que estava isolado” (VERNANT: op. cit., p. 342) e, logo, ensinando àqueles que não se recusam a segui-loxxxiii a “questionar as categorias, suprimir as fronteiras que separam o animal do homem, o homem dos deuses, esquecer os papéis sociais, os sexos e as idadesxxxiv” (VERNANT e FRONTISI-DUCROUX: op. cit., p. 175). “No esquecimento de si dos estados dionisíacos dava-se o ocaso do indivíduo com seus limites e medidas” (NIETZSCHE: 2005, p. 24); e aquele, portanto, que era incorporado pela divindade-símbolo dos efeitos da pulsão da primavera e da bebida narcótica – os dois “poderes que principalmente elevam o homem (…) até o esquecimento de si característico de embriaguez” (id, p. 8) – tem ingresso num “universo de alegria onde são abolidos os limites da condição humana” (VERNANT: op. cit., p. 176), numa “bemaventurada alteridade” (id, p. 340) através da qual “o indivíduo possuído não deixa este mundo, é neste mundo que ele se torna outro pela força que o habita” (ibid, p. 341). Como se aqui mesmo pudesse ser reencontrada a idade do ouro (ibid, p. 348), “os homens devem (…) aceitar sua condição mortal, saber que nada são diante das forças que transbordam de toda parte e que têm o poder de esmagá-los” (ibid, p. 359). Se “Dioniso está aqui quando o mundo estável dos objetos familiares, das figuras tranqüilizadoras, oscila para se tornar um jogo de fantasmagorias onde o ilusório, o impossível, o absurdo tornam-se realidade” (ibid, p. 348), o objetivo do bacante é, em suma, “obter (…) uma mudança de estado” (ibid, p. 341), metamorfosear-se como o próprio deus a que se entrega. Como invocar um deus assim mutante, que tudo confunde, que “nunca é encerrado numa forma definitivaxxxv” (ibid, p. 346)? Brutal e repentino, trazendo consigo, enquanto “deus da mania” (DETIENNE: op. cit., p. 35), a “dádiva do vinho”, verdadeiro phármakonxxxvi (id, p. 45), e “o vírus do transe, uma religiosidade selvagemxxxvii” (ibid, p. 16), trata-se do mais epidêmico dos numes 16 gregosxxxviii (ibid, pp. 13-15): “é por excelência o deus que vem; aparece, manifesta-se, fazse reconhecer”, podendo ser encontrado, com isso, por toda parte (ibid, p. 14). Um deus que “não está onde parece estar, (…) está também muito além, dentro das pessoas e em lugar nenhum” (VERNANT: op. cit., p. 158): sua “intangível ubiqüidade” se traduz numa “irremediável alteridade” (VERNANT e FRONTISI-DUCROUX: op. cit., p. 175). “Dioniso revela-se se escondendo, ele se deixa ver dissimulando-se diante do olhar de todos os que crêem apenas no que vêemxxxix” (VERNANT: op. cit., p. 343) – característica esta que lhe confere um conhecimento íntimo das afinidades entre estar presente e ausentexl (DETIENNE: op. cit., p 19), tornando-o um ksénos em duplo sentido: “estranho” e “estrangeiro” (id, p. 21). Um grego considerava ksénos, “estrangeiro”, não o bárbaro de fala ininteligível (bárbaros), mas o cidadão de uma comunidade próxima, inserida no mundo helênico (ibid): vale lembrar que estamos nos referindo à divindade cuja figura é “inatingível, ainda que próxima” (VERNANT: op. cit., p. 158) também num sentido, digamos, topográficoxli. Já a primeira acepção de ksénos, “estranho”, deve-se, sobretudo, à insígnia báquica: a máscaraxlii, através da qual “afirma sua natureza epifânica de deus que não pára de oscilar entre presença e ausência” (DETIENNE: op. cit., p. 23), de “força divina cuja presença parece inelutavelmente marcada pela ausência” (VERNANT e FRONTISI-DUCROUX: op. cit., p. 163), de “forma a ser identificada, um rosto para ser descoberto, uma máscara que o esconde tanto quanto o revelaxliii” (DETIENNE: op. cit., p. 23). *** Furtivo, imprevisível, mutante: se nosso objeto de estudo impõe uma incapacidade de invocá-lo, abandonemo-nos a ele, deixemos que ele fale e, à vontade, nos carregue e nos 17 transforme. Tenhamos “a mente fulminada pelo vinho” (oínoi synkaraunotheìs phrénas), como sugere Arquíloco de Paros, no fragmento 120W (in: Poesia Grega Antiga: 1998, pp. 20-21). Entretanto, lembremos o que alerta Nietzsche: “o servidor de Dioniso precisa estar embriagado e ao mesmo tempo ficar à espreita atrás de si, como observador”, posto que “o caráter artístico dionisíaco não se mostra na alternância de lucidez e embriaguez, mas sim em sua conjugação” (NIETZSCHE: 2005, p. 10). Como canta Anacreonte de Teos, no fragmento 428W: “e enlouqueço e não enlouqueço” (kaì maínomai koû maínomai, in: Poesia Grega Antiga: 1998, pp. 76-77). Esta conjugação, buscaremos nas páginas a seguir, sem muitas promessas. *** Quanto à poética de Leonardo Fróes, adiantemos logo que parece ser bastante acertada a analogia sugerida por Ivan Junqueira entre ela e a imagem do carvalho heideggeriano, “daquela árvore que permanece idêntica a si mesma no transcurso invisível de sua mutabilidade”: de fato, a obra do poeta de Petrópolis se renova “na repetição, no aprofundamento de seus temas e problemas” (JUNQUEIRA in: FRÓES: 1998, p. 237). Talvez seja possível compreender a insistência característica da obra de Fróes a partir da profunda contemplação a que o poeta se dedica em relação ao mutável universo fenomênico: uma das mais elementares questões que permeiam sua poética, veremos, é a consciência de que tudo o que existe está em contínua transformação – consciência cuja conseqüência imediata é a negação de qualquer acabamento, qualquer formatação, qualquer definição que, ingenuamente tirânica, se disponha a dar por encerrados processos fadados a uma infinidade de desdobramentos. Como as coisas da vida, as da poesia seriam inesgotáveis. 18 Daí Alberto Pucheu, em sua resenha para Vertigens, a obra reunida de Leonardo Fróes – que cobre mais de trinta anos de poesia –, ter encontrado “questões fundamentais” da poética deste, como a “tentativa de indistinção entre o literário e o não-literário” e a chamada “despersonalização extática”, que arremessa o sujeito lírico posto em busca de si mesmo em direção ao “constante devir” (PUCHEU: 1999). Esta última é a questão que, no presente trabalho, nos dispusemos a examinar de maneira mais detida. Para isso, propusemos duas seções; na primeira, analisaremos o êxtase enquanto estratégia poética de redimensionamento da simples subjetividade – aquela que é, inclusive, tradicionalmente relacionada à experiência lírica –, estabelecendo, antes, um panorama histórico que, partindo dos aedos da Grécia Arcaica e chegando aos poetas precursores da lírica moderna – Baudelaire, Rimbaud – demonstra a relação entre êxtase e poesia, e sugere a existência de uma tradição que, pelo menos desde Platão, aborda o fenômeno poético não como expressão individual do artista, mas como incorporação da alteridade. Para isso, foram fundamentais as leituras de Hugo Friedrich (1978), Roland Barthes (1988) e Michel Collot (2004). As questões levantadas por este último, juntamente com as de Friedrich Nietzsche (2001, 2005), também integram outra parte da nossa primeira seção, parte em que procuraremos flagrar a potência ontológico-reveladora do êxtase poético. Quanto à segunda seção da nossa dissertação, nela buscamos dialogar o devir vivenciado pelo sujeito extático da poesia froesiana – bem como a visão de mundo e de natureza dele decorrentes – (1) com os conceitos de Gilles Deleuze (1997, 2004) de “imanência” e “devir”, (2) com certos aspectos da Naturwissenschaft (“ciência ou filosofia da natureza”) desenvolvida por Johann Wolfgang von Goethe (1958, 1987, 2003), (3) com as críticas ao antropocentrismo, ao antropomorfismo e à ciência de base iluminista contidas na poética de Isidore Ducasse, o Comte de Lautréamont (1997), e herdada pelos surrealistas – para este item, note-se, 19 buscamos apoio em Eliane Robert Moraes (2002) –, e, finalmente, (4) com os posicionamentos de Gary Snyder (2005) acerca da indissociação entre o que se convencionou classificar como “natureza” e “cultura”. 20 I – A DESPOVOAÇÃO DA PESSOAxliv 21 1 – UM BREVÍSSIMO PANORAMA HISTÓRICO DA RELAÇÃO ENTRE ÊXTASE E POESIA 1. 1 – O aedo éntheos da poesia grega arcaica e sua herança nos pensamentos de Demócrito e Platão É tentador para o leitor moderno buscar refúgio no distanciamento histórico ao se deparar com o que dizem os primeiros versos das epopéias homéricas quanto à origem da palavra poética: quem “canta” (aeíde, HOMÈRE: 1998, v. 1) a cólera de Aquiles e “diz” (énnepe, HOMÈRE: 2001, v. 1) as façanhas de Odisseu não é o lendário aedo cego, mas sim uma divindade, a Musa (Theá, “Deusa”, HOMÈRE: 1998, V. 1, ou Moûsa mesmo, HOMÈRE: 2001, V. 1), filha de Zeus e da Memória (Mnemosýne). Assim, nesses hexâmetros, seria possível avistar aquele contexto em que, de acordo com o helenista Marcel Detienne, o poeta era um “possuído pela divindade” (éntheos, isto é, aquele que, para Platãoxlv, seria portador da faculdade da enthousíasis ou do enthousiasmós, “entusiasmo”) e alcançava o status de “mestre da verdade” (alétheia) exatamente por ter acesso, através de tal possessão, ao verbo mágico-religioso, portador dos valores, das regras e dos costumes (nómoi) (DETIENNE: 1988, p. 15). Mesmo que se transpusessem apressadamente para a Grécia Arcaica as categorias literárias modernas que, ávidas por classificar os poemas homéricos como “épicos”, os circunscrevessem numa perspectiva objetiva que, além de mais “propícia” à incorporação divina, se oporia à expressão da dita subjetividade lírica, esta, enquanto garantia de autoria, talvez não possa ser facilmente encontrada na totalidade da poesia helênica de então. Com isso, pretendemos mais do que sublinhar discrepâncias históricas elementares que, de antemão, revelariam o quão inocente é a tarefa de buscar categorias de uma época 22 noutra – é óbvio que nem tudo aquilo que, para nós, poderia ser reunido sob a designação genérica de “poesia lírica” soava de fato “lírico” para um grego antigo, e o próprio adjetivo lyrikós, note-se, é usado apenas no período alexandrino, referindo-se aos poemas que teriam sido cantados principalmente ao som da lýra, e não àqueles que apresentariam como traço elementar a expressão individual do artista (ROCHA PEREIRA: 1998, p. 194). A questão fundamental é que certamente há, entre os poetas gregos pré-clássicos in totum, talvez por seguirem o modelo homérico, uma íntima relação entre possessão extática e poesia, sejam quais forem a modalidade e o acompanhamento musical desta. Pode nos servir como exemplo o fato de que, na chamada “poesia didática” de Hesíodo, ocorre a mesma filiação da palavra poética às Musas, sejam elas habitantes da região da Piéria, como em Os trabalhos e os dias (HESÍODO: 1991, p. 23, v. 1), ou do Monte Hélicon, como na Teogonia (HESÍODO: 1995, p. 105, vv. 1-2). De modo semelhante ao que, neste segundo poema, Hesíodo afirma terem sido as filhas de Zeus e da Memória que o “ensinaram o belo canto” (id, p. 107, vv. 22-23), dedicando a elas os primeiros cento e quinze versos de sua obra, no famoso fragmento 1W de Arquíloco de Paros, o poeta iâmbico se apresenta como um “conhecedor (epistámenos) do amável dom das Musas (Mouséon eratòn dôron)” (in: Poesia Grega Antiga: 1998, pp. 14-15). Vale destacar, ainda, os fragmentos 93 e 94LP de Safo de Lesbos: naquele, a poetisa invoca (ági, “vem”) uma “lira divina” (xély dîa); neste, as próprias Musas (Moûsai) (in: FONTES: 1992, pp. 144-145). No século V a.C., dois pensadores gregos parecem herdar a concepção arcaica do fenômeno poético enquanto possessão. Um deles é Demócrito de Abdera; embora sua contribuição para o paradigma que, na presente dissertação, procuraremos flagrar, seja discutível, graças à menor relevância de seu pensamento para a filosofia ocidental em comparação ao de Platão – o outro filósofo em questão –, vale destacar que dois de seus 23 fragmentos versam sobre o tema: no de número 18, diz o filósofo atomista que “tudo o que um poeta escrever com entusiasmo e sob inspiração divina é certamente belo”; no fragmento 21, Demócrito considera que Homero teria recebido uma “natureza divina”, sem a qual não teria construído um “cosmos de versos variados” (DEMÓCRITO in BORNHEIM (org.): 1999, p. 108). É digno de nota, ainda, que Demócrito teria sido “o primeiro a propor uma explicação científica (isto é, materialista) do entusiasmo” (CORNFORD: 1989, p. 103): o gênio poético, a adivinhação intuitiva, a previsão dos acontecimentos futuros que se realiza em sonhos, a comunicação do místico com o divino e certas afecções nervosas e mentais se devem a um temperamento anormal, particularmente ardente e emotivo, no qual os átomos psíquicos estão constantemente animados de um movimento muito vivo. Um temperamento assim torna possível aos homens entrarem em comunicação com outros seres possuidores de um caráter igualmente fogoso e animado, particularmente com esses grandes “espectros” a que vulgarmente se dá o nome de deuses e “daimons”, e receberem deles efluências causadoras de impressões violentas. O fato de receberem estes espectros carregados de idéias, de emoções e de impulsos confere a esses homens, durante um certo tempo e num certo grau, o caráter de seres de onde emanam; e é numa crise de exaltação semelhante à loucura, que as obras de arte são criadas e que a verdade misteriosa é revelada na comunhão com o divino (id, p. 104). Quanto a Platão de Atenas, a relação entre entusiasmo e poesia se faz presente em pelo menos dois de seus mais eminentes diálogos, Fedro e Íon. No primeiro, encontramo-la na célebre passagem em que Sócrates, ao enumerar para o jovem Fedro os tipos de delírio (manía) cujas origens seriam divinasxlvi (PLATON: 1933, p. 31, 244a), inclui, entre elas, aquela que, ao mesmo tempo chamada de “loucura” (manía) e de “possessão” (katokokhé), viria “das Musas” (apò Mousôn), “elevando” e “transportando em delírio” (egeírousa kaì ekbakkheúousa) a alma (psykhé) que, então, estaria apta a exprimir-se poeticamente (id, pp. 32-33, 245a). Em Íon, o mesmo Sócrates convence o famoso rapsodoxlvii Íon de Éfeso de que não existe a arte (tékhne), tampouco a ciência (epistéme) do aedo e do rapsodo: estes 24 seriam “inspirados e possuídos” (éntheoi kaì katekhómenoi) por uma “força divina” (theía dýnamis), a verdadeira responsável pela composição das obras poéticas (PLATÃO: 1988, pp. 49-55, 533d-534e). Se, como no caso do adivinho (khresmodós) e do profeta (mántis), o poeta é usado pela divindade como um ministro (hyperétes) através do qual ela se pronuncia, ele, o poeta, diz Sócrates, é “uma coisa leve (koûphon khrêma), alada (ptenón), sagrada (hierón)”, que “não pode criar antes de sentir a inspiração, de estar fora de si (ékphron) e de perder o uso da razão (noûs)” (id, pp. 50-53, 534d-e). Daí a comparação entre o poeta e os Coribantes e as Bacantes: todos os poetas épicos (epôn poietaí), os bons poetas, não é por efeito de uma arte (tékhne), mas porque são inspirados e possuídos, que eles compõem todos esses belos poemas; e igualmente os bons poetas líricos (melopoioí), tal como os Coribantes não dançam senão quando estão fora de si, também os poetas líricos não estão em si (ouk émphrones) quando compõem esses belos poemas; mas, logo que entram na harmonia (harmonía) e no ritmo (rhythmón), são transformados e possuídos como as Bacantes que, quando estão possuídas, bebem nos rios o leite e o mel, mas não, quando estão em sua razão (émphrones), e é assim a alma (psykhé) dos poetas líricos, segundo eles dizem (ibid, pp. 48-51, 534a). É interessante que o personagem Íon, querendo afirmar que possui a capacidade de recitar com espontaneidade os hexâmetros homéricos, bem como dissertar sobre eles, utiliza a forma verbal euporô (ibid, pp. 38 e 41, 532c; pp. 46-47, 533d), que também pode significar “tenho boa passagem”, “tenho fácil aberturaxlviii”: talvez esteja inscrito, aí, o que Sócrates chama de “dom divino” (theía moîra, ibid, pp. 62-63, 536c), que dá entrada aos poetas ao cargo de “intérpretes dos deuses” (hermenês tôn theôn) e dimensiona os poemas como artefatos que “não são humanos nem são obras de homens”, e sim “divinos e dos deuses” (ibid, pp. 52 e 55, 534e). 25 1. 2 – De Platão para a Poesia Moderna: a despersonalização e morte do Autor como estratégias do poeta voyant Como o conjunto de idéias arcaicas apresentado nos referidos diálogos de Platão seria, mais tarde, retomado pelo neoplatonismo renascentista e, a partir daí, sintetizado num ensaio por Montaigne, através do qual chegou aos autores modernos, como Rimbaud (FRIEDRICH: 1978, p. 62), pode-se afirmar que o filósofo ateniense acabou por estabelecer, no Ocidente, um verdadeiro paradigma poético no qual “o sujeito lírico não se possui, na medida em que ele é possuído por uma instância ao mesmo tempo a mais íntima de si e radicalmente estrangeira” (COLLOT: 2004, p. 166). Trata-se, em suma, de um paradigma que, atualizado, se contrapôs a “toda uma tradição que, certamente, tem uma de suas origens e maiores expressões na teoria hegeliana do lirismo, concebida, por oposição à poesia épica, como ‘expressão da subjetividade como tal (…), e não de um objeto exterior’” (id., p. 165). Vimos que, na Grécia Arcaica, de maneira similar, sabe-se, que nas chamadas sociedades etnográficas, a autoria de um texto “nunca é assumida por uma pessoa, mas por um mediador, um xamã ou recitante – um rapsodo –, de quem, a rigor, se pode admirar a performance (…), mas nunca o ‘gênio’” (BARTHES: 1988, pp. 65-66); por isso, o principal antípoda moderno com o qual a atualização da experiência do êxtase lírico teria se deparado residiria na idéia de Autor – aquele que, segundo Rolando Barthes, não passaria de uma personagem moderna, produzida sem dúvida por uma sociedade na medida em que, ao sair da Idade Média, com o empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, ela descobriu o prestígio do indivíduo ou, como se diz nobremente, da “pessoa humana”. (id, p. 66) 26 Barthes denuncia, desse modo, que “a imagem da literatura que se pode encontrar na cultura corrente estaria tiranicamente centralizada no autor, sua pessoa, sua história, seus gostos e suas paixões”; daí “a explicação da obra” ser “sempre buscada do lado de quem a produziu” (ibid). Para que fosse alcançado o que Barthes chama de “escritura” – “a destruição de toda a voz, de toda origem”, “o branco-e-preto onde vem se perder toda identidade, a começar pela do corpo que escreve” (ibid, p. 65) – seria necessária a “morte do Autor”: desde que um fato é contado, para fins intransitivos, e não para agir diretamente sobre o real, isto é, finalmente, fora de qualquer função que não seja o exercício do símbolo, produz-se esse desligamento, a voz perde a sua origem, o autor entra na sua própria morte, a escritura começa (ibid). O texto sem Autor se torna, para Barthes, “um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura” (ibid, pp. 68-69), e o escritor (que não se confunde com o Autor) só pode imitar um gesto sempre anterior, jamais original; seu único poder está em mesclar as escrituras, em fazê-las contrariar umas pelas outras, de modo a nunca se apoiar em apenas uma delas; quisera ele exprimir-se, pelo menos deveria saber que a “coisa” interior que tem a pretensão de traduzir não é senão um dicionário todo composto, cujas palavras só se podem explicar através de outras palavras, e isto indefinidamentexlix (ibid, p. 69). Pelo menos desde as origens da lírica moderna, a “morte do Autor” já vinha sendo planejada – e, posto que, até o século XIX, e, em parte, até depois, a poesia se encontrava num “âmbito de ressonância da sociedade”, sendo “esperada como um quadro idealizante de assuntos ou de situações costumeiras”, tais origens remontariam, segundo Hugo Friedrich, às mudanças que se verificaram na poesia dos anos de 1800, quando teria ela se 27 colocado em “oposição a uma sociedade preocupada com a segurança econômica da vida”, tornando-se “o lamento pela decifração científica do universo e pela generalizada ausência de poesia” (FRIEDRICH: 1978, p. 20). Disso, teria derivado uma “aguda ruptura com a tradição” (id); daí, o caráter “dissonante” da poesia moderna: nela se opera uma “junção de incompreensibilidade e de fascinação”, que “gera uma tensão que tende mais à inquietude que à serenidade” (ibid, p. 15). Os primórdios dessa dissonância estariam, em parte, na obra de Jean-Jacques Rousseau (ibid, p. 24). Marcada por uma “tensão indissolúvel” entre “a agudeza intelectual e a excitação afetiva, entre o pendor à seqüência lógica do pensamento e a submissão às utopias do sentimento”, a obra de Rousseau encarnaria “a primeira forma radical da ruptura moderna com a tradição”, e, ao mesmo tempo, “uma ruptura com o mundo circunstante” (ibid, p. 23), sublinhando a “irreconciliabilidade entre o eu e o mundo” (ibid, p. 24). Essa “lírica que se esquiva à realidade opressora” acaba tendo como conseqüências a “supressão da diferença entre fantasia e realidade” e a idéia de uma “fantasia criativa” que teria o direito de criar “o não-existente e de colocá-lo acima do existente” (ibid): na poesia moderna, enfim, “a fantasia torna-se absoluta” (ibid, p. 25). A outra parte originária da dissonância da lírica moderna estaria na tese de Denis Diderot acerca do “gênio”, em que se observa a “coincidência da imoralidade com a genialidade, da inaptidão social com a grandeza espiritual”, atribuindo-se, dessa forma, “uma ordem autônoma ao gênio artístico” (ibid). A “genialidade”, pois, “consiste em um poder visionário natural que pode romper todas as regras” (ibid), e a poesia “deve volver para objetos remotos, assustadores e que inspirem mistério” (ibid, p. 26), o que desencadeia uma ampliação do conceito de beleza (ibid, p. 27). Se a poesia moderna, portanto, “conduz ao âmbito do não familiar” e “não quer mais ser medida em base ao que comumente se chama realidade” (ibid, p. 16), “das três 28 maneiras possíveis de comportamento da composição lírica – sentir, observar, transformar – é esta última que domina” (ibid, p. 17). Logo, não seria conveniente aquela definição de lírica, “colhida da poesia romântica” – ou pelo menos do que se convencionou chamar assiml –, “como linguagem do estado de ânimo, da alma pessoal” (ibid), já que “o conceito de estado de ânimo indica distensão, mediante o recolhimento, em um espaço anímico, que mesmo o homem mais solitário compartilha com todos aqueles que conseguem sentir”, enquanto que a poesia moderna evita exatamente essa “intimidade comunicativa” (ibid), pois prescinde da humanidade no sentido tradicional, da “experiência vivida”, do sentimento e (…) até mesmo do eu pessoal do artista. Este não mais participa em sua criação como pessoa particular, porém como inteligência que poetiza, como operador da língua, como artista que experimentou os atos de transformação de sua fantasia imperiosa ou de seu modo irreal de ver num assunto qualquer, pobre de significado em si mesmo (ibid). O lirismo moderno é “algo diferente de estado de ânimo” – trata-se “de uma polifonia e uma incondicionalidade da subjetividade pura que não mais pode se decompor em isolados valores de sensibilidadeli” (ibid). Esta incondicionalidade, que Barthes considerou como a “morte do Autor”, será chamada por Hugo Friedrich de “despersonalização” (ibid, p. 36), estratégia de divórcio entre pessoa empírica e fazer poético que um dos pilares da poesia moderna, Charles Baudelaire, teria incorporado de suas leituras da obra de Edgar Allan Poe – esta caracterizada pela separação entre “lírica e coração” e pela busca de um sujeito lírico possuidor de uma “excitação entusiástica”, que “nada tivesse a ver com a paixão pessoal nem com the intoxication of the heart (a embriaguez do coração)”, mas que fosse uma espécie de “disposição ampla” (ibid, p. 37). Baudelaire afirmou ser a arte moderna 29 capacitada para criar “uma mágica sugestiva que contenha simultaneamente o objeto e o sujeito, o mundo exterior ao artista e o próprio artista” (BAUDELAIRE apud COLLOT: op. cit., p. 169) – daí sua obra máxima, Les Fleurs du Mal, publicada em 1857, prescindir do lirismo enquanto confissão: por mais que haja nela “o sofrimento de um homem solitário, infeliz e doente”, nenhum dos poemas que a compõem necessita, para “explicar-se”, dos dados biográficos de quem a escreveu (FRIEDRICH: op. cit., p. 36). Opondo “a capacidade de sentir do coração” à “capacidade de sentir da fantasia”, e afirmando que a primeira “não convém ao trabalho poético” (BAUDELAIRE apud FRIEDRICH: op. cit., p. 37), Baudelaire parece conceber a segunda “como uma elaboração guiada pelo intelecto” (FRIEDRICH: op. cit., p. 37), embora seja ela equiparável ao sonho, “a capacidade criativa por excelência” (id, p. 55): o poeta, com “seu ‘asco pelo real’”, pela “realidade quando é banal ou simplesmente natural – ambas equivalentes, para ele, à negação do espírito” –, quer uma lírica que não aspire “à cópia fácil, mas sim à transformação”, à “desrealização do real” (ibid, p. 53). Baudelaire diz que “a fantasia decompõe (décompose) toda a criação; segundo leis que provêm do mais profundo interior da alma, recolhe e articula as partes (daí resultantes) e cria um mundo novo” (BAUDELAIRE apud FRIEDRICH: op. cit., p. 55) – por isso, suas formulações acerca da poesia exigem que se prescinda de todo sentimentalismo pessoal a favor de uma fantasia clarividente (…). Baudelaire aplica ao poeta o lema: “Minha tarefa é extra-humana”. Em uma carta, ele fala da “intencionada impessoalidade de minhas poesias”, com o que se entende que elas podem expressar qualquer possível estado de consciência do homem, com preferência os mais extremos. (…) Baudelaire justifica a poesia em sua capacidade de neutralizar o coração pessoallii (FRIEDRICH: op. cit., p. 37). De acordo com Hugo Friedrich, a plena realização dos “esboços teóricos de Baudelaire” poderia ser observada nas “dissonâncias absolutas” da poesia de efeito 30 “desconcertante” de um dos mais ávidos leitores de Les Fleurs du Mal, Arthur Rimbaud (id, p. 60). Na “lírica dinâmica” (ibid, p. 59) do “vulcânico” (ibid, p. 60) Rimbaud, a “palavra-chave” é “explosão” (ibid, p. 59), e seu núcleo “quase não é mais de caráter temático”, mas sim uma “excitação efervescente” (ibid, p. 60) – note-se que o próprio vocabulário relacionado por Hugo Friedrich a Rimbaud já nos revela muito do caráter ígneo e, portanto, mutante da poesia deste. Nesta, observam-se “conteúdos caóticos em frases que são simplificadas até o primitivismo” (ibid), o que culmina em “fragmentos, linhas truncadas, imagens agudas, perceptíveis aos sentidos, mas irreais” (ibid.), dando voz às “forças artísticas e espirituais carentes de mistério” (ibid, p. 61). Trata-se, pois, de “uma poesia obscura, que se evade do mundo explicável do pensamento extremamente científico para lançar-se ao mundo extremamente enigmático da fantasia”, e que “pode ter o efeito de uma missão que proporcione, a quem é sensível a ela, a mesma evasão” (ibid). Uma poesia, conclui Friedrich, que contém “forças análogas ao êxtase religioso”, de um poeta que se impele a “uma beatitude supraterrena, como se viesse de outro mundo, extasiado” (ibid). Dessa beatitude decorre, afinal, o conceito de “vidente” (voyant), verdadeira redefinição do sujeito lírico (COLLOT: op. cit., p. 168) a qual não passaria de uma atualização moderna para o paradigma homérico-platônico do poeta éntheos – atualização porque, para a indagação “o que vê o poeta vidente e como se converte em tal?”, Rimbaud dá respostas que nada teriam de gregas (FRIEDRICH: op. cit., p. 62). Com a famosa frase “eu é um outroliii” (je est un autre), o eu é “reduzido a um pronome que o designa sem o significar, deportado da primeira para a terceira pessoa do singular” (COLLOT: op. cit., p. 169). Diz Rimbaud: “assisto ao desabrochar de meu pensamento, eu o vejo, eu o escuto. (…) É falso dizer: penso. Dever-se-ia dizer: pensa-se em mim” (RIMBAUD apud FRIEDRICH: op. cit., p. 62). 31 O sujeito verdadeiro não é, portanto, o eu empírico. Outras forças atuam em seu lugar, forças subterrâneas de caráter “pré-pessoal”, mas de uma violência de disposição que coage. E só elas são o órgão apropriado para a visão do desconhecido. É verdade que em tais frases se pode reconhecer o esquema místico: o auto-abandono do eu porque a inspiração divina o subjuga. Mas a subjugação agora vem de baixo. O eu emerge e é desarmado por camadas profundas coletivas (l’âme universelle) (FRIEDRICH: op. cit., pp. 62-63). O voyant riumbaudeano, chamado por Friedrich de “eu artificial”, é um sujeito polifônico, tornado “planetário” através do autodespojo do eu empírico, o que lhe confere liberdade para “vestir todas as máscaras, estender-se a todas as formas de existência, a todos os tempos e povos” (id, p. 69). Este autodespojo poderia ser alcançado mediante um ato operativo dirigido pela vontade (ibid, p. 63), de acordo com o que o próprio Rimbaud declara na seguinte frase: “Quero vir a ser poeta e trabalho para sê-lo” (RIMBAUD apud FRIEDRICH: op. cit., p. 63). O trabalho mencionado aqui, no entanto, não teria o mesmo teor que aquele de base intelectual proposto por Baudelaire, já que consistiria “em desordenar lenta, infinita e arrazoadamente, todos os sentidos” (id.). “O impulso poético” do homem moderno, continua Hugo Friedrich, “é ativado por meio de sua automutilação (…). Tudo para ‘chegar ao desconhecido’” (FRIEDRICH: op. cit., p. 63). Com isso, “a poesia liga-se agora ao pressuposto de que a vontade distorce a tessitura anímica, pois tal desfiguração possibilita a cega evasão para o profundo ‘pré-pessoal’”, alcançando-se a “nova linguagem”, que não passa de uma “linguagem universal” (id). E o poeta, “aquele que olha o desconhecido” (ibid), pôde, assim, ser definido por Rimbaud como “o grande enfermo, o grande delinqüente, o grande proscrito – e o sumo sábioliv” (RIMBAUD apud FRIEDRICH: op. cit., p. 63). 32 2 – A POTÊNCIA ESTÉTICO-ONTOLÓGICA DO ÊXTASE POÉTICO 2. 1 – O êxtase enquanto força artística da própria natureza e revelação da verdade além das aparências Contemporâneo deste Rimbaud para quem a poesia, enquanto fenômeno de ordem extática, é “linguagem universal” – e, portanto, linguagem que extravasa os limites da humanidade –, Friedrich Nietzsche, também com base nos antigos gregos, procurou elevar a idéia de êxtase à categoria dos “poderes artísticos que, sem a mediação do artista humano, irrompem da própria natureza”, e em face dos quais “todo artista é um ‘imitador’” (NIETZSCHE: 2001, p. 32). Além do êxtase, ou “embriaguez”, também o “sonho”: seriam duas, de acordo com o filósofo, as forças naturais que possibilitariam estados em que o homem pode jogar com a arte – ou seja, pode vivenciar “o sentimento de delícia em relação à existência” (NIETZSCHE: 2005, p. 5). “O sonho é o jogo do homem individual com o real” (id, p. 6) – em outras palavras, no sonho atua uma força criativa individualizada, produtora de imagens e formas similares às do real –; quanto à embriaguez, trata-se do “jogo da naturezalv com o homem” (ibid, p. 9) – isto é, aqui a força criativa é total, e a obra de arte é o próprio ser humanolvi. Para cada uma dessas forças, sustenta Nietzsche, os gregos teriam sugerido símbolos: suas divindades da arte (NIETZSCHE: 2001, p. 27). Apolo, deus da figuração plástica, foi ligado ao sonholvii – que, para o pensador, é “pré-condição de toda arte plástica” e “de uma importante metade da poesia”, exatamente daquela essencialmente figurativa, a epopéialviii (id, p. 28) –; Dioniso, deus da “arte não-figurada da músicalix”, foi relacionado à embriaguez extáticalx (ibid, p. 27). Daí, a famosa terminologia: “apolíneo” e “dionisíaco”lxi. Complementa o filósofo: “a arte do escultor (em sentido lato)” – ou melhor: 33 a arte figurativa – “é o jogo com o sonho” (NIETZSCHE: 2005, p. 6); já o “criar do artista dionisíaco é o jogo com a embriaguez” (id, p. 9). De acordo com Nietzsche, o impulso onírico-figurador divinizado em Apolo teria engendrado todo o mundo individualizado, inclusive o dos deuses olímpico-homéricos (NIETZSCHE: 2001, p. 35). Estes, “criação do incomparável povo de artistas”, seriam caracterizados por uma religiosidade que prescindia de noções como ascese, espiritualidade ou dever – noções oriundas de uma experiência sagrada marcada pela penúria e pela necessidade (NIETZSCHE: 2005, p. 15) –, servindo como símbolos de “uma opulenta e triunfante existência”, de uma “fantástica exaltação da vida”, “onde tudo o que se faz presente é divinizado, não importando que seja bom ou mau” (NIETZSCHE: 2001, p. 36). Os gregos puderam, assim, “desfrutar da vida a ponto de se depararem, para onde quer que olhassem, com o riso de Helena – a imagem ideal (…) da própria existência deles” (id) –, mas todo este louvor à vida teria resultado da inversão de uma antiga sabedoria popular, revelada através do mito do rapto de Sileno (ibid, p. 37). Após ter sido aprisionado por Midas, o sábio sátiro é indagado acerca do que seria o melhor para o homem, ao que responde: é “não ter nascido, não ser, nada ser”, ou, no mínimo, “logo morrer” (ibid, p. 36). “O grego conheceu e sentiu os temores e os horrores do existir”, e para que lhe fosse possível de algum modo viver, teve de colocar ali, entre ele e a vida, a resplendente criação onírica dos deuses olímpicos. Aquela inaudita desconfiança ante os poderes titânicos da natureza, aquela Moira [destino] a reinar impiedosa sobre todos os conhecimentos (…) foi, através daquele artístico mundo intermédio dos Olímpicos, constantemente sobrepujada de novo pelos gregos ou, pelo menos, encoberto e subtraído ao olhar (ibid, pp. 36-37). O apolíneo agiria, então, como um “espelho transfigurador” a amenizar o lado mais sombrio do dionisíaco, da entrega embriagada ao mundo situado além das individuações: o 34 aniquilamento total, a morte (ibid, p. 37). “Para poderem viver”, afirma Nietzsche, “tiveram os gregos (…) de criar tais deuses, de modo que, da primitiva cosmogonia titânica dos terrores, se desenvolvesse, em morosas transições, a teogonia olímpica do júbilo, por meio do impulso apolíneo da beleza” (ibid). O fato de os próprios deuses viverem legitima a vida humana (ibid); por isso, “no mundo homérico, (…) a vida é conhecida como o que é em si digno de ser almejado”, e “a dor do homem homérico reporta-se ao abandono dessa existência, antes de tudo ao ter que abandoná-la cedo” (NIETZSCHE: 2005, p. 17). No entanto, “se se subtraísse a aparência artística daquele mundo intermediário” dos numes, “ter-se-ia que seguir a sabedoria do deus silvestre, do companheiro de Dioniso” (id, p. 16) – daí serem a visão, o belo e a aparência os delimitadores dos domínios da arte apolínea, do “mundo transfigurado dos olhos que, no sonho, com as pálpebras fechadas, criam artisticamente” (ibid, p. 20). Para o principium individuationis simbolizado pela figura de Apolo, a medida é uma “exigência ética”, e só é possível quando o limite é cognoscível e observável – daí a “advertência apolínea gnôthi seautón”, “conheça a ti mesmo” (ibid, p. 22). Entretanto, como o espelho em que o grego apolíneo reconhecia sua aparência era o mundo dos deuses olímpicos, onde ela se encontrava “envolvida pela bela aparência do sonho”, fica claro que “a meta mais íntima de uma cultura voltada para a aparência e a medida não pode ser senão o velamento da verdade” (ibid). “Em um mundo construído dessa maneira e artificialmente protegido”, diz Nietzsche, “penetrou então o som extático da celebração de Dioniso, no qual a inteira desmedida da natureza se revelava ao mesmo tempo em prazer, em dor e em conhecimento” (ibid, p. 23). Conhecimento porque “tudo o que até agora valia como limite, como determinação de medida, mostrou-se aqui como aparência artificial: a ‘desmedida’ desvelava-se como verdade” (ibid). A arte dionisíaca seria aquela que revelaria o aspecto 35 lacunar da realidade – “todo o esplendor dos deuses olímpicos empalidecia diante da sabedoria do Sileno” (ibid, p. 24): nunca (…) a luta entre verdade [da sabedoria do Sileno] e beleza [do mundo apolíneo olímpico] foi maior do que na invasão do culto de Dioniso: nele a natureza se desvelou e falou de seu segredo com uma terrível clareza, com o tom diante do qual a aparência sedutora quase perdeu seu poder (ibid, p. 19). De modo similar ao que levou Rimbaud a promover o poeta voyant a “sumo sábio” (RIMBAUD apud FRIEDRICH: op. cit., p. 63), Nietzsche vislumbra a potência reveladora da embriaguez extática provocada pelo deus que, “fazendo oscilar, repentinamente, o edifício das aparências para mostrar sua falsa solidez, (…) planta, debaixo do nariz dos espectadores ofuscados, o cenário insólito de suas magias e mistificações” (VERNANT: 1999, p. 349). É rompido o principium individuationis: “no esquecimento de si dos estados dionisíacos dava-se o ocaso do indivíduo com seus limites e medidas” (NIETZSCHE: 2005, p. 24); “o subjetivo desaparece inteiramente diante do poder irruptivo do humano-geral, do natural-universal” (id, p. 8). Por isso, “as festas de Dioniso não firmam apenas a ligação entre os homens, elas também reconciliam homem e natureza” (ibid): na embriaguez dionisíaca, (…) a natureza se expressa em sua força mais elevada: ela torna a unir os seres isolados e os deixa se sentirem como um único; de modo que principium individuationis surge como um estado persistente de fraqueza da Vontade. Quanto mais a Vontade está degradada, tanto mais se despedaça em indivíduos isolados, tanto mais egoísta e arbitrário é desenvolvido o indivíduo, tanto mais fraco é o organismo social ao qual ele serve. Por isso, naqueles estados irrompe como que um impulso sentimental da Vontade, um “suspirar da criatura” por algo que foi perdido (ibid, pp. 12-13). 36 A alegria do reencontro: “em multidões sempre crescentes o evangelho da ‘harmonia dos mundos’ dança em rodopios de lugar para lugar: cantando e dançando expressa-se o homem como membro de uma comunidade ideal mais elevada: ele desaprendeu a andar e a falar” (ibid, p. 9). O homem em êxtase dionisíaco se sente como um deus: “o que outrora vivia somente em sua força imaginativa, agora ele sente em si mesmo” (ibid). 2. 2 – O viés ontológico do êxtase lírico para a modernidade Diante do panorama histórico traçado no item 1 – panorama em que figuram os nomes mais fundamentais da poesia moderna – e das idéias nietzscheanas – sabe-se, seminais para a modernidade – acerca da potência dionisíaca e de seu caráter revelador apresentadas no item 2. 1, talvez não estivéssemos nos excedendo caso quiséssemos não somente vislumbrar possibilidades para a atualização do paradigma arcaico-platônico do poeta éntheos, mas também confirmar a hipótese levantada por Michel Collot de que a “regra” para a poesia moderna seria a saída do sujeito lírico das fronteiras de si – saída esta que indicaria a encarnação da alteridade, posto que “estar fora de si é ter pedido o controle de seus movimentos interiores e, a partir daí, ser projetado em direção ao exterior” (COLLOT: op. cit., pp. 165-166). Com a elevação do referido fenômeno ao patamar de regra, Collot não deseja “seguir apenas e simplesmente a modernidade” que consagra o sujeito lírico “à errância e à desaparição” – sugerindo um viés ontológicolxii para o êxtase, pergunta-se, antes, se “a própria verdade [do sujeito moderno] não reside precisamente em uma tal saída, que pode ser tanto ek-stase quanto exílio” (id, p. 165): talvez seja (…) precisamente ao se distinguir de um eu que sempre se quis idêntico a si mesmo e senhor de si e do universo, que o sujeito lírico pode se 37 realizar: não é na pretensão de sua-majestade-o-Eu à autonomia que reside a pior ilusão? A verdade do sujeito não se constitui em uma relação íntima com a alteridade? Perdendo sua caução transcendente, o ek-stase lírico se depara, em muitos pontos, com a redefinição do sujeito pelo pensamento contemporâneo. Reinterpretado, o lirismo pode aparecer como um dos modos de expressão possíveis e legítimos do sujeito moderno (ibid, p. 166). De acordo com Collot, a emoção lírica seria constituída de dois sentidos que portam “o sujeito ao encontro do que trasborda de si e para fora de si”: transporte (ou êxtase) e deportação (ou exílio) (ibid). Ambos desencadeariam um desapossamento e, ao mesmo tempo, uma possessão do eu empírico do poeta, processos os quais “são tradicionalmente referidos a ação de um Outro, quer se trate, no lirismo místico ou erótico, de um deus ou do ser amado, no lirismo elegíaco, à ação do Tempo, ou ao chamado do mundo que arrebata o poeta cósmico” (ibid). Contudo, estes “outros” enumerados por Collot não se separam da ação de um “outro” mais elementar dentro da experiência poética: o canto (ou a linguagem), “que mais se apodera do poeta do que dele próprio emana” (ibid). “Longe de ser o sujeito soberano da palavra” – lembremos do Autor sobre o qual fala Barthes –, o sujeito lírico, complementa Collot, “se encontra sujeito a ela [à palavra] e a tudo o que o inspira. Há uma passividade fundamental na posição lírica, que pode ser similar a uma submissão” (ibid). Graças à ausência de fundamentos transcendentes ou transcendentais, característica da contemporaneidade, Collot chama esse “arrebatamento em direção ao outro” de “alienação” (ibid). “Sem poder mais cantar Deus ou o Ser Ideal através das palavras e das maravilhas tanto da criação quanto da criatura”, diz Collot, “o sujeito que se precipita para fora de si se encontra lançado em um mundo e em uma linguagem desencantados”lxiii (ibid). Se a tendência é vermos a transcendência como mera “máscara de uma contingência, de uma ilusão lírica”, “ceder ao canto e ao êxtase” seria simplesmente “deixar se embalar pela 38 língua, entregar-se ao mundo e aos outros” (ibid). Parecem ecoar, mais uma vez, as palavras de Barthes, que afirma ser o Autor uma simples “personagem moderna” (BARTHES: op. cit., p. 66), pois para Collot não haveria, no processo de composição lírica, “nada de tão brilhante assim”, nada de genial, não existindo por que reclamar para si um sujeito que se abandona e se submete ao outro da linguagem (COLLOT: op.cit., p. 166). A “alienação” de que fala o poeta e crítico não seria, em suma, uma idéia pejorativa: trata-se, antes, da assunção do caráter sobretudo performativo da experiência lírica – o fim da tirania do Autor, conforme nos diria Roland Barthes. Como via para a reinterpretação do sujeito lírico, Michel Collot sugere a fenomenologia, “que não considera mais o sujeito em termos de substância, de interioridade e de identidade, mas em sua relação constitutiva com um fora que (…) o altera, colocando a acentuação em sua ek-sistencelxiv, em seu ser no mundo e para o outro” (id, pp. 166-167). O conceito de carne, cunhado por Merleau-Ponty, “permite pensar conjuntamente seus pertencimentos [os pertencimentos do sujeito] ao mundo, ao outro, à linguagem, não sob o modo de exterioridade, mas como uma relação de inclusão recíproca” (ibid, p. 167): é pelo corpo que o sujeito se comunica com a carne do mundo, abraçando-a e sendo por ela abraçado. Ele abre um horizonte que o engloba e o ultrapassa. Ele é, simultaneamente, vidente e visível, sujeito de sua visão e sujeito à visão do outro, corpo próprio e, entretanto, impróprio, participando de uma complexa intercorporeidade que fundamenta a intersubjetividade que se desdobra na palavra, que é, para Merleau-Ponty, ela mesma, um gesto do corpo. O sujeito não pode se exprimir senão através dessa carne sutil que é a linguagem, doadora do corpo a seu pensamento, mas que permanece um corpo estrangeiro (ibid). Collot conclui que, participando da intercorporeidade, da intersubjetividade e da linguagem – pertencendo, pois, triplamente a uma carne que não o pertence de fato –, “o sujeito encarnado não saberá se pertencer completamente”, estando impedido de “acessar uma 39 plena e inteira consciência de si mesmo”, e “sua abertura ao mundo e ao outro o torna um estranho” (ibid). Com isso, o sujeito não pode reaver sua verdade mais íntima pelas vias da reflexão e da introspecção. É fora de si que ele a pode encontrar. Talvez, a e-moção lírica apenas prolongue ou reapresente esse movimento que constantemente porta e deporta o sujeito em direção a seu fora, através do qual ele pode ek-sistir e se exprimir. É apenas saindo de si que ele coincide consigo mesmo, não como identidade, mas como uma ipseidade que, ao invés de excluir, inclui a alteridade, (…) não para se contemplar em um narcisismo do eu, mas para realizar-se como um outro (ibid). Relacionando a noção do sujeito encarnado com o conceito de matéria-emoção de René Charlxv, no qual “o poema lírico será esse objeto verbal graças ao qual o sujeito chega a dar consistência à sua emoção”, Collot destaca que “o sujeito lírico virá a ser ‘si mesmo’ apenas através ‘da forma realizada do poema’, que encarna sua emoção em uma matéria que é ao mesmo tempo do mundo e de palavras” (ibid). Assim sendo, seriam abolidas as dicotomias entre fora e dentro, matéria e idéia, emoção e conhecimento, objeto e sujeito, corpo e espírito, letra e significação (ibid, p. 168), estabelecendo-se um “lirismo de pura imanência”, um “lirismo materialista” (GLEIZE apud COLLOT: op. cit., p. 168). É o que poderia ser encontrado nas poéticas de Arthur Rimbaud e de Francis Ponge, poetas que: partilham entre si uma recusa violenta do lirismo entendido como expressão de um eu, da subjetividade pessoal, e a tentativa de promover uma “poesia objetiva” que valorize a materialidade das palavras e das coisas. Para eles, esse privilégio concedido ao objeto da sensação e da linguagem não implica a pura e simples desaparição do sujeito em benefício de uma improvável objetividade, mas, antes, sua transformação (COLLOT: op. cit., p. 168). Com base na já referida idéia rimbaudiana de que através do “desregramento de todos os sentidos” se “chega ao desconhecido”, Collot afirma que é perdendo o “controle da língua e seu corpo” que o sujeito se encontra – é “objetivando-se nas palavras e nas ‘coisas inauditas 40 e inomináveis’” que “ele se inventa sujeito” – é “projetando-se sobre a cena lírica através das palavras e imagens do poema” que “ele chega a aprender do fora seu pensamento mais íntimo, inacessível à introspecção” (id, p. 169). Para dar voz a esse “outro em si”, é necessário que o poeta recarregue a linguagem de sensorialidade, “mobilizando toda uma física da palavra” que dê corpo ao pensamento (ibid). Da poética de Francis Ponge, Collot retoma as reflexões empreendidas a partir daquilo que o poeta chamou de “‘drama da expressão’: a impossibilidade de expressar seus sentimentos mais íntimos na linguagem de todo mundo ou nas convenções do lirismo tradicional” (ibid, pp. 170-171). Se “os sentimentos ‘experimentados atualmente pelos homens mais sensíveis’ se reduzem a um ‘pequeno catálogo’ limitado pela pobreza do léxico à sua disposição”, continua Collot citando Ponge, é “saindo de si” que o poeta “espera escapar do ‘adestramento’ (manège) no qual o pensamento, reificado por um discurso social estereotipado, se transforma” (ibid, p. 171). O êxtase ganha contornos de uma “espécie de revolução copernicana”: através dele, “o sujeito, ao invés de impor ao mundo seus valores e significados preestabelecidos, aceita ‘transferir-se às coisas’ para descobrir nelas ‘um milhão de qualidades inéditas’, das quais ele poderá se apropriar se chegar a formulá-las” (ibid). Em outras palavras, resta aos sujeitos “conhecer milhões de sentimentos” diferentes, o que não poderão fazer a partir do contato com seus semelhantes, prisioneiros das mesmas expressões e representações estanques, mas a partir do contato com as coisas, cuja infinidade nunca foi verdadeiramente levada em conta pela linguagem. Pois os homens não fazem senão projetar nelas seus miseráveis estados de alma (ibid). O sujeito lírico da poesia de Ponge – sujeito cuja afetividade é “inseparável dos objetos que afetam seu corpo” (ibid, p. 173) –, “coloca-se em jogo” exatamente “apagando-se atrás da 41 descrição das coisas” (ibid, p. 172). Assim como para fenomenologia de Merleau-Ponty, para Ponge a subjetividade humana não se restringe à interioridade: ela é “mais ligada ao mundo” (PONGE apud COLLOT: op. cit., p. 173) – “ela é simultaneamente, material e relacional: o sub-jetivo é ‘isso que me empurra do fundo, do debaixo de mim: do meu corpo’, para me projetar para fora” (COLLOT: op. cit., p. 173). “O corpo é o suporte dessa intencionalidade que constitui o sujeito em relação necessária ao objeto” (id). “De cada objeto nós possuímos toda ‘uma idéia profunda’ formada pela ‘sedimentação incessante’ de ‘impressões’ que ‘recebemos’ ‘desde a infância’”; a poesia seria a extração dessa “idéia profunda”, a expressão simultânea da coisa e do que se encontra implicado, do sujeito, nela (ibid). Trata-se, enfim, de um “lirismo transpessoal”, que, de acordo com Collot, não estabeleceria uma exceção dentro do universo da poesia, mas a própria regra: antilírico seria, ao contrário, o “lirismo pessoal”, aquele que, no fim da Idade Média, emergiu com uma poesia autobiográfica “ao preço da perda do canto que acompanhava a lírica anterior, transpessoal” (ibid, p. 175). 3 – Leonardo Fróes, poeta em êxtase Um exemplo da hipótese levantada por Michel Collot de que todo lirismo é transpessoal poderia ser encontrado na poesia de Leonardo Fróes. Outro poeta crítico, Alberto Pucheu, resenhando a antologia poética Vertigens, já havia assinalado que, dentre “as questões fundamentais da poesia de Fróes”, se destaca “a do poeta que, lançado em busca de si mesmo, encontra somente a perdição e o constante devir” (PUCHEU: 1999): De mim não contenho o cerco 42 e, justo quando me ultrapasso, meu corpo é saudade, e o perco (FRÓES: 1998, p. 50). ninguém é jamais um próprio: nós todos um só se chamam (id, p. 51). Perdendo-se em caminhos vertiginosos – “eu vinha perguntando por mim há várias quadras” (ibid, p. 222) – e se negando a procurar seu eu apenas dentro dos limites do corpo, o sujeito lírico froesiano, afirma Pucheu, impossibilita “a dicotomia entre mundo exterior e mundo interior” e, com isso, acaba dissolvendo “a subjetividade no comunitário ou, mais freqüentemente, na natureza”, o que oferece ao leitor uma oportunidade para se aventurar “em uma ambiência de ‘desrespeito aos limites’” – em devires de uma experiência de “despersonalização extática”, na qual se fundiriam os reinos animal, vegetal, mineral e até das máquinas (PUCHEU: 1999). Nas palavras de Fróes, o êxtase é o “susto de poder se anular” (FRÓES: 1998, p. 71), o “movimento espontâneo” que “já carregou a minha segurança de gente” (id, p. 187); experimentando-o, “estou agindo porque obedeço sem mim” (ibid, p. 167) – e “mim no máximo serão lembranças vazias tiques articulações maneiras ansiedades” (ibid, p. 220): na hora sem mim deságuam bocas quebram-se as barreiras de eu ter pensado, prensado, prendido o corpo, premeditado o que naturalmente fracassa (ibid, p. 221). O sujeito lírico que participa da “exalação de coisas que se aceitam na inconsciência do êxtase” (ibid, p. 232) e não se reconhece em sua individuação corpórea chega a travar consigo mesmo “relações de estranhamento” (ibid, p. 83): 43 os espelhos (…) de repente derramam nossos olhos pela face barbeada de um estranho (ibid) Movido pelo “desejo de conquistar um lado meu que jamais se revela” (ibid, p. 67), num “encontro tonto sem dentro nem fora” (id, p. 118), o poeta é aquele que, “tentando existir, faz um esforço e se anula” (ibid, p. 54): eu não existo nem sou nem tenho tempo nem espero escrever as brancas confissões de ninguém na cela em branco (ibid, p. 200). Ser poeta, com isso, é “não estar convencido da realidade dos corpos” (ibid., pp. 158-159), nem “da realidade dos meus conteúdos mentais” (ibid., p. 160); assim se pronuncia, quanto a isso, Leonardo Fróes em sua entrevista à revista Azougue: por muito tempo eu não soube o que é experiência poética. Hoje tem sido para mim uma via de conhecimento, como qualquer outra. Não é pelo valor do objeto que ela te comunica, mas por aquela espécie de transe que você passa, quando está com a atenção muito concentrada e vai recebendo uma série de informações, que vem de lá de não sei onde, que mostram o seguinte, que sua personalidade, o que você acha que é, é na realidade sua arma de defesa. (…) E se descobre que, na melhor das hipóteses, o que chamamos de personalidade não passa de um lapso de memória (FRÓES: 2003, p. 11). Trata-se, em suma, do caráter revelador da manía extática, que despedaça o “espelho transfigurador” das aparências (NIETZSCHE: 2001, p. 37), tão ávido pelo “velamento da verdade” (NIETZSCHE: 2005, p. 22): Desmanchar-me pouco a pouco, pedra a pedra, palmo a palmo, 44 para ser sincero e louco Desnudar-me peça a peça, gesto a gesto, corpo a corpo, para ir ao que interessa (FRÓES: 1998, p. 45; grifos nossos). As “imersões de ausência” (FRÓES: 1998, p. 161) possibilitariam ao homem relembrar de suas verdadeiras dimensões – e para se alcançar essa memória transpessoal, participar do “esquecimento mineral de tudo” (id, p. 197), faz-se necessário abdicar da memória pessoal. Como em estado poético não conto com “as representações transitórias que por simples conveniência mental você nomeia de parede ou de pele” (ibid, p. 131), movo-me apenas pela aceitação das aparências que estão na tela da situação presente sem as egocêntricas interjeições da memória que significam, nos encontros, um freio (ibid, p. 138). A memória pessoal é perdida quando participo do “planeta sem fios”, que me permite “dançar – descer – deitar no Outro calmamente sem o despojar e humilhar”, livre dos “fios da cabeça que enrolam com freqüência meus gestos, ligando-os a um passado atrapalhado cheio e inexistente que me faz colocar o pé atrás” (ibid, p. 149). Reencontro-me em um estado no qual não há “lâminas de recordações deslizando para embutir-se entre o que eram costelas” (ibid, p. 131): sem os cortes efetuados pela memória, tenho inaugurada em meu corpo uma nova realidade, que “não é a realidade nostálgica como a de ficar à janela mastigando lembranças: é a realidade do prazer, que devora todo mundo e não pertence a ninguém” (ibid., p. 130). Nela, é “possível agir sem premeditar”, entregar-se ao acaso (ibid, 45 p. 148) e aos seus “temperos caóticos” (ibid, p. 157) – gozar do simples “urro da aceitação animal” (ibid, p. 74). Para Fróes, portanto, vivenciar a poesia, o “baque que derruba a gente no estranhamento” (ibid, p. 162), requer constatar que eu não pertenço “nem a mim, nem à ordem das coisas ou à classificação dos inícios, fins e fases intermediárias” (ibid, p. 216): ser um poeta estar detectando as quebradas as pequenas frações fraturas teimosias imensas de emoções aberrantes abertas despetaladas na vitrine do ego onde eu encontro um manequim um fantoche que tem de executar essa dança e sair ileso sem culpa sem nada propriamente de si (ibid., p. 178) A experiência do lirismo extático desencadeia um “momento sem posse em que nós nos entregamos ao mundo” (ibid, p. 230): “escrevo obedecendo a um registro. A fala que me conscientiza já é estranha totalmente à idéia habitual de quem sou” (ibid, p. 134). Como um momento erótico em que “você no máximo percebe que está entrando, gozando em outros organismos, desaparecendo, sumindo dessa idéia diária de existir um você” (ibid, p. 130), a escrita poética é “pulo sobre o ego” (ibid, p. 28) que revela o caráter ilusório da suposta fronteira existente entre mim e o outro: “sou cada vez mais eu sendo vosso e ainda vário” (ibid, p. 20) – “o que é mim é nosso” (ibid, p. 51): ninguém parece mim e no entanto saímos juntos, batalhamos juntos na mesma idiotice cotidiana do trabalho (ibid, p. 137). E todos em si nos somos qual forma que se reparte e é uma: a laranja e os gomos (ibid, p. 52). Com a “anexação de tudo” (ibid, p. 211), é possível aproximar poesia e alquimialxvi: 46 aquele impulso, puro assombro ou lúcida ilusão de eliminar-se na esdrúxula alquimia de outro ombro (ibid, p. 27). Na transubstanciação alquímico-poética, opera-se não apenas a equalização entre o sujeito e o outro, mas também a reintegração do que ordinariamente parece me pertencer de maneira exclusiva – daquilo que de fato nos pertence: sou “solidário” (ibid, p. 18). “Nasço de vós, convosco vou” (ibid, p. 21), “vou convosco nas veias, vou convosco na carne” (ibid, p. 22), “vos pertenço” (ibid, p. 21), “nada tenho de meu” (ibid), “vosso sangue é o mesmo que jorra dos meus brados” (ibid), “vosso sangue sou eu, e eu sou dos vossos, nada em nós é distinto” (ibid), “vosso é o meu desvario, somos unos” (ibid, p. 22): o poema que escrevo tem ritmo “arbitrário” (ibid, p. 19) e deixa de me pertencer quando faz com que eu saia de mim – “me suplanto, me extasio, me dissolvo libertário” (ibid, p. 20). “O poema, sendo vário, é sempre uma coisa minha de fundo comunitário” (ibid, p. 18); não passo de um “fiel escriturário” do “mundo imaginário” (ibid, p. 20), de um “modesto operário”, que assume nunca ter sido “feliz proprietário” de um “talento” (ibid). Minha satisfação é contemplar o poema, nosso, entranhado na totalidade dos “meandros planetários” (ibid, p. 19) e, ao mesmo tempo, pungindo “dentro do peito de onde é originário” (ibid) – o peito de “nósmim” (ibid, p. 153). Minha dissolução no outro, minha potência comunitária pode encontrar um obstáculo quando se instala, entre nós, uma indisposição. É o que se vê, p. e., no poema “Compromisso” (ibid, pp. 21-22): “vossos ídolos mortos me repugnam”, “vosso luto me enoja” (ibid, p. 21), “vossas tropas me caçam” (ibid, p. 22); vós possuís “lucros e perdas”, “ânsia”, “grades de ferro”, “ouro” que me “tenta mas não cedo”; quanto a mim, “caminho 47 por esse labirinto de argamassa, tédio, tijolo e fezes”, “e nem sei como ando, antes me empurro, vou por força do hábito”, “apenas fujo, chego à beira do abismo”, “vou sem rumo direto, vou sem armas, vou apenas por ir” (ibid, p. 21), “de albergue em albergue, sem destino”, e “em cada canto de mim vosso retrato clama por mais afeto, exige amor” (ibid, p. 22). A propósito, já que o próprio Leonardo Fróes admite, em sua entrevista à revista Azougue, que, “na verdade, a vivência é muito importante pra mim” (FRÓES: 2003, p. 8), deixando claro que, em sua poesia, tudo surge a partir do biográfico, poderíamos identificar o outro que se indispõe à dissolução extática em “Compromisso”: poema publicado em 1968, quando, situa Fróes, “estávamos no pior período da ditadura militar, você andava de carro e as ruas estavam cheias de batidas policiais” (id., p. 10), nele parece figurar, como uma espécie de antípoda para o sujeito fora de si, a realidade de um país ditatorial. Desse modo, cabe destacar que, embora tenhamos visto que falar de um sujeito lírico “despersonalizado” tradicionalmente requer demonstrar como se opera uma quebra com a poesia baseada no relato empírico da vida do poeta, a importância do dado biográfico e cotidiano na poesia de Fróes não invalidaria a terminologia cunhada por Pucheu, “despersonalização extática”: o adjetivo, aqui, sugere que o rompimento das barreiras individuais se revela no ingresso numa “zona de vizinhança” (DELEUZE: 1997, p. 11) que não apenas excede ao eu, mas o atravessa. “Na hora do milagre existo e não existo com uma segurança total” (Fróes: 1998, p. 149): o corpo é se desfazendo – virtudes, paixão, olvido – que vai se tornando e se tendo (id, p. 44). seja sempre você me diz o mim pois é assim que você chega a não-ser nem mais nem menos do que a liberdade idiota de participar serenamente do ar (ibid, p. 220). 48 De um ao outro transferir-se para, enquanto completando-se, poder se dar e pedir-se (ibid, p. 44). Não é preciso dizer, com isso, que o modo como Leonardo Fróes dimensiona o aspecto empírico em sua poesia implica numa poetização do cotidiano e numa cotidianização da poesia; o biografismo extático daí resultante não poderia prescindir, portanto, da imprevisibilidade de conteúdos característica da poesia moderna (FRIEDRICH: 1978, p. 6), tampouco estabelecer-se-ia na figura onipresente e onipotente de um Autor que viesse a prejudicar ou diminuir a participação do leitor na construção do texto (BARTHES: 1988, p. 66). O êxtase supõe uma “passividade fundamental na posição lírica”, uma “submissão” de seu sujeito (COLLOT: 2004: p. 166), seguida de sua “transformação”, não de seu mero apagamento (id, p. 168); afirma Fróes em sua já mencionada entrevista à Azougue: “não sou capaz de dizer tudo sobre a minha obra. O leitor vai observar coisas que me escapam. Esse é o momento em que a literatura passa a existir, quando ela significa alguma coisa para alguém de fora que não o autor” (FRÓES: 2003, p. 8). Assim, na “dissolução inevitável e doce”, (FRÓES: 1998, p. 124), “os dias me vão vivendo” (id, p. 44), já que “de mim não controlo o jogo” (ibid, p. 50): como num “Feitiço Fantoche”, não ajo, sou agido, sigo as molas do corpo e a noite rola por cima da ilusão do que penso puxando para onde bem quer os meus cordões de fantoche (ibid, p. 200). Se o êxtase não passa de um “coice da aceitação calada e dissipadora que nos reúne a outro nível, o de todas as caras, nuvens” (ibid, p. 172), o poeta fora de si – dotado, como o sujeito lírico encontrado na obra de Edgar Allan Poe, daquela “excitação entusiástica” apta 49 para uma “disposição ampla” (FRIEDRICH: 1978, p. 37) – pode ingressar nas “aberturas tão enormes que me fazem o outro” (ibid, p. 170), participando da “dissolução dos vínculos pessoais no sono cósmico” (ibid, p. 127): minha cabeça antes de tudo não é cabeça nem minha ela não passa de uma jarra vazia e eu que a carrego sou tudo sou muito mais e muito menos porque a loucura do corpo tanto se trai comedida como se expande indefinidamente (ibid, p. 183). “Cada passo meu é como um rastro de todos” (ibid, p. 93): da mesma maneira que o eulírico presente na poética de Rimbaud (FRIEDRICH: 1978, p. 69), o sujeito extático froesiano é um eu-planetário, total, “capaz de liquefazer o mundo inteiro na sua respiração generosa” e o colocar “dentro de si mesmo como um passarinho sem asas” (FRÓES: 1998, p. 118); trata-se, pois, de eu movido pela certeza de ser todo mundo sem comparação de estreiteza (id, p. 170). Haveria, dessa maneira, um perfil cósmico de certos momentos preguiçosamente gastos num abandono ao prazer (ibid, p. 63). E, se o desvio gramatical presente na famosa definição rimbaudiana Je est un autre desloca a idéia de sujeito da primeira para a terceira pessoa do singular, num dos poemas de Fróes encontramos desvios mais eloqüentes quanto ao caráter plural do eu extático: 50 Sinto que eu somos uma espécie de choque. Que eu somos uma espécie de fratura batida e que eu podemos tirar os personagens do bolso, (…) e eu nem sempre sabemos como articular a garganta (…). Do alto da montanha onde eu viramos alguém como um vulcão de fantasias (…). Eu conseguimos um pouquinho de areia, meia dúzia de rostos para aparecer e sumir (…) com isso eu colocamos no ar uma pessoa infreqüente (…). Eu como sempre estamos sempre perdidos porque não há o que encontrar realmente entre os pensamentos e a porta que corta a nossa imagem mordida em fatias urradas ou, se você preferir, em personagens. (…) eu temos a unidade por alvo (…). Sinto que eu somos uma espécie de fagulha enlatada ou que eu somos ainda um grande cisco que caiu no seu olho. (…) Porque sou eu que tínhamos alguma coisa a dizer, mas mudei de idéia. Eu mudamos de repente (…). Eu somos uma gramática lisa e epidérmica que finge dramaticamente pessoas, (…). Eu mudamos de repente como um grande manequim de brinquedo cujas articulações ignoro. Eu somos uma espécie ofegante de tartaruga hipodérmica que há muitos séculos caminha com essa humanidade nas costas e não sabe se mergulha ou se foge à beira do rio (ibid, pp. 153-155; grifos nossos). Explodindo as fronteiras da realidade individualizada, a poética de Leonardo Fróes se deixa atravessar pelo continuum que é a própria vida, propondo que o homem se oriente para ouvir a canção (…) além de sua própria pessoa (FRÓES: 2005, p. 51). 51 Se não estamos seguros numa forma fisionômica exclusiva, tampouco numa personalidade delimitadora, resta a evidência da completa insignificância do ser humano enquanto indivíduo. Entretanto, insignificância, aqui, é sinônimo de liberdade – trata-se de uma “insignificância perfeita” (FRÓES: 1998, p. 120). O poema “Despovoação da pessoa” é explícito quanto a isso: Tudo o que havia contribuído para forjar, no tempo, uma pessoa, tentando dar coerência à sua instabilidade crônica, tudo que, medido e marcado, era um acréscimo de regulação para o funcionamento ordinário – nome, renome, cadastro etc. – foi de repente estilhaçado e, como cacos de vento no caminho incerto e novo, nada do que fazia persiste na sensação de liberdade que esta pessoa de perfil nulo conquista, ou melhor, conhece, atravessada por lufadas de pó (FRÓES: 2005, p. 33). O êxtase possibilita, em suma, “uma ausência feliz atomizada” (FRÓES: 1998, p. 308): “só depois de viajar e sofrer, depois também de me alegrar, entrar e passear nas pessoas, foi que eu pude afinal ficar isento de mim. Aí então (…) eu percebo que a própria solidez do meu corpo é uma convenção como as outraslxvii” (id, p. 167). Como a noção de subjetividade encarcerada num corpo e numa personalidade individuais é posta em xeque, instala-se o risco dionisíaco da morte, da entrega enfurecida e derradeira ao mundo situado 52 além das individuações aparentes. Desse modo, encontrar-se em estado poético pode ser o mesmo que ir se dando em despedida como se a qualquer momento fosse dar fim à vida (FRÓES: 1998, p. 42). Como a vida, a poesia é uma aventura imprevisível – e não parece ser à-toa que o último livro de Leonardo Fróes, Chinês com sono, tenha início com uma espécie de advertência quanto ao perigo da aniquilação total. Tendo sido atraído por uma “forte energia” até uma “trilha em terra estranha”, cercando-se de “carcaças de boi” em que “trepadeiras silvestres se entrelaçam”, num “nicho entre florido e macabro” (FRÓES: 2005, p. 13) – vida e morte abraçadas –, o poeta ouve uma voz: Voz de boi morto, com certeza, e que na mesma língua breve adverte que, se eu for em frente, não terei retorno (id). Tal idéia de morte, porém, só é relevante caso a vida seja considerada em sua porção individualizada; caso contrário, considerando-se a vida como algo que perpassa todos os seres e fenômenos, sair de si pode significar nascer, criar: Ir, envolto, se expelindo como se um útero (o mundo) fosse à força se abrindo (FRÓES: 1998, p. 43). Saí-me, não sei por quê, e, só mas liberto em mim, dou vida ao que não se vê: 53 um eu de secreta saga que já vai além do tempo (id, p. 46). Sair-me custou um pouco mas agora, que estou fora de mim, extraído e louco, morrer é criar o mundo, percorrê-lo e revirá-lo, ir ao azul profundo em permanente quermesse. Morrer é criar o mundo que, por acaso, acontece (ibid). Fora de si e promovido simultaneamente a artista e a obra de arte, o homem se encontra fora das dimensões temporais ordinárias – está “além do tempo”, in illo tempore: Despojar-me dentro e fora, caso a caso, coisa a coisa, para estar depois e agora (ibid; grifos nossos). É quando o êxtase se revela como uma “dissolução da hora presente sem finalidade” (ibid, p. 120), como uma participação dos “círculos da vida que a modelam mutante e tudo o que acontece é uma hora só para ela” (ibid, p. 173). Na próxima seção, trataremos mais especificamente sobre tal concepção de vida “mutante”, conseqüência da visão de mundo extática. 54 II – A CONFUSA HIBRIDAÇÃOlxviii 55 1 – IMANÊNCIA, DEVIR, METAMORFOSE E A ILUSÃO ANTROPOCÊNTRICO- ANTROPOMÓRFICA 1. 1 – Literatura e Vida como casos de devir Assim Gilles Deleuze, procurando demonstrar o divórcio entre literatura e expressão subjetiva, dá início ao ensaio “A literatura e a vida”: “escrever não é certamente impor uma forma (de expressão) a uma matéria vivida” (DELEUZE: 1997, p. 11). Entretanto, de acordo com o pensador, isto não implicaria num afastamento entre os conceitos postos em par no título do referido texto: “literatura” e “vida” seriam incompatíveis não consigo mesmas, mas com a forma, com o acabamento da expressão: a literatura está antes do lado do informe, ou do inacabamento (…). Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. É um processo, ou seja, uma passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido (id). Expressar-se seria se estabelecer numa forma, sinônimo de imposição e de dominação – e a literatura não se reduziria à forma, tampouco “Vida” se confundiria com o vivível ou com o vivido: esta se trata de “imanência absoluta”, não estando em coisa alguma, tampouco pertencendo a um sujeito (DELEUZE: 2004, p. 161). “A pura imanência é UMA VIDA, nada mais. Ela não é imanência à vida, mas o imanente que não é imanente a nada específico (…). Uma vida é a imanência da imanência”, uma “consciência imediata absoluta, cuja própria atividade não se remete a um ser, mas não cessa de se colocar numa vida” (id). O artigo indefinido que ocorre no sintagma “uma vida”, de acordo com Deleuze, não traria para o substantivo “a indeterminação da pessoa sem antes ser a determinação do singular” 56 (ibid, p. 162) e “índice de uma multiplicidade” (ibid, p. 163). “Uma vida”, “neutra, para além do bem e do mal”, portanto, é apagamento da individualidade “em prol da vida singular imanente”, quando a vida empírica do indivíduo dá lugar “a uma vida impessoal, contudo singular, que libera um puro acontecimento sem acidentes da vida interior e exterior, isto é, da subjetividade e da objetividade”, e que “está por todos os lugares, por todos os momentos que atravessam este ou aquele sujeito vivo e que medem tais objetos vividos” (ibid, p. 162). Em suma, uma vida “não sobrevém nem sucede, mas apresenta a imensidão do tempo vazio em que se vê o acontecimento ainda por vir e já transcorrido, no absoluto de uma consciência imediata” (ibid). Como devir “não é atingir uma forma (identificação, imitação, Mimese), mas encontrar a zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou de indiferenciação”, seu locus é “sempre ‘entre’ ou ‘no meio’” (DELEUZE: 1997, p. 11) – daí Deleuze afirmar que o “atletismo” que toda literatura comportaria “se exerce na fuga e na defecção orgânicas”, isto é, naquilo que não identifica o atleta como atleta, naquilo que o faz morrer, naquilo que não o formaliza de maneira opressora (id, p. 12): escrever não é contar as próprias lembranças, suas viagens, seus amores e lutos, sonhos e fantasmas. (…) a literatura segue a via inversa, e só se instala descobrindo sob as aparentes pessoas a potência de um impessoal, que de modo algum é uma generalidade, mas uma singularidade no mais alto grau (…). As duas primeiras pessoas do singular não servem de condição à enunciação literária; a literatura só começa quando nasce em nós uma terceira pessoa que nos destitui do poder de dizer Eu (ibid, pp. 12-13). A potência de saúde apresentada, segundo Gilles Deleuze, pelo devir e, por conseguinte, pela literatura reside exatamente na possibilidade que ambos ofereceriam de desobstruir o processo de atravessamento da vida, demonstrando a precariedade da forma: 57 não se escreve com as próprias neuroses. A neurose, a psicose não são passagens de vida, mas estados em que se cai quando o processo é interrompido, impedido, colmatado. A doença não é processo, mas a parada do processo (…). Por isso, o escritor, enquanto tal, não é doente, mas antes médico, médico de si próprio e do mundo. (…) A literatura aparece, então, como um empreendimento de saúde: não que o escritor tenha forçosamente uma saúde de ferro (haveria aqui a mesma ambigüidade que no atletismo), mas ele goza de uma frágil saúde irresistível, que provém do fato de ter visto e ouvido coisas demasiado grandes para ele, fortes demais, irrespiráveis, cuja passagem o esgota, dando-lhe contudo devires que uma gorda saúde dominante tornaria impossíveis. (…) Qual saúde bastaria para libertar a vida em toda parte onde esteja aprisionada pelo homem e no homem, pelos organismos e gêneros e no interior deles? (ibid, pp. 13-14). As dimensões dessa potência de saúde atingiriam proporções coletivas, demográficas: “a saúde como literatura, como escrita, consiste em inventar um povo que falta. (…) Não se escreve com as próprias lembranças, a menos que delas se faça a origem ou a destinação coletivas de um povo por vir ainda enterrado em suas traições e renegações” (ibid, p. 14). Tal povo, inventado e sem identidade, não é um povo chamado a dominar o mundo. É um povo menor, eternamente menor, tomado num devir-revolucionário. Talvez ele só exista nos átomos do escritor, povo bastardo, inferior, dominado, sempre em devir, sempre inacabado (ibid). Definindo a literatura platonicamente como “delírio” (ibid, p. 15), Deleuze destaca que “todo delírio é histórico-mundial” (ibid) e, graças a tal abrangência, o “destino” da literatura “se decide entre dois pólos do delírio”: o delírio é uma doença, a doença por excelência a cada vez que erige uma raça pretensamente pura e dominante. Mas ele é a medida de saúde quando invoca essa raça bastarda oprimida que não pára de agitar-se sob as dominações, de resistir a tudo o que esmaga e aprisiona e de, como processo, 58 abrir um sulco para si na literatura. Também aí um estado doentio ameaça sempre interromper o processo ou o devir; e se reencontra a mesma ambigüidade que se nota no caso da saúde e do atletismo, o risco constante de que um delírio de dominação se misture ao delírio bastardo e arraste a literatura em direção a um fascismo larvado, a uma doença contra a qual se luta, pronta para diagnosticá-la em si mesma e para lutar contra si mesma (ibid). Com isso, o “fim último da literatura”, segundo Deleuze, seria “pôr em evidência no delírio essa criação de uma saúde, ou essa invenção de um povo, isto é, uma possibilidade de vidalxix” (ibid). 1. 2 – Natureza, experiência e Metamorphose Também Johann Wolfgang von Goethe vislumbrará a literatura como uma possibilidade de vida – mas antes de traçarmos tal ponto de contato entre as idéias deleuzeanas demonstradas supra e o pensamento goetheano, faz-se necessário apresentar certos aspectos mais elementares deste último, mais especificamente aqueles relacionados à chamada Naturwissenschaft, “ciência ou filosofia da natureza”. Desde já, fique claro que, graças ao fato de que esta resulta de uma abrangente atividade intelectual que Goethe cultivou ao longo de toda a sua vida, paralelamente à produção literárialxx (GONÇALVES in GOETHE: 2003, p. VIII), o presente trabalho, tendo de abdicar da missão de se deter em todos os escritos do poeta de Frankfurt que seriam, aqui, relevantes, pretende buscar a idéia de natureza que se encontraria subjacente em sua obra in totum a partir, sobretudo, da leitura dos aforismos reunidos sob o título de Maximen und Reflexionenlxxi dedicados direta ou indiretamente ao tema. 59 Note-se que, embora resultem de meditações empreendidas por Goethe em seus últimos trinta anos de vida, muitos destes aforismos parecem se estabelecer como desdobramentos daquela que seria a mais fundamental das idéias defendidas pelo Sturm und Drang, movimento capitaneado pelo poeta em sua juventude, em parceria com o filósofo Johann Gottfried Herder: a integridade entre espírito e natureza (id, pp. VII-VIII). Herder destacou que o conhecimento humano não se circunscreveria à atuação de uma alma apartada do mundo sensível, sendo, na verdade, um nítido “resultado” dos “estados de sensibilidade” (Empfindung) experimentados na esfera corpórealxxii (HERDER apud GONÇALVES in GOETHE: 2003, pp. VII-VIII) – isso porque, para o pensador, a razão seria um produto da linguagem, e não o contrário, e esta teria uma origem fisiológica e natural (GONÇALVES in GOETHE: 2003, pp. VII-VIII). De maneira bastante similar, Goethe afirma, no aforismo 1.021 das Maximen und Reflexionen, que não é a linguagem em si e por si que é correta, efetiva e graciosa, mas sim o espírito que se corporifica nela. Assim, não depende de cada um se ele quer ou não emprestar aos seus cálculos, discursos ou poemas as propriedades desejáveis: a questão é muito mais se a natureza lhe emprestou as propriedades espirituais e éticas para tanto (GOETHE: 2003, p. 157). No aforismo 1.345, Goethe resume tal visão: “comunicar-se é natureza” (id, p. 194). Os atributos tradicionalmente categorizados e atribuídos uns ao espírito humano e outros ao universo natural – incluído neste, o corpo sensível – trabalhariam numa “unidade sintética, simbiótica e circular” (GONÇALVES in GOETHE: 2003, p. VII), o que desencadearia uma necessidade de se repensar os limites entre natureza e cultura. Não seria gratuita, portanto, a comparação estabelecida pelo jovem Goethe, já em 1773, entre a obra de Erwin von Steinbach, um dois arquitetos da catedral de Strasburgo, e as “árvores do Senhor”, “obras 60 da eterna Natureza” (GOETHE in LOBO: 1987, pp. 21 e 23) – tampouco a aproximação entre sua poesia e um fruto, nos seguintes versos: A casca rebenta, e cai Alegre pra o chão o fruto; Tais minhas canções aos montes Te vão cair no regaço (GOETHE: 1958, p. 181). Saber e sabor parecem resgatar seu parentesco etimológico – no aforismo 295, Goethe denuncia: “os sentidos não enganam: o juízo engana” (GOETHE: 2003, p. 47). O privilégio dado por Goethe à empiria, com base nos sentidos e na ação – esta enquanto antípoda da pura teoria –, é outra conseqüência da unidade espírito-corpolxxiii. O poeta chega a definir a Naturwissenschaft, no aforismo 565, como elevado O empirismo até a incondicionalidade (id, p. 86). ampliado No aforismo 235, o poeta é categórico: “não é suficiente saber, é preciso aplicar; não é suficiente querer, é preciso também fazer” (id, p. 38; cf. também os aforismos 304, p. 48; 408, p. 63; 565, p. 86); “quem se satisfaz”, diz Goethe no aforismo 296, “com a pura experiência e age de acordo com ela tem suficientemente o verdadeiro” (ibid, p. 47). O tom pessoal do aforismo 278 imprime maior agudez à questão: “meus estudos da natureza repousam todos sobre a pura base da experiência viva” (id, p. 44). No aforismo 497, Goethe declara que, estando a teoria, a experiência (Versuch) e o fenômeno “um em frente do outro em constante conflito”, “toda unificação na reflexão é uma ilusão; eles só podem ser unificados pela ação” (ibid, p. 76). A utilidade da reflexão teórica é demarcada no aforismo 563: 61 A experiência pode ser ampliada até o infinito, a teoria não pode se purificar no mesmo sentido e se tornar cada vez mais perfeita. Para a experiência, o Universo se encontra aberto em todas as direções; a teoria permanece encerrada no interior dos limites das aptidões humanas (ibid, p. 85). Mereceria destaque, ainda, a definição de saber encontrada no aforismo 306: “o que é significante na experiência e o que sempre aponta para o universal” (ibid, p. 48). De fato, no conceito de Versuch, “experiência”, se encontra não apenas a base metodológica da Naturwissenschaft goetheana, mas também, de acordo com as formulações estéticofilosóficas do poeta, a “verdadeira essência da criação artística e poética ou poiética, enquanto eterno ato de criação” (GONÇALVES in GOETHE: 2003, p. XI). Comum à ciência, à arte e à própria vida, seja esta entendida como história individual ou universal (id, p. XII), o Versuch é definido como uma ativa e criativalxxiv experiência de segundo nívellxxv (ibid, p. X), isto é, aquela através da qual seria viável o Aperçu, a verdadeira observação dos fenômenos (ibid, p. XII): deve-se penetrá-los em sua profundidade para, então, se ter acesso ao que extrapolaria sua singularidade (ibid, pp. X-XI). Retomando-se o aforismo 500, “nenhum fenômeno esclarece-se em si e a partir de si mesmo; somente muitas coisas, consideradas conjuntamente, ordenadas metodicamente, são capazes de fornecer por fim algo que poderia ser válido como teoria” (GOETHE: 2003, p. 77). “Um fenômeno, um experimento”, continua Goethe no aforismo 501, “não está em condições de demonstrar nada, ele é o elo de uma grande corrente, que só vigora em conexão” (ibid, p. 77). Com o “jogo eterno da experiência”, seria permitido, em suma, vislumbrar, alegrementelxxvi, a unificação (Vereinigung) ou ligação (Verbindung) que existiria não somente entre todos os objetos: o Versuch seria o mediador (Vermittler) também entre o objeto e o sujeitolxxvii (GONÇALVES in GOETHE: 2003, pp. X-XI). “O fenômeno”, afirma o poeta no aforismo 512, 62 “não está apartado do observador, mas sim muito mais tragado e implicado em sua própria individualidade” (GOETHE: 2003, p. 78); no aforismo 515, diz Goethe: “tudo o que há no sujeito há no objeto e ainda algo mais. Tudo o que há no objeto há no sujeito e ainda algo maislxxviii” (id, p. 79). Num de seus versos, canta o poeta: “dentro de nós há também um Universo” (GOETHE: 1958, p. 229). A mesma noção se encontra expressa no aforismo 248: “é um negócio agradável pesquisar ao mesmo tempo a si mesmo e a natureza, não violentando nem o seu espírito nem a ela, mas equilibrando-os por meio de uma suave influência recíproca” (GOETHE: 2003, p. 39). “Conhecer a ordem da Natureza (no sentido goetheano de reconhecer os nexos presentes no mundo sensível) seria o equivalente, portanto, a harmonizar o espírito com ela” (MATTOS: 2006, p. 86). No aforismo 501, Goethe exclama: “procurai em vós e vós encontrareis todas as coisas; e alegrai-vos se aí fora existir uma natureza que diz sim e amém a tudo o que encontrardes em vós como quer que vós venhais a denominá-la!” (GOETHE: 2003, p. 78). Isso porque, tomando as palavras do aforismo 491, “o universal e o particular coincidem: o particular é o universal que se manifesta sob diversas condições” (id, p. 76). No aforismo seguinte, Goethe complementa: “o particular subjaz eternamente ao universal; o universal tem eternamente de se juntar ao particular” (ibid). Goethe acreditava, portanto, que é no universo sensível, fenomênico – numa palavra: na natureza – que se revela o eterno; é o que deixa explícito o aforismo 5: “não importa para que lado se olhe, da natureza sempre emerge algo infinito” (GOETHE: 2003, p. 1). O mesmo se encontra na construção antitética dos seguintes versos: “Se queres caminhar para o Infinito, / Anda para todos os lados do Finito” (GOETHE: 1958, p. 203). A aproximação entre Deus e mundo natural, articulada nos aforismos 1, 2, 3 e 4, certamente se baseia nesta concepção de natureza, definida no aforismo 41 como um conjunto de 63 “grandes forças originárias desenvolvidas desde a eternidade ou no tempo”, que “atuam ininterruptamente” (GOETHE: 2003, p. 7). Quanto aos valores parciais que as tradições religiosas atribuem à divindade, são eles devidamente desvinculados da totalidade natural: “o fato de elas [as grandes forças originárias] atuarem de maneira proveitosa ou nociva é casual” (id). A indiferença da sempiterna natureza em relação ao limitado mundo humano fica explícita no seguinte fragmento de um famoso poema de Goethe, “Das Göttliche” (“O Divino”): Pois insensível é a natureza: O sol ’spalha luz Sobre maus e bons, E ao criminoso Brilham como ao santo A lua e as ’strelas. (GOETHE: 1958, p. 51) É similar o que se lê no aforismo 247 das Maximen und Reflexionen: “o que temos são sempre apenas os nossos olhos, os nossos modos de representação; a natureza sabe totalmente por si o que ela quer e o que ela quis” (GOETHE: 2003, p.39). Se, “com sua produtividade ilimitada”, conforme afirma o poeta no aforismo 27, “a natureza preenche todos os espaços” (id, p. 5), e, com tamanha grandiosidade, tenha ela, a natureza, reservado para si, como é declarado no aforismo 245, “tanta liberdade que não estamos em condições de competir com ela em toda a sua extensão ou de acossá-la com o nosso saber e nossa ciência” (ibid., p. 39), o pan-naturismo por que se traduz a Naturwissenschaft goetheana acaba por se revelar numa espécie de panteísmo. É o que fica claro no aforismo 49: “pesquisando a natureza, somos panteístaslxxix” (ibid, p. 9). Haveria, para o poeta, de acordo com o aforismo 52, uma religião verdadeira, “sagrada, que habita em nós e em torno de nós, totalmente amorfa” (ibid); diante dela, o erro do homem, como é dito no aforismo 6, 64 seria “não conseguir encontrar sua relação consigo mesmo, com os outros e com as coisas” (ibid, p. 1), ou seja, não sentir a ligação, referida no aforismo 8, que existiria entre o divino individual e o divino do Universo (ibid, p. 2). “Os homens”, diz Goethe no aforismo 588, “são de tal modo sobrecarregados pelas condições infinitas do fenômeno que eles não conseguem se dar conta da coisa una que condiciona originariamentelxxx” (ibid, p. 89). “Natureza e idéia”, declara o poeta no aforismo 890, “não se deixam cindir sem que a arte, assim como a vida, seja destruída” (ibid, p. 137). Note-se que a idéia, princípio fundador da metafísica ocidental, mantém-se eterna e única no pensamento de Goethe, mas se encontra manifesta, como afirma no aforismo 11, em “tudo aquilo de que podemos nos dar conta e que podemos falarlxxxi” (ibid, p. 2), e vem, segundo o aforismo 13, “ao nosso encontro como a lei de todos os fenômenos” (ibid). Visto que, como declara Goethe no aforismo 488, “não se deve buscar nada por detrás dos fenômenos: eles mesmos são a doutrina” (ibid, p. 75), basta intuirmos, conforme sugere o aforismo 14, o “diverso como idêntico” que “idéia e fenômeno se encontram” (ibid, pp. 2-3). A empiria, como afirma o aforismo seguinte, não passa do “crescimento ilimitado do mesmo” (ibid, p. 3) – e a natureza, diz Goethe no aforismo 22, “é sempre a mesma no que há de maior e no que há de menor”, (ibid, p. 4). O aforismo 23 complementa: “cada existente é um análogo de todo existente; portanto a existência sempre aparece para nós ao mesmo tempo separada e conjugada” (ibid). Por isso, de acordo com o aforismo 15, o Urphänomen, “fenômeno originário”, encontrado a partir do Versuch é, simultaneamente, ideal enquanto o derradeiro cognoscível, real enquanto conhecido, simbólico porque compreende todos os casos, idêntico a todos os casos (ibid, p. 3) 65 Experimentar dos Urphänomenen seria, pois, o mesmo que superar os limites impressos pela experiência cotidiana e imediata que toma os fenômenos isoladamente. A própria restrição do indivíduo seria, como afirma o poeta no aforismo 20, uma “limitação hipotética” (ibid). Assim Goethe enumera, no aforismo 21, as propriedades fundamentais da unidade viva: cindir-se, unificar-se, expandirse até o universal, perseverar no singular, transformar-se, especificar-se; e como o vivente pode se tornar manifesto sob mil condições, ele pode aparecer e desaparecer, solidificar e derreter, cristalizar e fluir, estender-se e contrair-se. E porque todos estes efeitos se dão no mesmo momento do tempo, todas as coisas em geral e cada uma delas em particular podem entrar em cena ao mesmo tempo. Surgir e perecer, criar e aniquilar, nascimento e morte, alegria e tristeza: todos atuam uns por meio dos outros, no mesmo sentido e na mesma medida. Assim, mesmo a coisa mais particular que possa acontecer sempre aparece como imagem e alegoria da mais universal (ibid, p. 4). Tem-se, desta maneira, o jogo entre constância e contradição, para o qual o aforismo 38 estabelece uma verdadeira transposição lingüística: Constância (enquanto) com (e no entanto) Contradição (ibid, p. 8) A analogia será considerada por Goethe como uma possibilidade para se lidar com um mundo em que os contrários estabelecem, fundamentalmente, um continuum, já que ela se coloca como um pensamento que, como atestam os aforismos 25 e 26, “não quer se impor, não quer demonstrar nada” (ibid, p. 5), apresentando “a vantagem de não se concluir” e de “não querer propriamente nada de derradeiro” (ibid). Trata-se de um dos pontos-chave do método científico goetheano, que, baseando-se na morfologia comparadalxxxii, ao invés de impor uma lei às formas – tal como já fazia a ciência de base iluminista em sua época –, 66 procurava deduzir a lei da própria forma sensível (MATTOS: 2006, p. 84). Com isso, Goethe pretendia – e, para tanto, foram fundamentais suas leituras de Espinosa, o mesmo filósofo citado algumas vezes por Deleuze num dos textos que utilizamos em 1. 1lxxxiii – “vislumbrar os nexos entre as diversas instâncias do real, ou, em outras palavras, a ordem imanente da Natureza” (id). A ciência, entendida, assim, como um conhecimento sobre a fisionomia do fenômeno, terá como instrumento essencial o olhar, “que trabalha fazendo a operação de separar aquilo que lhe parece diferente e juntar o semelhante” (ibid, p. 86). Claro fica, então, que a melhor maneira de se expor o conhecimento científico seria através da arte, ou seja, através de uma imagem da Natureza (ibid). Daí, as definições de belo e de arte contidas, respectivamente, nos aforismos 719 e 729: (p. 112): “o belo é uma manifestação de leis secretas da natureza que, sem fenomenalidade, teriam permanecido eternamente veladas para nós” (GOETHE: 2003, p. 112); “a arte é mediadora do inexprimível” (id, p. 113). Por isso, como atesta o aforismo 720, “aquele para quem a natureza começa a descortinar seu mistério revelado sente uma saudade irresistível de sua mais digna intérprete: a arte” (ibid, p. 112). Vale ainda a leitura do aforismo 872: algumas coisas belas encontram-se isoladas no mundo, mas é o espírito que tem de descobrir conexões e produzir a partir daí obras de arte. – A flor só conquista seu encanto por meio do inseto que se liga a ela, pelas gotas de orvalho que a umedecem, pelo vaso do qual ela talvez retire seu derradeiro alimento. Não há nenhum arbusto, nenhuma árvore, à qual não se pudesse dar significação pela vizinhança de um rochedo, de uma fonte; à qual não se pudesse emprestar um maior encantolxxxiv (ibid, p. 135). Como, para Goethe, de maneira bastante dialogável com as idéias de Gilles Deleuze, “a natureza seria um organismo vivo em constante evolução e a forma, portanto, apenas um acontecimento momentâneo de contínua transformação” (MATTOS: 2006, pp. 67 92-93), além de se articularem com tudo o que existe, os seres apresentariam o atributo da Metamorphose, que lhes garantiria a eternidade; assim se expressa o poeta no aforismo 985: “o apelo ao mundo por vir emerge do sentimento puro e vital de que há algo imperecível” (ibid, p. 152). Trata-se de um desenvolvimento da já mencionada noção de uma idéia que permanece sempre a mesma na multiplicidade dos fenômenos. No poema “Nostalgia da Bem-aventurança”, Goethe articula a idéia de morrer à de devir: E enquanto não entenderes Isto: – Morre e devém! –, Serás só turvo conviva Nas trevas da terra-mãe (GOETHE: 1958, p. 169). Note-se que, para Goethe, a “sublimação” (Steigerung) da alma “não se dá fora do mundo” (QUINTELA in GOETHE: 1958, p. 361) – isto porque o conceito de Metamorphose implica noutros dois conceitos: polarização (Polarität) e elevação (Steigerung) (MATTOS: 2006, p. 93). Seria preciso que toda a matéria estivesse organizada em pólos, que gerariam “um impulso em direção à sua superação em um nível mais elevado, onde, por sua vez, novas polaridades se apresentariam, constituindo o movimento de pulsação da própria vida” (id). Dessa maneira, encontrar-se em oposição seria necessário para que, superando-a, se pulse, se viva. 1. 3 – A crise do antropomorfismo Uma concepção de metamorfose bastante similar àquela sistematizada por Goethe – e também ao conceito de devir dado por Deleuze – poderia ser abundantemente encontrada na obra atribuída ao chamado Comte de Lautréamont. Para os três, o “vir a ser” denunciaria 68 a limitação do homem enquanto individuação – limitação esta que teria sido traduzida pela civilização ocidental através do projeto antropocêntrico. Assinale-se, já, que a questão da insuficiência da tradicional visão antropocêntrica atravessa toda a cultura européia. Pelo menos desde o século XVI, a ciência e a filosofia, recorrendo a autores clássicos, lançam-se ao debate sobre a pluralidade dos mundos e das formas de vida, que ganhará vigor nos séculos seguintes. (…) A partir de meados do século XVII a noção de centralidade do homem no universo tende a perder sentido, sobretudo com a expansão da anatomia comparada (…). Grande parte dos cientistas e filósofos passam a refutar abertamente a legitimidade de um ponto de vista antropocêntrico, enfraquecendo sobremaneira a doutrina ortodoxa da singularidade humana (MORAES: 2002, p. 81). Destacar-se-iam, nessa crítica ao antropocentrismo, os pensadores céticos e libertinos, que se recusaram a “acatar a idéia de um universo construído para o homem e em função do homem” (id, pp. 81-82) – recusa esta que ganhará intensidade no pensamento materialista francês do século XVIII, a partir do qual chega a Sade, “que dela se serve para justificar seus princípios” (ibid, p. 82). Afirmando a “equivalência entre todos os seres do universo sem conferir nenhum privilégio ao homem”, Sade “anuncia o intento de ‘desumanização’ que será perseguido por Nietzsche, Artaud, Roussel, Breton ou Bataille” (ibid, p. 83) – enfim, por todos os grandes vultos que se empenharam em subverter o projeto que, sobretudo a partir dos fins do Século das Luzes, como uma “verdadeira obsessão”, procurou “‘fixar’ a face do homem” e “confinar o ser humano num retrato imóvel e definitivo” (ibid, p. 19): o antropomorfismo a serviço do antropocentrismo, a opressão da forma – como diria Deleuze – a serviço da opressão da consciência do “estar no mundo”. Embora originado com o Romantismolxxxv e recorrente já na arte e no pensamento franceses no final do século XIX, o imaginário de dilaceramento e de desfiguração anatômicas decorrente da subversão do ideal antropomórfico só “ganha maior evidência 69 com as indagações que os surrealistas lançam ao princípio da identidade, submetendo-o aos imperativos do desejo” (ibid, p. 21). Max Ernst, sintetizando o sentimento estético de sua geraçãolxxxvi, assim parodiou a fórmula surreal de André Breton: “a identidade será convulsiva ou não será” (ERNST apud MORAES: op. cit., p. 74). Os criadores do surrealismo e seus contemporâneos, porém, já tinham se deparado com “um ataque frontal” ao princípio da identidade na enigmática obra do também enigmático Isidore Ducasse, o Comte de Lautréamont (MORAES: op. cit., p. 40), em cujos Chants de Maldoror é impossível discernir o autor do personagem, sendo que cada qual remete a uma sucessão de desdobramentos. Se a figura do autor perde-se em mistérios, dado sua sumaríssima biografia, não menos enigmática será a do Conde de Lautréamont, seu pseudônimo, inspirado no personagem homônimo criado por Eugène Sue em Os mistérios de Paris. A epopéia de Maldoror é ora narrada pelo suposto autor, ora pelo próprio herói, ele mesmo reduplicado em uma série de metamorfoses. A indeterminação entre as figuras de Ducasse, Lautréamont e Maldoror parece realizar o próprio desejo de apagamento manifesto em sua obra e resumido numa frase que os surrealistas não cansaram de repetir: “a poesia deve ser feita por todos, e não por um” (id). A “poética de agressão pura” que estrutura os Cantos de Maldoror veio a calhar para os contemporâneos de Breton, insuflados de revolta diante dos horrores da guerra e desejosos por “novos campos de experiência poética” (ibid). Maldoror é “aquele que tudo renegou” (LAUTRÉAMONT: 1997, p. 229), mas que julga ilógico afastar-se da humanidade, a quem tanto detesta (id, p. 225): já que, “além da violência física propriamente dita, faz parte dos Cantos a agressão contra a ordem natural” (WILLER, in: LAUTRÉAMONT: op. cit., p. 24), o ódio e a indignação parecem funcionar como catalisadores na concepção de uma “poesia inteiramente à margem da marcha costumeira da natureza, e cujo hábito pernicioso pareça subverter até mesmo as verdades absolutas” (LAUTRÉAMONT: op. cit., p. 248). “Lautréamont descreve um mundo que se metamorfoseia, onde sempre se observa um 70 desvio das leis da natureza, regido por uma lógica semelhante à do sonho” (WILLER, in: LAUTRÉAMONT: op. cit., p. 24). Não é preciso dizer que a natureza contra a qual se dirige a violência de Maldoror não coincide com a Natur goetheana: aquela seria a natureza possuidora das leis fixadas pela ciência de base iluminista. Maldoror denuncia que “a consciência só sabe mostrar suas garras de aço”, sendo preciso esmagá-la, decapitá-la, expulsá-la a chicotadas (LAUTRÉAMONT: op. cit., pp. 142143): assim seria possível reencontrar um campo sem fronteiras do qual só seria possível fazer menção através de um pensamento complexo que desse conta de todas as possibilidades de interação e correspondência entre o que estaria supostamente dividido. Tal pensamento seria o analógico, “o único, segundo Breton, capaz de produzir efeitos poéticos” (MORAES: op. cit., p. 41). “Belo como (…) o encontro fortuito sobre uma mesa de dissecção de uma máquina de costura e um guarda-chuva” (LAUTRÉAMONT: op. cit., p. 228): funcionando como um emblema para o primado desse pensamento, a famosa frase de Ducasse colaborou para a concepção da imagem poética surrealista, determinando que, ao poeta, não cabia apenas estabelecer correspondências ao comparar os diversos elementos do universo – era preciso deixar que o desejo as inventasse arbitrariamentelxxxvii (MORAES: op. cit., pp. 40- 41). Além de driblar a subjetividade que poderia agir como fator limitador na procura e interpretação das correspondênciaslxxxviii, tal proposta denunciava certa autonomia da linguagem em relação ao mundo – o que acarreta uma drástica revisão da noção de belo, que não teria mais como ser reduzida a mero reconhecimento de uma suposta realidade (id, p. 41). O “encontro fortuito” a que eram submetidos os elementos na composição artística desenvolvida pelos surrealistas – i. é, no chamado “automatismo psíquico” – apresentaria, contudo, uma espécie de sentido, posto que, mesmo entre situações ordinárias, 71 aparentemente sem qualquer ligação umas com as outras, poderia ser observado “um denominador comum”, um elo “entre o insignificante e o significativo”, entre duas séries aparentemente distintas – “uma, casual, de caráter totalmente fortuito, e a outra, causal, resultante de determinações objetivas” (ibid). Trata-se do que Breton chamou de “acaso objetivo”, articulação empreendida pelo desejo que obedeceria “às mesmas leis que presidem à organização dos sonhos, colocando igualmente o sujeito em comunicação misteriosa com o mundo” (ibid, p. 43). A visão que aqui se tem de invençãolxxxix é algo que, portanto, oscila “entre a descoberta de um sentido oculto e a produção de um sentido totalmente novo” (ibid, p. 45): a dinâmica para a obtenção do objeto surrealista pressupunha, por um lado, que “a afetividade do artista viria dotar o objeto exterior de um novo sentido”, e por outro, que “a subjetividade do suposto inventor seria incorporada à realidade exterior” (ibid, pp. 63-64). Mais uma vez, não se tem o mero apagamento da subjetividade, mas uma ampliação desta. Os surrealistas chegaram à noção de que, como em qualquer objeto já se inscrevem possibilidades de percepção, dado que dele só temos o aspecto visível (ibid, p. 65), uma maneira de libertá-lo da economia burguesa seria, então, ocultá-lo: “cache-toi, objet”, uma das palavras de ordem que Breton e seus seguidores destacaram dos Chants de Maldoror (ibid, p. 63). Sob tal ótica, “inventar um objeto implicava, a princípio, escondê-lo” – e, assim, criar uma ambivalência que lançaria o observador a “um campo fantasmático, obrigando-o a atravessar o objeto para conhecê-lo mais profundamente” (ibid, p. 64): o objeto ausente evocava o vazio, a não-matéria, o não-objeto. Mas, justamente pela impossibilidade de ser atravessado pelo olhar ou pelas mãos, ele adquiria o estatuto de objeto. Se permanecia imperceptível e impalpável, se sua presença não oferecia nenhuma evidência material, é porque ele resistia em transformar-se num objeto comum, para conservar sua integridade e sua realidade total. O objeto ausente responderia, assim, aos 72 desejos mais inconscientes do homem, atingindo suas nostalgias mais profundas (ibid, p. 65). Além do objet caché, os surrealistas desenvolveram, a partir de Ducasse, a noção de objet dépaysé – o híbrido cheio de convulsões de identidade ao que se chega a partir da aproximação casual e desreferencializante entre objetos e/ou pedaços de objetosxc. Dentre os objetos reconfigurados como cachês e dépaysés, destacou-se o corpo, que, podendo ser tomado como “a unidade material mais imediata do homem, formando um todo através do qual o sujeito se compõe e se reconhece como individualidade”, se tornou “o primeiro alvo a ser atacado” “num mundo voltado para a destruição das integridades” (ibid, p. 60). Constata-se que, da mesma maneira que se fragmentou a consciência do homem moderno, fragmentou-se também o seu corpo (ibid, p. 59). De fato, pode-se flagrar nas primeiras décadas do século XX um verdadeiro triunfo do “empenho de decomposição do corpo humano” – e como decompor a forma humana significa desumanizar a arte, observa-se o quanto Breton e seus contemporâneos, dando continuidade ao projeto dos Chants de Maldoror, procuraram demolir com igual vigor dois pilares do fazer artístico ocidental: o realismo e o humanismo (ibid). Num “continente até então confinado aos limites das descrições realistas e das representações figurativas”, “o artista moderno caminhava contra a realidade na medida em que se propunha decididamente a deformá-la, romper seu aspecto humano, enfim, desumanizá-la” – ou seja, desantropomorfizá-la (ibid, p. 61). Tal exploração “resultou num corpo totalmente desprovido de dimensões estáveis. Um corpo em crise” (ibid, p. 62). No entanto, se “o homem deixa de ser o ponto a partir do qual a percepção do mundo se organiza” e “suas proporções deixam de servir como medida universal do cosmos”, graças à “indagação de seus próprios limites” – e se surgem de tal corpo “novos 73 espaços no pensamento, para o surgimento de formas e seres desconhecidos” (ibid, p. 107), um corpo em crise também é um corpo livre, transfigurado em “corpo do desejo”, irredutível às suas formas supostamente naturais (ibid, p. 66). “Ao afirmar a proeminência do corpo do desejo sobre o corpo natural, o surrealismo colocava em cena imagens nas quais os diversos membros e órgãos tornavam-se intercambiáveis, multiplicavam-se ou eram sumariamente suprimidos” (ibid, p. 69). Para lidar com o corpo do desejo, sempre em devir, sofrendo transformações constantes ou se escondendo eroticamente, os surrealistas fundaram uma “anatomia do desejo”, cujas matrizes imagéticas foram buscadas “nas imagens do prazer e da dor. Ou, numa só palavra: no êxtase” (ibid, p. 71), que ofereceria, logo, a chave para a ampliação da consciência (ibid, p. 72). Com o “inesgotável poder de migração” que os corpos e objetos do desejo passam a ter, é instaurada “uma atmosfera de indeterminação e incerteza que evoca um tempo primeiro, quando as coisas não conheciam estados definitivos, não havia oposições nem contrários” (ibid, p. 76). A retomada da analogia: seria possível atualizar “um tempo de incessantes metamorfoses”, “uma era primordial em que leis, biológicas e sociais, ainda não pesavam sobre a vida, restando uma total indiferença entre as coisas e os seres” (ibid), uma “disposição de intercâmbio entre os diferentes reinos da natureza, ou entre o natural e o artificial, numa visão unitária que se funda sobre o princípio superior de equivalência entre todos os elementos da realidade múltipla” (ibid, pp. 76-77). Vale lembrar, aqui, que o mutante Maldoror, num certo trecho do canto VI, se coloca como alguém que não participa das dimensões físicas ordinárias, podendo estar em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo, tendo nascido “com os primeiros antepassados da nossa raça”, nos “tempos recuados, além da história” (LAUTRÉAMONT: op. cit., p. 226). 74 Essa possibilidade de atualização do in illo tempore, oposta ao dualismo classificatório da consciência ocidental e de sua lógica da identidade, contemplaria, segundo os surrealistas, “a essência da imagem poética: a poesia é um procedimento de totalização do sentido e, como tal, uma ‘linguagem sem negação’” (MORAES: op. cit., p. 77). Encontra-se o ponto de convergência entre poesia e alquimiaxci, ambas perseguindo um desígnio comum em, pelo menos, três níveis: na preocupação de remontar à matéria original do mundo e da linguagem; na operação de transformar as substâncias do universo e do verbo; e no trabalho de interpretação através da grade inesgotável das analogias, chave de todo ato de decifração (id, p. 77). Na base dessa convergência, situa-se o princípio único da analogia universal (ibid, p. 78). “Ao substituir o princípio de identidade e de contradição pela analogia universal, o pensamento surrealista (…) acaba por retornar a uma forma do saber que desaparece na época moderna” – um verdadeiro contradiscurso (ibid, p. 80). Entretanto, o princípio analógico é retomado por Breton com uma modificação essencial: enquanto na analogia de base renascentista, e que fundamentava o saber ocidental até meados do século XVIIxcii, era reservado ao homem um “ponto privilegiado, saturado de analogias” – posto que “nas suas dimensões restritas, o corpo humano reproduzia a ordem do universo”, representando um microcosmo a partir do qual é garantido o encontro com um macrocosmo especular e, ainda que imenso, seguro porque reconhecível – (ibid, p. 79), no princípio analógico surrealista, de base ducassiana, o homem não ocupa centro algum; aliás, não há qualquer possibilidade de centro. Isso porque é operado um “entrelaçamento (…) entre o sistema global das correspondências e as doutrinas que contestam o antropomorfismo”: a “centralidade das relações de semelhança”, assegurada por aquele, é anulada por estas, garantindo-se, então, 75 “a concepção de um jogo de analogias completamente livre de qualquer idéia de ‘medida humana’” (ibid, p. 82). Essa liberdade não apenas permite que ocorram, mas desperta a percepção de que em tudo estariam subscritas combinações, mutações – inclusive entre a figura humana e uma infinidade de outros seres e matériasxciii (ibid., p. 107). Tendo se transformado num tubarão (LAUTRÉAMONT: op. cit., p. 181), num grilo (id, p. 225), num cisne negro (ibid, p. 232), ou, em sonho, num porco (ibid, p. 184), Maldoror era portador de “uma faculdade especial para tomar formas irreconhecíveis aos olhos mais treinados” (ibid, p. 225) – e, inclusive, tece uma apologia do devir: “a metamorfose nunca apareceu a meus olhos senão como elevada e magnânima ressonância de uma felicidade perfeita, que esperava havia muito” (ibid, p. 184). De acordo com Gaston Bachelard, o “frenesi da metamorfose” presente na obra ducassiana deixa claro que “o ato de violência não encontra sua razão de ser na mera destruição, e sim na conquista de novas formas e movimentos”: “no projeto de ‘desumanização’ dos Chants de Maldoror o que importa efetivamente não é ‘o aspecto humano que destrói’, mas sobretudo ‘a fauna heteróclita a que chega’” (MORAES, op. cit., p. 86). Confrontando a obra de Ducasse com a de Franz Kafka, Bachelard afirma que cada um deles se situa num dos “pólos da experiência moderna da metamorfose”: enquanto em Lautréamont as “transformações são urgentes e diretas”, pois ocorrem num “processo vertiginoso de polarização das forças vitais” em que uma forma é destruída para que imediatamente seja criada outra, num movimento ininterrupto que expressa um “violento desejo de viver”, em Kafka, ao contrário, “assiste-se a um espetáculo lento e progressivo de catatonia”, no qual a metamorfose surge como mero “resultado de um retardamento da vida, em que o psiquismo se encolhe e se descoordena”, correspondendo a um “estado de desânimo e impotência que prenuncia a morte” (ibid). Bachelard conclui: “as formas 76 empobrecem em Kafka porque o querer-viver vai se esgotando; multiplicam-se em Lautréamont porque o querer-viver se exaltaxciv” (BACHELARD apud MORAES: op. cit., p. 86). Segundo Lautréamont, a capacidade de metamorfose do homem teria relação com sua “natureza múltipla”, isto é, com sua capacidade de pode viver “na água como hipocampo; nas camadas superiores do ar como a águia marinha; e debaixo da terá como a toupeira, o bicho da conta e o sublime vermezinho” (LAUTRÉAMONT apud MORAES: op. cit., pp. 107-108). É ampliando – e não negando – sua condição biológica que o homem ducassiano ultrapassa seus limites: mais uma vez retomando Bachelard, em Lautréamont “o homem aparece como uma soma de possibilidades vitais, como um ‘superanimal’; tem toda a animalidade à sua disposição” (BACHELARD apud MORAES: op. cit., p. 108). Os Chants de Maldoror inauguram, assim, uma “nova disposição com relação à natureza, que consiste fundamentalmente em abolir as fronteiras convencionais entre seus diversos reinos” – e, a partir desse ponto, “a figura humana se bestializa, dando forma a seres híbridos que vêm compor um inesperado bestiário moderno” (MORAES: op. cit., p. 108): seria um exemplo emblemático o homem-peixe que figura no canto IV (LAUTRÉAMONT: op. cit., pp. 185191). Tal abordagem da natureza será herdada pelos surrealistas, que igualmente negaram as “taxonomias tradicionais que têm como pressuposto a auto-suficiência dos três reinos naturaisxcv” (MORAES: op. cit., p. 109). São palavras de Aragon: “é preciso sair da loja do naturalista para provar a vertigem da floresta virgem e reencontrar o caos primitivo” (ARAGON apud MORAES: op. cit., p. 109). Se sua principal fonte, Lautréamont, afirmava que a humanidade não passa de uma “raça que estendeu um domínio injusto sobre os outros animais da criação” (LAUTRÉAMONT: op. cit., p. 151), e estes, nos Chants de Maldoror, possuem, inclusive, a 77 faculdade da linguagemxcvi, talvez nem seja preciso dizer que, para o surrealismo, não seria restrita ao homem qualquer capacidade, sobretudo a do “superanimal”: todos os seres vivos – e até nos minerais e nos objetos inanimados haveria vidaxcvii – seriam “movidos pela mesma repugnância ao repouso que Bachelard identifica em Maldoror” (MORAES: op. cit., p. 111). Dito de outra forma: tudo o que existe e que a consciência humana capta erroneamente como mero conjunto de individuações revelaria, como vimos com Deleuze e Goethe, um “caos primitivo” em que “os seres se contaminam uns aos outrosxcviii” (id, p. 112): “é um homem ou uma pedra ou uma árvore quem vai começar o quarto canto”, afirma Maldoror (LAUTRÉAMONT: op. cit., p. 167). A história natural engendrada pelos surrealistas – em muitos pontos, bastante dialogável com a Naturwissenschaft goetheana – tem como base a idéia de que “dos parasitas às baleias, dos vermes aos elefantes, nenhum ser vivo – incluindo o homem – escapa ao princípio soberano da metamorfose” (MORAES: op. cit., p. 112). E este princípio seria intensificado pela ação da imaginação humana, dado que, no inconsciente que a move, “as leis que regem a floresta virgem revelam-se ainda mais operantes” (id): tornam-se ilusórias as fronteiras entre os universos natural e cultural. Como a imaginação “só compreende uma forma quando a transforma, quando lhe dinamiza o devir e quando a apanha no fluxo da causalidade formal, do mesmo modo que o físico só compreende um fenômeno quando o apanha no fluxo da causalidade eficiente”, “a metamorfose torna-se função específica da imaginação” (BACHELARD apud MORAES: op. cit., p 112). O radical hibridismo dela resultante concretiza o ideal surrealista da imagem poética dinâmica do devir, testemunhando “a eternidade da luta entre as potências agregantes e desagregantes que reivindicam a verdadeira realidade da vida” (BRETON apud MORAES, p. 113). 78 1. 4 – O chamado selvagem Gary Snyder, poeta e ensaísta norte-americano incluído entre os chamados escritores beats, também propôs que o fazer poético proporcionaria ao homem a percepção da total interconexão entre tudo o que existe, desfazendo as limitações impostas pelo pensamento ocidental, e redimensionando as noções de natureza e cultura. Todavia, antes de adentrarmos em tais questões, parece necessário tratar de alguns tópicos introdutórios acerca da chamada “geração beat”, a fim de destacar a especificidade de Snyder diante dela. Os artistasxcix que fazem parte de tal geração podem ser situados, como aponta Leonardo Fróes em seu ensaio “Histórias Beats”, na “origem vulcânica dos rebeldes anos 50, quando a poesia americana quis ser um estilo de vida” (FRÓES: 1984, p. 11), e não teriam chegado a constituir um movimento organizado em torno de um programa estético ou político comum (BUENO & GOES: 1984, p. 8). O que os unia era a rejeição à poesia acadêmica e a um intelectualismo estéril dos anos 30 e 40, além da busca por uma indiferenciação entre poesia e vida (id, p. 60) e da “incorporação (…) do movimento constante como sinônimo de liberdade” (ibid, p. 13) – incorporação esta que lhes confere a alcunha de “geração em movimento”, que ia “dos poemas às estradas, passando por bares e cafés, festas e drogas, comunidades e qualquer outro palco onde estivesse a vida” (ibid, p. 10). A “linha-mestra” da poesia beat estaria na “retomada da tradição oral e da função social do poeta” (ibid., p. 63), numa verdadeira “recuperação da palavra poética falada e cantada” (ibid., p. 50). Daí as famosas leituras de poesia em lugares quase sempre não muito convencionais – bares, pequenos teatros, casas de Jazz, residências particulares etcc (ibid., p. 62) –, o que teve como conseqüência a popularização de uma literatura “fora do circuito comercial das 79 editoras e dos trâmites do prestígio acadêmico” (ibid, p. 62), beirando o “abandono do veículo livro e da tradição da palavra impressaci” (ibid, p. 67). E como a oralidade/musicalidade dessa poesia era “inalcançável pela ótica square (careta, conformista)cii”, seu beat (batida), seu feeling (sentimento) e seu swing (ginga, balanço) foram vistos pela crítica como “‘descuido formal’, displicência no ‘acabamento’, ausência de ‘síntese’ e excessiva ‘discursividade’” (ibid, p. 13), acarretando um longo silêncio acadêmico em relação aos beats e um preconceito que ignora sua alta erudiçãociii. Dentre os variadíssimos elementos que compõem o universo beat, Leonardo Fróes considera mais essencial o ímpeto de “escrever sobre si mesmo”, alimentado pelo “desejo de restituir à poesia uma qualidade sangüínea” (FRÓES: 1984, p. 13), torná-la, mais uma vez, uma “prática literária que parte da realidade concreta do indivíduo”, dando voz “a uma seqüência de instantes, aos ritmos da própria estranheza de quem se põe a escreverciv” (id, p. 14). Por outro lado, haveria uma unidade na literatura beat em seu diálogo com o Jazz, estilo musical que despertou o interesse dos poetas não apenas pelo fato de ter sido visto como “a linguagem musical da América”, mas “pela sua própria capacidade de traduzir e envolver muito além das palavras, muito além do bom-senso ou da boa intenção moralizante”, graças à sua “forte carga sexual” (BUENO & GOES: op. cit., p. 62). Os beats, “cujo serviço histórico mais firme”, conforme aponta Leonardo Fróes, “foi justamente revelar que o modelo [capitalista norte-americano], vazio monumental de aparências, na realidade não passa de uma trama com furos” (FRÓES: 1984, p. 16), “demonstraram no tempo e no próprio corpo à América que o materialismo consumista não sacia a fome do homem” (id, p. 12). Para eles, a cultura do Jazz se posicionava contra o macartismo reacionário do pós-guerra, e tinha, portanto, “um sentido terapêutico”, “de Saúde, de Cura” (BUENO & GOES: 1984, p. 19): era 80 a força do Sagrado-Profano, do não-racional, da presença firme do corpo pulsando, das pulsões e pulsações livres e rebeldes numa sociedade careta, de produção e troca de mercadorias, reificada e alienada numa maneira de viver congelada e num evidente desequilíbrio vital, sinônimo de Doença (id). Leonardo Fróes salienta que, em relação à literatura existencialista européia, contemporânea dos beats, “a fala americana de resistência aos padrões inclui com grande freqüência uma convicção de esperança” (FRÓES: 1984, p. 14): “a alma beat, cheia de estilhaços doídos e loucuras de esquina, ao mesmo tempo se levanta como afirmação musculosa, traz dos descampados absortos uma nova energia que (…) permite recobrar o entusiasmo” (id, p. 15). Para se libertarem do materialismo doentio, os beats, além do Jazz, ainda incorporaram, em suas vidas e textos, a espiritualidade, sobretudo oriental – o Zenbudismo, o Hinduísmo etc. –, que, somada ao amplo uso de diversas drogas, contribuiu para o caráter visionário e imageticamente inovador da literatura que praticaram (BUENO & GOES: op. cit., p. 61). Dessa maneira, “não buscaram força apenas dentro da cultura do seu país, mas também fora” (id, p. 22), misturando, a seu modo, a batida e o envolvimento hipnótico das improvisações do Jazz – “principalmente do Bop, o Jazz posterior a Charlie Parker” (ibid, p. 62) – e alguns ideais sobretudo do Zen-budismo, como “a possibilidade de Silêncio, a Meditação, a Calma, a noção de Vacuidade do Ego, o Desapego Material e tudo o mais que pudesse conduzir a alguma forma de Beatitude, de Iluminação” (ibid, p. 22) e que, logo, se opusesse a “uma cultura verborrágica, palavrosa, cheia de retórica, mas mentirosa e injusta, extremamente materialista”cv (ibid, p. 23). Vale destacar as palavras de Roberto Muggiati, em seu ensaio “Beats & Zen”: “o Zen nada tem de místico ou de religioso. É, mais do que tudo, um modo de ação”cvi (MUGGIATI: 1984, p. 106). 81 Embora Umberto Eco, citado por Muggiati, afirme a existência, dentro do Zen, de “uma atitude fundamentalmente antiintelectualista, de elementar e decidida aceitação da vida em sua imediação, sem tentar justapor-lhe explicações que a tornariam rígida e a matariam, impedindo-nos de colhê-la em seu livre fluir” (ECO apud MUGGIATI: op. cit., p. 108), o Zen-Budismo, enquanto uma “disciplina ascética e moral, de recolhimento e silêncio”, parece chocar-se contra “o pique dos Beats, anárquicos, liberando e buscando prazer” (BUENO & GOES: op. cit., pp. 23-24). Talvez por isso “a maneira como o Zen foi incorporado pelos Beats (…) não foi igual para todos os poetas, prosadores e teóricos da época”, sendo Gary Snyder, estudioso de línguas orientais, “quem melhor incorporou o espírito do Zen, ao seu trabalho poético, à sua própria vida” (id, p. 24), chegando a receber instrução formal num mosteiro do Japão. Roberto Muggiati o chama de “zenista” (MUGGIATI: op. cit., p. 107) e afirma que, “de todos os escritores associados ao movimento beat, foi o que mais se aproximou do verdadeiro Zen”cvii (id, p. 108); daí seu famoso epíteto: “Monge Budista da Geração Beatcviii” (BUENO & GOES: op. cit., p. 70). Considerado por Leonardo Fróes um dos “beats bem mais calmos”, “pioneiro do recolhimento e da meditaçãocix” (FRÓES: 1984, p. 12)”, Snyder se dedicou à escritura de poemas em muitos pontos diferentes do que normalmente se espera de um poeta de sua geração: sua poesia é “concisa, de um artesanato sutil e preciso, bastante distante do ‘derramamento oracular’ de Ginsberg ou do longo fôlego dos poemas para serem falados, recitados, cantados” (BUENO & GOES: op. cit., p. 72), incorporando o Zen “em formas sintéticas” que revelam uma intensa entrega à meditação, à pobreza voluntária e ao contato com a naturezacx (id, p. 71). É exatamente a partir deste último ponto – a intensa contemplação do elemento naturalcxi –, que observamos “um dos fundamentos da obra de Gary Snyder”, de acordo com Luci Collin e que aqui nos interessa diretamente: “a 82 percepção da conexão e interdependência entre todas as coisas – seres, pedras, lixo, estrelas” (COLLIN in: SNYDER: 2005, p. 10). O papel da poesia seria exatamente propiciar tal percepção; mais uma vez com as palavras de Collin, “a poesia é, para Snyder, um fio que liga o homem ao resto do universo, é o instante da percepção, da revelação tanto da vida do planeta quanto do indivíduo neste planeta” (id, pp. 11-12), desencadeando uma “ética de respeito ao humano e não-humano”, cuja leitura “promove uma entrega onde a experiência artística é também experiência religiosa, de reconhecimento dos reinos que formam a vida, e do homem como unidade ameaçadora e ameaçada” (ibid, p. 12). Contemplar, nas palavras de Gary Snyder, a “interpenetração de todos” (SNYDER: op. cit., p. 149) significa detonar as amarras criadas pela razão ocidental – entre elas a idéia de indivíduo. Num dos poemas de Snyder (id, p. 89), a palavra “eu” aparece grafada entre aspas, denotando sua artificialidade (FRANK & SAYRE apud COLLIN In: SNYDER: op. cit., p. 299), o que, para um poeta que, como todos de sua geração, tem sua obra marcada pela enunciação em primeira pessoa, só não soa descabido por não passar de um eco do ideal zen de vacuidade do Ego. No poema intitulado “Como a Poesia chega a mim”, a subjetividade tradicionalmente atribuída à poesia lírica é questionada: Ela vem tropegando por sobre os Seixos à noite, fica Acuada fora do Alcance da minha fogueira Vou a seu encontro no Limite da luz (SNYDER: op. cit., p. 159). De maneira idêntica a que vimos na primeira seção do presente trabalho, a poesia não é originada a partir da interioridade do poeta: ela vem de fora; o poeta deve ir “a seu encontro 83 no limite da luz”. Para o poeta que se sente conectado à totalidade da natureza, o subjetivo e o exterior são a mesma coisa. Com seu “estilo de vida ligado à terra, à família e ao lugar” (COLLIN in: SNYDER: op. cit., p.11), Snyder acredita que o sujeito só poderia buscar sua identidade no ambiente, no lugar em que vive: trata-se da tentativa de recuperar o “‘onde’ do ‘quem somos nós?’” (SNYDER: op. cit., p. 242). O princípio articulado aqui é, de acordo com Luci Collin, a idéia de “conhecer o lugar antes mesmo de começar a jornada para o conhecimento de si próprio” (COLLIN in: SNYDER: op. cit., p. 11) – em outras palavras, voltar a “habitar”, “rehabitar”, já que, com as palavras do poeta de São Francisco, “hoje há muitas pessoas no planeta que não são ‘habitantes’. Longe de suas aldeias natais, afastados dos territórios ancestrais; mudaram-se do campo para a cidade” (SNYDER: op. cit., p. 242). Urge, logo, recuperar o “espírito do que significava estar lá”, o apego à terra, para ter a “capacidade de ouvir a canção de Gaia naquele lugar” (id, p. 248). Caso esquecêssemos da biografia de Gary Snyder – que, sabemos, muito caminhou, muito pegou carona, e até mesmo viveu durante anos no Japão –, haveria aqui mais uma de suas especificidades em relação aos seus companheiros beats, marcados que estes são por um impulso nômade, perambulante. Entretanto, Gary Snyder deixa claro que “a habitação não significa ‘não-viajar’. O termo em si não define o tamanho de um território” (ibid, p. 244). Na poética/ética de Snyder, habitar tem um sentido bem mais complexo do que simplesmente ser sedentário. Para que nos tornemos habitantes, Snyder sugere, recorrendo à nomenclatura cunhada pelo ambientalista Raymond Dasmann, um aprendizado a partir do modelo das “culturas de ecossistema”, “aquelas”, define o poeta, “cuja base econômica de sustentação é uma região natural, uma bacia hidrográfica, uma zona de plantio, um território natural dentro do qual elas têm que obter seu sustento” (ibid, p. 224). O poeta afirma que uma 84 cultura de ecossistema “está profundamente enraizada em sua própria identidade”; nela, habita-se de maneira cuidadosa, ao contrário do que ocorre com as “culturas de biosfera”, “que expandem seu sistema de apoio econômico, a ponto de se permitirem destruir um ecossistema e continuar avançando”, movimento que culmina no ideal imperialistacxii (ibid). “O que nós chamamos de civilização”, diz Snyder, “é uma fase de sucessão primitiva: um sistema imaturo de monocultura. O que nós chamamos de primitivo é um sistema maduro com capacidades profundas para estabilidade e proteção incorporadas” (ibid, p. 231), Porque nenhum lugar é mais do que outro, Todos os lugares são totais, E nossos tornozelos, joelhos, ombros & Quadris sabem bem onde eles estão (ibid, p. 169). A derrocada do etnocentrismo: “todo mundo na Terra”, define Gary Snyder, “é um nativo do planeta. Toda poesia é ‘nossa’ poesia. (…) Há quarenta mil anos somos um povo. Somos todos igualmente primitivos” (ibid, pp. 234-235). Snyder assegura que poderíamos aprender com as culturas de ecossistema através de uma etnopoética que, como “um novo humanismo” (ibid, p. 220), levaria em conta “toda a longa experiência do Homo sapiens”, pois, desde o advento da sociedade, há cerca de 40 mil anos, o homem perdeu parte de suas “velocidade, habilidade, conhecimento e inteligência (…) comuns no Paleolítico Superior” (ibid, p. 221). O objeto de estudo da etnopoética seria, portanto, “a literatura oral – a balada, a lenda popular, o mito, as canções” –, que pode ser considerada “a maior experiência literária da humanidade” (ibid, p. 222) e cuja “grande sabedoria”, por ser uma das maiores expressões da “maturidade e estabilidade” das culturas de ecossistema, deve ser exposta para que seja dificultada a ação do imperialismo expansionista (ibid, 231). 85 Como Snyder define ainda a etnopoética como “um campo da zoologia que estuda espécies em extinção” (ibid, p. 221), o poeta determina que seu humanismo, além de “novo” – por driblar o humanismo moderno que, no máximo, retrocede etnocentricamente ao passado greco-latino –, é também “pós-humano” (ibid, p. 221), à medida que se dispõe, ainda, a descentralizar a noção de ser, substantivo ao qual insistimos em pospor o adjetivo “humano” quando nos referimos à arte e à cultura. Dito de maneira mais clara, a etnopoética “faria um esforço para incluir nossos parentes não-humanos”, defendendo “igualmente as culturas e as espécies em extinção” (ibid). Por isso o uivo do coiote é chamado, por Snyder, de “música” (ibid, p. 111), a trilha de odores deixada por um cervo é considerada uma “narrativa” (ibid, p. 266), etc. A utopia snyderiana de que cabe a uma poética a tarefa de libertar o homem ocidental de amarras ideológicas tamanhas como o imperialismo, o etnocentrismo e o antropocentrismo advém da noção de que, de acordo com as palavras do poeta norteamericano, a “preocupação com a natureza e a integridade dos muitos reinos de criaturas é uma preocupação muito antiga e profundamente arraigada do poeta”, pois, para Snyder, a tarefa do cantor [nas culturas de ecossistema] era cantar a voz do milho, a voz das Plêiades, a voz do bisão, a voz do antílope. Contatar, de um modo muito especial, um “outro” que não estava dentro da esfera humana; algo que não poderia ser aprendido pela consulta contínua a outros guias humanos, e só poderia ser aprendido ao se aventurar para fora dos limites humanos, penetrando na vastidão da sua própria mente, na vastidão do inconsciente. Assim, os poetas sempre foram “pagãos” (ibid, p. 236). Como poeta eu conservo os valores mais arcaicos da Terra. Eles remontam o período paleolítico: a fertilidade do solo, a magia dos animais, a profunda visão revelada pela solidão, os assustadores processos de iniciação e renascimento, o amor e o êxtase da dança, o trabalho comunal da tribo (SNYDER apud COLLIN in: SNYDER: op. cit., pp. 290-291). 86 A poesia seria, a-historicamente, sinônimo de reconhecimento e incorporação da alteridade. A existência parcial do homem diante da natureza o impede de vislumbrar a totalidade desta por meio dos sentidos conduzidos pelo ainda mais parcial modelo de objetividade da razão ocidental – aqueles que o tentam fazer são, conforme critica Snyder, “ingenuamente realistas” pelo que aceitam, sem questionar, o que capta o olho humano, frontal e bifocal, o nosso pobre olfato e outras características de nossa espécie, acrescentando a isso a suposição de que a mente pode, sem muita auto-avaliação, direta e objetivamente “conhecer” o que quer que ela veja (SNYDER: op. cit., p. 260). Ver uma corruíra num arbusto, chamá-la de “corruíra” e continuar caminhando é (conferindo-se auto-importância) não ter visto nada. Ver um pássaro e parar, observar, sentir, esquecer de si por um momento, permanecer nas sombras do arbusto, talvez então sentir-se a “corruíra” – isso é ter se fundido, num momento mais amplo, com o mundo (id, p. 275). A poesia e o canto disponibilizariam tal faculdade insubstituível para a relação entre homem e mundo. Gary Snyder insiste na tese de que, nas culturas ditas primitivas, ainda se mantém a consciência desse papel, que não passa de uma verdadeira ecologia, de uma busca por uma “poética da terra” (ibid, p. 238), pois há, nestas culturas, um “sentido de mutualidade da vida e da morte na cadeia alimentar”, acompanhado por um “sentido da qualidade sacramental daquela relação” (ibid, p. 244). Ambos os sentidos foram perdidos pela civilização ocidental graças ao acúmulo de riquezas e à centralização do poder que tiveram, nas palavras de Snyder, “resultados bizarros”: “filosofias e religiões baseadas no fascínio pela sociedade, a hierarquia, a manipulação e o ‘absoluto’” (ibid, p. 245), além de uma literatura que apenas focaliza “os dilemas morais, os versos heróicos, os assuntos do coração e as buscas espirituais de pessoas muito talentosas e, com freqüência, poderosas, geralmente do sexo masculino. Histórias de elites” (ibid, p. 260). E mesmo “todas as 87 grandes religiões do mundo”, continua Snyder, “permanecem fundamentalmente centradas no humano” (ibid, p. 245). Daí o resgate, característico da poesia snyderiana, de tradições sagradas cujas divindades se situam em paragens não-humanas. Snyder se volta à natureza como a uma divina “Grande Família” (ibid, p. 117), ora entoando, à maneira indígena (cf. ibid, p. 306), uma prece de gratidão a seus membros, desde a “Mãe Terra (…) e a seu solo” até o “Grande Céu”, infinito e onipresente, passando pelas Plantas, Chuva, Ar (“sopro da nossa canção”), Seres Selvagens (“nossos irmãos e irmãs”), Água (“nuvens, lagos, rios, geleiras”) e Sol (ibid, pp. 117 e 119), ora lhes prometendo devoçãocxiii: Prometo devoção à terra da Ilha da Tartaruga e aos seres que vivem sobre ela um ecossistema em diversidade sob o sol Com radiante interpenetração de todos (ibid, p. 149) A devoção é dirigida à terra onde o poeta habita, mencionada através do sintagma “Ilha da Tartaruga”, “o antigo/novo nome para o continente [americano], baseado em vários mitos de criação dos povos que estiveram aqui por milênios, e reaplicado por alguns deles à ‘América do Norte’ em anos recentes” (SNYDER apud COLLIN in: SNYDER: op. cit., pp. 303304). Opera-se, aqui, a retomada de uma cosmovisão mítica, que, de acordo com as palavras de Snyder, seria “uma fonte muito maior de autenticidade e proximidade do que é a história recente, empiricamente verificável” (id). É preciso se retirar um pouco do paradigma histórico e conhecer o mito e a era geológica (SNYDER: op. cit., p. 213), para que, em suma, seja recuperado tudo que foi destruído por homens “que cantavam hinos em 88 louvor de si mesmos, e não a deuses” (id, p. 291). A partir daí, é estabelecida uma relação entre poesia, ecologia, mito e xamanismo: a função do canto do xamã, utilizando as palavras de Snyder, é “conduzir a mente profundamente em direção ao coração do mundo natural”, (SNYDER apud COLLIN in: SNYDER: op. cit., p. 291), “em busca de uma visão ou de um mito” (DEAN apud COLLIN in: SNYDER: op. cit., p. 291), desarticulando referenciais humanos, como se vê no “Primeiro Canto do Xamã”: Sento sem pensamentos perto da estrada de troncos Chocando um novo mito Olhando as salamandras (SNYDER: op. cit., p. 35) O xamã tem o poder de abandonar o próprio corpo e se fundir à natureza; no “Segundo Canto do Xamã”, de acordo com o próprio Snyder, é descrita a “percepção que a persona tem de seu próprio corpo sentado sobre o chão, no charco; esta percepção é seguida pela constatação do mundo ao redor, onde o humano, gradualmente, se transforma em planta/pedra/carne/charco” (SNYDER apud COLLIN in: SNYDER: op. cit., p. 292): Tremendo em nervo e músculo Suspenso na estrutura pélvica Ossos escorados em raízes Um cego pulsar de nervos Serena mão se move sozinha Florescendo e folhando virando quartzo (…) O longo corpo do charco (SNYDER: op. cit., p. 41). Existe, para Snyder, a possibilidade de se justapor a consciência ecológica contemporânea ao mito, à religiosidade e às práticas xamânicas porque 89 as ciências bio-ecológicas têm exposto (implicitamente) uma dimensão espiritual. Temos que encontrar nossos modos de perceber os ciclos minerais, os ciclos de água, os ciclos de ar, os ciclos de nutrientes como sendo sacramentais – e devemos incorporar esse insight à nossa própria busca espiritual, integrá-lo a todos os ensinamentos de sabedoria que recebemos do passado recente. Isso expressa algo simples: sentir gratidão por tudo; assumir a responsabilidade por seus próprios atos; manter contato com as fontes de energia que fluem em direção às nossas próprias vidas (id, pp. 246-247). Com a incorporação do universo não-humano, Gary Snyder acredita que podemos aprender “que nós temos muitas personalidades que se examinam entre si, através do mesmo olho” e “que vivemos em um sistema que é, de certo modo, fechado, que tem seus próprios tipos de limites e que somos interdependentes dele” (ibid, p. 246). A ecologia, portanto, “sugere um salto para o sentido maior de eu e de famíliacxiv” (ibid, p. 254), “um momento de deixar para trás o ego complexo e apenar ver, apenas ser, em comunhão com alguma outra criatura” (ibid, p. 255). Assim, a natureza “não é só um ajuntamento de espécies separadas, todas competindo entre si pela sobrevivência (uma interpretação urbana do mundo?)” (ibid, p. 253), tal qual demonstrada pelo paradigma darwinista; na verdade o mundo orgânico é composto de muitas comunidades de seres diversos, nas quais todas as espécies desempenham papéis diferentes mas essenciais. Isso poderia ser tomado como um modelo de aldeia do mundo (…). Embora os ecossistemas possam ser descritos como hierárquicos, do ponto de vista do conjunto todos os seus participantes são iguais (…). Toda a natureza biológica pode ser vista como uma puja, uma cerimônia de oferta e compartilhamento (ibid). E, como se o sistema natural dispusesse de uma espécie de consciência da vacuidade do ego e da passagem dos anos, Snyder complementa: todos nós somos seres compostos, não só fisicamente, mas intelectualmente, cuja característica individual e exclusiva, que nos identifica, é uma forma ou 90 estrutura particular que muda constantemente no tempo. Não há nenhum “eu” a ser encontrado nisso e, ainda assim, bastante estranhamente, há. Parte de você está lá fora esperando para ser incorporada e outra parte de você está a seu lado, e o “agora” do momento sempre presente sustenta todos os pequenos eus transitórios em seu espelho (ibid, p. 247). A vontade, a liberdade humana se subordina à sabedoria biológico-naturalcxv: O cume e a floresta Se apresentam aos nossos olhos e pés Que decidem por si mesmos Em sua sabedoria ancestral de ir Aonde a vida selvagem nos levará. Nós já Estivemos aqui antes (ibid, p. 167). Gary Snyder observa que natureza se coloca de maneira sempre assombrosa, englobando toda e qualquer coisa – até mesmo o que tradicionalmente se lhe opõem sob o nome de “cultura”: Os seres humanos, como nos revelam a biologia e a ecologia, estão completamente situados dentro da esfera da natureza. A organização social, a língua, as práticas culturais e outros traços que consideramos ser características distintivas das espécies humanas, também estão dentro da mais ampla esfera da natureza (ibid, p. 252). O mundo natural está profundamente presente e é parte inevitável das grandes obras arte. A experiência humana, durante a maior parte de sua história, tem se desenvolvido em íntima relação com o mundo natural. Isto é óbvio demais para que se diga, e, no entanto, é freqüente e estranhamente esquecido. A história, a filosofia e a literatura naturalmente colocam em primeiro plano as questões humanas, a dinâmica social, os dilemas da fé e os construtos intelectuais. Mas um subtema crítico, implícito a tudo isso, está ligado à definição do relacionamento do homem com o resto da natureza (ibid, p. 261). A gramática não só da língua, mas também da própria cultura e da civilização, vem desta nossa mãe imensa, a natureza (ibid, p. 273). 91 Na poética/ética snyderiana, tudo é “selvagem”, “wild”. Dessa maneira, torna-se urgente uma nova conceituação do que é selvagem, afinal o termo, segundo o poeta, “é comumente definido nos dicionários por aquilo – do ponto de vista humano – que ele não é” (SNYDER apud COLLIN in: SNYDER: op. cit., p. 305). “Selvagem”, sugere Gary Snyder, é “a natureza essencial da natureza” (SNYDER: op. cit., p. 270), “é um nome para o modo como os fenômenos se tornam continuamente concretos” (id, p. 265), independentemente da capacidade humana de entender, memorizar ou analisar tal processo: a consciência, a mente, a imaginação e a língua são fundamentalmente selvagens. “Selvagens” como nos ecossistemas selvagens – ricamente interligados, interdependentes e incrivelmente complexos. Diversificados, ancestrais e cheios de informações. No fundo, a verdadeira questão é como compreendermos os conceitos de ordem, liberdade e caos (ibid, p. 264). Snyder considera seu livro inicial, “Riprap”, publicado em 1959, como o “primeiro vislumbre da imagem do universo inteiro enquanto interconectado, interpenetrante, mutuamente refletidor e mutuamente abrangente” (SNYDER apud COLLIN in: SNYDER: op. cit., p. 287); o famoso poema homônimo tece uma comparação entre as palavras e as pedras utilizadas na construção dos ripraps, trilhas para cavalo postas sobre rochas de difícil percurso: Assente estas palavras Diante de sua mente como pedras. postas firme, por mãos Em busca de lugar, dispostas Diante do corpo da mente no tempo e no espaço (SNYDER: op. cit., p. 29). 92 Assim, “a linguagem, a mente e o pensamento são, de alguma forma, também um produto de profundas pressões, como a pedra, e (…) processos geológicos e mentais são análogos” (SNYDER apud COLLIN in: SNYDER: op. cit., p. 290). Tudo – da linguagem às rochas – está em “total transformação” (SNYDER: op. cit., p. 29). “Vivemos em um reino”, diz o poeta, “no qual muitos princípios permanecem misteriosos ou inacessíveis para nós”, o que nos impede de perceber o quanto ele é “correto, bem proporcionado, coerente e padronizado de acordo com seus próprios mecanismos” (id, p. 270). No entanto, como “a humanidade precisa do selvagem mundo de processos”, já que “ele nos produziu e ele nos fortalece” (SNYDER apud COLLIN in: SNYDER: op. cit., p. 292), a poesia se propõe a “descobrir a semente das coisas, de revelar o caos organizado que estrutura o mundo natural” (SNYDER: op. cit., p. 264), ajudando a “reconhecer a autonomia e a integridade da parte não-humana do mundo, um ‘Outro’ que mal começamos a ser capazes de perceber”: “a linguagem não impõe ordem sobre um universo caótico, mas reflete, de novo, seu próprio caráter selvagem” (id, p. 265). Com isso, “a escritura Verdadeiramente Notável surge àqueles que aprenderam, dominaram e superaram o Bom Uso e a Boa Escritura convencionais, e então retornam ao prazer e à jocosidade descomplicada da Linguagem Natural” (ibid, p. 272) – que é “mais variada, mais interessante, mais imprevisível, e se engaja a um tipo de inteligência muito mais ampla e profundacxvi” (ibid, p. 273). É quando o homem acessa a poesia animal do uivo do coiote: o “chamado selvagem” (the call of the wild) (ibid, p. 111). 2 – As possibilidades para o corpo na poesia de Leonardo Fróes Até este ponto do presente trabalho, viemos demonstrando concepções de autores bastante heterogêneos – com exceção de Deleuze, vale destacar, todos poetas –, mas que 93 apresentariam pontos de diálogo não apenas entre si, mas também, veremos, em relação à poética de Leonardo Fróes. Se, na primeira seção da nossa dissertação, vimos que o êxtase se constitui como uma estratégia poética para driblar a ilusória limitação subjetiva, agora pretendemos contemplar outra dimensão do mesmo fenômeno, a qual, denunciando a precariedade das formas, das limitações corpóreas captadas pela visão guiada pela razão ocidental, acaba desencadeando uma outra concepção de universo. Nesta, tudo se atravessa e se compartilha; nada é precário: tudo abunda. Com isso, propomos que, na base da poética de Leonardo Fróes, se encontra uma aguda crítica ao antropocentrismo. O devir imposto ao sujeito em êxtase se traduz poeticamente através de imagens que procuram denunciar o confinamento antropomórfico, principal setor da caverna espelhada do ideal antropocêntrico. É o fato de que na cidade, a “pequena vitrine humana em que fomos metidos” (FRÓES: 1998, p. 65), o homem convive quase exclusivamente com outros de sua espécie – e o isolamento em relação ao conjunto maior de seres acaba por deixá-lo artificial e parcialmente auto-referenciado – que justifica o fugere urbem inscrito na poesia de Fróes. Vejamos algumas palavras deste retiradas de sua entrevista à revista Azougue: talvez o grande problema urbano contemporâneo seja exatamente este: que a pessoa vivendo só a experiência urbana – a cidade é um grande palco – está em cena o tempo todo, numa grande e dolorosa representação, ela começa por achar que a natureza é algo lá fora, aqui sou eu, o drama humano, e lá a natureza. E acha que aquilo é um caos, e não percebe a harmonia, a beleza que te integra àquilo ali (FRÓES: 2003, p. 9). Goethe, Ducasse e Snyder, vimos, já haviam alertado sobre a impossibilidade da dicotomia criada entre natureza e cultura. Em diálogo com Herder, Goethe buscou demonstrar “a integridade entre espírito e natureza” e que o próprio conhecimento humano, a razão e a linguagem, com suas propriedades ético-espirituais, seriam de ordem sensível, fisiológica, 94 natural (GONÇALVES in GOETHE: 2003, pp. VII-VIII); mesmo a idéia e o eterno, para o poeta alemão, estariam ocultados em fenômenos empíricos (GOETHE: 2003, p. 2). Em Lautréamont, encontramos a noção de que a faculdade da linguagem não seria exclusividade do homem (cf. n. xxix da presente seção), o mesmo que observamos em Snyder, que, com sua etnopoética pós-humana, uma “poética da terra” (SNYDER: op. cit., p. 238), procura considerar não apenas todas as manifestações culturais de todos os povos, mas também de todos os seres vivos, já que tudo seria “wild”, das práticas sexuais dos animais às organizações sociais humanas (SNYDER: op. cit., pp.252, 261 e 273; cf. ainda SNYDER apud COLLIN in: SNYDER: op. cit., pp. 292 e 305) – até mesmo a liberdade e a vontade do homem estariam subordinadas a um saber natural (SNYDER: op. cit., p. 167). Dialogáveis com estas, possibilidades de relacionamento com e de inserção no universo natural são constantes na obra poética de Leonardo Fróes, sobretudo a partir de seu terceiro livro, Esqueci de avisar que estou vivo, publicado em 1973 – quando o poeta já havia se mudado do município do Rio de Janeiro para Petrópolis, mais especificamente para o bairro rural de Secretário, onde seu crescente interesse pela ecologia ganha contornos mais práticoscxvii. A importância da natureza na poesia de Fróes é intensamente confirmada em sua referida entrevista à Azougue: nos últimos anos, a influência maior [na poesia] é dessa vivência da natureza. São já trinta anos que estou enfiado no mato. Vira e mexe estou na mata. E a mata você não enfrenta impunemente. Ela mexe com a sua cabeça de maneira escandalosa, e você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. (FRÓES: 2003, p. 7) A natureza, como a poesia, é uma ameaça, ela pode aniquilar algo que é seu para fazer você se transformar em outra coisa. Isso é Goethe, é o seu lema: “morrer; tornar-se”. Ele diz que é sempre isso, uma permanente mudança, a vida é metamorfose (id, p. 9). 95 Imprevisivelmente ígnea, a natureza, para Fróes, é a “transformação coesa e colorida de brasas” (FRÓES: 1998, p. 216); profunda e terrestre, somente ela pode oferecer “um momento no esquecimento mineral de tudo” (id, p. 197); polimórfica como a água, ela é a “sensação-liquidez” (ibid, p. 219), prova da “diluição inevitável” (ibid, p. 124), da “fluidez universal incessante” (ibid, p. 131); etérea como um “vento para confundir os limites” (ibid, p. 314), ela oferece, enfim, a “sensação de liberdade” que uma pessoa “de perfil nulo conquista, ou melhor, conhece, atravessada por lufadas de pó” (FRÓES: 2005, p. 33). Transformação não seria a palavra de ordem apenas do lirismo (FRIEDRICH: 1978, p. 17): a contemplação do próprio universo fenomênico garante, como Dioniso Lýsioscxviii, a liberdade de todas as coisas de si mesmas (NIETZSCHE: 2005, p. 13). “No auge da observação penetrante desaparecemos” (FRÓES: 1998, p. 171): o poeta que se projeta no “rodopio frenético das possibilidades aqui, ou lá, ou nunca, quando a própria concepção das figuras se desencadeava ou desengavetava num jorro” (id, p. 117) se depara com uma natureza dinâmica, em perpétua mutação – uma natureza que nada tem a ver com aquela fixada pela ciência de base iluminista contra a qual Goethe, Lautréamont e outros se lançaram contra: A natureza é engraçada, dá sem trégua e principia a gerar tudo de novo, avessa à monotonia (ibid, p. 286) É através da comunhão com o mundo natural, com sua incessante e mutante continuidade, que são proporcionadas, tomando as palavras de José Thomaz Brum, “a liberdade e a ausência de eu” – o “corpo a corpo com a realidade metafísica do homem: parcialidade e perplexidade” (BRUM in FRÓES: 1998, p. 12). O que funcionaria, ainda 96 segundo Brum, como um “remédio contemplativo e sublime”: há, na poética froesiana, “um forte desejo – que podemos chamar de ‘humanista’ – de que tal universo possa auxiliar um homem faminto de harmonia ou diálogo” (id, pp. 12-13). No poema “Amor no mato”, p. e., afirma-se que o prazer sexual só se tornava mais forte e se completava quando, em vez de guardado como um valor qualquer mofado, era dado no escuro pelo pênis, em comunhão com o gozo das espécies (FRÓES: 2005, p. 41). Em “Desencorpando”, fala-se da entrega a uma “consciência regeneradora do todo”: Sentado atento como um totem, um índio ou um animal que espreita a dança de movimentos da mata, pela própria concentração diluído em tranqüilo despetalar dos instintos, não perguntando coisa alguma e se dando à consciência regeneradora do todo. Não abrigando sequer um sentimento no iodo de decomposição que o circunda. Testemunhando o nascimento das folhas numa voracidade exaltada (id, p. 21). É com “voracidade exaltada” que a natureza se perpetua. “A madre selva ruiva deglutindo-se perfeitamente sozinha” (FRÓES: 1998, p. 101): na poética de Leonardo Fróes, o mundo natural, além de não ser amoenus – sua força pode invadir e desfigurar construções humanas, como se vê nos poemas “A um ex-hotel” (ibid, p. 43) e “Para o muro de um solar” (ibid, p. 85) –, não é sequer mero locus: ele é autônomo. P. e., no poema 97 “Dançando na chuva” (ibid, p. 49), é narrada a ação de uma tempestade, e em “Terra Brava” (ibid, p. 23), a ação de um furacão; em ambos, o elemento humano aparece de maneira secundária e passiva, sofrendo as ações da natureza ou simplesmente contemplando-as. Os fenômenos naturais, assim autônomos, acabam por incorporar atributos situados além da compreensão racional, reorganizando e relativizando a vida dos insignificantes homens: quando um golpe de vento do destino mistura as folhas marcadas e perdidos momentos se rejuntam na pilha de documentos ao léu, uma neutralidade nova o impulsiona a olhar de fora e de longe o seu passado (como um dessemelhante que, assim, merece sua isenção e respeito) (ibid, p. 47). Experimentada em devir, a natureza se converte em “Sobrenatureza” (FRÓES: 1998, p. 197): sua grandiosidade impõe uma contemplação sem questionamentos – “viva invoque vislumbre invente mas não pergunte nada” (id, p. 72) – e um respeito em que, de acordo com José Thomaz Brum, “há certo misticismo (…) e deslumbramento” (BRUM in FRÓES: 1998, p. 12) – e não raras vezes, temor. Talvez por isso Carlos Lima, em seu prefácio para Chinês com sono, se refira à potência curativo-libertadora do universo natural como um “phármakon pelo espanto” (LIMA in FRÓES: 2005, p. 8). No “fluxo contente sem nexo” (FRÓES: 1998, p. 231), “vejo a continuidade das coisas que são cacos derramados de sensações progressivas na variedade infinita dos estados orgânicos” (id, p. 261); meu “mim” se torna “elástico” e “evita de beber os conceitos da lata corporal tão pequena” (ibid, p. 154): ele 98 achou sua função, de ouvir e absorver, e nela às vezes se compara a uma composição de borracha – ou de água maciça. Sente-se feito de um material muito elástico que permite uma adaptação instantânea ao contorno oferecido pelas situações (ibid, p. 283). Experimentando dessa “viagem desencantada, e sinuosa, entre coisas que aderem à percepção” (ibid, p. 52), seria possível viver o que, havido, rui: as loucas metamorfoses e eu – que já outro fui (ibid, p. 41). Sigo “ao mundo me combinando” (ibid, p. 52): Devir é vir se alterando numa feroz permanência do que atrás vai ficando. Devir é ser se entregando às duras lides da osmose por que passamos, passando (…) Devir é ir se voltando ao que se foi e, se existe, é novo e desabrochando. Devir é filtro filtrando memórias, momentos, manchas que vão nos proliferando. Devir é simples deixando que a morte esparrame vida na vida que vai matando (ibid, pp.46-47). Na natureza, observando “os bichos que se comem para virar outra coisa” (ibid, p. 174), o poeta observa que a morte e a vida são, na verdade, partes de um mesmo processo: o 99 “desviver transfigurando” (ibid, p. 47), o “desviver reinventando-se” (ibid, p. 48), o “desviver só vinculando” (ibid, p. 47). É quando um ser outro ser aceita, um corpo se verte noutro – a forma comum é feita (ibid, p. 48). Entretanto, vimos que a tradição ocidental configurou a natureza como algo organizado, seguro: limitado e limitante. No poema em prosa “Fileiras cerradas”, Fróes narra, com um delicioso e necessário tom irônico, o ímpeto de certas “autoridades” – notese que o radical grego “auto” oferece ao nome a ilusória segurança de si – que insistem em imprimir ordem a uma paisagem natural: a paisagem caótica e desenfreada da vida não combinava com a necessidade de ordem que dominava a autoridade (…). [Esta] achou um disparate horroroso aquelas árvores tortas, fora de forma (…) [, pensando:] nada da impressão misturada que desarruma os meus dogmas (…) [,] nada de olhar para os tratores como dinossauros, insetos (ibid, p. 295). Contudo, dentro do caos de cada árvore havia o trânsito frenético da realidade impalpável (…). A verdade do que estou sentindo quando as categorias desabam e me conformo em ser isso, um sanhaço roendo o mamão, um lagarto espichado tomando sol. Ordem inevitável das flutuações orgânicas, maior que a dos papéis estudados (ibid, p. 296). Denunciando, como fizeram os surrealistas herdeiros dos posicionamentos ducasseanos, o caráter ilusório do princípio da identidade, Leonardo Fróes aconselha: é preciso “resistir (…) à catalogação das espécies à nomenclatura das coisas” para, então, ser “perdidamente 100 desarticulado e confuso mas feliz” (ibid, p. 246). Àquela autoridade, poderia ser dirigida a seguinte pergunta: Não seria mais certo e compassivo abandonar-se ao fluir da espécie inquieta como um índio calado ou um cachorro qualquer que se coloca espiando? (ibid, p. 280). Como em Goethe, a visão acerca do mundo natural cultivada por Fróes é oriunda da contemplação da natureza em sua concretude viva – e, logo, extra-humana e desestabilizadoracxix: a partir do “lento crescimento das raízes”, de seus “matizes”, do “intento imprevisível do capim”, da “ilusão preguiçosa das nuvens que desandam”, torna-se explícita a “nudez de coisas que se entregam à embriaguez da própria criação” (ibid., p. 72). Abundam índices desse contato íntimo e revelador na poesia de Leonardo Fróes; por exemplo, do poema “Proximidade”, pode-se destacar: Sinto os toques de carícia quando a neblina se solidifica em meus ombros. Ela é o real que me estreita em seus domínios e o real que liberta (FRÓES: 2005, p. 53) Dominar e libertar – a propósito, não á raro que o mundo natural apresente, na poesia de Leonardo Fróes, um perfil antitético: a coincidentia oppositorum é uma das características daquilo que o ser humano vislumbra como totalidadecxx. O par de opostos em questão merece destaque porque, além de ser, mesmo que de modo indireto, freqüente, nele se inscreve a idéia de que se abandonar ao domínio da natureza total é, simultaneamente, se desprender da consciência de si, da individuação limitadora – é experimentar o “susto de poder se anular” (FRÓES: 1998, p. 71) para, então, ingressar na “participação desmedida 101 entre todos os seres e coisas que naturalmente acontecem” (id, p. 126) e que podem metamorfosear um trator em inseto ou dinossauro, um homem em pássaro ou réptil: Quando eu me largo, porque achei no animal que observo atentamente um objeto mais interessante de estudo do que eu e minhas mazelas ou imoderadas alegrias; e largando de lado, no processo, todo e qualquer vestígio de quem sou, lembranças, compromissos ou datas ou dores que ainda ficam doendo; quando, hirto, parado, concentrado, para não assustá-lo, com o animal me confundo, já sem saber a qual dos dois pertence a consciência de mim – – qualquer coisa maior se estabelece nesta ausência de distinção entre nós: a glória, a beleza, o alívio, coesão impessoal da matéria, a eternidade (FRÓES: 2005, p. 29) Se “não há paredes para o grito de se sentir existente” (FRÓES: 1998, p. 67), se a consciência de si é uma prisão fictícia, é função do fazer poético, movido pelo pensamento analógico que prescinde de qualquer modelo antropocêntrico, libertar o homem, promovendo a cultura do êxtase. O encadeamento despojado dos objetos sem função quando alguém não se procura, não se ensaia, não tece elogios, não discute (id, p. 299). A poesia é, em suma, a “exaltação das coisas que se aceitam na inconsciência do êxtase” (ibid, p. 232) – e Leonardo Fróes, de maneira um tanto similar àquela com que se pronunciaram os surrealistas acerca da escrita automáticacxxi, afirma a autonomia do lirismo 102 em relação à subjetividade: “escrevo obedecendo a um registro. A fala que me conscientiza já é estranha totalmente à idéia habitual de quem sou” (ibid, p. 134). A escrita começaria quando “dizer se transformava de repente numa necessidade orgânica” – ela é “o prazer animal de abandonar-se: uma escrita dos instintos: uma voz na garganta” (ibid, p. 329), a “música residual instintiva” (ibid, p. 330). Mas não se trata de mera entrega: com a visão não-hierarquizada promovida pela contemplação da natureza que não cessa de demonstrar sua própria instabilidade, é possível vislumbrar um atravessamento mútuo entre todos os fenômenos, seres e objetos – atravessamento este que, como vimos na primeira seção do presente trabalho, não exclui a porção individualizada do homem: minha violência afetiva logo desmanchada em capim sem mim ou misericórdia (ibid, p. 201) “Eu abuso de ser humano e mesmo assim não me satisfixo (ibid, p. 93): o afeto convertido em capim é o apagamento da subjetividade e, ao mesmo tempo, a intervenção da mesma no exterior. O capim não é produto do eu, mas certamente não se mantém o mesmo depois que nele se desmancha o sujeito, “pura continuidade espontânea da eletricidade congênita” (ibid, p. 126). A “insignificância” dos seres individuais é “perfeita” (ibid, p. 120) exatamente porque não é sinônimo de simples desaparecimento, mas de ingresso em “parte da possibilidade que se articula”, na “conjugação maravilhada rodando que faz da separação entre os objetos e eu uma colocação absurda” (ibid, pp. 126-127), como um “ponto perdido da trama perfeita que não admite definição sobre ela” (ibid, p. 127). Por isso, para Fróes, “TUDO É TUDO”: a poesia, enquanto a faculdade do “também, também” (ibid, p. 159), é a linguagem revelando tanto sua potência analógica de 103 equalização do que se apresenta ao homem como diferente, quanto seu caráter prévio, engendrador em relação aos fenômenos, pois dela tudo devém ou pode devir. Num poema que poderíamos chamar de cosmogônico, “Singular de paisagem”, Fróes narra o processo de individuação pelo qual os fenômenos teriam passado, fazendo referência a um período anterior, primordial, quando tudo era tudo porque era um: Estamos na primeira manhã do mundo. O frio é tétrico e os dedos, que são de água, produzem vales profundos na pele cheia de fogo da terra. Os elementos ainda não estão separados, nem as cores. Nesse quadro primacial da inocência o sol desperta a criação. Os olhos berram. Os erros tornam-se evidentes, os choques inevitáveis porque existem contornos. Só agora se definem figuras na trama lenta da qual resultam zonas de luz e sombra. O espaço antes nebuloso e equalizado se comporta em fatias feitas (ibid, p. 254) Nesta “primeira manhã do mundo”, neste “quadro primacial de inocência”, ainda estão unos os elementos e as cores – até que “o sol desperta a criação”, trazendo os erros e os choques provenientes do fato de que, com a luz, as coisas passam a ter contornos, formas e se definem como figuras individuais visíveis: “os olhos berram”. Surgem, no “espaço antes nebuloso e equalizado”, os opostos – “luz e sombra”. Em suma, são simultâneos os surgimentos da luz, que permite a visão, e das identidades. Este não é o único poema de Fróes que confere à luz um caráter cosmogônico: Partículas elementares de fogo 104 num jogo de assimetrias em contínua circulação no vazio criam a matéria de tudo – de todas as sensações, todos os pensamentos, concreções e vapores, quando executam sua dança, que a rigor é um derramar de centelhas, com as curvas primordiais. Se não se tocam, não se sabe jamais como elas chegam, com o puro ritmo, a constituir tantas coisas. Apenas se constata que as formas resultam das combinações que a luz faz; que a casa é feita de fagulhas, como o vidro, a árvore, as pessoas que eu vejo, os caminhões e até mesmo seu barulho; que vida e arte e o que mais me rodeia são explosões dessa massa de signos, de sentimentos em disparada, de cisma e gozo, dessa realidade anterior que se estende por todos os redutos, com sua música feita de atritos circunstanciais de passagem (FRÓES: 2005, p. 97) Através de combinações aleatórias, circunstanciais, a luz, “partículas elementares de fogo”, cria, do vazio, tudo o que existe – inclusive os pensamentos, as sensações, a vida e a arte, “a matéria de tudo”. “A vida é maior que a gente e mais do que a gente espia” (FRÓES: 1998, p. 285), e “provavelmente existe um rombo sem forma no espaço casual sem razão” (id, p. 154): Leonardo Fróes não vai se cansar de pôr a percepção visual em dúvida e, como Lautréamont e os surrealistas, tentará libertar os objetos, esvaziado-os de sua identidade, na procura por uma “alegria do escuro” (ibid, p. 74). Como “o outro nos sedimenta em nosso desvario” (ibid, p. 78), dessa tentativa de “agarrar o sem corpo”, dessa “perseguição grotesca do invisível” (ibid, p. 67), podem restar, por vezes, formatos que, invocando a presença do fenômeno que a consciência espera, acabam por acentuar sua ausência: 105 Existe o lago, ou seja, sua forma íntima, sua doce concavidade de cratera vazia, no topo da montanha; mas não existe nem se vê água dentro, não se completando, portanto, nessa forma, a idéia de existir um lago no topo. (…) seja o que for que tenha sido – lago, cratera, obra – dir-se-ia que é a forma pura (FRÓES: 2005, p. 93). Não é preciso deter-se na aproximação entre o objet caché de Ducasse e seus seguidores e tal “forma pura”: ambos seriam instâncias em que o objeto abandona sua configuração ordinária e, graças a isso, acaba por amplificar seu status de objeto, tornandose “uma ausência feliz atomizada” (FRÓES: 1998, p. 308), um “rosto sem resto sem pista sem figura composta” (id, p. 231). “A mulher esvaziada emudece, dessangra, se cristaliza, se mineraliza. Já é quase de pedra como a pedra a seu lado” (ibid, p. 318): esvaziados, os objetos e os corpos podem se metamorfosear, sofrer “algo como o derretimento casual das próprias formas, anulação de macho e fêmea, árvore e cabeleira, capim com sono, falta de vontade específica na concentração muscular de um desejo imenso de tudo” (ibid, p. 297): vejo uma orelha que é uma concha que é uma folha enrolada que é um lençol até o queixo para servir de casulo. Ali nos pulos de contentamento vejo essa transformação dos joelhos em dunas preguiçosas ligadas por fiapos de luz. Vejo a continuidade das coisas que são cacos derramados se sensações progressivas na variedade infinita dos estados orgânicos (…). Vejo uma linha que é uma agulha que é uma pilha de nervos que é uma haste de sêmen que é uma confortável cratera que é uma nesga sem fim (ibid, p. 261). Impõem-se, assim, possibilidades diversas para o corpo: “há pessoas inteiras que se desagregam agora. E em seu lugar surgem narizes de águia, olhos de coruja, queixos de lobo” (ibid, p. 273). “Havia tufos de cabelos esparsos que viravam moitas ou árvores. Na geografia da careca, viam-se veias que eram rios, e os piolhos que eu andava catando, nesse novo contexto, pareciam tão grandes quanto animais na floresta” (ibid, p. 242). Para o poeta que se torna “um navegante do possível” (ibid, p. 73) e que põe “os remos da imaginação 106 ao trabalho”, “o bote” pode ser “uma extensão do corpo e do sonho” (ibid, p. 315), como se sentisse “feito de um material muito elástico que permite uma adaptação instantânea ao contorno oferecido pelas situações” (ibid, p. 283). Como não seria restrita ao homem qualquer capacidade, inclusive a de se metamorfosear, de modo idêntico ao que vimos nos Chants de Maldoror, de um pastel de queijo podem sair “pernas bonitas de garotas fritas” (ibid, p. 294); “sapatos de feltro” podem se reconfigurar como “canoas que bóiam na confusão do asfalto” cheias de “mariscos” fincados no casco que não passam de “tampas de cerveja e pontas de cigarro” (ibid, p. 292); uma beterraba pode ter seios e um repolho, “múltiplas orelhas” (ibid, p. 286); e uma “maciça brotação de capim” pode eclodir “entre as costelas” (ibid, p. 231). Aliás, são numerosas as mutações vegetal-humanas, talvez porque as plantas explicitariam a continuidade metamórfica característica da vida: Incertos os galhos tortos, você vê, armam-se como esqueletos de silenciosa e fria carnadura como se, no escuro, de cada galho surgissem numerosas pessoas vendo você observá-las na sua desabitada languidez vegetal de pessoas nuas resinosas querendo corporificar sem poder gestos aflitos, ritos solitários músicas de imperceptível tremor (ibid, p. 270) A noção de uma vida que brota convulsivamente, e que também convulsivamente pode ser contemplada por um “olho calado” – aquele que não indaga, não procura entender, não impõe formas limitadascxxii –, aparece explícita no poema “Mulheres de milho”: Milhares de mulheres de milho 107 brotam do meu olho calado como espigas fortes. No ar elas se endireitam como folhudas criaturas carnosas que ao vento se transmudam, de fêmeas, em formosos penachos machos. Acho graça na cruza: penso nisso que é ser mulher a passo de, sob a vertigem solar, virar confusa hibridação. Abro-me. Brinco de me dar. Rapto-me e opto-me como se eu mesmo fosse me comer inteiro enquanto as coisas simplesmente nascem. (ibid, p. 89) É resultante de associações de ordem sonora – no caso, aliterações – a “confusa hibridação” que rompe as fronteiras entre os reinos e os sexos: tudo ocorre “sob a vertigem solar”, sob um sol que não traz a luz engendradora das identidades contraditórias. 108 CONCLUSÃO 109 Na base do que concebemos, na presente dissertação, como fenômeno poético encontra-se a hipótese de que o processo que Hugo Friedrich considera inaugurado na lírica moderna com o descompromisso em relação à realidade “natural” e a decorrente transformação da mesma, passando pela quebra com a clareza comunicativa e culminando com a neutralização e autodespojo do eu comum e empírico – despersonalizado e desumanizado (FRIEDRICH: 1978, pp. 15-61) – acabaria levando a uma atualização de uma concepção poética arcaica, mais propriamente do modelo homérico do aedo éntheos, cuja ação, de acordo com Platão, prescindiria da téchne e da epistéme características do saber teórico: insuflado pela manía, o poeta perde a razão (noûs), agindo como um katekhómenos, um “incorporado”, que se submete a ação de um outro, de uma theía dýnamis, responsável, esta sim, pela poesia (PLATÃO: 1988, pp. 49-55). Fora de si (ékphron), os poetas agiriam, portanto, como simples hermenês tòn theôn, “intérpretes dos deuses” (id, pp. 50-55); entretanto, os deuses se foram – na modernidade são outros os outros que se incorporam ao poeta. O mais elementar deles seria a própria poesia (COLLOT: 2004, p. 165): esta, enquanto “lamento pela decifração científica do universo” (FRIEDRICH: op. cit., p. 20), buscaria, no princípio analógico, um “contradiscurso” para as supostas verdades da ciência iluminista (MORAES: 2002, p. 77), flagrando um universo cujas individuações nada seriam senão percepções limitadas da totalidade. Daí Michel Collot afirmar que todo lirismo, embora tradicionalmente visto como expressão da subjetividade de quem escreve, seja, de fato, “transpessoal” (COLLOT: 2004, p. 175). O que talvez não tenha ficado tão claro nas páginas que aqui se seguiram diz respeito ao fato de que, desencarcerado de seu suposto eu – mero artifício criado pelo 110 pensamento ocidental dominante –, o sujeito extático articulado pela poesia de Leonardo Fróes pretende driblar não apenas o egocentrismo, mas também o antropocentrismo, e, para isso, sua perseguição ao devir e à metamorfose constantes se traduz num fazer revolucionário igualmente constante, em que a alegria da fusão com a “forma comum” (FRÓES: 2005, p. 48) é a meta a ser atingida. Reconhece Fróes: “a loucura me amansa – e estou atriste” (FRÓES: 1998, p. 173). Assim, com uma intenção idêntica a de que Johann Wolfgang von Goethe se muniu ao afirmar a alegria proporcionada pelo Versuch, pela experiência radical que confunde sujeito e objeto enquanto totalidade (GOETHE: 2003, p. 3, aforismo 16), Fróes, “confuso mas feliz” (FRÓES: 1998, p. 246), parece querer com seus poemas, verdadeiras “cartas de amor ao mundo” (id, p. 41), “selar, com saliva e garra, um grito de amor por tudo” (ibid, p. 42), o que se articula como um questionamento das normas, regras e formas delimitadoras impostas pela razão: viver o a que não me vergo: a lei sem sentido, as normas e eu – que, a negar, enxergo (FRÓES: 1998, p. 41). Fróes, então, se pergunta: O manto do real, que é? Um selo lacrando a boca infame de uma fábula contada com cinismo ao nosso medo (id, p. 36). “A calma das caras loucas imprime sentido a tudo” (ibid, p. 94): como nos rituais dionisíacos, “a ‘desmedida’” se revela “como verdade” (NIETZSCHE: 2005, p. 23). Haveria uma “gravidade ontológica da transformação” (MORAES: op. cit., p. 84; cf. também 111 COLLOT: 2004, p. 165-166): é apenas perseguindo a “liquidez completa de não encontrar uma explicação para hoje” (FRÓES: 1998, p. 140) – é apenas se excedendo à razão que seria possível ao poeta se encontrar e ser atravessado pela vida: a razão se estilhaça os sentidos se destampam os cheiros se condensam os sabores se associam ao cuspe a vida nos penetra (id, p. 78; grifos nossos). Friedrich Nietzsche já apontara o quanto a natureza, a totalidade imanente dos fenômenos, iria além daquilo que se convencionou considerar como o real, mero conjunto de aparências captadas pelo homem com base nos sentidos limitados pelo pensamento ocidental (NIETZSCHE: 2005, p. 30); através do mesmo caminho vertiginoso, segue o sujeito extasiado da poética de Fróes, em busca da “força que me surpreende lá fora de mim”, a “força da espécie”, a “força firme da cara torta abandonada (…) no esquecimento mineral de tudo” (FRÓES: 1998, p. 197). O encontro com a “sobrenatureza” (id) revela a singularidade ocultada por trás da multiplicidade fenomênica, fazendo explodirem as ilusórias membranas que separariam os reinos humano, animal, vegetal, mineral etc. – trata-se do mesmo encontro que Rimbaud travara com “l’âme universelle” (RIMBAUD apud FRIEDRICH: op.; cit., p. 63). Vale retomar a relação que Fróes estabelece, em sua entrevista à Azougue, entre a poesia e o montanhismo, outra de suas atividades de predileção: quando se sobe uma montanha, por exemplo, e se faz um extremo esforço além das possibilidades físicas de resistência, aquele arcabouço mental que achamos que nos constitui, e que na verdade são memórias ou preocupações, ou o conjunto das duas coisas, desaparece. (…) Dá uma sede enorme, uma fome enorme, mas o desejo de chegar ao cume também é enorme, e os limites são testados. E aí acho que a personalidade fica completamente amortecida. Como se milagrosamente ela pudesse ter deixado de existir. Claro que no dia seguinte ela vai amanhecer, (…) mas já conhecemos essa experiência ameaçadora que faz com que a personalidade vá para o espaço. 112 Acho que o momento poético é exatamente igual a subir uma montanha. É o momento em que se atinge a plenitude do universo (FRÓES: 2003, p. 11). A comparação entre as experiências do fazer poético e do contato íntimo com mundo natural – como aquele desencadeado pelo montanhismo – estaria na capacitação que ambas proporcionariam ao homem de “estar estando” (FRÓES: 1998, p. 69): a impressão de estar, o lento espanto que se repete. Aqui e onde, eis como povôo ao mesmo tempo dois espaços ou, mais que isso, passo a noite inteira vivendo as sensações de um fragmento que me é próprio, ou é-me o corpo todo, e de repente vai sem deixar marca entre o que foi e o que há de ser. Deslizo nessa fronteira vã que não separa nada e ninguém (id). Pode-se dialogar tal concepção de poesia com o paralelo estabelecido por Deleuze entre literatura e atletismo (DELEUZE: 1997, p. 12): o montanhismo/poética froesiana conduz exatamente ao limite de resistência e de sobrevivência do montanhista/poeta – ao amortecimento de sua identidade, que não passa do momento em que se dá a “passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido” (id, p. 11). Um dos mais famosos poemas de Fróes, “Introdução à arte das montanhas”, é bastante eloqüente quanto a esse aspecto: Um animal passeia nas montanhas. Arranha a cara nos espinhos do mato, perde o fôlego mas não desiste de chegar ao ponto mais alto. De tanto andar fazendo esforço se torna um organismo em movimento reagindo a passadas, e só. Não sente fome nem saudade nem sede, confia apenas nos instintos que o destino conduz. Puxado sempre para cima, o animal é um ímã, numa escala de formiga, que as montanhas atraem. Conhece alguma liberdade, quando chega ao cume. Sente-se disperso entre as nuvens, 113 acha que reconheceu seus limites. Mas não sabe, ainda, que agora tem de aprender a descer (FRÓES: 1998, p. 243). Vê-se que, no poema, o sujeito lírico narra, em terceira pessoa, seus atos como se fossem os movimentos de um animal que “passeia nas montanhas”. De animal, o sujeito/objeto se torna um mero “organismo em movimento reagindo a passadas”, que “confia apenas nos instintos que o destino conduz”. Sua passividade e insignificância são totais: torna-se um “ímã” que “as montanhas atraem” “numa escala de formiga”. Atingindo o cume, sente “alguma liberdade” exatamente por estar “disperso entre as nuvens”. Da mesma maneira que o escritor em eterno devir não encontra sua delimitação formal (DELEUZE: 1997, p. 16), o cume não é o limite para o sujeito/objeto/animal/organismo/ímã: “agora tem de aprender a descer”. 114 BIBLIOGRAFIA 115 BARTHES, Roland. “A morte do autor”. In: ____. O Rumor da Língua. Tradução de Mário Laranjeira. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1988. BORNHEIM, Gerd (org.). Os filósofos pré-socráticos. São Paulo: Cultrix, 1999. BUENO, André & GOES, Fred. O que é Geração Beat. São Paulo: Brasiliense, 1984. COLLOT, Michel. “O sujeito lírico fora de si”. Tradução de Alberto Pucheu. In: Revista Terceira Margem, ano VIII, n. 11. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004. pp. 165-177. CORNFORD, F. M. Principium Sapientiæ. As origens do pensamento filosófico grego. Tradução de Maria Manuela Rocheta dos Santos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. 3ª. edição. DELEUZE, Gilles. “A imanência: uma vida…”. Tradução de Alberto Pucheu e Caio Meira. In: Revista Terceira Margem, ano VIII, n. 11. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004. pp. 160-164. _____. “A literatura e a vida”. In: ____.Crítica e clínica. Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 1997. DETIENNE, Marcel. Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988. 116 ELIADE, Mircea. “Mefistófeles e o Andrógino ou o Mistério da Totalidade”. In: _____. Mefistófeles e o Andrógino. Comportamentos religiosos e valores espirituais não-europeus. Tradução de Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 1991. EURÍPIDES. Bacas – O Mito de Dioniso. Estudo e tradução de Jaa Torrano. Edição bilíngüe. São Paulo: Editora Hucitec, 1995. FONTES, Joaquim Brasil. Variações sobre a lírica de Safo: texto grego e variações livres. São Paulo: Estação Liberdade, 1992. FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da Lírica Moderna (da metade do século XIX a meados do século XX). Tradução de Marise M. Curioni e Dora Ferreira da Silva. São Paulo: Duas Cidades, 1978. FRÓES, Leonardo. A Fábula da Cebola. Entrevista cedida a Alberto Pucheu, Ricardo Lima & Sérgio Cohn. Revista Azougue n. 8. São Paulo: Azougue Editorial, abril de 2003, pp. 511. _____. Chinês com sono; seguido de Clones do Inglês. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. _____. “Histórias Beats”. In: _____ et alii. Alma Beat. Ensaios sobre a Geração Beat. Porto Alegre: L&PM Editores, 1984. _____. Vertigens – Obra reunida (1968-1998). Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 117 GOETHE, J. W. Máximas e Reflexões. Tradução de Marco Antônio Casanova. Apresentação de Márcia Cristina Gonçalves. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2003. _____. Poemas. Antologia, versão portuguesa, notas e comentários de Paulo Quintela. Coimbra: Acta Universitatis Conimbrigensis, 1958. 2ª. edição. _____. “Sobre a Arquitetura Alemã” (Excerto). In: LOBO, Luiza (org.). Teorias poéticas do Romantismo. Tradução, seleção e notas de Luiza Lobo. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. GRIMAL, Pierre. Dicionário da Mitologia Grega e Romana. Tradução de Victor Jabouille. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 3ª. edição. HENRIQUES NETO, Afonso. “Vertigens”. Resenha para o livro Vertigens, de Leonardo Fróes. In: Revista Inimigo Rumor n. 6. Rio de Janeiro: Sette Letras, Janeiro–Julho de 1999. pp. 94-95. HESÍODO. Os trabalhos e os dias. Tradução, introdução e comentários de Mary de Camargo Neves Lafer. São Paulo: Iluminuras, 1991. Edição Bilíngüe. _____. Teogonia. Estudo e tradução de Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 1995. Edição Bilíngüe. 118 HOMÈRE. Iliade. Texte établi et traduit par Paul Mazon. Notes par Hélène Monsacré. Paris: Les Belles Lettres, 1998. _____. Odyssée. Texte établi et traduit par Victor Bérard. Paris: Les Belles Lettres, 2001. HUGO, Victor. Excertos dos prefácios para Os cantos do crepúsculo e As contemplações. In: LOBO, Luiza (org.). Teorias poéticas do Romantismo. Tradução, seleção e notas de Luiza Lobo. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. LAUTRÉAMONT. “Os Cantos de Maldoror”. In: _____. Obra Completa. Os Cantos de Maldoror. Poesias. Cartas. Tradução, prefácio e notas de Cláudio Willer. São Paulo: Iluminuras, 1997. MATTOS, Cláudia Valladão de. “Paisagens essenciais” e “As Formas do Real”. In: Revista EntreClássicos n. 5 – Johann Wolfgang von Goethe. São Paulo: Duetto, 2006, pp. 76-93. MORAES, Eliane Robert. O corpo impossível. A decomposição da figura humana: de Lautréamont a Bataille. Partes I e II. São Paulo: Iluminuras, 2002. MUGGIATI, Roberto. “Beats & Zen”. In: _____ et alii. Alma Beat. Ensaios sobre a Geração Beat. Porto Alegre: L&PM Editores, 1984. 119 NIETZSCHE, Friedrich. “A visão dionisíaca do mundo”. In: _____. A visão dionisíaca do mundo e outros textos de juventude. Tradução de Marcos Sinésio Pereira Fernandes e Maria Cristina dos Santos de Souza. São Paulo: Martins Fontes, 2005. _____. O Nascimento da Tragédia ou Helenismo e Pessimismo. Tradução, notas e posfácio de J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 2ª. edição. PEREIRA, Maria Helena da Rocha. Estudos de História da Cultura Clássica. I Volume: Cultura Grega. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1998, 8a. edição. PLATÃO. Ion. Introdução, tradução e notas de Victor Jabouille. Lisboa: Editorial Inquérito, 1988. Edição bilíngüe. PLATON. Oeuvres complètes. Tome IV, 3e partie. Phèdre. Traduction de Léon Robin. Paris: Belles Lettres, 1933. Poesia Grega Antiga. Seleção e tradução de Celina Figueiredo Lage. São Paulo: Editorial Cone Sul, 1998. PUCHEU, Alberto. “Na poesia vertiginosa de Leonardo Fróes”. Resenha para o livro Vertigens, de Leonardo Fróes. In: O Globo, Prosa e Verso, 6 de Fevereiro de 1999. SNYDER, Gary. Re-habitar. Ensaios e Poemas. Tradução, apresentação e notas de Luci Collin. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2005. 120 VALÉRY, Paul. “Poesia e Pensamento Abstrato”. In: ____. Variedades. Tradução de Maiza Martins de Siqueira. São Paulo: Iluminuras, 1999. VERNANT, Jean-Pierre. “O Deus da Ficção Trágica” e “O Dioniso Mascarado das Bacantes de Eurípides”. In: VERNANT, Jean-Pierre & VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 1999. pp. 157-162; 335-360. _____ & FRONTISI-DUCROIX, F. “Figuras da Máscara na Grécia Antiga”. In: VERNANT, Jean-Pierre & VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 1999. pp. 163-178. 121 NOTAS 122 i Na segunda seção do presente trabalho, veremos que o Versuch, “experiência”, “ensaio”, seria uma espécie de mediador (Vermittler) entre o sujeito e o objeto (GONÇALVES in GOETHE: 2003, pp. X-XI). ii Não estamos nos referindo, portanto, às Musas, divindades invocadas e incorporadas pelos aedos da Antiguidade para se ter acesso à palavra poética (cf. seção I, 1. 1). As Musas parecem ser, elas próprias, a poesia; o que pretenderíamos incorporar seria o êxtase e o devir implicados em sua dinâmica. iii “Barulhento”. iv Zagreu, deus ligado ao orfismo, era considerado o “primeiro Dioniso”, fruto do coito entre Zeus (metamorfoseado numa serpente) e Perséfone, e teria sofrido as conseqüências terríveis dos ciúmes de Hera: mesmo disfarçado sob a forma de um touro, fora despedaçado e comido pelos Titãs. Numa das tradições mitológicas, diz-se que Zeus teria conseguido resgatar o coração ainda palpitante da criança e inserido-o em Sêmele, que, então, seria a mãe do “segundo Dioniso” (cf. GRIMAL: 1997, p. 468, verbete “Zagreu”). v Iaco era, ao mesmo tempo, o deus adolescente que presidia, dançando, a procissão dos iniciados de Êleusis e o grito ritual emitido por estes (“Íakkhe!”). Uma tradição diz que é filho de Perséfone, correspondendo à reencarnação de Zagreu; outra o coloca como filho de Dioniso e da ninfa frígia Aura. Por vezes, foi identificado com Baco em sua faceta pueril (cf. GRIMAL: 1997, p. 237, verbete “Iaco”). vi Assim como Orthós (cf. nota seguinte) e Horaîos (cf. nota xx), trata-se do nome recebido por Dioniso em seu aspecto civilizador: o deus do vinho cultivado – o Dioniso que dá início, juntamente com Deméter, a deusa da cultura do trigo, a “uma arte de viver cuja regra se reparte entre a reflexão dietética, as práticas culinárias e o saber médico” (DETIENNE: 1988, p. 68). Na tragédia As Bacantes, de Eurípides – “um documento incomparável para explicitar o que deve ter sido, nos seus traços singulares, a experiência religiosa” dionisíaca (VERNANT: 1999, p. 335) –, o famoso adivinho Tirésias aproxima Dioniso da deusa do trigo da seguinte maneira: dois, ó jovem, princípios há entre os homens: Deméter Deusa ou Terra, chama-a pelo nome que preferes, ela com os sólidos [kseroîsin] nutre os mortais; este veio equivalente, o filho de Sêmele: úmido [hygrón] licor de uva inventou e apresentou aos mortais, dos sofridos homens ele cessa a dor quando se fartam do fluxo da uva, dá sono e oblívio dos males cotidianos, não há nenhum outro remédio das fadigas. Ele é libação aos deuses, deus nascido, de modo a terem os homens por ele bens (EURÍPIDES: 1995, pp. 62-63, vv. 274-285). vii Literalmente, “Reto”, referindo-se certamente ao fato de que, bebendo de maneira correta – isto é, tendo-se, antes, diluindo o vinho –, os homens não ficariam curvados: Dioniso “proporciona à humanidade a postura vertical” (DETIENNE: 1988, pp.67 e 86). viii “Folhudo”, fazendo menção à capacidade apresentada pelo deus da vinha de aumentar o volume das folhas (cf. DETIENNE: 1988, p. 62). ix “Provedor de saúde”. x “Chefe”, “rei”, “príncipe”. 123 xi “Cabrito”. xii “Doador de muita alegria”. Tal epíteto constitui uma das raras referências a Dioniso encontradas na epopéia homérica (cf. Ilíada, XIV, v. 325). Também ocorre na poesia de Hesíodo (cf. Os trabalhos e os dias, v. 614). xiii “Que carrega consigo a embriaguez ( 127 traje de ritual, num cenário selvagem, real ou figurado, através da dança e da música, uma mudança de estado” (VERNANT: 1999, p. 341). xlvii Diferentemente dos aedos, os rapsodos não compunham os versos que declamavam, sem acompanhamento musical e de maneira performática – Platão chega a igualá-los aos atores (PLATÃO: 1988, p. 61, 534a) –, nos concursos inseridos em festas e solenidades religiosas promovidas nas póleis. Ainda que as epopéias homéricas constituíssem o repertório principal dos rapsodos, poderiam figurar nele poemas de qualquer famoso aedo grego (ROCHA PEREIRA: 1998, pp. 147-148). xlviii Euporô é a flexão de primeira pessoa do singular do indicativo presente ativo de euporeîn, verbo formado pela preposição eu-, “bom”, “boa”, e pelo radical do substantivo masculino póros, “passagem”. xlix A partir daí, pode-se pensar no locus do leitor, já que, com a atividade “contrateológica” de se ler um texto sem Autor e, portanto, sem um único sentido, desvenda-se, segundo Barthes, “o ser total de uma escritura: um texto é feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar onde essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o Autor (…), é o leitor: o leitor é o espaço mesmo onde se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que é feita uma escritura; a unidade do texto não está em sua origem, mas no seu destino, mas esse destino não pode mais ser pessoal: o leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia; ele é apenas esse alguém que mantém reunidos em um único campo todos os traços de que é constituído o escrito” (BARTHES: 1988, p. 70). l Talvez uma leitura mais cuidadosa, que não pretenderemos estabelecer no presente trabalho, revelasse que muitos daqueles que se filiaram ou que foram filiados à estética romântica não pareciam comungar com a idéia de lirismo enquanto expressão subjetiva. Cf. n. liii, em que são citados, de maneira panorâmica, alguns dos vultos do Romantismo que teriam contribuído para as considerações de Rimbaud acerca do poeta voyant. li Seria decorrente da independência conquistada pela poesia em relação à expressão subjetiva o que Hugo Friedrich chama de “anormalidade”, conceito com o qual o autor não pretende estabelecer um juízo de valor para a lírica moderna: “anormal”, aqui, não significaria “degenerado”, mas indicaria que a poesia, por mais que se passem os anos, não vem sendo assimilada por um grande público (FRIEDRICH: 1978, pp. 18-19). Concordando com T. S. Elliot, Friedrich chega a considerar que a poesia moderna possui conteúdos os quais “são tão imprevisíveis nas suas significações que até mesmo ao próprio poeta o conhecimento do sentido daquilo que compôs é limitado” (id, p. 19). lii Friedrich sublinha, entretanto, que “quase todas as poesias de Les Fleurs du Mal falam a partir do eu”, o que o faz afirmar que “Baudelaire é um homem completamente curvado sobre si mesmo” (FRIEDRICH: 1978, p. 37). “Todavia”, diz Friedrich, “este homem voltado para si mesmo, quando compõe poesias, mal olha para seu eu empírico”, falando de si mesmo apenas “na medida em que se sente vítima da modernidade”, a qual “pesa sobre ele como excomunhão” (id). Assim, “seu sofrimento não era apenas o seu”, só estando os “restos do conteúdo de sua vida pessoal, quando ainda permanecem aderentes às suas poesias, (…) expressos de maneira imprecisa”, num “recolhimento em um eu que eliminou a causalidade da pessoa” (ibid, pp. 37-38). Poderíamos, em suma, concluir que, neste eu, parece se constituir um sujeito lírico que não se confundiria com o sujeito empírico e pessoal de Charles Pierre Baudelaire. liii Michel Collot sublinha o quanto as Cartas do Vidente, texto de Rimbaud que apresenta a noção de poeta voyant, devem ao Romantismo, além da homenagem que, mesmo com reservas, o jovem poeta presta a esta estética, “a Lamartine, a Hugo e Baudelaire” (COLLOT: 2004, p. 169). Para Lamartine, salienta Collot, “o sujeito lírico não é senão ‘um instrumento sonoro de sensações, sentimentos e idéias’, provocados nele pela ‘comoção mais ou menos forte que ele recebe das coisas exteriores e interiores’”, constituindo-se, desta forma, “no ponto de encontro entre o interior e o exterior, entre o mundo e a linguagem” (id). Já Victor Hugo sublinhou que “o poeta não deixa transparecer nas páginas o que é pessoal senão talvez por ser um reflexo do geral” – o poeta, enfim, “não crê que sua individualidade (…) tenha algum motivo para ser estudada” (HUGO: 1987, p. 132), já que “nenhum de nós tem a honra de ter uma vida que seja só sua” (id, p. 133). Vale, ainda, 128 destacar a seguinte frase de Gerard de Nerval, certamente outra das fontes românticas de Rimbaud: “Eu sou o outro” (NERVAL apud COLLOT: op. cit., p. 169). liv A “anormalidade desejada” (FRIEDRICH: op. cit., p. 61) presente na poesia de Rimbaud chegaria ao seu ápice através de um processo que Hugo Friedrich chama de “desumanização” (id, p. 69). Este ocorre quando “a lírica moderna exclui não só a pessoa particular, mas também a humanidade normal” (ibid, p. 110), e poderia ser observado na obra de Stéphane Mallarmé, aquele que, “junto com Rimbaud, (…) introduz o mais radical abandono da lírica baseada na vivência e na confissão” (ibid, p. 110) – aquele cuja poética, segundo Barthes, “consiste em suprimir o autor em proveito da escritura”, em que “é a linguagem que fala, não o autor”, e “escrever é, através de uma impessoalidade prévia (…), atingir esse ponto onde só a linguagem age, ‘performa’, e não o ‘eu’” (BARTHES: 1988, p. 66). Também Paul Valéry “não cessou de colocar em dúvida e em derrisão o Autor, (…) e reivindicou (…) a favor da condição essencialmente verbal da literatura, face à qual todo o recurso à interioridade do escritor lhe parecia pura superstição” (id, pp. 66-67); vale destacar aquilo que o poeta teria experimentado durante uma caminhada e que denominou “estado de poesia”: uma “ação contínua” através da qual, de forma irregular, inconstante e acidental, o indivíduo é “tomado” por “um ritmo” que se impõe, por “um funcionamento estranho”, “como se alguém estivesse usando a (…) máquina de viver” deste indivíduo; “um outro ritmo” vem, então, “reforçar o primeiro, combinando-se com ele”; a partir daí, estabelecem-se “não sei que relações transversais entre essas duas leis”, combinando “o movimento” das “pernas andando e não sei que canto que (…) se murmurava através de mim”, numa “composição” que “se tornou cada vez mais complicada e logo ultrapassou em complexidade tudo o que” se “podia produzir racionalmente” (VALÉRY: 1999, p. 198). Valéry destaca, porém, que vivenciar o complexo “estado de poesia” não bastaria para se tornar um poeta: para tanto, seria necessário utilizar-se do pensamento abstrato para compor o poema, a “síntese artificial desse estado”, a “produção instantânea (…) exercida em um campo tão convencional como o da linguagem” (id). A partir do poema, o leitor ofereceria ao pretenso poeta o valor, a “inspiração”, “os méritos transcendentes das forças e das graças que se desenvolvem nele [no leitor]” – e não no poeta em si (ibid). O papel fundamental atribuído ao leitor nesta dinâmica é bastante similar àquele sobre o qual fala Barthes (cf. nota v da presente seção). Este, além de Mallarmé e Valéry, adiciona, ainda, à lista daqueles que teriam contribuído para a “morte do autor”: Marcel Proust – que, “em lugar de colocar a sua vida no seu romance, fez da sua própria vida uma obra de que o livro foi como o modelo” –, o Surrealismo – movimento o qual “recomendando sempre frustrar bruscamente os sentidos esperados (…), confiando à mão o cuidado de escrever tão depressa quanto possível aquilo que a cabeça mesmo ignora (era a escritura automática), aceitando o princípio e a experiência de uma escritura coletiva, (…) contribuiu para dessacralizar a figura do Autor” – e a Lingüística – ciência que procurou mostrar que “a enunciação em seu todo é um processo vazio que funciona perfeitamente sem que seja necessário preenchê-lo com a pessoa dos interlocutores: (…) o autor nunca é mais do que aquele que escreve, assim como ‘eu’ outra coisa não é senão aquele que diz ‘eu’: a linguagem conhece um ‘sujeito’, não uma ‘pessoa’, e esse sujeito, vazio fora da enunciação que o define, basta para ‘sustentar’ a linguagem, isto é, para exauri-la” (BARTHES: 1988, p. 67). lv O que Nietzsche chama de “natureza” certamente não se confunde com o que chama de “real”, já que este parece se referir ao diversificado conjunto de imagens inteligíveis para o homem e em relação às quais se molda a imagética onírica; já a “natureza”, como guarda um fundo único em relação a todos os fenômenos, é mais complexa, englobando forças não necessariamente formais e perceptíveis. Afirma o filósofo: “todo o real dilui-se em aparência, e atrás desta se manifesta a natureza unitária da Vontade” (NIETZSCHE: 2005, p. 30). lvi Dioniso, de acordo com Nietzsche, implode as fronteiras entre arte e vida, e a própria natureza se torna artista: “O homem não é mais artista, tornou-se obra de arte, caminha tão extasiado e elevado como vira em sonho os deuses caminharem. O poder artístico da natureza, não mais o de um homem, revela-se aqui: uma argila mais nobre é aqui modelada, um mármore mais precioso é aqui talhado: o homem” (NIETZSCHE: 2005, p. 9). O filósofo compara: o “homem, conformado pelo artista Dioniso, está para a natureza assim como a estátua está para o artista apolíneo” (id, p. 9). lvii Apolo será exatamente o “deus da representação onírica” por se tratar do “deus dos poderes configuradores” (id, p. 29), aquele que encarna “o ‘aparente’ por completo: o deus do sol e da luz na raiz mais profunda, o deus que se revela no brilho” (NIETZSCHE: 2005, p. 7). Seu elemento é a beleza física da eterna 129 juventude – seu reino é o mundo das aparências (id). E, note-se, “também é o seu reino a bela aparência do mundo do sonho: a verdade mais elevada, (…) em contraposição à realidade diurna lacunarmente inteligível, elevam-no a deus vaticinador, mas tão certamente também a deus artístico. O deus da bela aparência precisa ser ao mesmo tempo o deus do conhecimento verdadeiro” (ibid; cf. também NIETZSCHE: 2001, p. 29). lviii Segundo Nietzsche, o efeito das artes plásticas é o mesmo alcançado pela epopéia, sendo que, nesta, através de um “desvio”: “enquanto o escultor nos guia por meio do mármore esculpido ao deus vivo visto por ele em sonho, de modo que a figura que paira diante propriamente como télos se torna clara tanto para o escultor como para o espectador, e o primeiro provoca no último, através da forma intermediária da estátua, uma visão secundária”, para nos transportar ao estado de sonho através da poesia épica, “não devemos ver nada com os olhos abertos e temos que nos apascentar com imagens interiores para cuja produção o rapsodo procura nos estimular por meio de conceitos” (NIETZSCHE: 2001, pp. 20-21). Dito de outra maneira, “o poeta épico vê a mesma figura viva e quer apresentá-la também aos outros para a contemplação”, mas, para isso, “não coloca mais nenhuma estátua entre ele e os homens: ele narra, antes, como aquela figura demonstra sua vida, em movimento, tom, palavra, ação” (id). lix Nietzsche chega a considerar a existência de um dado apolíneo na música: a “batida ondulante do ritmo”, verdadeira transposição da “arquitetura dórica em sons, mas apenas sons insinuados” (NIETZSCHE: 2001, p. 34). “Mantinha-se cautelosamente à distância”, sublinha o filósofo, “aquele preciso elemento que, não sendo apolíneo, constitui o caráter da música dionisíaca e, portanto, da música em geral: a comovedora violência do som, a torrente unitária da melodia e o mundo absolutamente incomparável da harmonia” (id; cf, também, NIETZSCHE: 2005, pp. 11-12). lx Talvez não seja um excesso de didatismo sugerir o seguinte quadro-resumo: DIVINDADE ATRIBUTO (JOGO) ARTISTA OBRA DE ARTE Apolo Sonho Homem (força criativa individual) Imagens similares às do real. Dioniso Embriaguez Natureza (força criativa total) O Homem. lxi Partindo do pressuposto de que “no mundo helênico existe uma enorme contraposição, quanto a origens e objetivos, entre a arte do figurador plástico, a apolínea, e a arte não-figurada da música, a de Dioniso” – “impulsos” que, “tão diversos, caminham lado a lado, na maioria das vezes em discórdia aberta e incitando-se mutuamente a produções sempre novas, para perpetuar nelas a luta daquela contraposição sobre a qual a palavra comum ‘arte’ lançava apenas aparentemente a ponte” (NIETZSCHE: 2001, p. 27) –, Nietzsche, em seu primeiro livro, O nascimento da tragédia, procurará demonstrar como, na formação da tragédia ática clássica, tais artes se encontram emparelhadas, reconciliadas. lxii A possível ressalva quanto ao uso que, no presente trabalho, fazemos do termo “ontologia” – por falta de outro melhor – reside no fato de que, em êxtase, o ser se subtrai: sua “eternidade” “só pode ser revelada no devir”, sua “paisagem” “só aparece no movimento” (DELEUZE: 1997, p. 16). Cf. n. xciii, em que falaremos de uma “gravidade ontológica” da transformação (MORAES, 2002, p. 84). lxiii Seria bastante pertinente retomar, neste ponto, o conceito de “idealidade vazia”, cunhado por Hugo Friedrich. Propondo uma leitura para o poema “Élévation”, de Baudelaire, Friedrich flagra o esquema platônico-místico-cristão de ascensão do espírito a uma “transcendência que o transforma a tal ponto que (…) [o espírito] penetra o véu que cobre o que é terreno e reconhece sua essência verdadeira” (FRIEDRICH: 1978, p. 48). Entretanto, não se observa, de fato, uma concordância plena com tal ideal exatamente porque falta, no poema, o “final da ascensão e, até mesmo, a vontade de chegar a ele. (…) A meta da ascensão não só está distante, como vazia, uma idealidade sem conteúdo. Esta é um simples pólo de tensão, hiperbolicamente ambicionado, mas jamais atingido” (id) – trata-se de uma fuga do mundo banal, fuga que é “sem meta” e “não vai além da excitação dissonante” (ibid, p. 49). A idealidade vazia como “outro indefinido” aparecerá também e mais radicalmente em Rimbaud e em Mallarmé, neste convertida em “Nada” (cf. ibid, p. 115). lxiv Collot quer destacar o fato de serem cognatas indo-européias as palavras “êxtase” (do substantivo grego éktasis, derivado do verbo ekteínein, “alongar”, “estender”, “esticar”, “desenvolver”, “difundir”, 130 “disseminar”) e “existência” (do latim tardio existentia, proveniente do antigo verbo ex-sistere, “alongar-se para fora de”, “estender-se sobre”, “sair de”, mostrar-se”, “surgir”). lxv Um aforismo de René Char citado por Collot nos parece satisfatório para a compreensão da idéia de “matéria-emoção”: “audácia de, num instante, ser si mesmo a forma realizada do poema. Instantaneamente, reina o bem-estar de ter entrevisto cintilar a matéria-emoção” (CHAR apud COLLOT: 2004, p. 167). Dito de outra forma: o poema consistiria numa espécie de materialização da emoção pessoal, sendo a matéria algo exterior – do mundo e das palavras. lxvi Voltaremos a tratar da articulação entre a poesia e a alquimia na segunda seção do presente trabalho. lxvii No mesmo poema, encontra-se uma passagem que diz: “a cabeça que socialmente eu considero minha estava imaginando loucuras” (FRÓES: 1998, p. 167). lxviii FRÓES: 1998, p. 89. lxix Deleuze sublinha que a própria sintaxe da literatura seria uma possibilidade, um desvio em relação à língua materna, pré-definida e dominante: se “não há linha reta, nem nas coisas nem na linguagem”, se “a sintaxe é um conjunto de desvios necessários criados a cada vez para revelar a vida nas coisas” (Deleuze: 1997, p. 12), “o que a literatura produz na língua já aparece melhor: como diz Proust, ela traça aí precisamente uma espécie de língua estrangeira, que não é outra língua, nem um dialeto regional redescoberto, mas um devir-outro da língua, uma minoração dessa língua maior, um delírio que a arrasta, uma linha de feitiçaria que foge ao sistema dominante. (…) Criação sintática, estilo, tal é o devir da língua: não há criação de palavras, não há neologismos que valham fora dos efeitos de sintaxe nos quais se desenvolvem” (id, p. 15). lxx “Goethe foi um profundo estudioso de botânica, de geologia, de mineralogia, de osteologia, de anatomia, de morfologia e dos fenômenos físicos da ótica, das cores, do magnetismo, do galvanismo e da meteorologia” (GONÇALVES in GOETHE: 2003, p. VIII), e “o que chama a atenção cada vez mais para a obra científica de Goethe não é apenas a quantidade de textos e teses produzidos, mas sobretudo o ecletismo de seus temas, os quais, porém, se mostram perfeitamente compatíveis e integrados, formando o que hoje chamaríamos de interdisciplinaridade” (id, p. IX). As primeiras incursões de Goethe no campo das ciências da natureza “datam de seu período de estudos em Leipzig (1765-68), durante o qual interessa-se por medicina e pelos escritos naturalistas de Buffon, Linné e Haller. Tais estudos prosseguiram durante o período de estudos em Estrasburgo (1770-71), anos em que estabelece contato com Johann Casper Lavater e seus métodos de investigação. No entanto, (…) o fascínio de Goethe pelas ciências tomou grande impulso após sua mudança para Weimar, em 1775, quando as leituras e observações de Goethe acrescem-se de uma dimensão prática”, já que, lá, trabalhou como engenheiro florestal e geólogo, supervisionando as minas da região da Turíngia. “Porém, foi durante o período de sua viagem à Itália (1786-88) que seus interesses pelo campo das artes e da ciência passaram a convergir mais diretamente, levando ao desenvolvimento de um único método de investigação capaz de promover a síntese entre os dois campos de conhecimento” (MATTOS: 2006, pp. 78-79). lxxi A partir dos primeiros anos do século XIX, Goethe teria criado “o hábito de registrar a qualquer tempo em e em qualquer lugar, servindo-se de qualquer pedaço de papel disponível, fragmentos de conversas, trechos de obras, síntese de idéias, cujas fontes quase nunca cuidava em identificar”; disso, resultou, postumamente, a coletânea inicialmente chamada de Goethesche Spruchwerk (Obra de provérbio de Goethe), mais tarde de Sprüche in Prosa (Provérbios em prosa), até que, finalmente, em 1907, de Maximen und Reflexionen (Máximas e Reflexões) (GONÇALVES in GOETHE: 2003, p. V). lxxii Daí Herder considerar o corpo como o “fenômeno do conhecer”, o ponto a partir do qual “a alma vê os pensamentos” (HERDER apud GONÇALVES in GOETHE: 2003, p. VIII). lxxiii Não estamos afirmando que Goethe abdicou do saber teórico; no aforismo 409, o poeta se posiciona da seguinte maneira: “todos os empiristas anseiam pela idéia e não conseguem descobri-la na multiplicidade; todos os teóricos buscam-na na multiplicidade e não conseguem encontrá-la aí” (GOETHE: 2003, p. 63). O mais importante, parece-nos, não é propriamente a empiria, mas a maneira como ela é conduzida. Tal questão 131 será abordada logo a seguir, quando mencionarmos o aforismo 563 e, sobretudo, quando tratarmos do Versuch, ponto básico para o entendimento do caráter empírico da Naturwissenschaft proposta por Goethe. lxxiv Daí o fato de Goethe considerar conversíveis os atos de descobrir (entdecken) e inventar (erfinden) (cf. GONÇALVES in GOETHE: 2003, p. XI). lxxv Uma experiência de primeiro nível seria aquela que, superficial e imediata, seria “incapaz de revelar um sentido mais profundo” do fenômeno, isolando-o dos demais objetos (GONÇALVES in GOETHE: 2003, p. X). lxxvi Segundo Goethe, “a percepção imediata dos fenômenos originários transpõe-nos para uma espécie de angústia: sentimos nossa insuficiência; somente vivificados pelo jogo eterno da experiência eles nos alegram” (GOETHE: 2003, p. 3, aforismo 16; cf. também o aforismo seguinte). No aforismo 101, o poeta declara: “desfrutar significa pertencer a si e aos outros em alegria” (id, pp. 16-17). lxxvii Qualquer pessoa, independentemente de sua cultura ou origem, poderia desfrutar, de acordo com Goethe, de uma experiência de segundo nível, dado que esta é possibilitada pela capacidade de sensibilidade (Empfindung) possuída por todos os homens. Vale lembrar que o conceito de Weltliteratur, “literatura universal”, criado por Herder e levado à prática pelo jovem Goethe, também é alicerçado sobre a idéia de uma sensibilidade (Empfindung) ou sentimento (Gefühl) enquanto elemento inerente a todos os homens (GONÇALVES in GOETHE: 2003, p. VII). lxxviii No aforismo seguinte (516), Goethe completa: “por isso, até onde for possível, o melhor é estar consciente dos objetos em meio à observação e de nós mesmos em meio ao pensamento sobre eles” (GOETHE: 2003, p. 79). lxxix A igualdade entre Deus e mundo natural enquanto princípios criadores, produtivos, leva Goethe a indagar, no aforismo 9 das Maximen und Reflexionen, levando em conta a dessacralização da natureza efetuada pela razão crítica, se “não devemos ter o direito de sentir no raio, na trovoada e na tempestade a proximidade de um poder mais do que potente, no perfume das flores e no murmúrio suave de uma brisa um ser amoroso se aproximando?” (GOETHE: 2003, p. 2). lxxx Goethe complementa a denúncia no aforismo 589: “vivemos no interior de fenômenos derivados e não sabemos absolutamente como devemos atingir a questão originária” (GOETHE: 2003, p. 89). lxxxi No poema “Canto dos Espíritos sobre as Águas”, outro conceito da tradição metafísico-religiosa é retirado da instância imutável: A alma do homem É como a água: Do céu vem, Ao céu sobre. E de novo tem Que descer à terra, Em mudança eterna” (GOETHE: 1958, p. 37). lxxxii O método de Goethe tem uma de suas fontes na colaboração que o poeta empreendeu para a pesquisa do suíço Johann Casper Lavater, entre 1741 e 1801. “Obstinado por demonstrar uma correlação entre a fisionomia externa do ser humano e seu caráter, Lavater colecionava retratos de pessoas famosas de toda a Europa, acrescida de uma descrição de suas personalidades. (…) Os retratos estudados por Lavater eram preferencialmente traçados em silhueta (Schattenrisse) e em seguida eram submetidos a um método comparativo para determinar a relação entre certas formas físicas e traços de caráter” (MATTOS: 2006, pp. 8384). lxxxiii Cf. DELEUZE: 2004, pp. 160-161. 132 lxxxiv No aforismo seguinte (873), Goethe continua: “A vantagem que o jovem artista alcança com isto é, em verdade, múltipla. Ele aprende a pensar, a reunir de maneira pertinente o que se coaduna e, se ele compõe espirituosamente desta maneira, não lhe falta por fim absolutamente o que se denomina invenção, o desenvolvimento do múltiplo a partir do singular” (GOETHE: 2003, p. 135). lxxxv O ponto de partida da negação do ideal antropomórfico no campo das artes estaria nas “duplicações da identidade, amplamente tematizadas no romantismo” (MORAES: 2002, p. 21; cf. também o capítulo V da mesma obra, pp. 93-106). lxxxvi Além do “desejo profundo que instiga o ser humano a indagar os limites de sua condição” e da necessidade de “demarcar as fronteiras da humanidade” – questões que acompanhariam o homem desde muito –, a maneira obsessiva e urgente com a qual a possibilidade da metamorfose fora retomada e redimensionada pelos artistas no início do século XX deixa explícito que teria ela se tornado uma “necessidade violenta”, posto que “a cena simbólica confrontava-se com os ímpetos destrutivos que assaltavam a cena histórica” (MORAES: 2002, p. 87). “Não foram poucas as razões que levaram a geração modernista a formular parâmetros de uma ‘estética desumana’: primeiro, como oposição radical aos discursos humanistas que, na sua afirmação abstrata do homem, desconsideravam a singularidade concreta dos seres; segundo, como resposta às cenas de horror que se rotinizavam, evidenciando a falta de sentido de um mundo em que a ameaça de desintegração sugeria uma negação das forças vitais até então desconhecida. Por último, como reflexão sobre as fronteiras entre o humano e o inumano, dada a urgência histórica de repensar esses limites e, desse modo, criar possibilidades de reconsiderar a noção de totalidade e (…) de conferir um novo sentido à vida” (id, p. 89). lxxxvii Com a inserção de um critério arbitrário no processo de aproximação de duas realidades, os surrealistas se afastaram das teorias de Pierre Reverdy, em cujos fragmentos de 1918 afirma-se que, embora a imagem poética seja “pura criação do espírito”, não podendo nascer da comparação, mas da “aproximação de duas realidades mais ou menos distantes”, sua força reside na exatidão dessa aproximação (REVERDY apud MORAES: 2002, p. 41). Contrariando tal noção de exatidão, apoiado em Lautréamont, Breton apostava com convicção que “a imagem mais forte é aquela que apresenta o mais elevado grau de arbitrariedade” e, portanto, “aquela que demanda mais tempo para se traduzir em linguagem prática” (BRETON apud MORAES: 2002, p. 41). Daí Louis Aragon acreditar que a imagem poética poderia acarretar no campo da representação “perturbações imprevisíveis” e “metamorfoses”, “pois cada imagem, a cada vez, vos força a revisar todo o Universo. E há para cada homem uma imagem a encontrar que aniquila todo o Universo” (ARAGON apud MORAES: 2002, p. 42). lxxxviii Na busca por uma técnica de composição poética em que a linguagem se libertasse de qualquer imposição, ou pretensão de imposição, da individualidade que escreve, os surrealistas desenvolveram a chamada “escrita automática”, a partir da qual seria possível expandir a realidade, alcançando-se resultados surpreendentes não apenas para o leitor, mas também para o próprio criador (MORAES: 2002, p. 42). Não é àtoa que Roland Barthes inclui os surrealistas entre aqueles que teriam contribuído para a “morte do Autor” (BARTHES: 1988, p. 67; cf. seção I do presente trabalho, n. x). lxxxix As técnicas criadas por Max Ernst com o intuito de transpor para o campo das artes visuais a noção de escrita automática talvez tornem mais clara a noção de invenção surrealista (MORAES: 2002, p. 45). “Encontro fortuito de duas realidades distantes em um plano não pertinente” (ERNST apud MORAES: op. cit., p. 44): a definição dada pelo artista explicita que a colagem, de maneira bastante similar ao que ocorre nos poemas de Breton, Soupault e outros, desviaria os elementos constituintes de seus sentido, destino e identidade previsíveis, despertando-os para uma “realidade nova e desconhecida” (MORAES: op. cit., p. 44). É notória, aliás, a diferença entre as colagens cubista e surrealista: na primeira, de que são exemplos clássicos os papiers-collés de Braque e Picasso, “o objeto colado era o ponto de partida da organização do quadro, comprometido com a sintaxe da tela”, num procedimento que, “segundo Aragon, era excessivamente preso aos referentes” e “motivado por uma intenção realista” (id, p. 45). Na colagem surrealista desenvolvida por Ernst, por outro lado, “os elementos empregados funcionavam como metáfora”, pois, em conjunto, constituiriam uma “materialização do imaginário” (ibid), evocando – e assim se compreende o fato de ter o artista alemão chamado tal técnica de “alquimia visual” – “o milagre da transfiguração total de seres e 133 objetos, através da modificação de seus aspectos físicos e anatômicos ou não” (ERNST apud MORAES: op. cit., p. 45). A tarefa não é “simplesmente desfigurar, produzindo alterações”, mas “transfigurar, operando metamorfoses de seres e objetos” (MORAES: op. cit., p. 45). São contemplados, assim, ambos os pólos entre os quais oscila o pêndulo da invenção segundo os surrealistas: a colagem “supõe um material preexistente, já dado, mas sempre passível de ser deslocado até o ponto de se converter em outra realidade” (id). A alquimia visual de Max Ernst alcançou, em 1925 sua “forma mais acabada” quando o artista, baseado em técnicas desenvolvidas por Da Vinci, “decidiu aplicar uma folha de papel às ranhuras de um soalho e esfregá-la com um lápis a fim de obter um decalque”: nascia a técnica batizada de frotagem, uma “interrogação à matéria” a partir da qual “surgiu um mundo estranho, povoado por seres imaginários, cabeças humanas, vapores, minerais e vegetais (ibid). xc Breton chegou a sugerir uma leitura para a famosa imagem dada por Lautréamont: recuando até os símbolos sexuais mais elementares, o guarda-chuva seria o homem, a máquina de costura a mulher, a mesa de dissecação a cama (MORAES: 2002, p. 48). Também Max Ernst seguirá por tal caminho: os objetos, retirados de seus contextos previsíveis e redimensionados, “abandonarão por completo seu destino previsível e sua identidade, passando de seu falso absoluto, por uma série de valores relativos, para um absoluto novo, verdadeiro e poético: o guarda-chuva e a máquina de costura farão amor” (ERNST apud MORAES: 2002, p. 48). A interpretação sugerida não é apenas cabível para os surrealistas: é previsível, porque, além de confirmar seus “anseios de uma poesia na qual ‘as palavras fariam amor’” (MORAES: 2002, pp. 48-49), reafirma a visão cultivada por Breton e seus companheiros em relação ao encontro amoroso como a “expressão modelar da ocorrência do acaso objetivo” (id, p. 48). “A exemplo do que acontece na criação da imagem poética, também os amantes estariam sujeitos às exigências do desejo”, superando suas identidades e seus destinos individuais (ibid).O que talvez soe limitado nessa interpretação da frase dos Chants de Maldoror advém do ideal surrealista do amor único e recíproco entre um homem e uma mulher (ibid, p. 51), ao passo que a sexualidade ducassiana seria mais complexa, englobando práticas homossexuais e até mesmo zoófilas – que não deixam de ser modalidades da metamorfose aplicados à ordem sexual (cf. WILLER in: LAUTRÉAMONT: 1997, pp. 2526, 33). Sublinhemos desde já que na poesia de Leonardo Fróes é possível encontrar dados eróticos que extravasam o padrão sexual; vale mencionar aqui um trecho do poema “Amor no mato”, no qual se diz que o orgasmo “só se tornava mais forte e se completava quando, em vez de guardado como um valor qualquer mofado, era dado no escuro pelo pênis, em comunhão com o gozo das espécies” (FRÓES: 2005, pp. 41-42). xci Note-se que “uma tal similitude entre a transmutação alquímica e as metamorfoses da imagem poética já se fazia ler nas ‘correspondências’ de Swedenborg e de Baudelaire, na ‘alquimia do verbo’ de Rimbaud, ou no ‘demônio da analogia’ de Mallarmé. Com o surrealismo, porém, ela atingiu sua maior evidência” (MORAES: 2002, pp. 77-78), funcionando “como um dos pontos terminais de uma consciência que vinha se formando desde o século XIX com o romantismo” (id., p. 80). xcii “Velho conceito, familiar à ciência grega, o pensamento analógico foi, segundo Michel Foucault, uma das principais figuras do saber da semelhança que, até o século XVII, desempenhou um papel essencial na cultura do Ocidente. A partir de um mesmo ponto, valendo-se de ajustamentos, liames e junturas, a analogia podia tramar um grande número de parentescos, multiplicando-os indefinidamente. Esse caráter de reversibilidade e polivalência conferia a ela um campo universal de aplicação, na medida em que permitia a aproximação de todas as figuras do mundo” (MORAES: 2002, p. 78). xciii Bataille – tendo observado que “os seres só morrem para voltar a nascer” e, a partir daí, comparado o ciclo da vida à atividade erótica “dos falos, que saem dos corpos para a eles retornarem” (BATAILLE apud MORAES: 2002, p. 84) – afirmava a “metamorfose contínua a que todos os seres estão sujeitos, tendo por base a idéia de que o universo é regido por dois movimentos fundamentais, o rotativo e o sexual” (MORAES, op. cit., p. 84). Haveria, portanto, uma “gravidade ontológica” na transformação: “não são apenas as imagens do mundo moderno que obedecem ao ritmo de transitoriedade e de instabilidade, mas a própria condição do homem, colocado num universo em constante metamorfose” (id). Esse “materialismo cósmico” de Bataille encontra sua origem em Sade, que, “elevando a destruição à condição de ato criador”, “insiste na idéia de que a morte não passa de modificações da matéria, de transformações de um estado em outro” (ibid) – de “simples transmutação, que tem por base o perpétuo movimento, nada mais sendo que uma passagem imperceptível de uma existência à outra” (SADE apud MORAES, op. cit., p. 85). Bataille destaca que o pensamento de Sade 134 “funda-se numa experiência comum: a sensualidade (…) é despertada não somente pela presença, mas por uma modificação do objeto possível” (BATAILLE apud MORAES, op. cit., p. 85). “Não é, portanto, a destruição que se sublinha aqui, mas a possibilidade de transformação” (MORAES, op. cit., p. 85). xciv “Partindo da interpretação de Bachelard aos Chants de Maldoror, talvez se possa afirmar que os modernistas oscilaram entre esses dois caminhos: de um lado, o destino destrutivo da metamorfose que teria sua versão solar em Sade e sua versão noturna em Kafka; de outro, o desejo de ultrapassar as fronteiras humanas para tomar posse de novos psiquismos expresso na obra de Lautréamont” (MORAES: 2002, p. 86). xcv Também quanto a esse ponto, o método analógico reabilitado pelo surrealismo, preterindo a descrição detalhada dos aspectos visíveis proposta pela ciência clássica, pretendia “investigar o funcionamento global dos organismos animais, atendo-se às funções normalmente negligenciadas pela zoologia e pela botânica, tais como a camuflagem, o mimetismo e a simbiose” (MORAES: 2002, p. 109). xcvi Nos Chants de Maldoror, podem ser encontrados grilos e sapos que conversam (LAUTRÉAMONT: 1997, p. 213) e uma coruja igualmente falante (id, p. 227). Maldoror, em determinada passagem, se dirige aos homens, dizendo: “não sede tão presunçosos (…) a ponto de acreditar que sois os únicos possuidores da preciosa faculdade de traduzir os sentimentos do vosso pensamento” (ibid, p. 213). “Todos os gostos estão na natureza” (ibid, p. 170): até mesmo a poesia é algo que extravasa a esfera humana – diz Lautréamont que ela se encontra “em todo lugar onde não estiver o sorriso, estupidamente zombeteiro, do homem” (ibid, p. 226). Noutro trecho dos Chants, o fazer poético é colocado como algo comparável às produções do chamado instinto animal (ibid, p. 195). xcvii “A justaposição de elementos não se restringe contudo ao mundo natural: a contaminação estende-se aos objetos inanimados que, combinados a outras realidades, também passam a reclamar algumas prerrogativas da vida” (MORAES: 2002, p. 113). xcviii Daí decorre o interesse que os surrealistas cultivaram pelos chamados “animais paradoxais”, como o louva-deus e o ornitorrinco, cujos fenótipos híbridos explicitariam a ancestralidade comum de todos os seres (MORAES: 2002, p. 112). xcix Não faremos uma distinção muito exata entre os poetas e os prosadores beats, já que “aquilo que os poetas tentaram na sua poesia foi, ao mesmo tempo, tentado pelos escritores”, sendo “conseqüência disso uma maior proximidade entre prosa e poesia, e em vários momentos uma grande dificuldade em separar uma da outra” (BUENO & GOES: 1984, p. 47). Pode-se mesmo falar da literatura beat como uma “combinação de poesia e prosa” (id, p. 51). c “Essa poesia, ao rejeitar o academicismo e o intelectualismo estéreis, criou uma série de novas e fortes imagens e fez algo ainda mais importante: reintroduziu o som na poesia e rejeitou velhas formas de controle, levando a poesia para fora das bibliotecas, gabinetes e escritórios burocráticos da cultura” (BUENO & GOES: 1984, pp. 61-62). ci Muito embora a livraria City Lights, de que é proprietário poeta Lawrence Ferlinghetti, tenha sido transformada, já em 1955, numa editora que, a partir de então, publicou em edições inicialmente independentes, e publica até hoje, as principais obras da dita geração beat. cii Vale destacar que, “ainda dentro da América dos anos 50, os Beats surgiram aliados com os Delinqüentes Juvenis (…), mas também se ligavam ou estavam próximos de outras minorias como os Hispano-Americanos (Chicanos), Índios, Traficantes, e uma vasta Fauna Urbana, toda ela dissidente da vida familiar e moral do protestantismo norte-americano” – i. é, do universo square (BUENO & GOES: 1984, p. 20). ciii Tal erudição os permitiu dialogar com toda uma tradição literária que abrangia “as Visões magníficas de William Blake, a potência do poeta-cantor da América Walt Whitman, a modernidade e a força dos experimentos poéticos de E. E. Cummings, algumas lições tiradas de Ezra Pound, êxtases à la Rimbaud, 135 loucuras à la Baudelaire, a força política da poesia marxista dos anos 30 americanos, as experiências Surrealistas e Dadaístas” (BUENO & GOES: 1984, p. 60). civ Fróes complementa: “na mística beat há um espaço fundamental para o esforço de se criar como gente. Diante do funil social do enquadramento, que ameaça tragar todos os sonhos numa direção pré-moldada, que apara o risco das rebarbas para vedar à personalidade suas danças mais cheias, seus vôos mais iluminados, seus processos mais ricos, o jeito é manter-se frio, to keep cool, e salvar o motor mesmo dinamitando a alma” (FRÓES: 1984, p. 14). cv O próprio termo “beat” é esclarecedor quanto a essa mistura de elementos sagrados e profanos, marca da literatura que o tem como adjetivo. Pode ser associado à batida do Jazz, a partir da qual se têm os sentidos de “ritmo, movimento, embalo, ligação diretamente com o corpo e com a sensualidade”, e, por extensão, “fluência, improviso, ausência de normas fixas, na vida e no texto, envolvimento profundo que traz música, balanço, liberdade e prazer” (BUENO & GOES: 1984, pp. 8-9), afinal a “liberação emotiva foi fermentada com Jazz”: “diante de tantas experiências novas e fortes, só se as palavras saíssem como notas, em total improviso” (FRÓES: 1984: p. 12). “Beat” também significava, ao mesmo tempo, “bater e beatificar, céu e inferno, anjos e demônios, numa curiosa mistura em que a atitude de contestar, de agredir, de ir contra o existente vem desde logo associada com o beatífico, o convencimento pacífico, o ativismo político com fortes doses de espiritualidade” (BUENO & GOES: op. cit., p. 9). Um dos grandes méritos dos beats foi ter percebido, desde a década de 50, “que a transformação política e social não exclui necessariamente a espiritualidade, nem as drogas, nem as experiências sexuais, nem os poderes extáticos, visionários da mente humana” (id, p. 61). cvi Roberto Muggiati ainda acrescenta que “no Zen, a palavra meditação não deve ser interpretada no seu sentido contemplativo, mas muito mais como a fusão de dois movimentos, que poderia ser equacionada neste jogo de palavras: medita + ação” (MUGGIATI: 1984, p. 109). cvii Muggiati lembra que, “dos beats, Jack Kerouac foi o que mais ajudou a difundir o Zen”, mas “não o verdadeiro Zen, mas uma versão muito pessoal do Zen, impregnada de todo o seu misticismo católico” (MUGGIATI: 1984, p. 106), por força do qual “se voltou para o ramo Mahayana do budismo e usava como lema a primeira verdade de Sakyamuni: ‘Toda vida é sofrimento’” (id, p. 107). E arremata: “Kerouac era muito inquieto e angustiado, na melhor (ou pior) tradição ocidental, para se submeter à dura e longa disciplina Zen” (ibid, p. 106). cviii Bueno & Goes, ao contrário de Muggiati (cf. nota anterior), acreditam que “no começo da década de 50, em São Francisco, foi através de Gary Snyder que Ginsberg e Kerouac receberam os primeiros toques acerca do Zen. No romance The Dharma Bums (Os Vagabundos do Dharma), de Kerouac, todo ele recheado de frases feitas e lugares comuns sobre o Zen, Snyder entra como um dos personagens mais importantes, com o nome de Japhy” (BUENO & GOES: 1984, pp. 70-71). cix Disserta Leonardo Fróes: “Gary Snyder (…) redigiu uma nota sobre as tendências religiosas dos beats que especifica até mesmo alguns conselhos de moralidade prática quanto ao uso de drogas. O poeta, que dentro de toda a efervescência se destacou por reter grande serenidade na imagem, admite as vantagens da marijuana (‘a daily stanby’) e do peiote (‘the real eye-opener’) como auxiliares da imersão no espírito, mas não se esquece de fazer uma advertência (…). No mesmo texto, Snyder menciona o amor, o respeito pela vida, o abandono, o pacifismo e o anarquismo entre os itens da pauta beat, lembrando que a realização dessa pauta depende de serem compreendidos seus três aspectos básicos: a contemplação, a sabedoria e a moralidade, que para ele é com freqüência sinônimo de protestação social” (FRÓES: 1984, p. 16). Mais a frente, diz Fróes: “Em 1969, ‘em resposta a uma evidente necessidade de algumas sugestões visionárias e práticas’, Gary Snyder confirmou sua índole – ele é talvez o mais ‘ideológico’, o mais ‘compromissado’, o mais socialmente responsável de todos os grandes beats – ao lançar uma plataforma em Four Changes, panfleto posteriormente agregado a seu livro Turtle Island. Saímos da esfera poética, nesse panfleto, para o trato escancarado de vários temas políticos, desde a necessidade de conter a explosão demográfica à de proibir o DDT e outros agentes químicos. Mas o autor, que se apresentou noutro texto como discípulos dos índios americanos e alguns budistas japoneses, naturalmente permanece um poeta e não propõe coisas ocas. O que ele quer são 136 rios limpos, linguagem pura, pluralismo cultural e individual, um basta aos mitos do progresso e ‘um novo tipo de família – responsável, embora mais relaxada e festiva” (id, p. 17). cx André Bueno e Fred Góes complementam: “seus poemas estão repletos de magia, contato direto e nãoverbal com realidades distantes das Cidades, traduzindo como pontos luminosos sacações que, no melhor estilo Zen, não se traduzem em longos discursos, mas em shots, tomadas curtas e secas, algo entre o verbal e o não-verbal” (BUENO & GOES: 1984, p. 71). cxi Para Snyder, o interesse pela natureza “pode ser uma extensão do pós-modernismo, já que a vanguarda modernista era eminentemente centrada no urbano” (SNYDER: 2005, p. 259). cxii Snyder critica, inclusive, o chamado “desenvolvimento sustentável”: “o desenvolvimento não é compatível com a sustentabilidade e a biodiversidade. Temos que parar de falar de desenvolvimento e nos concentrar em como atingir uma condição estável de sustentabilidade real. Muito do que se passa por desenvolvimento econômico é simplesmente a extensão ainda maior das funções desestabilizantes, entrópicas e desordenadas da civilização industrial” (SNYDER: 2005, p. 264). cxiii Diz Snyder em seu ensaio “A política da etnopoética”: “Desde muito pequeno me vi reverenciando o mundo natural. Eu sentia gratidão, maravilhamento e uma consciência de preservação” (SNYDER: 2005, p. 219). cxiv Assim sugere Snyder: “imaginem uma aldeia que inclui suas árvores e pássaros, suas ovelhas, cabras, vacas e iaques, e os animais selvagens das altas pastagens (…) como participantes da comunidade. Os conselhos de aldeia, então, em algum sentido, dariam voz a todas essas criaturas. Dariam espaço a todos” (SNYDER: 2005, pp. 256-257). cxv Nas palavras de Snyder, o homem está a serviço do mundo selvagem da vida da morte dos seios da Mãe! (SNYDER: 2005, p. 133). cxvi “A disciplina e a liberdade não se opõem uma a outra. Nos tornamos livres pela prática que nos permite dominar a necessidade, e nos tornamos disciplinados pela nossa livre escolha de assegurar esse domínio. Ao nos tornarmos amigos da ‘necessidade’, vamos além do ‘dominar’ uma situação e, assim, não sermos – como colocaria Camus – nem vítima nem algoz. Só uma pessoa brincando no campo do mundo” (SNYDER: 2005, p. 276). cxvii “O viés ecológico em Fróes não é de ordem estritamente intelectual: o poeta retirou-se da cidade grande e foi morar com a família por longos anos em um sítio afastado, imergindo-se, assim, por completo no mundo natural” (HENRIQUES NETO: 1999, pp. 94-95). cxviii “Libertador”. Cf. n. xiv. cxix Sabe-se que, além da poesia, da tradução, da crítica e do jornalismo, Leonardo Fróes se dedica ao montanhismo, à plantação e outras tantas atividades que lhe oferecem contato direto com o ambiente natural. cxx Coincidentia oppositorum era, para Nicolas de Cusa, a definição menos imperfeita de Deus, pois implicava na união dos contrários de que resultaria a totalidade (ELIADE: 1991, p. 80). A mesma idéia já se encontrava em Heráclito: “Deus é dia noite, inverno verão, guerra paz, saciedade fome: isso quer dizer todos os opostos” (cf. id, n. 2). 137 cxxi Muito embora o poeta e crítico Afonso Henriques Neto encontre, na poesia de Leonardo Fróes, “correspondências entre imagens estranhíssimas” (HENRIQUES NETO: 199, p. 94) que poderiam conduzir a “abismos surreais” (id, p. 95), o diálogo entre a escrita automática e as concepções de Fróes acerca da ruptura com a subjetividade lírica mereceria um estudo mais aprofundado que, no entanto, deparar-se-ia com uma série de problemas, quase todos advindos do fato de o poeta não ter demonstrado, nem em sua obra, nem em sua biografia, qualquer interesse direto pelas práticas surrealistas, ao contrário de alguns poetas de sua geração – como os paulistas Roberto Piva e Cláudio Willer – este último responsável, aliás, pela tradução dos Chants de Maldoror utilizada no presente trabalho –, além de Sérgio Lima, criador do Grupo Surrealista de São Paulo. cxxii “Viva invoque vislumbre invente mas não pergunte nada” (FRÓES: 1998, p. 72).
Baixar