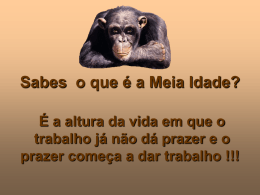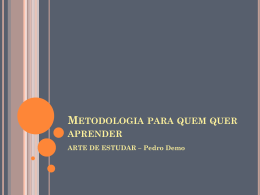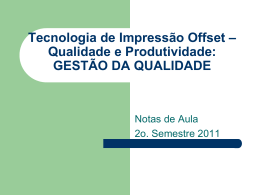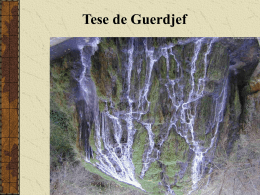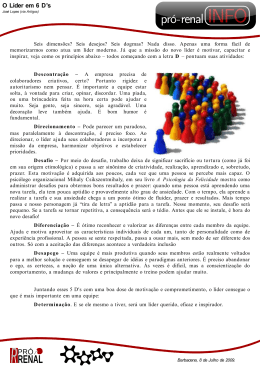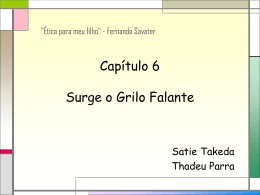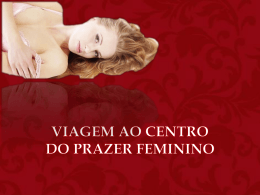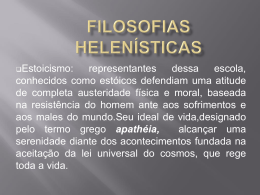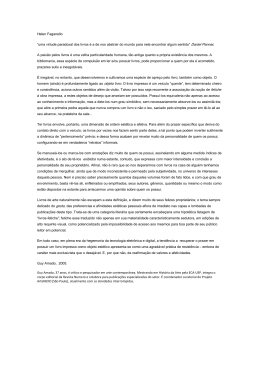LEITURA na ESCOLA: SACRIFICAR O SABER PELO PRAZER? Leda Queiroz de PAULA - EE “Profa. Hercy Moraes” e FATEC-Indaiatuba Resumo: Faltam recursos para se trabalhar leitura na escola pública? A leitura deve ser feita (só) por prazer? Essa comunicação visa a polemizar esses pressupostos a partir de experiência realizada no ensino médio e superior, e a aproveitar o COLE como momento privilegiado de troca de experiência para avançar nessas questões com ganhos, prioritariamente, para o aluno. Estaremos dialogando com Silva e Zilberman (1988), Orlandi(1998), Manguel (1999), Geraldi (1998; 2002), entre outros. Palavras-chave: leitura, prazer, saber, (inter)disciplina(r) LEITURA na ESCOLA: SACRIFICAR O SABER PELO PRAZER? Leda Queiroz de PAULA - EE “Profa. Hercy Moraes” e FATEC-Indaiatuba Diante da busca por experiências de leitura bem sucedidas, parece uma perda de tempo querer discutir um tema como esse, o saber ou o prazer, quando, na verdade, não deveria haver dicotomia, mas intercambialidade entre esses termos. No entanto, minha experiência como professora de Língua Portuguesa, obrigou-me a sair do silêncio titubeante, temeroso, amedrontado até porque, talvez, falando para meus pares, possa encontrar outras vozes que façam coro à minha e, juntas, possamos transformar o ensino da leitura na sala de aula, não como um espaço de espetáculo, espaço lúdico, mas um espaço de formação do leitor competente e crítico. Muito se tem enfatizado a necessidade de se despertar o prazer da leitura nos alunos. E, em nome desse prazer, que precisaria ser melhor definido, temos deixado legiões de estudantes à margem da cidadania. Não estou prognosticando a volta a estratégias passadistas (embora algumas delas precisariam ser melhor revistas, como por exemplo a leitura coletiva em voz alta), mas uma necessidade urgente de rever alguns discursos sobre a leitura, porque eles mais têm contribuído para atrapalhar o trabalho do professor na sala de aula, do que para favorecer. A famosa frase de Ziraldo, “Ler é melhor que estudar”, opinião compartilhada pela intelectualidade, sempre me incomodou, porque ela atesta uma separação entre ler e estudar. É possível ler sem ser para estudo, mas estudar sem ler, desconheço essa possibilidade, pois lemos desde os enunciados, as instruções, até os textos do livro didático ou de obras literárias. Essa frase implica dizer que a “escolarização, no caso da sociedade brasileira, não leva à formação de leitores”; e que “a maior parcela da população, embora hoje possa estudar, não chega a ler” (Rojo, 2004). Estudar ficou associado a algo desprazeroso, ligado à escola, enquanto que o ler parece indicar algo que só é possível fora da escola. E é quanto a essas idéias que me insurjo, porque elas podem representar uma armadilha muito perigosa. Os professores da rede pública de ensino, que é a realidade que conheço e a qual pretendo abordar, têm sido bombardeados com a idéia de que temos que fazer o aluno gostar de ler. Os títulos que temos indicado para esses alunos, têm-nos sido oferecidos pelo próprio MEC/Secretaria da Educação e são, de fato, “prazerosos”. Não para os alunos, que nem sequer os abrem. Mais à frente vou apresentar uma pesquisa que fiz em duas salas do ensino médio, uma de primeira série e a outra de terceira série. Antes, porém, gostaria de dialogar com alguns autores que me interessam para ajudar nessas reflexões, para não produzir mais um texto de obviedades, e sim, contribuir para avançar nas propostas pedagógicas. Relendo textos que tratam da leitura, deparei-me com uma epígrafe de José Louzeiro, no IV COLE, a um artigo de Silva (1986), em que ele dizia que, para ele, a leitura não importa apenas em prazer, prazer tipo saborear uma torta de maçã ou fazer uma boa viagem, mas o prazer libertário, porque, ainda segundo ele, é lendo até maus livros que despertamos para as indagações sobre o mundo novo que está sendo construído. Naquele momento, estava-se ainda falando da necessidade de democratização do acesso à leitura. Não é o caso agora, quando vários livros estão chegando às escolas. Chamou-me também a atenção para a questão da leitura de maus livros, segundo o autor, mas, ainda assim, a leitura deles. Essa posição é, é claro, a de alguém cuja maturidade permite assumir uma visão crítica perante os livros: ler para julgar. Como fazer com que nossos alunos cheguem a essa visão, a da responsabilidade para com a leitura? Frases do tipo “o que li do livro, que foi só duas páginas, eu não gostei”, ou “não li porque não gosto de ler e o pouco que li não gostei”, apontam para a perda do sentido do trabalho escolar, que é o de ir além do prazer, mas o de busca do saber. Como agir senão pela via da responsabilidade para fazer com que esses leitores-alunos julguem a obra após a leitura da última página? Estamos falando de alunos cuja única orientação para ler talvez ainda seja, seguramente, a da indicação do professor. A sociedade brasileira ainda não chegou a um grau de sofisticação em que o nível cultural de seus habitantes seja tal, que os parcos investimentos educacionais possam ser desperdiçados. Todos sabemos que a leitura não se configura como um processo passivo, que ela exige re-criação, supõe o trabalho do sujeito-leitor, que ela é primordialmente um ato de conhecimento, que existem livros que fazem da leitura uma experiência de prazer e de conhecimento objetivo da realidade, obras para consumo e reprodução e obras de fruição e de libertação ou mudança (Silva, 1986), obras que fazem viajar e obras que fazem pensar. O que falta, então? O que é preciso é resgatar esse papel da leitura na escola, o da leitura que faz pensar. E pensar não é uma atividade prazerosa. Pensar dói. Pensar faz mudar ou pelo menos incomoda. E estamos vivendo tempos em que se procura evitar o pensar, porque se procura evitar a mudança. Se nossos estudantes começarem a pensar, a serem responsáveis, o que poderá acontecer? A obra Leitura na Escola e na Biblioteca, de 1986, do prof. Ezequiel, justamente por ter 21 anos, está sendo tomada como referência por mim, porque ele e seus colaboradores põem questões que dificultavam a leitura, as quais julgo necessário serem revistas. Ele cita tese de Lilian Lopes Martin da Silva, cujo título foi “Leitura Escolarizada- a didática da destruição da leitura” e que apontava que um dos erros que os professores cometiam é o de indicar livros sem considerar as características dos alunos. Um dos livros encaminhados às escolas é “O Noviço”. A trama é leve, é simples quanto à linguagem, e trata de situação parecida com a das comunidades em que vivem, que é a do homem ter duas mulheres, seja a amante assumida, seja a mulher enganada. E, no final, a união dessas duas mulheres enganadas para dar uma lição no tratante. Reli o livro num domingo, em duas horas. Os alunos tiveram um mês para ler. Quando, comentando o livro, enfatizei a solução que as mulheres enganadas encontraram, de se unir contra o inimigo comum, e não como elas, que brigam entre si, no pátio da escola ou na saída da aula, na rua, quando o inimigo fica bem protegido, senti alguns olhares (bem poucos) interessados. Não quis, por estratégia, apresentar questões antes, para não dirigir a leitura. Essa será uma estratégia que será modificada e será material para uma próxima pesquisa. Entretanto, fica o alerta: onde ficou a responsabilidade com a tarefa passada? E esses alunos que se escondem na culpabilização da escola, do professor, estão chegando à faculdade não lendo, ou querendo ler só o que é gostoso, prazeroso. É assim que deve ser? A experiência do Japão, Coréia, etc. comprova isso? Ou a transformação da nação foi fruto de um árduo trabalho? Já faz onze anos que leciono no ensino superior. Neste ano de 2007 me deparei com uma situação inusitada, a de uma classe inteira (quase 40 alunos) não terem lido o texto teórico que seria suporte para análise de um anúncio publicitário. Sendo a propaganda o braço da tecnologia na divulgação dos produtos que ela produz, e sendo os alunos pertencentes a um curso de tecnologia, estranhei muito essa situação. Como ela se justifica? Estão chegando às faculdades essas gerações que foram educadas dentro da ideologia do prazer, da falta de compromisso com as tarefas escolares. Notícia veiculada pelo Jornal Hoje, de 03 de julho de 2007, alertava para o fato de que jovens brasileiros não lêem. Foram ouvidos dois mil estudantes de universidades públicas e privadas no Rio e em São Paulo. Entre os paulistas, 34% não liam com freqüência, 18% não gostavam de ler e 16% só liam de vez em quando. Profissionais que selecionam universitários em busca de estágio diziam que ler pouco prejudica quem quer entrar no mercado de trabalho. Marcelo Gallo, diretor regional do CIEE, segundo a reportagem do jornal, apontava o conhecimento cultural como fator muitas vezes decisivo em um processo seletivo. Ler se configura como uma necessidade. Relendo “O Prazer do Texto”, de Roland Barthes (1987), concluí que esse prazer vem de ouvir o texto, escutar o texto, e para escutar o texto é preciso ir a ele com nossos olhos e com nossos ouvidos: o prazer do texto é isto: o valor passado ao grau suntuoso do significante” (idem). Apresento um gráfico de uma síntese que fiz sobre a justificativa que os alunos deram sobre a sua não leitura da obra sugerida: PESQUISA DE LEITURA: SÍNTESE 1ª série 1º bim.: 22 não leram/ 05 leram 2º bim.:- “O Noviço” - Total de alunos: Leram: 02 Não leram: 18 Frases significativas (01) Não li porque não quis, porque eu até me esqueci dele. (12) Não li porque fui deixando, acabei não lendo. (08) Li umas três páginas, só que eu me desanimei porque eu não gosto de ler livros daquele tipo (peça de teatro). (15) Não li porque faltou tempo e porque eu esquecia de ler. (06) Li com pressa e pulei algumas partes (24) Porque eu não tive tempo e o tempo que sobra tenho que fazer coisas mais importantes. E o que eu li do livro que foi só 2 págs. , eu não gostei. (07; 09) Não li porque estava muito ocupado, ajudando minha mãe a cuidar da minha irmã. (21) Não li porque achei estranha a história, só no começo do livro entendi, porque por mais que eu leia 10 vezes não iria entender. (17) Porque eu fui preguiçoso, relaxado e etc. Na próxima vou tentar melhorar. (13) Não li por falta de interesse. 2º Bimestre: “O Quinze” Leram: 16 Não leram: 16 Frases significativas: (09) Porque achei monótono e repetitivo. (30) Por causa da irresponsabilidade. (8) Por relaxo meu, falta de organização dos meus horários, por desinteresse nos livros. (19) Porque eu realmente não quis, mas me arrependo. (22) Eu ia ler, mas não trocaram o livro comigo. (04) Não li porque não gosto de ler, e o pouco que li não gostei. (35) Não li, pois ando muito atarefado. (03) Comecei a ler, mas não me interessei, por isso não li. (27) Não li porque faltou um pouco de interesse meu. (34) Não li porque não me interesso por literatura. (15) Não li o livro. Porque não gosto de ler. Esse gráfico permite algumas reflexões. Estão lado a lado as respostas dos alunos ingressantes no ensino médio e as dos alunos da terceira série. E é possível identificar semelhanças nas respostas, a partir dos verbos gostar e interessar, usados na forma negativa. Quando os alunos dizem não ter lido por outras ocupações, está subentendido o desinteresse também. O que, a meu ver, isso revela, é o descrédito da instituição escolar no seu papel de ensinar a leitura. Manguel (1999), no capítulo sobre O Aprendizado da Leitura, fala sobre métodos de aprender a ler, alguns implicando sofrimento e rigor, e sobre rituais de iniciação à leitura: Na festa de Shavuot, quando Moisés recebia a Torá das mãos de Deus, o menino a ser iniciado era envolvido num xale de orações e levado por seu pai ao professor. Este sentava o menino no colo e mostrava-lhe uma lousa onde estava escrito o alfabeto hebraico, um trecho das Escrituras e as palavras “Possa a Torá ser tua ocupação”. O professor lia em voz alta cada palavra e o menino as repetia. A lousa então era coberta com mel e a criança a lambia, assimilando assim, corporalmente, as palavras sagradas (ibid. p. 90). Manguel fala também da passagem de preceitos ortodoxos que implicavam uma leitura correta, conduzida por professores da escola latina de Sélestat, a uma perspectiva humanista mais vasta e pessoal, em que os alunos passaram a circunscrever o ato de ler ao seu mundo e experiência íntimos e afirmando sobre cada texto sua autoridade de leitores individuais (p.103). Muito caminhamos da época retratada por Manguel, mas a necessidade de formas de se aproximar do texto ainda são procuradas para o trabalho em sala de aula. Para que se lê o que se lê? ainda deve ser a questão norteadora do trabalho do professor. Geraldi (2002, p. 171-4) aponta algumas respostas: a ida ao texto para perguntar ao texto, é a leitura-busca-de-informações, que nos permitam aderir ou abandonar uma tese; a ida ao texto para escutá-lo, é a leitura-estudo-do-texto, motivada pela necessidade de querer saber mais; a ida ao texto para usá-lo na produção de outras obras ou textos, é a leitura-pretexto; e por fim a ida ao texto de forma despojada, onde há a gratuidade nas relações, é a leitura-fruição. Todas essas relações com o texto não esgotam as possibilidades de abordá-lo, já alerta o autor. A pergunta que faço é: como nossos alunos têm reagido a essas propostas? As reações têm ido da apatia à rebeldia. Eu poderia exemplificar suas reações contrárias às expectativas dos professores, em cada tipo de leitura, mas vou ficar só com a leitura-pretexto. Os alunos sabem da importância da leitura e sua relação com a produção de texto. A leitura não só fornece matéria-prima para a escrita, o que se escrever, como contribui para a constituição dos modelos, o como se escrever (Orlandi, 1988, p. 90). O trabalho que desenvolvo no preparo da produção de texto, parte da leitura de textos de gêneros variados, sobre um tema, por exemplo, o da política de cotas para as universidades públicas. Para o ensino médio, esse é um tema relevante. Para fundamentar seu ponto de vista, o aluno precisa ler sobre o assunto. Eu incentivo a que os alunos tragam textos referentes ao tópico e eu mesma trago também. Em classes de em média 35 alunos, eu consigo que apenas dois ou três alunos o tragam. Alguém poderia dizer que essa pouca participação é devido às condições sócio-econômicas dos alunos. Vá lá. Mas, como justificar que se recusem a ler os textos trazidos (eles podem escolher dentre os vários) por mim e que não queiram socializar o que leram? Talvez justificando porque não fosse um tema do agrado, do interesse deles. Ao que eu responderia: a escola, quando possível, pode agradar aos alunos, mas o papel da escola não é agradar, é ensinar conteúdos significativos. E a capacidade de ler, de pensar, de posicionar-se, de argumentar são competências a cargo da instituição escolar. E ela não pode abdicar desse seu papel. É preciso cuidado com a armadilha que estão preparando para a escola, querem fazê-la crer que ela pode substituir a família, que ela pode ser o psicólogo, a assistente social, a merendeira, etc., e fazendo-a esquecer que seu papel é ensinar. Ensinar a ler, que é o que nos interessa neste artigo. Ensinar a ler envolve a complexidade do ato de compreender e a multiplicidade de aspectos cognitivos que constituem a atividade em que o leitor se engaja para construir o sentido de um texto escrito (Kleiman, 1989). Reconstruir os processos de produção do texto a partir das pistas deixadas pelo seu autor faz parte de um dos quesitos da formação do leitor competente e crítico. As obras literárias são riquíssimas em possibilidades de se “treinar” essas possibilidades de produção de sentido, pois são, no dizer de Umberto Eco, obras abertas. A escola deve trabalhar o conhecimento lingüístico, o conhecimento textual, o conhecimento de mundo que, ativados durante a leitura, permitem inferências que levarão à compreensão. Como sacrificar esses saberes pelo prazer? O prazer deverá vir da satisfação da tarefa cumprida, do aprendizado obtido. Acompanhando os COLEs de há muito, podemos observar que muitas das reivindicações históricas vêm sendo, ainda que timidamente, atendidas, como é o caso da chegada de livros nas escolas. Estamos longe das sonhadas bibliotecas com bibliotecárias, mas a merenda chegou, os livros chegaram. Até uma aula especial de Leitura foi incluída no currículo. O que falta para que a leitura efetivamente aconteça na escola pública? A meu ver, a responsabilidade do alunado. Se forem computadas todas as experiências bem sucedidas com leitura, veremos que elas privilegiam o lúdico e uma exposição visando ao espetáculo. Não somos contrários a isso, mas sim, a só isso. Não que devamos ficar preocupados em preparar nossos alunos para se darem bem em SAEBs, PISAs e ENEMs, mas as habilidades cobradas nesses exames requerem um trabalho um pouco diferenciado. A análise das questões pedidas não revela preocupação com agrado do estudante, mas com competências de leitura. E esse aspecto mais racional da leitura não impede que ofereçamos livros aos nossos alunos, acreditando que a leitura e discussão deles vá contribuir para fazer suas vidas melhores, por terem tido acesso a novos mundos, outras culturas, a outras verdades. Nessa perspectiva, não concordamos com Pennac (1998), que advoga em sua obra o direito do leitor de não ler. Se estivéssemos falando de obra apenas para fruição, caberia o alerta do autor, mas como estamos falando de aprendizagem de leitura, de responsabilidade do papel do estudante como cooperador na tarefa da aprendizagem, e de formação de hábito de leitura, a crença de que só por colocar o livro nas mãos do aluno ele alcança esses propósitos por si mesmo, não nos convence. E com o agravante de estarmos falando de leitores das classes populares que dependem da escola para atingir o patamar esperado deles quanto à leitura. Se não começarem a formar na escola (quando não foram iniciados na família) hábitos de leitura e introduzidos na aprendizagem das estratégias de leitura, estarão correndo o risco de continuarem engrossando as estatísticas do analfabetismo funcional. Algumas das estratégias que julguei interessantes e que não conseguiram a adesão dos alunos foi a leitura de um jornal da cidade, com o objetivo de pesquisar de que forma os bairros em que moravam eram abordados nas notícias e reportagens. Acrescento que o jornal era oferecido gratuitamente a eles. Como a tarefa não agradou, não concluímos o trabalho. Se houvesse o discurso incorporado da responsabilidade com a tarefa escolar, poderíamos chegar a conclusões interessantes e levá-los a se posicionarem criticamente para intervir enquanto cidadãos, até mesmo enviando notícias de suas comunidades a serem publicadas, ou a providenciar um jornal de bairro. Voltando às frases da pesquisa que fiz com os alunos, observando a primeira série chama a atenção que no 1º bimestre, quando os alunos tiveram que comprar ou emprestar os livros, de 27 que fizeram a prova do livro (essa prova incluía questões envolvendo os elementos estruturais da narrativa, basicamente), apenas 5 tinham lido; já no 2º bimestre, quando os livros foram emprestados, pois o MEC enviou os exemplares à escola, de 20 que fizeram a prova, apenas dois tinham lido. Isso revela que não é o fato de não ter acesso ao livro que impede a leitura. Nem o fato do agrado, pois o livro tinha por volta de 62 páginas, uma comédia com enredo leve, agradável e de fácil e rápida leitura. Já observando a terceira série, vemos que 50% leram e 50% não leram. Eu acompanhei essa turma pelos três anos, em sua maioria, e ressalto a aquisição do hábito de leitura, sempre indiquei livros nos 4 bimestres, e a aprendizagem da responsabilidade. Muitos dos que não leram, pediam desculpas e prometiam mais comprometimento para com o próximo livro. Enfim, o trabalho com a leitura não é tarefa simples. Zilberman & Silva (1988) apontam para algumas dessas dificuldades. A primeira delas, a coloração pragmática, de que se aprende a ler para vencer na vida e prosperar. A situação do desemprego na sociedade brasileira poderia apontar para a falsidade dessa idéia, que associa os sentidos educativo e mercantil, de intenções ideológicas. A segunda, que aliena a leitura do seu objeto, o texto que é fonte de conhecimento do real. Uma terceira, que trata das políticas públicas para o acesso ao livro, e a quarta, que trata a leitura no campo das ciências humanas, apontando para a necessidade de uma abordagem interdisciplinar. O saber, entendido como sinônimo de conhecimento, exige um enfoque interdisciplinar. Ler pressupõe o diálogo entre disciplinas, pressupõe uma disciplina do leitor, daquele que se isola, para iniciar um diálogo com um interlocutor ausente, mas presente nas páginas da obra. É em nome dessa necessidade que proponho, se necessário ao conhecimento, ao desenvolvimento da gênese do leitor crítico e competente, sacrificar o prazer, ainda que momentaneamente, para redescobri-lo quando a tarefa da leitura de um texto tiver sido cumprida. Redescobrir o prazer na conclusão de uma tarefa bem feita. Considerações Finais As reflexões que fiz me permitem propor que títulos prazerosos continuem a ser ofertados aos alunos para aquisição do hábito de leitura, mas que, ao lado deles, sejam indicados títulos que permitam o trabalho de aprendizado da leitura. Outra estratégia é, sem receio de estar “adestrando” leitores, apresentar algumas questões orientadoras da leitura, para garantir que, na hora da discussão da obra, do debate proposto, não tenham passado desapercebidos temas que contribuam para a reflexão sobre a vida humana, o que contribuirá para o processo de humanização do alunado. Aí, então, após conseguir que os livros tenham sido efetivamente lidos, propor atividades lúdicas ou interativas, como entrevistar personagens da obra, apresentar capítulos em forma jogralizada, representação corporal (dança, mímica, etc.) de cenas significativas ou outras paráfrases ou paródias. Nós, professores de língua, não devemos deixar de indicar livros aos alunos, e de “cobrar” a leitura desses livros, acreditando que estamos efetivamente contribuindo para fazê-los seres melhores. Agindo assim, nós estaremos contribuindo para a construção de uma nova sociedade, porque, conforme o provérbio zaire, “a árvore cai com grande ruído, mas não se escuta a floresta que cresce”. Uma floresta de leitores brotará desse nosso ato solidário, de expor aos alunos livros criteriosamente selecionados, apesar dos ventos contrários” e das ideologias vindas não se sabe com que interesses andarem dizendo que isso é errado. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARTHES, Roland. O Prazer do Texto. São Paulo: Perspectiva, 1987. GERALDI, João Wanderley. Linguagem e Ensino. Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil-ALB, 1998. ________ Portos de Passagem. São Paulo: Martins Fontes, 2002. KLEIMAN, Ângela. Texto e Leitor: Aspectos Cognitivos da Leitura. Campinas, SP: Pontes, 1989. MANGUEL, Alberto. Uma História da Leitura. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. ORLANDI, Eni P. Discurso e Leitura. São Paulo: Cortez; Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1988. PENA, Martins. O Noviço. São Paulo: Paulus, 2005. PENNAC, Daniel. Como um Romance. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. POMPÉIA, Raul. O Ateneu. São Paulo: Paulus, 2005. QUEIROZ, Rachel de. O Quinze. Global ROJO, Roxane. Letramento e capacidades de leitura para a cidadania. São Paulo, SEE: CENP, 2004. Texto apresentado em Congresso realizado em maio de 2004. SILVA, Lilian Lopes Martin da. A Escolarização do Leitor: a didática da destruição da leitura. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1986. SILVA, Ezequiel Theodoro da. Leitura na Escola e na Biblioteca. Campinas, SP: Papirus, 1986. ZILBERMAN, Regina & SILVA, Ezequiel Theodoro da. Leitura, Perspectivas Interdisciplinares. São Paulo: Ática, 1988.
Download