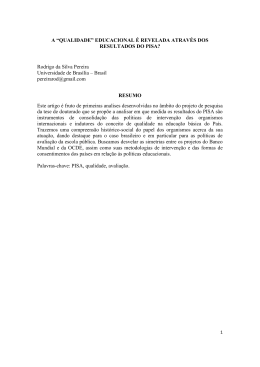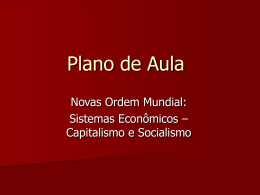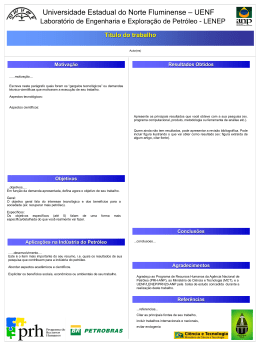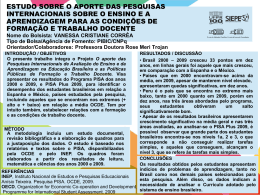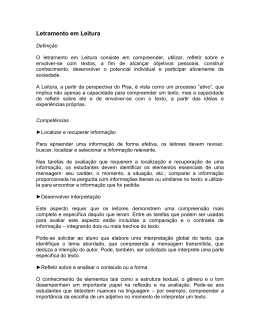A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO SOCIAL: uma proposta para a rede pública de ensino médio do DF Ivan Rocha Neto Ana Lúcia E. Valente RESUMO Este ensaio propõe a educação e a disseminação da cultura científica como estratégias de inclusão social, que tem sido um dos grandes desafios a serem enfrentados pelo País para redução de suas agudas desigualdades, não somente em relação à distribuição da riqueza, mas também com respeito ao acesso aos bens culturais e apropriação dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Estas se dão tanto em relação ao aproveitamento desigual das oportunidades do mercado de trabalho, quanto de desenvolvimento humano em geral. A estratégia proposta necessariamente envolve a ampliação das populações a serem incluídas, porque até mesmo o ensino formal de ciências na rede pública tem sido insuficiente, conforme mostraram os resultados das do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Há necessidade de mudanças na educação científica e disseminação da ciência, metodológicas e nos conteúdos. Palavras Chave: Educação Científica; Inclusão Social; Programa Internacional de Avaliação de Estudantes ABSTRACT This essay proposes the education and dissemination of scientific culture as strategies for social inclusion, which has been one of the greatest challenges faced by Brazil in order to reduce its inequalities. These are related to not only to the distribution of wealth, but also to the access to cultural assets and appropriation of scientific and technological knowledge. These involve the harnessing of opportunities in the labor market, but also the general human development. This strategy necessarily involves larger extracts of the population, since science teaching in the public high school education network has been insufficient, as it has been showed by the last triennial reviews of the Program of International Student Assessment (PISA). Keywords: Scientific Education; Social Inclusion; Science Teaching; Program of International Student Assessment (PISA) RESUMEN Este articulo trata de la educación y la difusión de la cultura científica como estrategias de inclusión social, que ha sido uno de los grandes desafíos del Brasil que ha enfrentado agudas desigualdades sociales, no sólo en relación a la distribución de la riqueza, pero también con respecto al acceso a los bienes culturales y de uso de los conocimientos científicos y tecnológicos, tanto respecto a el disfrute desigual de oportunidades en el mercado de trabajo y también a lo desarrollo humano. Esta estrategia implica necesariamente grandes parcelas de la población, porque la enseñanza de la ciencia en la red pública ha sido insuficiente, como mostró los tres últimos exámenes trienales del Programa Internacional de evaluación de estudiantes (PISA). Palabras clave: La educación científica; Inclusión social; Enseñanza de las Ciencias A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO SOCIAL: uma proposta para a rede pública de ensino médio do DF Ivan Rocha Neto Ana Lúcia E. Valente 1. Contexto A inclusão social tem sido um dos grandes desafios a serem enfrentados pelo Brasil, que por circunstâncias históricas tem convivido com agudas desigualdades, não somente quanto à distribuição de riquezas, mas também ao acesso aos bens culturais e apropriação dos conhecimentos científicos e tecnológicos, aproveitamento das oportunidades oferecidas do mercado de trabalho e desenvolvimento humano das populações mais carentes (MOREIRA, 2006). A educação científica pode ser uma estratégia de inclusão social mais abrangente para proporcionar oportunidades educacionais e culturais às populações social e economicamente excluídas que tiveram acesso limitado à educação formal. Nesse sentido esta opção necessariamente envolverá parcelas maiores da população, porque até mesmo o ensino de ciências na rede pública tem sido insuficiente, conforme mostraram os resultados da Pesquisa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Quadro 1. PISA 2009: pontuação média em Ciências Ranking País Pontuação média 1º Xangai (China) 575 2º Finlândia 554 3º Hong Kong 549 4º Cingapura 542 5º Japão 539 6º Coréia do Sul 538 7º Nova Zelândia 532 8º Canadá 529 9º Estônia 528 10º Austrália 527 53º Brasil 405 Fonte: BARROSO e FRANCO (2008) Dentre os países latino-americanos, Chile (44º), Uruguai (48º) e México (50º) tiveram melhor desempenho que o Brasil. Colômbia (54º), Argentina (55º), Panamá (62º) e Peru (64º) tiveram resultados piores. A prova é aplicada a cada três anos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e avalia o conhecimento de estudantes de 15 anos de idade em matemática, leitura e ciências. No DF, a média considerando as três disciplinas foi de 439 pontos – 38 acima da nacional. Em seguida, aparecem Santa Catarina (428), Rio Grande do Sul (424), Minas Gerais (422) e Paraná (417). Seis estados também tiveram resultados acima da média nacional – Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás. Em 2009, o Brasil aumentou a amostra de alunos participantes para que os resultados da Pisa pudessem ser comparados por estado. Em ciências, as escolas federais ficaram com média (528), e rede particular com (505), e a pública não federal (392). A Quarta Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – CNCTI4, realizada em Brasília em 2010, apontou à necessidade de aplicações de conhecimentos científicos e tecnológicos para promover o desenvolvimento sustentável do País. Os desafios para apropriação da ciência nas Tecnologias em geral, Engenharias, Saúde, Prevenção de Catástrofes, Fontes limpas de Energia, Meio Ambiente e Produção de Alimentos impõem a realização de projetos voltados a melhorar os processos de ensinoaprendizagem de ciências, particularmente na rede pública. Nesse contexto, a educação cientifica no Brasil tem sido caracterizada como teórica e desconexa com as realidades dos estudantes. Também as diferenças entre a produção científica e a tecnológica, traduzidas pela comparação entre a publicação de artigos com o volume de registros de patentes ou aprendizagem (Know-How) são enormes. Claramente é urgente uma reforma do ensino de ciências no País, e de construção de ementas voltadas à experimentação para intensificar as aplicações científicas na vida das pessoas. O ensino de ciências no País tem sido livresco e sem conexão com o cotidiano dos cidadãos em qualquer domínio das atividades humanas. A pesquisa não tem sido aplicada como método de ensino-aprendizagem e os conhecimentos científicos têm sido tratados de forma isolada e disciplinar, como se a realidade fizesse escolha das abordagens disciplinares para a solução de seus problemas. Nas últimas décadas houve profundas mudanças nos processos de trabalho e nas tecnologias educacionais, bem como nos sistemas de ensino-aprendizagem com significativas implicações sociais. Nesse sentido, há necessidade do debate sobre as transformações nas relações entre ciência, tecnologia e sociedade, considerando as desigualdades econômicas, culturais e sociais, à construção de relações mais justas e com menor discrepância de oportunidades. Deste modo, a interdisciplinaridade é considerada estratégia fundamental para a formação cidadã e para a compreensão e intervenção na realidade. Os problemas a serem resolvidos com base em conhecimentos científicos superam em muito o corte disciplinar sobre o qual a ciência tem sido construída. O diálogo com a realidade é necessariamente interdisciplinar ou transdisciplinar, porque em geral não são resolvidos nos limites de apenas uma disciplina ou pelo concurso desconexo de um conjunto de disciplinas isoladas. Os processos especialização, naturalização e vulgarização do conhecimento atingem a educação formal em todos os níveis. E não se trata de considerar a especialização como algo condenável. Mas ao perder de vista o processo de construção social da existência, impede a compreensão das necessidades e problemas humanos. Ao serem aprofundados os conhecimentos numa área restrita, disciplinar, são abandonados os instrumentos que viabilizam a recuperação intelectual, como experiência pensada, da ação humana, que tornaria possível evidenciar que as linhas demarcatórias entre as diversas ciências são artificiais. Entretanto, a transposição desse artificialismo não parece resolver-se a partir da mera somatória de conhecimentos acumulados em muitos campos científicos, numa perspectiva inter, multi ou transdisciplinar. Isto porque, ao invés de limitar os efeitos da especialização essa alternativa poderá agravá-los. Nas palavras de Alves (2006, p.151), “ao buscarem superar a visão parcial do especialista através do concurso de um conjunto de especialistas de diferentes áreas do conhecimento, terminam por produzir uma soma eclética de elaborações marcadas pela especialização”, deixando de ser um corpo marcado pelo olhar enviesado de um especialista para resultar uma massa não integrada de conhecimentos, produzida por tantos olhares enviesados quantos forem os especialistas reunidos. O desafio é, portanto, a construção de uma nova maneira de pensar a ciência (VALENTE, 2009) A aprendizagem dos princípios e aplicações da ciência, bem como de seus métodos, riscos, limitações, implicações econômicas, políticas e culturais tonou-se requisito à cidadania A inclusão social para apropriação conhecimentos científicos e tecnológicos implica envolver não só as populações mais pobres outras parcelas da população que se encontram excluídas no que se refere à compreensão bases do conhecimento científico e tecnológico. Contudo, o Brasil não desenvolveu ainda uma política pública ampla destinada à inclusão social segundo a estratégia da educação científica. 2. Os Centros Vocacionais Tecnológicos Segundo (ROCHA NETO, 2010) a educação científica para inclusão social no mercado de trabalho tem sido o propósito de uma das modalidades dos Centros de Vocacionais Tecnológicos (CVT). A orientação tem sido a de fomentar o acesso às tecnologias digitais, em especial para os extratos sociais mais pobres. Nas últimas quatro décadas, a exclusão social evidenciou uma nova dimensão - a revolução tecnológica, agravando as desigualdades, não somente entre países, mas também entre localidades e distintos extratos das populações. Os Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) que envolvem a criação de uma grande variedade de formas de organização: tele-centros, unidades de inclusão digital e de popularização da ciência, voltados à educação profissional para inserção ou realocação de jovens e adultos no mercado de trabalho. Em 2009 o CGEE realizou uma investigação preliminar do Programa de Apoio à Criação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) para avaliar os seus resultados de acordo com os seguintes objetivos: Contribuição à para melhoria do ensino de ciências; Desenvolvimento das vocações regionais, visando o desenvolvimento de localidades carentes; Oferta de cursos de formação profissional para inclusão social; e, Contribuição para o desenvolvimento regional, com ênfase na inclusão social; No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, onde essas instituições estão fortemente envolvidas, os resultados do Programa mostraram-se melhores do que nos estados em que isso não ocorre. Em resumo, foi entendido que o Programa teria sua efetividade consideravelmente ampliada se desenvolvido em conexão com esses parceiros. Esse condicionante é um dos principais desafios para aperfeiçoamento de consolidação do Programa. Entretanto, as contribuições à popularização da ciência têm sido limitadas, sobretudo pela baixa oferta de professores de ciência. Há também o desafio é integrar a rede de CVT de todos os esforços do Governo Federal para intensificar a educação vocacional e tecnológica no País. No DF só há um CVT em funcionamento que não inclui a educação científica. Classificação por estados segundo IDEB O IDEB é o índice do ensino básico no país. Numa escala que vai de 0 a 10, o MEC (Ministério da Educação) fixou a média seis (6) como meta a ser alcançada até 2021. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar obtidos no Censo Escolar médias de desempenho nas avaliações do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o SAEB - para os Estados e o Distrito Federal, e a Prova Brasil - para os municípios. Criado em 2007, o IDEB serve tanto como avaliação da qualidade do ensino brasileiro, como critério para as políticas de distribuição de recursos (financeiros, tecnológicos e pedagógicos) do MEC. Ao selecionar o nível de ensino (anos iniciais, anos finais ou ensino médio), clicando nas opções no canto inferior direito, o leitor poderá consultar a nota e comparála ao IDEB da região e do país e a evolução do índice desde 2005. Ainda é possível verificar se as unidades aumentaram ou diminuíram suas notas e quais delas atingiram a meta nacional, clicando nas abas no topo do gráfico. A situação do DF no IDEB para e Ensino Médio em 2009 é mostrada a seguir. DF Centro-Oeste Média do Brasil 3,8 3,5 3,6 2005 2007 2009 3,6 4,0 3,8 Fonte: INEP (2009) Evolução DF Fonte: INEP (2009) 3. Déficits da Formação de Professores de Ciências e Matemática O Ministério da Educação divulgou que o ensino de nível médio foi o pior no (IDEB). O levantamento mostrou um déficit de 240 mil professores da 5ª série ao ensino médio. As áreas mais críticas são física, química e matemática. Para resolver o problema, alguns estados recorrem aos professores que não prestaram concurso, os chamados temporários. A Secretária de Educação do DF tem destacado a necessidade de ampliação do número de professores permanentes. De 28 mil docentes, 12,5 mil têm contratos temporários. E entre os temporários, mais de mil ocupam vagas de concursados. Entretanto, a questão não se restinge ao deficit na quantidade, mas sobretudo na qualidade da formação de professores de ciência. Para a solução deste problema no volume, ritmo e qualidade requeridos uma solução poderia ser utilizar metodologias adequadas à modalidade EAD, aproveitando os conteúdos e metodologias já desenvolvidas no Brasil e no exterior. Há produtos educacionais gratuitos – vídeos, textos e experimentos de aplicação da ciência no cortidiano das pessoas que podem ser organizados. De qualquer forma a carreira precisa ser valorizada e os salários revistos. É preciso também ampliar o quadro de professores permanentes e investir na qualificação docente, especialmente para Física, Química e Biologia. Para isso, há uma excelente oportunidade para aproximação com as universidades para resolver este déficits de maneira suficientemente ágil. 4. Estratégias A ideia é não tentar “redescobrir a roda”, mas aproveitar a enorme variedade de vídeos, textos, experimentos, exercícios disponíveis na Internet e outras fontes e orientar a aprendizagem das ciências para suas aplicações, sobretudo de orientação social. Assim as estratégias inicialmente propostas são as seguintes: Aproveitar vídeos e textos disponíveis gratuitamente via Internet; Introduzir o pensamento complexo e a transdisciplinaridade, considerando os sete saberes da educação, segundo a perspectiva de MORIN: Traduzir e adaptar produtos didáticos já existentes como, por exemplo, textos, vídeos e experimentos disponíveis nos Programas das Redes Globo e Futura, Canais Discovery e Universal, e na Internet (Hyperphysics) e outros; Comparar os produtos e adequá-los às ementas dos cursos de ciências no ensino médio; Organizar conferências nas escolas ou grupos das cidades do DF para disseminar as metodologias e produtos desenvolvidos no projeto. Aperfeiçoar os livros e DVD (s) mediante revisão contínua a partir da experiência e dos resultados obtidos. Aplicar provas nos estilos da PISA e ENEM para avaliar o progresso dos estudantes de ensino médio. 6. Considerações Finais Neste ensaio os autores consideram ter fundamentado a proposta da Secretaria Regional da SBPC-DF do Projeto Ciência nas Escolas de Ensino Médio do Distrito Federal, tendo como estratégia a Inclusão Social por meio da Educação Científica. A elaboração dos produtos didáticos foi iniciada com a produção de um DVD que já contém mais de 100 conexões a vídeos, exercícios, artigos e textos disponíveis gratuitamente na Internet e outras fontes. A proposta pedagógica ainda está em desenvolvimento e adaptação da linguagem para EAD, mas inteiramente coerente com os termos de referência do IV Simpósio Nacional de Tecnologia e Sociedade (2011) segundo os quais “As demandas de conhecimento científico e tecnológico dos processos de inclusão social não poderão avançar no Brasil e na América Latina se as práticas pedagógicas não estiveram coerentes com as bases na experiência e na superação dos atuais modelos”, redutores do ensino exclusivamente disciplinar das ciências (TECSOC, 2011). Também que a abordagem da educação científica para inclusão social depende da contribuição do meio acadêmico com os grupos de atores sociais orientada à geração de oportunidades de ocupação, renda e emprego e desenvolvimento das tecnologias sociais. Com este ensaio, os autores esperam contribuir para o debate sobre a educação em ciências nas escolas de ensino médio, bem como sobre o processo de inclusão social pela educação científica e esperam as contribuições dos participantes deste Simpósio, para dar continuidade ao projeto. Referências ALVES, Gilberto Luiz. A Produção da Escola Pública Contemporânea. 4ª edição. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. BARROSO, Marta e FRANCO, Creso. AVALIAÇÕES EDUCACIONAIS: O PISA E O ENSINO DE CIÊNCIAS EDUCATIONAL ASSESSMENT: PISA AND SCIENCE TEACHING. XI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – Curitiba – 2008 CGEE. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Avaliação do Programa de Apoio a Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT). Brasília, 2010. MOREIRA, Ildeu de Castro. A inclusão social e a popularização da ciência e tecnologia no Brasil. Inclusão Social, Vol. 1, No. 2 (2006) ROCHA NETO, Ivan. Avaliação do Programa de Apoio aos Centros Vocacionais Tecnológicos da SECIS. Revista Tecnologia e Sociedade. Curitiba (2010). VALENTE, Ana Lúcia. A extensão rural e o “mundo do faz de conta”. In: ALVES, Gilberto (org.). Educação no campo – recortes no tempo e no espaço. Campinas: Autores Associados, 2009. Autores Ivan Rocha Neto é PhD em Eletrônica pela Universidade de Kent - Canterbury no Reino Unido (1975). Atualmente é docente no Mestrado de Gestão do Conhecimento e da TI da Universidade Católica de Brasília, colaborador da Secretaria Regional da SBPC-DF e da Revista Tecnologia e Sociedade. Sua linha principal de Pesquisa é avaliação de Políticas Públicas em Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ana Lúcia Valente é Doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP); e pós-doutorado em Antropologia pela Université Catholique de Louvain Bélgica (1996). Atualmente é Professora Associada da Universidade de Brasília (UnB), Secretária Regional DF da SBPC (2009-2011), vice-coordenadora do Núcleo de Estudos Agrários (NEAGRI). Participante do Instituto de Estudos Agrários e Combate à Pobreza (INAGRO). Atua nos seguintes temas: antropologia, educação, diversidade cultural e agricultura familiar.
Download