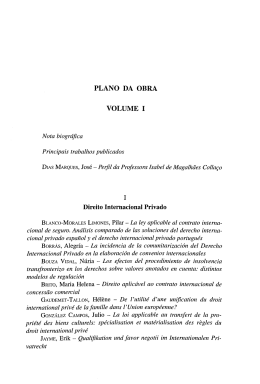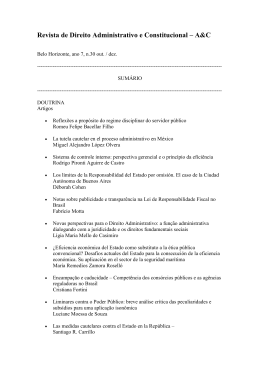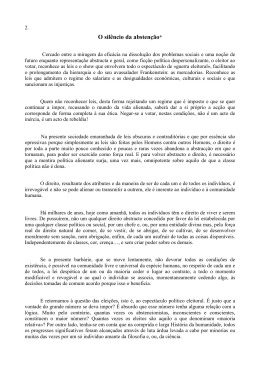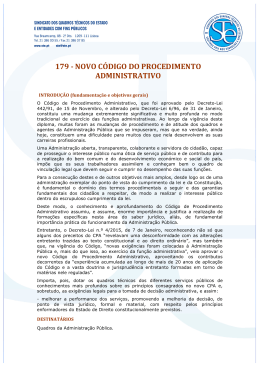JURISMAT Revista Jurídica do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes N.º 5 – PORTIMÃO – NOVEMBRO 2014 Ficha Técnica Título: Director: Editor: Edição: Edição on-line: Correspondência: Data: Tiragem: Design Gráfico: Impressão: Depósito Legal: ISSN: JURISMAT – Revista Jurídica – N.º 5 Alberto de Sá e Mello Rui Manuel Loureiro Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes Avenida Miguel Bombarda, 15 8500-508 Portimão PORTUGAL http://www.ismat.pt/investigacao/70-investigacao-direito [email protected] Novembro 2014 250 exemplares Eduarda de Sousa Serisexpresso, Lda 349962/12 2182-6900 JURISMAT – REVISTA JURÍDICA DO ISMAT COMISSÃO CIENTÍFICA Ana Balmori Padesca Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes Carlos Rogel Vide Universidad Complutense de Madrid Gonçalo Sampaio e Mello Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa José Lebre de Freitas Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa Luiz Cabral de Moncada Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias & Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes Maria Serrano Fernández Universidad Pablo de Olavide – Sevilha Mário Ferreira Monte Universidade do Minho Paulo Jorge Nogueira da Costa Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa Pedro Romano Martinez Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Pedro Trovão do Rosário Universidade Autónoma de Lisboa Pilar Blanco-Morales Limones Faculdad de Derecho de Caceres da Universidad de Extremadura & Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes Stela Barbas Universidade Autónoma de Lisboa & Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes ÍNDICE PALAVRAS DE ABERTURA ...................................................................... 9 ALBERTO DE SÁ E MELLO Palavras de Abertura ....................................................................................... 11 ARTIGOS ...................................................................................................... 13 JOSÉ LEBRE DE FREITAS Apreensão, Separação, Restituição e Venda ..................................................... 15 PEDRO ROMANO MARTÍNEZ Representação aparente no âmbito da mediação de seguros Anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 1 de Abril de 2014 ... 27 MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA O processo especial de tutela da personalidade, no Código de Processo Civil de 2013 ............................................................... 63 BRUNO OLIVEIRA PINTO A insolvência e a tutela do direito de retenção – Em especial os casos do promitente comprador e do (sub)empreiteiro – Uma perspectiva prática ........... 81 JOSÉ JOÃO ABRANTES A crise, a reforma laboral e a jurisprudência constitucional em Portugal ........... 101 VIRGÍLIO MACHADO O governo dos fundos de compensação do trabalho e do fundo de garantia de compensações do trabalho ........................................ 119 GONÇALO SAMPAIO E MELLO “Filosofia do Direito” de Pedro Soares Martinez .............................................. 137 8 ÍNDICE PAULO FERREIRA DA CUNHA Libertar o Direito. Do Problema Metodológico-Jurídico no Nosso Tempo ......... 143 JUAN PABLO PAMPILLO BALIÑO El Corpus Iuris Civilis y su Paradójica Influencia sobre la Tradición Jurídica Occidental .............................................................. 157 MERYEM MEHREZ Laïcité et Etat Civil, quel rapport? .................................................................... 169 LUIZ CABRAL DE MONCADA O acto administrativo confirmativo; noção e regime jurídico ............................. 179 ADELAIDE MENEZES LEITÃO Responsabilidade Civil por Violação do Direito de Autor ................................. 201 MERYEM MEHREZ Propriété intellectuelle, Commerce international et Droits de l’Homme ............. 215 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO E FERNANDO CONDESSO Caraterísticas e Princípios Gerais da Política e Direito do Planeamento Territorial em Portugal ............................................................ 225 ANJA BOTHE A classificação e a qualificação do solo no direito do urbanismo alemão ........... 271 MIGUEL L. LACRUZ MANTECÓN La moderna dación en pago .............................................................................. 287 VICTOR GAMEIRO DRUMMOND O Estado fomentador e protetor do desenvolvimento da cultura ........................ 305 NUNO CAMPOS INÁCIO Um Contributo para a História do Direito – Os Expostos .................................. 345 PALAVRAS DE ABERTURA Palavras de Abertura ALBERTO DE SÁ E MELLO * A JURISMAT completa agora dois anos. São seis números já publicados, mais de 1500 páginas de textos jurídicos de grande qualidade, escritos por ilustres Professores de Direito de praticamente já todas as Faculdades portuguesas e de Espanha, Brasil, Itália, França, Marrocos e México, bem como por Magistrados portugueses e estrangeiros dos vários Tribunais. É um esforço de muitos, cuja coordenação é o mais simples, aprazível e recompensador dos trabalhos. Antes de mais e sobretudo, o labor e engenho de tantos Autores – incluindo Alunos e ex-Alunos do ISMAT –, logo disponíveis, tão proficientes. A generosidade da Administradora do Instituto, que permite que a JURISMAT seja publicada semestralmente sem recurso a publicidade. O contributo da Comissão Científica da Revista, que assegura a revisão dos artigos por pares, selando a sua qualidade. O trabalho do Editor, incansável e tão eficaz na resposta a todas as solicitações. A colaboração e a disponibilidade da Directora do Curso de Direito do ISMAT. E a qualidade, agora melhorada, da produção dos exemplares, creditada à Tipografia onde é impressa a Revista. A todos, o nosso agradecimento reconhecido. A "JURISMAT – Revista jurídica", distribuída por todas as principais Bibliotecas jurídicas portuguesas e disponível "on-line", prossegue assim o seu caminho, sem perder de vista o seu principal objectivo: a promoção da investigação e a divulgação da criação científica, no seio do ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, da comunidade jurídica do Sul de Portugal, em especial do Algarve. JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 11-12. * Director da JURISMAT; [email protected] 12 ALBERTO DE SÁ E MELLO Neste número, contam-se mais dezoito artigos de Autores portugueses e estrangeiros, de várias Universidades e Tribunais, em áreas muito diversificadas do Direito. Esperamos que aos Leitores aproveite tanto quanto a nós a sua lição. Novembro de 2014 ARTIGOS Apreensão, Separação, Restituição e Venda JOSÉ LEBRE DE FREITAS * Visa o presente artigo, elaborado a partir duma minha comunicação em seminário sobre o direito da insolvência, visitar o esquema do CIRE respeitante às atuações processuais relativas ao ativo da massa insolvente, desde a sua integração com os bens do insolvente até à venda dos bens que a compõem. 1. Atos de natureza executiva O processo de insolvência inicia-se com uma fase declarativa que, não tendo havido oposição à apresentação ou ao requerimento da insolvência, logo se encerra com o reconhecimento da situação de insolvência, automático quando o devedor se apresenta (art. 28 CIRE) e importando um juízo do tribunal quando a insolvência é requerida (art. 30-5 CIRE), e que, no caso de ter havido oposição, se prolonga até à sentença a proferir após audiência de discussão e julgamento (art. 35 CIRE). Em todos os casos, a declaração da insolvência, ato fundamental dessa fase declarativa, constitui o momento desencadeador das atuações processuais, já de natureza predominantemente executiva, consistentes na apreensão e na venda dos bens do insolvente, bem como na sua eventual separação da massa e consequente restituição a um terceiro titular de direito sobre eles. Mas, se todos estes atos são, em si, atos de natureza executiva, esta sua natureza não está para todos ao mesmo nível: enquanto a venda, tendo por objeto os bens previamente apreendidos, dispensa qualquer juízo autónomo de natureza declarativa e a apreensão, implicando embora um juízo sobre a penhorabilidade do bem, é feita pelo administrador da insolvência sem precedência duma decisão judicial que a tenha por conteúdo, já a separação e a restituição só JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 15-25. * Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 16 JOSÉ LEBRE DE FREITAS têm lugar após um procedimento declarativo destinado a verificar o direito real do terceiro, o direito do cônjuge do insolvente aos seus bens próprios e à sua meação nos bens comuns ou a insuscetibilidade da apreensão do bem apreendido. E com isto abordo a questão da natureza do processo de insolvência propriamente dito, abstraindo dos processos, declarativos ou executivos, que correm por apenso a esse processo principal. Tradicionalmente, a doutrina usava qualificar o processo de insolvência como processo de execução universal (Manuel Rodrigues, Alberto dos Reis, Pessoa Jorge). Esta conceção está de tal modo arreigada no espaço jurídico alemão que, nas suas universidades, o processo de execução singular e o processo de insolvência usam ser dados na mesma cadeira. “O processo de insolvência”, diz JAUERNIG, “não é um processo declarativo (…), mas, por sua natureza, uma execução, visto levar a uma agressão do Estado à posição jurídica do devedor e em especial ao confisco do seu património. É uma liquidação forçada do património global do devedor, para satisfazer os credores”. Dir-se-ia assim que, constituindo todo o processo de insolvência uma sequência destinada ao fim último da realização (na medida do possível) dos direitos dos credores, a função executiva se sobrepõe à função declarativa da fase inicial do processo, conferindo a todo ele indubitável natureza executiva. Julgo que estas conceções menosprezam a fase declarativa do processo de insolvência e que a consideração dos importantes efeitos substantivos da declaração de insolvência bastará para que ao processo de insolvência seja atribuída a natureza mista de ação declarativa e executiva. Não há dúvida, porém, como já dito, que os atos do processo relativos ao ativo da massa insolvente têm natureza prevalentemente executiva. 2. Apreensão 2.1. A qualificação da apreensão como providência executiva não se conforma com a terminologia utilizada pelo Código, ao introduzir o capítulo I do título VI do CIRE com a epígrafe providências conservatórias. Tendo por objeto, além dos elementos da contabilidade, todos os bens penhoráveis do insolvente, a apreensão reveste-se de carácter definitivo, o que a distingue das providências cautelares. Com ela realiza-se, é certo, uma finalidade de acautelamento, na medida em que o ingresso dos bens na esfera de disponibilidade material do administrador de insolvência impede o insolvente de deles materialmente dispor, ocultando-os ou dissipando-os. Mas a função da apreensão consiste, essencialmente, em concretizar o conteúdo da massa insolvente e o objeto dos atos (de administração e de alienação) que sobre ela subsequentemente se irão realizar. Trata-se duma fun- APREENSÃO, SEPARAÇÃO, RESTITUIÇÃO E VENDA 17 ção semelhante à da penhora no processo executivo, embora, dos efeitos imediatos desta, só tenha o de atribuir ao administrador da insolvência o poder de administração dos bens apreendidos (art. 150-1 CIRE), pois, quer o efeito de inoponibilidade situacional dos atos de disposição dos bens da massa insolvente, quer o de perda da administração dos bens pelo insolvente, resultam, antes dela, da sentença de declaração da insolvência (art. 81 CIRE, nºs 1, 2 e 6). Note-se, aliás, como, na insolvência, se dá a cisão entre o momento da perda do poder de administração pelo insolvente e o da sua aquisição pelo administrador da insolvência, que começa por ter tão-só o poder de apreensão e só quando esta se realiza fica constituído depositário, adquirindo assim a posse em nome alheio (em nome do tribunal) dos bens corpóreos apreendidos. Esses dois momentos coincidem no ato da penhora. De qualquer modo, a função da apreensão dos bens do insolvente extravasa a função cautelar, constituindo uma função executiva. Consequentemente, o arrolamento a que se refere o art. 150-4 CIRE, que prevê duas modalidades de apreensão de bens (o arrolamento e a entrega direta através de balanço), não se confunde com o arrolamento dos arts. 403 CPC e ss.. Este é uma verdadeira providência cautelar, com eficácia provisória condicionada à instauração, ao normal processamento e ao resultado da ação declarativa de que depende e, como todas as providências cautelares, é ordenado após uma fase declarativa destinada a verificar o fumus boni juris e o periculum in mora. O arrolamento do Código da Insolvência consiste na descrição, avaliação e depósito dos bens: di-lo a alínea d) do n.º 4 do referido art. 150 CIRE, em termos idênticos aos do art. 406-1 CPC, de cujos n.os 2 e 3 resultaram também as alíneas e) e f) do n.º 4 do mesmo art. 150 CIRE, aplicáveis, quer ao arrolamento, quer à entrega por balanço. Mas esta identidade de formalidades não implica a identidade das duas figuras de arrolamento. Pelo contrário, o facto da reprodução de texto que se constata nas alíneas d), e) e f) do art. 150 CIRE inculca a ideia de se tratar de figuras diversas, pois de outro modo seria mais racional a remissão, expressa ou até implícita, para os requisitos e o regime do arrolamento no Código de Processo Civil. Com efeito, precedida da declaração de insolvência (em vez de subordinada a uma ação declarativa, pendente ou a propor) e consistindo em atuações materiais independentes de qualquer indagação declarativa específica prévia, a apreensão dos bens do insolvente, em qualquer das suas duas modalidades, constitui ato executivo da sentença de declaração da insolvência, a qual, desempenhando no processo de insolvência papel paralelo ao do título executivo, constitui o poder de apreensão, que naquele ato se exerce. Tal como ao arrolamento do Código de Processo Civil, aplica-se-lhe subsidiariamente o regime da penhora, mas não por via do art. 406-5 CPC (“são aplicáveis ao 18 JOSÉ LEBRE DE FREITAS arrolamento as disposições relativas à penhora, em tudo quanto não contrarie o estabelecido nesta subsecção ou a diversa natureza das providências”). Este artigo é, tal como o art. 391-2 CPC (“o arresto consiste numa apreensão judicial de bens, à qual são aplicáveis as disposições relativas à penhora, em tudo quanto não contrariar o preceituado nesta secção”), afloramento duma norma geral implícita, de acordo com a qual o regime da penhora é subsidiariamente aplicável às outras figuras de apreensão judicial. O recurso a esse regime não tem, pois, que passar pelo art. 406-5 CPC (o que, aliás, o restringiria à modalidade do arrolamento) e faz-se, quer no caso de arrolamento, quer no de entrega direta através de balanço, por direta aplicação dessa norma geral. Ressalvadas as adaptações necessárias, o regime de efetivação da penhora (arts. 755 CPC e ss.) e o das citações e notificações a terceiros (ex.: arts. 786 CPC, 770-3 CPC e 773-1 CPC; expressamente, art. 119 do Código do Registo Predial e art. 152-2 CIRE) aplicam-se. Ao invés, e ainda em consequência da natureza não cautelar, mas executiva, da providência, não lhe é aplicável o regime das providências cautelares. 2.2. Apreendidos são para a massa insolvente, segundo o art. 149-1 CIRE, “todos os bens integrantes da massa insolvente”, isto é, do património do devedor à data da declaração de insolvência, acrescido dos bens que adquira na pendência do processo (art. 46-1 CIRE; cf. também art. 81-2 CIRE), ainda que penhorados, arrestados ou por qualquer outra forma apreendidos noutro processo, casos em que a sua imediata disponibilidade pelo administrador da insolvência não impede que se mantenha o depósito anterior (art. 149-2 CIRE). Tal como em sede de penhora, o bem pode ser material ou imaterial, pelo que, utilizando a terminologia, não muito rigorosa, do Código de Processo Civil, também aqui ele se deixa classificar em coisa imóvel, coisa móvel e direito; nem sempre a sua natureza se harmonizando com a subsequente constituição do depósito a que se refere o art. 150-1 CIRE, este só tem lugar em regra. 2.3. De acordo com o art. 46-2 CIRE, os bens isentos de penhora só são integrados na massa insolvente se o devedor voluntariamente os apresentar e a impenhorabilidade não for absoluta. Esta remissão para o regime geral da penhorabilidade dos bens implica algumas adaptações. Assim, as limitações legais à disponibilidade, objetiva ou subjetiva, dos bens, bem como as que diretamente afetam a sua penhorabilidade, seja em termos absolutos, seja em termos relativos, mantêm-se inteiramente. Mas os regimes de penhorabilidade subsidiária, quando impondo a prévia excussão ou verificação da insuficiência de determinados bens ou categorias de bens do deve- APREENSÃO, SEPARAÇÃO, RESTITUIÇÃO E VENDA 19 dor, não impedem a apreensão imediata dos bens só subsidiariamente penhoráveis, uma vez declarada a insolvência, pois não faria sentido a exigência da prévia excussão de outros e a insuficiência do património do insolvente está reconhecida. Para dar um exemplo, o direito ao produto da liquidação da quota do insolvente na sociedade civil, na sociedade comercial em nome coletivo e, sendo ele sócio comanditado, na sociedade comercial em comandita simples deve ser imediatamente apreendido. As normas que estabelecem, no âmbito do património do devedor, a penhorabilidade apenas subsidiária de certos bens, que visam salvaguardar, não têm, pura e simplesmente, possibilidade de aplicação em caso de insolvência. Assim também, os regimes de impenhorabilidade convencional permitidos pelos arts. 602 CC (convenção entre credor e devedor), 603 CC (determinação de terceiro) e 833 CC (cessão de bens aos credores) mantêm-se, no âmbito dos créditos com responsabilidade patrimonial limitada, mas não impedem a apreensão para a massa, dado o caráter universal da insolvência. Mais interessante é, porém, considerar os casos em que bens do insolvente estejam afetos à garantia de dívidas de terceiro e aqueles em que bens de terceiro garantam créditos contra o insolvente. Constituindo objeto da apreensão os bens que integram a massa insolvente (os bens, presentes e futuros, do insolvente), incluindo os que tenham sido transmitidos pelo insolvente por negócio que seja objeto de resolução e os que sejam ulteriormente adquiridos por cumprimento de negócio celebrado pelo insolvente, não oferece dúvida que bens de terceiro não podem ser objeto de apreensão no âmbito do processo de insolvência. A satisfação dos créditos reclamados na insolvência que por eles sejam garantidos deve, por isso, aguardar que, em ação executiva própria, apensada porém ao processo de insolvência (art. 89-2 CIRE; ver também art. 85-1 CIRE), se verifique a insuficiência dos bens onerados. Por seu lado, a apreensão dos bens do insolvente afetados à garantia de dívidas de terceiro não impede que, nos termos gerais, o produto da sua venda só se destine à satisfação dos credores da massa insolvente após a satisfação do terceiro preferente. No entanto, diferentemente do CPEREF, o art. 47-1 CIRE considera o titular do crédito garantido por bens integrantes da massa insolvente como credor da insolvência, pelo que a reclamação de tal crédito, embora o insolvente não seja devedor, se faz no apenso de reclamação de créditos. 3. Restituição e separação 3.1. A oposição à apreensão de bens para a massa insolvente não dá lugar a embargos de terceiro (art. 351-2 CPC). Há, sim, no Código um meio específico de oposi- 20 JOSÉ LEBRE DE FREITAS ção, que se processa como a reclamação de créditos: o da ação de restituição e separação de bens. Deve ela ser instaurada no prazo fixado na sentença para a reclamação de créditos ou, no caso de apreensão superveniente de bens, nos 5 dias posteriores (arts. 36-j CIRE, 141 CIRE e 144 CIRE), prazo este que não pode, a meu ver, sob pena de injustificada desigualdade de tratamento, deixar de se contar também no caso de apreensão de bens efetuada menos de 5 dias antes do termo do prazo para a reclamação. Passado esse prazo, os pedidos de separação e de restituição são ainda admissíveis, mas já não pelo meio específico do Código: deve então o terceiro propor uma ação declarativa comum, que corre, no entanto, ainda por apenso ao processo de insolvência e cujos efeitos neste processo estão condicionados à efetivação, nele, dum termo de protesto, sem o qual o terceiro perde o direito aos bens logo que estes sejam vendidos e só será embolsado até à importância do produto da venda e, mesmo assim, com importantes limitações (arts. 146 CIRE a 148 CIRE). É interessante comparar o protesto em causa com o protesto pela reivindicação previsto nas disposições paralelas dos arts. 840 CPC e 841 CPC. Diversamente de outros sistemas jurídicos, em que a tutela do comprador de boa fé impede o reconhecimento ulterior de direitos reais de terceiros sobre o bem penhorado (móvel ou, em caso de inscrição registal a favor do executado, também imóvel), a nossa lei, baseada na nulidade da aquisição a non domino, faz ceder o interesse do comprador na execução perante o do proprietário reivindicante: atribui a este a coisa reivindicada e àquele apenas o direito a ser reembolsado do preço por aqueles a quem ele tenha sido atribuído, podendo ainda pedir uma indemnização, pelos danos que tenha sofrido, ao exequente, aos credores e ao executado que hajam procedido culposamente (art. 825-1 CC). A finalidade do protesto pela reivindicação feito no ato da venda, ou antes dela, é dupla: exclui o direito do comprador à indemnização, pois se entende que o risco decorrente da reivindicação foi por ele assumido (art. 825-2 CC); obriga-o a prestar caução, destinada a garantir o direito do reivindicante, mas com a contrapartida da caução que os titulares de direitos sobre o produto da venda igualmente terão que prestar, em garantia do direito do comprador à restituição do preço (art. 840-1 CPC). Num caso apenas o comprador goza do direito de retenção da coisa comprada enquanto não lhe for restituído o preço: quando, feito o protesto, a ação de reivindicação não for proposta dentro de 30 dias ou estiver negligentemente parada durante três meses e for requerida a extinção das cauções referidas (art. 840-2 CPC). No processo de insolvência, já o direito do proprietário e a consequente nulidade da aquisição a non domino sofrem alguma entorse: se o protesto não tiver lugar ou os seus efeitos caducarem, por inércia do autor em promover os termos da causa durante 30 dias, a venda dos bens mantém-se e o autor mais não terá do que o já referido direito de crédito. A tutela do comprador de boa fé é feita, pois, em termos que levam ao sacrifício do direito sobre a coisa vendida. A função do protesto não se APREENSÃO, SEPARAÇÃO, RESTITUIÇÃO E VENDA 21 realiza já a latere do reconhecimento absoluto do direito real, mas consiste antes na manutenção dos efeitos que este tem erga omnes. É uma exceção importante, já consagrada na lei de processo desde 1961, à regra da prevalência do direito real sobre os interesses de terceiros de boa fé – regra esta que, como se sabe, veio mais tarde a ser também limitada pelo Código Civil de 1966 em sede de direitos sobre imóveis, tida em conta a sua sujeição a registo. 3.2. Restituição e separação de bens são, obviamente, conceitos distintos, correspondendo, não a duas ações diversas, mas a duas atuações cumuláveis na mesma ação. Reconhecido que determinado bem, tido em conta o objeto da apreensão, não pertence à massa insolvente, ele deve ser dela separado, por reclamação de terceiro legitimado ou oficiosamente. Apreensão e separação são atos antagónicos (nem sempre suscetíveis de expressão material), com uma limitação apenas: os direitos de crédito do insolvente são apreendidos, mas, como adiante refiro, não são objeto de separação. A esta separação seguir-se-á o ato (este, sim, sempre material) de restituição do bem separado ao titular, quando a ela haja lugar e ele a tenha pedido. A epígrafe do capítulo II do título V baralha a ordem em que os dois atos são praticados, ao referir a restituição antes da separação. Têm o direito à separação, nos termos dos arts. 141-1 CIRE e 159 CIRE: a) b) c) Os titulares de direito real de gozo (direito de propriedade, direito real menor de gozo, direito sobre bens incorpóreos, algum destes direitos em contitularidade) sobre bem apreendido com sua ofensa. Têm ou não o direito à restituição, consoante a configuração do seu direito real lhes permitisse ou não o exercício exclusivo de poderes de uso e fruição sobre a coisa. Os titulares de quinhão em universalidade (herança, comunhão conjugal) em que também quinhoe o insolvente, quando a apreensão tenha excedido o direito deste. Não têm o direito à restituição. O possuidor em nome do qual o insolvente possuísse o bem apreendido (locador, comodante, depositante, consignante), na medida em que a posse em nome próprio presume a titularidade do direito (art. 1268-1 CC). Tem o direito à restituição. 3.3. Vejamos a aplicação deste esquema a algumas situações menos nítidas. Titular de direito real com direito à restituição é, sem dúvida, o transmitente que reserve a propriedade da coisa vendida, quando a compra e venda seja resolvida, por ele próprio ou, nos termos dos arts. 102 CIRE e 104 CIRE, pelo administrador da insolvência. Mas a questão põe-se igualmente na pendência do contrato, enquanto o preço não for integralmente pago: de direito à restituição da coisa não pode então falar-se, visto que ele está dependente da resolução e o adquirente é possuidor em nome próprio; mas, não pertencendo a coisa (ainda) à massa insolvente, da sua situa- 22 JOSÉ LEBRE DE FREITAS ção de impenhorabilidade subjetiva resulta que não devia ter sido apreendida, pelo que deve ser separada da massa e assim se manter até o pagamento da última prestação do preço. O mesmo se aplica ao caso da locação financeira: o bem locado deve ser separado até que seja exercido o direito à sua aquisição nos termos do contrato de leasing (salvo sempre o eventual direito de resolução do locador, nos termos gerais ou nos do art. 18-b do DL 149/95, de 24 de junho, e o direito de resolução conferido ao administrador da insolvência): embora, diversamente do caso da reserva de propriedade, se deva entender a posse do locatário financeiro como posse em nome alheio, a manutenção do contrato impede o direito do locador à restituição, mas não a separação do bem da massa insolvente. À locação financeira é equiparada, pelo art. 104 CIRE, nºs 2 e 3, a locação com a cláusula de que a coisa locada se tornará própria do locatário depois de satisfeitas todas as rendas estipuladas. Algo de semelhante acontece com o direito do promitente vendedor em caso de tradição, contratualmente estipulada, da coisa prometida para o insolvente: o direito de aquisição (real ou obrigacional) da massa insolvente, ainda não exercido, não impede o exercício do direito à separação, mas a restituição só deve ter lugar em caso de resolução do contrato, sem prejuízo do direito de retenção. Em qualquer dos casos, a apreensão manter-se-á, mas tendo por objeto a expetativa de aquisição do bem separado da massa insolvente. 3.4. Vejamos agora como se passam as coisas nas situações inversas às descritas (alienação ou promessa de alienação pelo insolvente), isto é, se o adquirente com reserva de propriedade, enquanto o preço não for pago, e o promitente comprador, em caso de tradição contratualmente estipulada, têm o direito à separação e à restituição do bem objeto do contrato que, por ser (ainda) próprio do insolvente, tenha sido apreendido para a massa. Em face do disposto no art. 104-2 CIRE, o problema põe-se igualmente, na pendência do contrato de leasing, para o locatário financeiro que tenha derivado o seu direito do insolvente, não obstante o regime da insolvência ser, em princípio, inaplicável às sociedades financeiras, como estabelece o art. 2-2-b CIRE. No caso da compra e venda em que a transmissão, pelo falido, não tivesse tido ainda lugar, o art. 161-3 do CPEREF conferia ao liquidatário o direito à resolução, que, exercido, constituiria a massa falida em responsabilidade por incumprimento. A bondade do preceito foi discutida, contra ele se argumentando que sacrificava o direito do comprador no altar dos interesses dos credores do falido, e por isso chegou a ser defendido que só tinha aplicação, de acordo com as normas gerais, quando o adquirente, por seu lado, não cumprisse. Esta interpretação esbarrava na expressa referência ao direito do comprador à indemnização pelo incumprimento do vende- APREENSÃO, SEPARAÇÃO, RESTITUIÇÃO E VENDA 23 dor. Optando o liquidatário pela resolução, a apreensão do bem devia ter lugar, não podendo o preceito deixar de se entender também aplicável, por maioria de razão, ao caso da promessa de compra e venda. Com o CIRE, o ato marcante para a verificação do direito à resolução do contrato deixou de ser a transmissão do direito para passar a ser a entrega da coisa: o art. 104-1 CIRE confere à contraparte do insolvente o direito de exigir o cumprimento do contrato quando a coisa já lhe tenha sido entregue à data da declaração de insolvência, não tendo então o administrador de insolvência o direito arbitrário de resolução. Não havendo resolução, a posse – em nome próprio no caso da reserva de propriedade e em nome alheio nos de contrato-promessa e de locação financeira – mantém-se e o consequente direito à separação também. O art. 141-1-c CIRE (separação da massa dos “bens de terceiro indevidamente apreendidos”) fornece apoio a esta conclusão. De qualquer modo, pelo menos quando o contrato-promessa tenha eficácia real e sobrevenha sentença de execução específica, tal como quando o comprador pague a última prestação do preço (ou 7/8 do preço: art. 934 CC), de que depende a transferência da propriedade, o direito à separação do bem torna-se indubitável. 3.5. O direito do cônjuge do insolvente à separação e à restituição dos seus bens próprios não oferece dificuldade, sendo que nenhum dos casos excecionais em que o cônjuge não proprietário tem a administração dos bens próprios do outro (art. 1678 CC, alíneas e), f) e g)) implica a sua apreensão para serem administrados pelo administrador da insolvência. Havendo bens comuns do casal, deve, após a sua apreensão, ser o cônjuge do falido citado, nos termos do art. 740 CPC, para requerer a separação de bens. Mas, diversamente do que acontece na execução singular, a separação pode também ser ordenada oficiosamente, nos termos do art. 141-3 CIRE. 3.6. O direito à separação do possuidor em nome de quem o falido possuísse só faz sentido ser autonomizado do direito do proprietário ou titular de outro direito real na medida em que o proprietário dos bens seja um terceiro (dada a presunção de propriedade de que goza o possuidor em nome próprio) e nesta aceção deve ser interpretada a alínea a) do art. 141-1 CIRE. Nela cabem casos como o do comodatário dum automóvel que o dê a reparar ou a guardar a um comerciante que entretanto caia em insolvência: sem prejuízo de o proprietário ter o direito de pedir a sua separação e restituição, o comodatário tem-no também (art. 1133-2 CC). Já o direito meramente obrigacional à restituição da coisa de que não se tenha (ou já não se tenha) a posse, tal como o direito à prestação duma coisa fora do âmbito da restituição, não constituem fundamento de separação. Assim acontece com o direito à restituição duma prestação efetuada em cumprimento dum contrato nulo ou anu- 24 JOSÉ LEBRE DE FREITAS lado (art. 289-1 CC) ou com o direito a receber do insolvente a coisa móvel por ele construída em empreitada (art. 1212-1 CC). Tão-pouco é fundamento de separação a titularidade dum direito de crédito apreendido. Diversamente se entende em direito alemão, com fundamento no § 43 da Konkursordnung ainda vigente, que expressamente estatui como fundamento do Aussonderungsrecht, ao lado dos direitos reais, “os direitos pessoais”. Entre nós, em que não há uma estatuição semelhante, o verdadeiro credor não perde o direito à prestação que lhe é devida pelo facto de ela ser erradamente apreendida para a massa insolvente. Tratando-se dum direito relativo, pode exercê-lo contra o seu devedor, cabendo a este negar a existência do crédito da massa insolvente, nos termos do art. 775-1 CPC, para evitar pagar duas vezes. 3.7. Na vigência do CPEREF, a ação de separação e restituição proporcionava ao administrador da insolvência a ocasião para, por sua vez, em reconvenção, impugnar os atos, praticados pelo devedor nos últimos cinco anos, que tivessem envolvido diminuição da garantia patrimonial dos credores, com verificação dos requisitos da ação pauliana (art. 157 CPEREF, com referência ao art. 610 CC). Sendo a simulação, em regra, de prova difícil, a ação pauliana é um importantíssimo meio – e, sempre que o negócio impugnado não seja simulado, o único – de reação dos credores perante atos de dissipação e sonegação de bens que, infelizmente, são de grande frequência. Inexplicavelmente, o CIRE, não só suprimiu essa ação pauliana coletiva, mas também revogou a norma que anteriormente determinava que os efeitos da ação pauliana individual, proposta por um credor anteriormente à declaração de insolvência, mas a esta data não definitivamente julgada, aproveitassem à massa falida e não só ao credor que a tivesse proposto (art. 159-1 CPEREF). Resta, assim, apenas ao administrador de insolvência proceder à resolução dos atos prejudiciais à massa praticados pelo insolvente, em prazo que é hoje de dois anos, contados entre a prática do ato e o início do processo de insolvência (art. 120). É prazo muito mais curto do que os cinco anos da impugnação pauliana, contados da data da celebração do negócio fraudulento. Por outro lado, a resolução implica a restituição da contraprestação pela massa insolvente – o que, quando desta sobre dinheiro para pagamento aos credores comuns, pode ser ainda um bom negócio para o adquirente fraudulento dos bens, mas não seguramente para os credores prejudicados pelo ato. De qualquer modo, quando a ela haja lugar, a resolução pode ser operada na contestação da ação de separação e restituição de bens. APREENSÃO, SEPARAÇÃO, RESTITUIÇÃO E VENDA 25 4. Venda Apreensão de bens para a massa falida e separação de bens da massa falida (com eventual restituição) são, como já disse, duas realidades antagónicas, das quais a segunda constitui meio de oposição à primeira. São os bens apreendidos e não separados que vão ser objeto da venda. Sobre esta pouco me proponho dizer. Realço, em primeiro lugar, que ao administrador da insolvência cabe escolher a modalidade da venda, gozando de ampla discricionariedade que não tem paralelo no processo executivo (art. 164 CIRE). Há 20 anos, perante um CPEREF recentemente entrado em vigor, tive ocasião de lamentar que as modalidades de venda judicial (arrematação em hasta pública ou venda por propostas em carta fechada) continuassem, no processo de falência como no de execução singular, sobrecarregadas de formalismos dilatórios, custosos e em grande parte inúteis. Felizmente, hoje não é assim. Em segundo lugar, e porque o tempo não sobra, realço dois pontos do regime do CIRE, inexistentes na lei anterior: o art. 162-1 CIRE dispõe no sentido de a empresa – e já não só o estabelecimento comercial, como anteriormente – dever ser vendida, em regra, unitariamente, em reconhecimento da sua função económica; o art. 166 CIRE cuida da compensação a atribuir ao credor com garantia real pelo prejuízo causado pelo retardamento na alienação do bem e pela desvalorização resultante da sua utilização em proveito da massa, o que, sendo uma maneira de compensar o credor preferente (em situações aliás, que podem ser de responsabilidade civil por ato ilícito ou por ato lícito), não deixa de suscitar a questão de saber o porquê deste especial carinho legislativo pelo credor com garantia real, em detrimento – uma vez que a massa insolvente é que indemniza – dos credores comuns. Talvez este preceito nos devesse confrontar com a filosofia subjacente a todo o CIRE, mesmo depois da nova viragem para a recuperação da empresa que as últimas alterações consubstanciam. Mas esta seria matéria para outro artigo. Representação aparente no âmbito da mediação de seguros – Anotação ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 1 de Abril de 2014 1 PEDRO ROMANO MARTINEZ * Sumário: I - As nulidades referidas na al. c) do n.º 1 do art. 668.º do CPC – excesso e omissão de pronúncia – estão relacionadas com o comando fixado no n.º 2 do art. 660.º do mesmo código: o juiz deve conhecer apenas de questões suscitadas pelas partes e ainda de outras que sejam de conhecimento oficioso. II - Não deve confundir-se questões a decidir com considerações, argumentos, motivos, razões ou juízos de valor produzidos pelas partes: a estes não tem o tribunal que dar resposta especificada ou individualizada, mas apenas aos que directamente contendam com a substanciação da causa de pedir e do pedido. III - O STJ só pode conhecer do juízo de prova sobre a matéria de facto, formado pela Relação, quando esta deu como provado um facto sem a produção da prova considerada indispensável, por força da lei, para demonstrar a sua existência, ou quando ocorrer desrespeito das normas reguladoras da força probatória dos meios de prova admitidos no nosso ordenamento jurídico. IV - Tem particular relevo no domínio do direito comercial, justificada na tutela do dano de confiança do terceiro de boa fé (tomador do seguro), a relação designada por “representação aparente”, em que um sujeito (segurador) desconhece, mas com o devido cuidado teria podido conhecer, que outrem (mediador) pratique actos como seu representante. JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 27-61. * Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 1 Processo n.º 4739/03.0TVLSB.L2.S1, relator Paulo Sá, acessível em www.dgsi.pt. 28 PEDRO ROMANO MARTINEZ V - Nesse caso, ainda que se entenda que o acto não produz efeitos na esfera jurídica do representado (segurador), este será, sempre, responsável, perante o terceiro lesado (tomador do seguro), pelo dano de confiança causado pelo acto do representante aparente (mediador). VI - Se o tomador do seguro, dada a relação continuada com o mediador, confiou legitimamente na celebração e manutenção em vigor dos contratos de seguro, e se a seguradora agiu negligentemente, por, além do mais, ter indagado junto do mediador da falta de pagamento dos prémios apenas decorrido mais de um ano depois do respectivo vencimento, impõe-se considerar vigentes, ao momento do “sinistro”, os contratos de seguro celebrados, sendo a seguradora responsável pela indemnização peticionada. Acordam no Supremo Tribunal de Justiça: I. 1. Lucchesi – Embarcações de Recreio, Sociedade Unipessoal, Lda., intentou acção declarativa de condenação, com processo ordinário, contra Companhia Europeia de Seguros, S.A. (actualmente denominada Liberty Seguros, SA. e Multiseguros – Sociedade de mediação de Seguros, Lda., pedindo a condenação da 1.ª Ré a pagar-lhe a quantia de € 1.705.888,80, acrescida de juros de mora vencidos, à taxa de 12%, que computou em € 32.528,73, e ainda dos vincendos até integral pagamento, bem como todos os custos com a sociedade Marine Claims Services e os demais custos suportados pela Autora derivados dos factos em causa, incluindo os honorários de advogados, tudo a liquidar ulteriormente. Subsidiariamente, pediu a condenação da 2.ª Ré no pagamento das mesmas quantias. Para tanto alegou, em síntese: Adquiriu, em Julho de 2001, três embarcações. Celebrou com a 1.ª Ré, através da 2.ª Ré, três contratos de seguro, titulados pelas apólices n.os …, … e …; em 11 de Março de 2003 para cobertura dos riscos e responsabilidade relativa à respectiva utilização. A A. apresentou participação do sinistro a dar conhecimento do furto das embarcações, ocorrido no dia 4.03.2003, em França, a qual foi endereçada à 1.ª Ré ao cuidado da 2.ª. A Autora fez despesas com a contratação de uma sociedade com vista à recuperação das ditas embarcações, e, em 19.03.2003, veio a ser informada que não havia contratos de seguro em vigor. Citadas, as rés contestaram. A 1.ª Ré pugnou pela improcedência da acção, invocando que não existe qualquer relação de domínio ou de grupo entre as rés, nem a 2.ª Ré a representa e ainda que a Autora não pagara os prémios devidos, cujo valor jamais recebeu, tendo os contratos, por isso, ficado automaticamente resolvidos a partir de 13.09.2001, 27.10.2001 e 10.11.2001, respectivamente. A 2.ª Ré, por seu turno, invocou que o contrato de seguro já fora anulado a pedido da autora e, quando esta lhe pediu a sua prorrogação, tal pedido foi por si remetido à 1.ª Ré, mas avisou a Autora de que se trataria da celebração dum novo contrato. Terminou pedindo, igualmente, a improcedência da acção. REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 29 A Autora replicou, rebatendo os argumentos das Rés, e reiterando o pedido. Pediu ainda a condenação da 2.ª Ré como litigante de má-fé, face à "excepção" que invocou na contestação. Proferido o despacho saneador, seleccionada a matéria de facto assente e elaborada a base instrutória, na sequência de reclamações, parcialmente deferidas, o processo correu os seus normais termos, acabando a acção por vir a ser julgada improcedente e as rés absolvidas do pedido, basicamente com fundamento na falta de prova do sinistro – o furto das embarcações. Interposto recurso pela autora, este Tribunal, por acórdão proferido no dia 24.11.2009, anulou a sentença e determinou a ampliação da base instrutória com o aditamento de um quesito, a que foi atribuído o n.º 84 (fls. 944 a 983). Aditado o referido quesito e realizada nova audiência de discussão e julgamento, foi proferida decisão, julgando não provado o quesito aditado (fls.1030-1033). E foi proferida nova sentença, com data de 24.08.2011, a julgar a acção improcedente e a absolver as rés do pedido (fls. 1037 e seguintes). Terminado o período de férias, logo no dia 2 de Setembro de 2011, a autora, sem invocar qualquer justificação, requereu a junção aos autos de uma fotocópia meramente particular de uma pretensa sentença, aliás incompleta, do Tribunal de Draguignan – Juízos Correccionais – da República Francesa, proferida no dia 24.11.2009, acompanhada da respectiva tradução, relativa à condenação de dois cidadãos, nascidos na Lituânia, um pela autoria de dois crimes de furto de duas embarcações, sendo uma delas a Azimut 68 (TT of The Seas) da sociedade Lucchesi, e o outro de dois crimes de receptação das mesmas embarcações. A ré seguradora, para além de impugnar o documento, incluindo a letra, assinatura e autoria, pronunciou-se no sentido da sua não admissibilidade, por ter sido extemporaneamente apresentado e ser irrelevante. Posteriormente, dizendo-se uma vez mais inconformada, apelou a autora, recurso que foi admitido como apelação, tendo a 1.ª Instância deixado para este Tribunal a oportuna ponderação da admissibilidade ou não do documento antes apresentado. A Relação, decidiu preliminarmente ser extemporânea a junção aos autos do documento que foi pretendido juntar pela A. e, a final, na parcial procedência do recurso veio a decidir conceder-lhe provimento, com excepção do segmento da condenação da 2.ª ré como litigante de má-fé, revogar a sentença recorrida, julgar a acção procedente no que toca ao pedido principal e, consequentemente, condenar a 1.ª ré, agora denominada CC, SA, a indemnizar a autora pelo danos derivados directamente do “sinistro”, bem como pelos custos com a sociedade Marine Claims Services, tudo a liquidar ulteriormente e, obviamente, até ao limite contratado. Desta decisão recorre a 1.ª R. de revista, para este STJ. (…) A Relação pronunciou-se sobre as nulidades, entendendo não se verificarem. II. Fundamentação De Facto II.A. São os seguintes os factos dados como provados na 1.ª instância, que a Relação manteve, à excepção da resposta ao facto 84: 30 PEDRO ROMANO MARTINEZ 1) Em Julho de 2001 a Autora adquiriu para o exercício da respectiva actividade comercial de aluguer/frete de embarcações de recreio, as seguintes embarcações: a) "TT of The Seas", marca Azimut 68 PLUS, construído pelos estaleiros da Azimut em 2001, com o número …, com dois motores marca Vitu diesel, tipo …, de 1150HP cada um, número de série … (EB) e … (EB), registado no Registo Internacional de Navios da Zona Franca da Madeira, sob o número …, …; b) "Aquarius", Tender, modelo Project …, construído em 2001, com o número de casco …, registado junto da Delegação Marítima de Quarteira, Portugal, sob o número …; e e) "Scorpius 1", Jet Ski Sea Doo, modelo Bombardier …, construído em 2000, com o número de casco …., registado junto da Delegação Marítima de Quarteira, Portugal, sob o número …. (A) 2) Para cobertura dos riscos e responsabilidades relativamente à utilização das embarcações de recreio acima identificadas, a Autora contratou, também em Julho de 2001, e pelo período de um ano e seguintes, com início, em 17/07/2001 quanto à embarcação referida no ponto 1/a) e em 10/08/2001 para as outras duas embarcações, as seguintes apólices de seguro Fleximar, respectivamente: – Apólice n.° …; – Apólice n.° …; – Apólice n.° … (B). 3) Os contratos de seguros foram efectuados através da Multiseguros Europeia, na pessoa do Senhor GG, gerente da 2ª Ré (C). 4) No que respeita à contratação das apólices de seguro relativas às embarcações referidas no ponto 1, nas alíneas b) e c) foram remetidos pelos advogados da Autora à Multiseguros, através de fax de 09/08/01, documentos provisórios de registo das embarcações (D). 5) Foi solicitado, no referido fax de 09/08/01, que o início de vigência daquelas apólices estivesse assegurado a partir das 12h00m de 10/08/01 (E) 6) A 1ª Ré emitiu, em 10/08/2001, as declarações provisórias de seguro relativamente às embarcações identificadas no ponto 1. e remeteu-as à Autora (F). 7) As apólices n.°s … e …, respeitantes às embarcações identificadas no ponto 1, alíneas b) e c), foram emitidas em 06/09/01, com início retroagido a 10/08/01 (alínea G). 8) As apólices identificadas no ponto 2 deram origem, respectivamente, à emissão das seguintes facturas/recibos para pagamento de prémios no valor global de 13.784,31 €: – factura/recibo n.° …, emitida em 14/08/01, no montante de 13.163,26 €; – factura/recibo n.° …, emitida em 23/08/01, no montante de 261,08 €; – factura/recibo n.° …, emitida em 06/09/01, no montante de 359,97 € (H). 9) A Ré Liberty remeteu à Ré Multiseguros, em 10/09/01, um fax contendo indicação dos recibos identificados no ponto 8., pedindo o respectivo pagamento (quesito 1º). 9-A) Na noite de 3 para 4 de Março de 2003, na marina antiga de Saint Tropez, França, as embarcações "TT of The Seas", "Aquarius" e "Scorpius 1", que aí se encontravam, foram furtadas por desconhecidos (quesito 84.º). 10) Em 11/03/03 a Autora apresentou participação de sinistro – conforme fotocópia junta a fls. 66 a 79, cujo teor aqui se dá por reproduzido – na qual se dá conhecimento da ocorrência, em 04/03/03, do furto das embarcações de recreio, objecto das apólices referidas no ponto 2., REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 31 em Saint Tropez, França, participação essa que foi endereçada à 1ª Ré, Liberty Seguros, ao cuidado da 2ª Ré, Multiseguros (J). 11) A Multiseguros – Sociedade de Mediação de Seguros, Lda. é uma sociedade por quotas que, atento o seu objecto social, se dedica à actividade de mediação de seguros (L). 12) Emitidas as atinentes apólices, a 1ª Ré remeteu directamente à Autora os documentos escritos que as corporizavam (N). 13) Com o envio das apólices que emitiu, a Ré também emitiu as facturas mencionadas no ponto 8, relativas à cobrança dos prémios atinentes à primeira anuidade do contrato, isto é, a iniciada a 17/07/2001 para o "TT of The Seas" e a 10/08/2001 para as duas embarcações acessórias e enviou-as directamente à Autora, para a Avenida … nº …, …º …, em Lisboa, onde foram recebidas (O). 14) Delas consta que "a falta de pagamento no prazo legal implica a constituição em mora e a resolução do contrato (a 13/09/2001, 27/10/2001 e 10/11/2001, respectivamente, de acordo com o Dec-Lei n.° 142/2000 de 15 de Julho), sem necessidade de qualquer outro aviso adicional" (P). 15) A 1ª Ré considerou resolvidos por falta de pagamento de prémio os contratos de seguro em causa, a partir de 13/09/01, 27/10/01 e 10/11/01, sem possibilidade de os vir a repor em vigor (Q). 16) Em 27/01/03 a Autora procedeu ao pagamento do Aviso de Cobrança (Factura/Recibo n.º …), emitido em 01/11/02, no montante de 4.283,48 €, relativo à apólice n.º … (S). 17) A Autora escolheu e credenciou a Ré Multiseguros para colocar os seus seguros (T). 18) A Liberty Seguros emitiu nova factura – a factura recibo … (referente à vigência da apólice …, relativa ao TT of The Seas, por um período de 22 dias, compreendido entre 17/07/01 e 08/08/01) que enviou directamente à Autora, a 07/11/2002, e esta recebeu antes de 26/11/2002 no Ed. ……, …, n.° …, …º Funchal (H). 19) Recebida pela Autora a dita factura/recibo ... nada no conteúdo ofereceu dúvida à Autora (V). 20) E pagou-a por transferência bancária, em 27/01/03 (X). 21) Nos termos da dita factura/recibo, recebida pela Autora, e cuja cópia foi junta aos autos a fls. 61, a falta de pagamento até 12/12/02 implicava a resolução do contrato (bem como dos contratos acessórios), sem possibilidade de o mesmo poder ser reposto em vigor (Z). 21-A) E constava ainda, para além do mais, que a tomadora do seguro poderia regularizar o pagamento “recorrendo a uma das seguintes modalidades: – Através da rede de caixas automáticas de Multibanco; – Em qualquer estação dos CTT (…); – Por envio de cheque à ordem da Liberty Seguros (…); – Através do Agente Multiseguros Mediação de Seguros, Lda., Rua … …, … Lisboa” (doc. fls. 61). 22) Para pagamento do montante referido nos pontos 8. e 9. foi remetido pela Autora à 2ª Ré cheque n.° ..., sacado sobre a Nova Rede (BCP), em 14/09/01, no valor de 2.763.505$00/13.784,31 € (AA). 23) O cheque referido no ponto 22 foi devidamente pago (BB). 32 PEDRO ROMANO MARTINEZ 24) A 2ª Ré informou a Autora que os contratos eram anuais e não renováveis automaticamente (quesito 3º). 25) A 2ª Ré informou a Autora que a renovação anual decorria do facto de se tratar de seguros especiais e da necessidade de actualizar os valores comerciais das embarcações seguras (quesito 4º). 26) Tendo a Autora ficado convicta deste facto (quesito 5º). 27) Em 17/07/2002, a pedido da 2ª Ré, a Autora remeteu a esta um fax em que se solicita a renovação dos contratos de seguro para as 3 embarcações, remetendo cópias dos respectivos documentos de registo e indicando os valores actualizados das mesmas (quesito 6º). 28) Na mesma data a 2ª Ré emitiu uma declaração confirmando que se encontravam em fase de emissão pela 1ª Ré os "continuados" das embarcações em causa (quesito 7º). 29) Esta declaração veio, assim, fundar a convicção da Autora de que os contratos estavam válidos e vigentes (quesito 8º). 30) Em finais de 2002, a Autora, no âmbito da sua actividade comercial, decidiu proceder à alienação das embarcações referidas no ponto 1. (quesito 10º). 31) E negociou a aquisição de um novo barco de recreio cuja construção encomendou ao estaleiro italiano Canados (quesito 11º). 32) Tendo em vista as negociações para a venda das embarcações de recreio em causa, a Autora deu instruções telefónicas à 2ª Ré no sentido de que as apólices referidas no ponto 2º deviam cessar a sua vigência na data prevista para a entrega das mesmas, ou seja, 31/01/03 (quesito 12º). 33) Tal instrução foi aceite e confirmada pelo referido gerente da 2ª Ré (quesito 13º. 34) Tendo ocorrido um atraso no processo negocial relativo à venda das embarcações a 2ª Ré foi instruída no sentido de assegurar a vigência das apólices por período não inferior a 30 dias (quesito 14º). 35) Tal instrução foi aceite e confirmada pelo gerente da 2ª Ré (quesito 15º). 36) Em 27/02/03 a Autora deu instruções à 2ª Ré para prorrogar, até ao final de Março de 2003, a vigência das apólices uma vez que naquela data ainda não se encontrava concluído o processo negocial e havia a necessidade de as embarcações navegarem de Saint Tropez, França, para Roma, Itália (local da entrega respectiva) (quesito 16º). 37) Tal instrução foi aceite e confirmada pelo gerente da 2ª Ré que, no entanto, solicitou confirmação escrita das referidas instruções (quesito 17º). 38) Em 03/03/03 a Autora, através do Sr. Dr. JJ, confirmou, por fax, a instrução dada para a prorrogação das apólices até ao final de Março de 2003 (quesito 18º). 39) Em 06/03/03, a 2ª Ré remeteu à Autora um fax, datado de 04/03/03, confirmando a recepção das instruções que lhe haviam sido transmitidas, respectivamente, em 27/02/03 e 03/03/03 e informando que foi dado o "devido andamento ao processo, junto da Companhia de Seguros Europeia (quesito 19º). 40) Entre a data da ocorrência referida no ponto 10. e a data da participação do sinistro, a Autora contratou os serviços de uma empresa especializada de grande prestígio – Marine Claims Services – a fim de iniciar procedimentos imediatos de busca e obtenção de informações tendentes à recuperação das embarcações (quesito 20º). REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 33 41) Isto porque, a polícia francesa havia informado que as possibilidades de recuperação das embarcações eram grandes se fossem tomadas medidas de carácter urgente (quesito 21º). 42) E porque a intervenção das Companhias de Seguros nem sempre se pauta, nestes casos, pela celeridade necessária às investigações para recuperação dos objectos de furtos (quesito 22º). 43) A Autora tem suportado, desde a contratação da referida sociedade Marine Claims Services até à presente data, todos os honorários profissionais e despesas daquela entidade (quesito 23º). 44) Em 17/03/03 foi remetido à 2ª Ré um fax actualizando as informações disponíveis sobre o sinistro e juntando documentos comprovativos de que a embarcação foi avistada em Malta por um revendedor autorizado da respectiva marca (Azimut) (quesito 24º). 45) No mesmo fax chamou-se à atenção para a necessidade de uma intervenção urgente da 1ª Ré no processo, designadamente para o estabelecimento de cooperação com as autoridades policiais e a referida empresa especializada (Marine Claims Services) (quesito 25º). 46) A Autora efectuou inúmeros contactos telefónicos com o gerente da 2ª Ré no sentido de apurar as diligências empreendidas pela 1ª Ré na sequência da participação do sinistro (quesito 26º). 47) O gerente da 2ª Ré informou, sucessivamente, que o processo se encontrava pendente de análise da Direcção da 1ª Ré (quesito 27º). 48) Inconformada com a ausência de informações concretas sobre o processo e dadas as diligências em curso com vista à recuperação das embarcações a Autora entendeu ser necessário um contacto urgente e directo com a 1ª Ré, "Europeia" (quesito 28º). 49) A Autora veio, então, a ser confrontada pela 1ª Ré com a alegação de não existirem contratos de seguro em vigor relativamente às embarcações propriedade da Autora (quesito 29º). 50) A Autora foi, ainda, confrontada com a existência de um fax, com data de 08/08/01, alegadamente remetido pela 1ª Ré à 2ª Ré, em 22/07/02, o qual teria ordenado a suspensão dos referidos contratos – cfr. cópia de fls. 85 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (quesito 30º). 51) E ao abrigo do qual a Autora alegou ter procedido ao cancelamento da apólice n.º …, respeitante ao barco "TT of The Seas" (quesito 31º). 52) O fax referido no ponto 50. não foi elaborado, assinado, nem remetido pelo escritório de advogados da Autora, tendo sido grosseiramente falsificado noutro local que não aquele escritório (quesito 32º). 53) A falsificação do documento em causa deu origem a uma queixa-crime apresentada junto do DIAP, em 21/04/03, e que actualmente se encontra em fase de inquérito (quesito 33º). 54) O mesmo fax não identifica: a) A tomadora do seguro, ou seja, a Autora; b) O número das apólices de seguro a suspender; c) Os nomes, registos, marcas e modelos ou quaisquer outros elementos das embarcações objecto dos contratos de seguro (quesito 34º). 55) A Autora foi informada que a participação mencionada no ponto 10 não dera, até àquela data, entrada nos serviços da 1ª Ré (quesito 35º). 34 PEDRO ROMANO MARTINEZ 56) A Autora veio a tomar conhecimento, posteriormente, que a participação em causa e o fax datado de 17/03/03 não só têm o carimbo de entrada na Europeia de 19/03/03, como a entrega dos referidos documentos ocorreu através dum técnico comercial da 1ª Ré, de nome KK (quesito 36º. 57) A Autora foi igualmente informada pela 1ª Ré que esta não se considerava responsável pelo sinistro porque havia falta de pagamento de prémios (quesito 37º). 58) A Autora disponibilizou à 1ª Ré todos os elementos de análise necessários à boa decisão do assunto (quesito 38º). 59) Posteriormente a 1ª Ré acabou por manifestar todo o interesse nas buscas das embarcações, tendo designadamente solicitado à Marine Claims Services/Pantaenius informações acerca do desenvolvimento das investigações e dos respectivos preços (quesito 39º). 60) A Autora entregou à 2ª Ré as quantias constantes das facturas referentes às apólices em causa que lhe foram apresentadas (quesito 40º). 61) Nos termos das apólices referidas no ponto 2, a cobertura/indemnização face ao roubo das embarcações é nos seguintes valores: – 338.110.400$00/1.686.487,56 €, no caso da apólice n.º …; – 379.520$00/11.868,99 €, no caso da apólice n.º …; – 1.510.080$00/7.532,25 €, no caso da apólice n.º … (quesito 42°). 62) A 2ª Ré estava apenas autorizada pela 1ª a divulgar aos seus clientes, candidatos a tomadores de seguros, os produtos que a Ré Seguradora, também e meramente como uma das suas clientes, disponibiliza no mercado (quesito 46º). 63) A 2ª Ré não tem qualquer competência ou poder para aceitar a cobertura que o candidato a tomador de seguro propõe (quesito 47º). 64) Limita-se a receber a proposta que o candidato a tomador subscreve e a encaminhá-la para a seguradora (quesito 48º). 65) A qual decidirá se a aceita ou não (quesito 49º). 66) A 2ª Ré, durante a vigência do contrato, não procede à gestão de sinistros, limitando-se a receber a correspondência que o tomador lhe quiser enviar e encaminhá-la para a seguradora (quesito 50º). 67) À 1ª Ré não foram entregues e pagos, nem até ao termo dos prazos referidos no ponto 15., nem sequer até à presente data, seja pela Autora seja pela 2ª Ré, os montantes dos prémios (quesito 51º). 68) A. Autora, quando pagou os ditos prémios à 2ª Ré, não informou a 1ª Ré de tal pagamento (quesito 52º). 69) Também a 2ª Ré, se recebeu os montantes destinados ao pagamento dos mencionados prémios, nada disse à 1ª Ré nem a esta nunca, até à presente data, deles prestou contas (quesito 53º). 70) A partir de tais datas e pelo menos até 17/07/2002 nunca mais à 1ª Ré foi feita qualquer comunicação relativamente a tais contratos, seja por parte da Autora, seja por parte da 2ª Ré (quesito 54º). 71) Em consequência do facto de haver os contratos de seguro por resolvidos, a 1ª Ré nada fez quando, a 17/07/2002, terminou o prazo do que seria a primeira anuidade do contrato (se o mesmo estivesse em vigor) (quesito 55º). REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 35 72) Não emitiu, nos 30 dias anteriores ao termo de tal prazo o aviso para pagamento do prémio devido para a anuidade que então começaria a 18/07/02 (quesito 56º). 73) Foi então que a 1ª Ré, que tinha custeado o resseguro da primeira anuidade do contrato, apesar de não ter recebido qualquer prémio, se preparou para cobrar pelo menos a parte deste a que tinha direito atento o facto de as apólices terem vigorado desde a data do respectivo início, pelo menos até à das resoluções (quesito 57º). 74) Para o efeito, a 1ª Ré contactou a 2ª Ré "Multiseguros" em meados/fins de Julho de 2002 (quesito 58º). 75) Tendo o gerente da 2ª Ré então dito à 1ª Ré que a tomadora do seguro tinha pedido em Agosto ou Setembro de 2001 a suspensão do contrato de seguro relativo ao "TT of The Seas" (quesito 59°). 76) Alegadamente porque a mencionada embarcação tinha sido devolvida pela Autora à procedência, por aparentar defeitos de construção (quesito 60°). 77) Mais referiu a 2.ª Ré à 1.ª Ré (e não A. como, por lapso se refere) que tal pedido de suspensão da apólice tinha sido efectuado por fax enviado directamente pela Autora à 2ª Ré (quesito 61º). 78) Questionada então a gerência da "Multiseguros" por que motivo não havia sido enviado o pedido de suspensão do contrato de seguro constante do dito fax à 1ª Ré, logo que o recebeu, foi então referido que assim iria proceder de imediato (quesito 62º). 79) Algum tempo depois, a 2ª Ré enviou à 1ª Ré o fax que disse ter recebido da Autora (quesito 63º). 80) No fax expedido pelo Exmo. Mandatário da Autora, em tudo semelhante a outras correspondências desta recebidas, constava expressamente que "conforme conversa havida informamos que o barco regressou ao estaleiro por deficiência técnica pelo que solicitamos a suspensão do contrato, até o mesmo se encontrar nas devidas condições de navegabilidade. Tão logo que esta situação se encontre regularizada, comunicaremos o reinício do contrato" (quesito 64º). 81) Face ao teor deste fax, datado de 08/08/01, pareceu natural à 1ª Ré que a Autora, tendo devolvido a embarcação ao anterior proprietário e tendo pedido a suspensão do seguro, não tivesse pago qualquer prémio (quesito 65º). 82) Por isso a Ré reconsiderou a resolução do contrato de seguro, pois tardiamente veio a saber que a pretensão da Autora era a de suspender a garantia de seguro e não a de não pagar os atinentes prémios relativos à primeira anuidade (quesito 66º). 83) Em conformidade com tal entendimento, e visto que afinal o contrato de seguro haveria de ser havido como suspenso a partir de 08/08/2001, a 1ª Ré deu sem efeito na sua contabilidade as facturas n.°s …, … e …, referentes aos prémios da 1ª, anuidade, as quais foram consideradas "a não cobrar" (quesito 67º). 84) Simultaneamente, a 1ª Ré enviou cópia da dita factura à 2ª Ré (quesito 69º). 85) Tendo o gerente da "Multiseguros" referido aos colaboradores da 1ª Ré, a 26/11/2002, que a Autora iria pagar o respectivo prémio indicado nessa factura (quesito 70º). 86) A partir de tal data, entre a 1ª Ré e a Autora não foi celebrado qualquer outro contrato de seguro relativo às embarcações alegadamente furtadas (quesito 74º). 36 PEDRO ROMANO MARTINEZ 87) A Autora deu instruções rigorosas às entidades por si contratadas para averiguação do sinistro, circunstâncias em que o mesmo terá ocorrido e localização das embarcações, para não facultarem qualquer informação a terceiros, nomeadamente à 1ª Ré (quesito 75º). 88) A qual assim ficou impossibilitada de saber se as embarcações foram efectivamente furtadas (quesito 76º). 89) Ou se, tendo-o sido, foram posteriormente localizadas e recuperadas pela Autora (quesito 77°). 90) A Ré aceitou as propostas de seguro relativas às três embarcações, as quais ficaram por isso garantidas ao abrigo das apólices LL nos termos e com as limitações referidas nos respectivos textos contratuais e cfr. Condições gerais juntas a fls. 144 a 167 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (quesito 82º). II.B. De Direito II.B.1. – Delimitação do recurso (…) II.B.2 – Nulidades do acórdão (…) II.B.3 – A acção de indemnização funda-se na existência de três contratos de seguro, denominados, segundo a respectiva apólice, “Marítimo Casco”, em que figura como seguradora a aqui 1.ª ré Europeia Seguros, como tomador do seguro a A. Lucchesi – Embarcações de Recreio, Lda., como “Agente/corretor” a 2.ª ré, Multiseguros – Mediação de Seguros, Lda., tendo por objecto cada uma das embarcações em causa, destinados a cobrir, até aos limites constantes da apólice, para além do mais aí enunciado, os “Danos na Embarcação” e o “Roubo da Embarcação”. Furtadas na noite de 3/4 de Março de 2003 e não tendo obtido a correspondente indemnização, a autora intentou esta acção, com vista a ser ressarcida, contra a Seguradora e, subsidiariamente, contra a Mediadora. As rés vieram, ambas, invocar a inexistência de seguro válido, embora fundadas em razões diferentes. Deu-se como adquirido no acórdão que, no momento do furto, os contratos inicialmente celebrados e titulados pelas apólices em causa já não vigoravam, por terem sido, logo em 2001, resolvidos pela seguradora, por falta de pagamento pontual dos respectivos prémios. Essa resolução decorria do art. 2.º, n.º 1, do DL. n.º 142/2000, diploma que regulava, na altura, o regime jurídico do pagamento dos prémios de seguro, que estabelecia que estes deviam “ser pagos, pontualmente, pelo tomador do seguro directamente à empresa de seguros ou a outra entidade por esta expressamente designada para o efeito”. Dispunha-se ainda no referido diploma: – que a cobertura dos riscos apenas se verificava a partir do momento do pagamento do prémio ou da fracção inicial, salvo se, por acordo das partes for estabelecida outra data…(art.º 6.º, n.º 1); REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 37 – que a empresa de seguros estava obrigada a avisar, por escrito, com uma antecedência de pelo menos 30 dias, o tomador dos seguros para o pagamento dos mesmos (data, valor e forma) e a advertir sobre “as consequências da falta de pagamento do prémio ou fracção, nomeadamente a data a partir da qual o contrato é automaticamente resolvido, nos termos do artigo seguinte” (art.º 7.º) e que – na falta de pagamento do prémio ou fracção na data indicada no aviso referido no artigo anterior, o tomador de seguro constitui-se em mora e, decorridos que sejam 30 dias após aquela data, o contrato é automaticamente resolvido, sem possibilidade de ser reposto em vigor, sendo que, quando a cobrança for efectuada através de mediadores, estes ficam obrigados a devolver às empresas de seguro os recibos não cobrados dentro do prazo de oito dias subsequentes ao prazo estabelecido no n.º 1, sob pena de incorrerem nas sanções legalmente estabelecidas”.(art.º 8.º, n.os 1 e 3.) Ou seja, como se afirma no acórdão recorrido, tendo a 1.ª ré enviado à recorrente as apólices dos seguros, as facturas para pagamento dos respectivos prémios, com a advertência da resolução automática dos contratos se aqueles não fossem “pontualmente” pagos, não tendo a mesma recebido o pagamento devido, “formalmente” ficaram os mesmos resolvidos. Porém, entendeu a Relação que existem outros dados de facto que implicam uma decisão menos formal. Assim, ficou provado ter a A. efectuado o pagamento das facturas/recibos iniciais, à 2.ª ré, em conjunto, dentro do prazo fixado no que respeita aos contratos de seguro das embarcações secundárias e no 1.º dia depois do respectivo termo no que respeita à embarcação principal, recebendo-os esta, sem qualquer objecção. Também resulta da matéria provada que a 1.ª ré, para além da advertência feita no acto que apresentou as facturas, nunca comunicou à autora qualquer alteração dos contratos ou a sua resolução, aceitando da 2.ª ré, sem reservas, um posterior pretenso pedido de suspensão do contrato relativo ao barco “TT of The Seas”, anulando as três facturas iniciais e emitindo nova factura relativo ao período em que teria vigorado o contrato principal, inferindo a Relação que não só “a 1ª ré aceitou, de certa forma, a manutenção dos contratos, como fez crer à autora, fundadamente, que os actos jurídicos praticados por ela com a 2.ª ré tinham a sua inteira autorização e validade, já que inclusivamente, o aviso de cobrança com data de 7.11.2002, que se encontra junto a fls. 61 dos autos, embora ao que tudo leva a crer enganada também pela 2.ª ré, referenciava expressamente que a autora poderia utilizar como modo de pagamento dos prémios pedidos, para além de outros – v.g. Multibanco e CTT – “Através do Agente Multiseguros, Mediação de Seguros, Lda., (…) 1170-107 Lisboa”. Mais resulta que, nesta relação tripartida, sempre a A. esteve convencida da perfeito relacionamento entre a ré e a mediadora e sobre a plena vigência dos contratos de seguro, toda a sua actuação revelando isso mesmo, designadamente ao utilizar os serviços da mediadora, mas recebendo, por vezes, respostas por parte da seguradora, directamente, pagando num caso à mediadora e noutro à seguradora e tratando com toda a normalidade da renovação do seguro, do seu cancelamento a partir de determinada data, da prorrogação do prazo para o referido cancelamento, da comunicação do furto e das diligências para localizar as embarcações furtadas. 38 PEDRO ROMANO MARTINEZ Importa ainda salientar que nenhuma inferência seria legítimo extrair do facto de a factura de 7.11.02 ter sido paga fora de prazo, uma vez que a A. estava convencida da plena vigência dos contratos iniciais e se encontrava à espera de receber as facturas/recibos relativas às renovações dos contratos. Neste contexto imporá averiguar se se justifica responsabilizar a 1.ª Ré pela indemnização peticionada, apesar de tal responsabilidade não resultar das normas dos arts 2.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 142/2000 e 762.º n.º 1, 769.º e 770.º "a contrario" do Código Civil. Dos factos provados não resulta que o segurador, explicitamente, tenha conferido poderes de representação ao mediador, mediante a outorga de uma procuração (art. 262.º do CC). Porém, a doutrina e a jurisprudência têm vindo a entender que essa representação deve ser considerada, mesmo no caso de inexistência de uma procuração. Seguiremos, doravante, de perto, e por vezes integralmente, o parecer constante dos autos, da autoria do Professor PEDRO ROMANO M ARTINEZ, por nas suas linhas mestras se nos afigurar a correcta doutrina. Em primeiro lugar, na situação de ausência de procuração, pode entender-se ocorrer uma representação implícita, resultante da relação existente entre os dois sujeitos. Ou, que é possível configurar um relação que se pode designar por «representação tolerada». Nesta, um sujeito (segurador) admite, repetidamente, que outrem (mediador) pratique actos como seu representante. MENEZES CORDEIRO (Tratado de Direito Civil Português, I, Parte Geral, Tomo IV, Almedina, Coimbra, 2005, p. 103) entende que, na representação tolerada, não há procuração nem os poderes de representação resultam, directamente, de um dado contrato (p. ex., contrato de trabalho, art.º 111.º, n.º 3, do Código do Trabalho), pois trata-se «apenas de um esquema de tutela, por força da confiança, imputada ao "representado", suscitada pela conduta do "representante”»; mas MOTA PINTO (Teoria Geral de Direito Civil, 4.º ed. Revista por PINTO MONTEIRO e PAULO MOTA PINTO, Coimbra Editora, Coimbra, 2005, p. 551) entende que se «o representado tolera a conduta, dele conhecida, do representante, e essa tolerância, segundo a boa-fé e considerando os usos do tráfico, pode ser interpretada pela contraparte no negócio no sentido de que o representante recebeu procuração do representado para agir por ele», então foram conferidos poderes de representação. No caso concreto, o segurador conhecia a actuação do mediador e tolerava – porque beneficiava da angariação de negócios – esse modo de actuar. Só assim se percebe, designadamente, que, passado um ano, depois de uma conversa telefónica com o mediador, aceite o reenvio de um fax como justificação para considerar suspensos os contratos de seguro, que deveriam terse por resolvidos. Finalmente, pode ainda falar-se em obrigações decorrentes de uma situação de representação aparente. No caso de representação aparente, segundo MOTA PINTO, (Teoria Geral de Direito Civil, cit, p. 551) «o representado não conhecia a conduta do representante, mas com o devido cuidado teria podido conhecer e impedir», por outro lado, «a contraparte podia de acordo com a boa-fé compreender a conduta do representante no sentido de que ela não poderia ter ficado escondida do representado com a diligência devida, e que este, portanto, a tolera». A este propósito, MENEZES CORDEIRO (Tratado de Direito Civil Português, I, Parte Geral, Tomo IV, cit, pp. REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 39 103 e 106) explica que a procuração aparente assenta num dado objectivo (alguém actua como representante) e num dado subjectivo (negligência do "representado"), esclarecendo que tem particular relevo no domínio do Direito comercial, justificada na tutela do dano de confiança do terceiro de boa-fé. Em caso de representação aparente, ainda que se entenda que o acto não produz efeitos na esfera jurídica do representado (segurador), este seria, sempre, responsável, perante o terceiro lesado (tomador do seguro), pelo acto do representante aparente (mediador). Neste ponto, há uma diferença entre o Direito civil e o Direito comercial; enquanto no primeiro a representação aparente, por via de regra, não terá o efeito da efectiva representação, só implicando responsabilidade civil, no Direito comercial é normal equipararem-se os efeitos da representação aparente aos da representação efectiva. Na medida em que o contrato de seguro, assim como a mediação de seguros integram o elenco das relações comerciais, estão sujeitos ao regime de Direito comercial. A representação aparente tem, pois, particular relevo no Direito comercial, mormente nos negócios de distribuição comercial, como o de mediação de seguros. O mediador de seguros, ainda que designado agente, não está sujeito ao regime do contrato de agência, sendo distinta a mediação de seguros da agência, como a jurisprudência tem assinalado (ac. STJ de 18.12.07, proc. 07A4305 e ac. Rel. Lisboa de 22.5.2007, proc. 297/2007-7, ambos in www.dgsi.pt). No contrato de agência, estabelece-se que (art.º 23.º do Decreto-Lei n.º 178/86, de 3 de Julho), havendo aparência de representação, o negócio é eficaz perante o representado (principal). Está em causa a necessidade de tutelar a legítima confiança de terceiros, solução a que também se poderia chegar, em sede geral, pelo recurso ao instituto do abuso de direito. Pelo contrário, no regime jurídico da mediação de seguros (Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro) não consta regra similar a essa. Ainda assim, é opinião generalizada que várias regras do regime de agência – entre as quais a norma que prescreve o regime da representação aparente – se aplicam a outros contratos de distribuição comercial. MOTA PINTO (obra e local citado) afirma expressamente: «Tal solução é de alargar, pelo menos, a todos os casos em que a representação se verifica no quadro de contratos de cooperação ou de colaboração, no domínio comercial. De igual modo, PINTO MONTEIRO (Contrato de Agência. Anotação ao Decreto-Lei n.º 178/86, 5.ª ed. Almedina, Coimbra, 2004, pp.108. e ss.) escreve: «a solução consagrada por esta norma será de alargar a todos os contratos de cooperação ou de colaboração (como decidiu o já citado Acórdão da Relação do Porto de 6 de Outubro de 1992, in CJ, ano XVII, tomo IV, p. 250), ou, até, aos contratos de gestão em geral (na linha do também já citado Acórdão da Relação de Lisboa de 7 de Outubro de 1993, in CJ, ano XVIII, tomo IV, p. 135)». Este entendimento veio a ter consagração na nova regulamentação da mediação de seguros (Decreto-Lei 144/2006 de 31 de Julho) onde se prescreve (art. 30.º, n.º 3) um regime de responsabilização do segurador, em caso de representação aparente, similar ao constante do diploma regulamentador do contrato de agência. Apesar de este diploma se não aplicar ao caso vertente, sendo a mediação de seguros um contrato de distribuição comercial e, tendo ambas as disposições por fundamento a tutela da confiança, justifica-se aplicar-se aqui o regime da representação aparente, previsto no art. 23.º 40 PEDRO ROMANO MARTINEZ do Decreto-Lei n.º 178/86, ou, o que é o mesmo, os princípios gerais da boa-fé contratual e da tutela da confiança. A representação aparente assenta na verificação de determinados pressupostos. Adaptando o disposto no art.º 23.º do regime da agência à mediação de seguros, dir-se-á que haverá representação aparente se tiverem existido razões ponderosas, objectivamente apreciadas, tendo em conta as circunstâncias do caso, a justificar a confiança do tomador de boa-fé, na legitimidade do mediador de seguros, desde que o segurador tenha igualmente contribuído para fundar essa confiança do tomador. Estes pressupostos encontram-se preenchidos no caso em apreço, pois o tomador do seguro confiou legitimamente na actuação daquele mediador, com o qual mantinha uma relação comercial estável e duradoura, e o segurador não podia desconhecer o modo de actuação deste mediador e pactuou com situações pouco correctas, em especial a aceitação, como sendo uma declaração negocial do tomador, do reenvio pelo mediador de um fax (forjado), com mais de um ano e com dados insuficientes. Concluindo, os actos jurídicos praticados pelo mediador são eficazes perante o segurador, mesmo que não tivessem sido conferidos poderes de representação por se estar perante uma situação óbvia de representação aparente, razão pela qual, nomeadamente o pagamento do prémio feito pelo tomador do seguro ao mediador, vale como tendo sido feito ao segurador. Acresce ainda que, no caso em análise, não se discute se o mediador tinha poderes de representação para celebrar contratos de seguros, pois estes foram (indiscutivelmente) celebrados e titulados por apólices emitidas pelo segurador. Discute-se, tão só, se o mediador tinha poderes para a prática de actos de execução dos contratos de seguro já validamente celebrados. Está, pois, em causa um poder de representação menos exigente; trata-se de poderes de representação unicamente para a prática de actos de execução dos contratos de seguros angariados, propostos e preparados pelo mediador, em particular para a cobrança de prémio. Há uma especial exigência quanto à outorga de poderes de representação para celebrar contratos de seguro e ainda para ajustar alterações supervenientes aos ditos contratos, nomeadamente quanto ao âmbito da cobertura. É isso que decorre do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 388/91, que veda a celebração de contratos de seguro por parte de mediadores, salvo no caso especial do n.º 2 do mesmo preceito. Mas a mesma exigência não se justifica para a representação em actos de execução do contrato, corno receber comunicações, maxime a participação de sinistros, prestar informações ou receber o pagamento de prémios. Quanto ao pagamento dos prémios, ao que foi referido anteriormente, acresce que o regime regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal – dando relevo ao princípio da representação aparente – prescreve que «o pagamento pontual do prémio do contrato de seguro, ao mediador expressamente designado pela seguradora para receber o prémio é liberatório para o tomador do seguro» (art.º 5.º, n.º 1, da norma regulamentar do ISP n.º 17/94-R, de 6 de Dezembro, na redacção dada pela norma n.º 10/2000-R, de 29 de Setembro). Deste regime regulamentar, aplicável à situação em análise, decorre que o pagamento ao mediador vincula o segurador. Ora, do aviso de cobrança da seguradora, enviado ao tomador, consta que o pagamento pode ser efectuado no agente (mediadora). REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 41 O quadro factual provado aponta claramente para uma actuação da mediadora reconhecida pela seguradora e sem que a tomadora alguma vez tenha sido alertada por uma situação de mau relacionamento entre aquelas. Os contratos de seguro em causa foram angariados e preparados pela mediadora, actuando esta em benefício da seguradora. Nesta sequência, a seguradora, por fax de 10/9/2001, envia à mediadora a relação dos prémios que deviam ser pagos. Com efeito, apesar de, alegadamente, ter considerado os contratos resolvidos entre Setembro e Novembro de 2001, só em Julho de 2002 a seguradora contactou a mediadora (e não o tomador do seguro) para saber o que se passava com os contratos de seguros em causa, cujos prémios não havia recebido. Nesse contacto, a seguradora acreditou numa «história» contada pela mediadora quanto à vontade do tomador – manifestada em Agosto ou Setembro de 2001 – no sentido de suspender os contratos de seguro, por ter devolvido a embarcação principal, em razão de defeitos de construção. A seguradora confiou igualmente nessa manifestação de vontade do tomador do seguro, comunicada pelo mediador, através do reenvio de um fax. Este, supostamente enviado pelos mandatários do tomador do seguro, teria sido recebido pelo mediador a 8 de Agosto de 2001, mas só foi reenviado ao segurador em Julho de 2002; além disso, o referido fax não continha indicações respeitantes aos contratos de seguro a suspender e, principalmente, era manifestamente forjado. A seguradora, na sua relação com a mediadora, confiou em tudo isto e tanto bastou para deixar de considerar os contratos resolvidos e os ter passado à situação de suspensos. Por isso, enviou nova factura para pagamento de prémio relativo à embarcação principal, pelo prazo em que esse seguro teria vigorado, tendo cancelado as facturas iniciais. Tendo a seguradora enviado cópia desta factura ao mediador, não contactou directamente o tomador, nem lhe enviou qualquer comunicação, indicando que aceitava a suspensão do contrato, tendo enviado a este apenas a factura para pagamento. Ficou provado que a seguradora não tinha conferido poderes à mediadora para aceitar o risco ou a cobertura, cabendo-lhe receber e encaminhar propostas recebidas dos clientes. Mas isto não exclui que decorressem da relação comercial entre segurador e mediador poderes de representação na execução de contratos (menos exigente do que para a celebração ou modificação do contrato), tendo ficado provado que recebia e reencaminhava declarações de vontade, nomeadamente que recebeu, via mediadora, a participação do sinistro, e que procedia à gestão de sinistros. Quanto ao recebimento dos pagamentos pela mediadora é verdade que não se provou que a esta estivesse autorizada pela seguradora a cobrar o pagamento dos prémios. Porém, resulta da demais factualidade que a seguradora permitia que os clientes fizessem o pagamento directamente à mediadora, com a obrigação desta de entregar, de imediato, as importâncias recebidas à seguradora. Há divergência jurisprudencial quanto à responsabilidade do segurador por informações prestadas pelo mediador, divergência que radica em dois tipos de fundamento (v. Acs. da Relação de Coimbra de 23.03.2004 e de 31.05.2005 in respectivamente CJ, Ano XXIX, tomo II, p. 22 42 PEDRO ROMANO MARTINEZ e Ano XXX, tomo III, p. 5 e decisões citadas por JOSÉ VASQUES, Novo Regime Jurídico da Mediação de Seguros, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, nota 263, pp.78 e 79. «Por vezes, entende-se que a responsabilidade do segurador por informações erradas do mediador está associada à outorga de poderes de representação; mas este argumento, sendo válido para concluir pela existência de responsabilidade civil, não parece que, por si, seja suficiente para excluir o dever de indemnizar. De facto, ainda que o mediador não tenha poderes de representação do segurador, este pode ser responsável pelas informações prestadas por aquele, nomeadamente se o segurador utiliza o mediador para o cumprimento das suas obrigações relativamente ao tomador (art.º 800.º, n.º 1, do CC), isto é, se transferiu para o mediador o dever de prestar certas informações contratuais. É conveniente ter em conta que o citado art.º 800.º do CC não circunscreve esta situação de responsabilidade objectiva à representação, admitindo-a também em meros casos de auxílio no cumprimento de obrigações, sem poderes de representação. Por outro lado, como a responsabilidade do segurador por informações prestadas pelo mediador assenta na tutela do terceiro (tomador do seguro), que confiou no sujeito com quem contactou, está em causa uma especial tutela da confiança, que nem sempre se justifica em todos os casos de actuação de mediadores. Na questão em apreço é este o aspecto de particular relevo. Independentemente de o segurador ter conferido ao mediador poderes de representação, tendo em conta a relação existente entre segurador e mediador, por um lado, e o relacionamento entre tomador do seguro e mediador, por outro, a tutela da confiança do terceiro lesado (tomador) determina a responsabilização do segurador pelas informações incorrectas prestadas pelo mediador». Não é legítimo inferir daqui que os seguradores são sempre responsáveis pelas informações incorrectas prestadas pelos mediadores. Tal responsabilidade só se justificará se decorrer da necessidade da especial tutela de confiança do tomador do seguro, relacionada com a situação concreta e de um comportamento negligente do segurador. No caso em apreço, o tomador, dada a relação continuada com o mediador, confiou na subsistência dos contratos de seguro e o segurador não actuou diligentemente ao só indagar junto do mediador da falta de pagamento dos prémios mais de um ano depois do respectivo vencimento e de ter confiado no teor de um fax, de aparência pouco fidedigna, reenviado pelo mediador, com dados incompletos, em que era solicitada a suspensão de um dos contratos, nada indagando quanto aos outros dois. A responsabilidade do segurador por actos do mediador, independentemente de haver ou não outorga de poderes de representação, baseada no dano de confiança encontra-se sustentada em recentes decisões jurisprudenciais e na doutrina. No Acórdão da Relação de Coimbra de 14 de Dezembro de 2006 (CJ, ano XXXI, Tomo V, p.113), considerou-se o segurador responsável pelo dano de confiança por o seu colaborador (mediador de seguros não exclusivo) não ter entregado a proposta de seguro recebida de um cliente. Neste caso, apesar de o segurador não ter conferido poderes de representação ao mediador de seguros e de este, por isso, não poder contratar em nome daquele, tendo em conta os princípios da boa-fé e da tutela de terceiros, considerou-se o segurador responsável, por- REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 43 quanto o mediador se apresentava como seu representante (embora não o sendo), tendo nisso o tomador do seguro confiado. Também no acórdão da Relação de Lisboa, de 9.02.2012, proferido no processo n.º 960/07.0YXLSB.L1-2, inserto em www.dgsi.pt, depois de se entender que “por forma não exactamente expressa, a seguradora adoptou uma postura que se terá de interpretar como a assunção entre ela e a agente de seguros de uma relação de representação, em que esta actuava em nome e por conta dela” se defendeu: ‘“Como escreveu Baptista Machado, o princípio da confiança é um princípio ético-jurídico fundamentalíssimo e a ordem jurídica não pode deixar de tutelar a confiança legítima baseada na conduta de outrem. Por isso, «toda a conduta, todo o agir ou interagir comunicativo, além de carrear uma pretensão de verdade ou de autenticidade (de fidelidade à própria identidade pessoal) desperta nos outros expectativas quanto à futura conduta do agente» e «todo o agir comunicativo implica uma autovinculação (uma exigência de fidelidade à pretensão que lhe é inerente), na medida em que desperta nos outros determinadas expectativas quanto a uma conduta futura.» – (RLJ, 117/233) Daqui há pois que retirar a conclusão que tendo existido a autorização para a celebração do seguro e recebimento do respectivo prémio inicial nos termos em que foi feito, poderemos adiantar que tal relacionamento entre seguradora e agente de seguros terá de ser tido como um relacionamento entre comitente e comissário, sendo por isso a seguradora responsável perante o segurado. Adiante-se ainda que a possibilidade do mediador de seguros poder receber os prémios de seguro era algo que a própria lei previa como possível já no âmbito do Dec.-Lei n.º 388/91, ao referir na alínea c) do art.º 7.º «Constituem direitos do mediador: … c) Descontar, no momento da prestação de contas, as comissões relativas aos prémios cuja cobrança tiver efectuado;»”’ Na doutrina, esta posição encontra detalhado apoio em MENEZES CORDEIRO (obra citada, pp. 409 e ss). Como o autor refere, a confiança das pessoas é protegida desde o Direito romano e, no Direito português, além de disposições legais específicas (p. ex., arts. 266.º e 291.º do CC), há tutela da confiança em institutos gerais. Nomeadamente, a protecção da confiança encontra tutela na boa-fé. Basta que haja uma situação de confiança – justificada e em que alguém investiu – e a imputação a outrem dessa situação de confiança. Havendo tutela da confiança responsabiliza-se aquele a quem se imputa essa situação. Na situação dos autos, como já referido, verificam-se os pressupostos referidos. O tomador, por via da actuação do mediador, confiou legitimamente na celebração e manutenção em vigor dos três contratos de seguro e desenvolveu todo um conjunto de actuações no pressuposto de ter essa cobertura. Ao segurador, tendo em conta a relação com o mediador e o facto de ter emitido as apólices de seguro e as facturas relativas aos prémios, imputa-se a mencionada situação de confiança, sendo, por isso, responsável. Com este fundamento se entende, tal como no acórdão recorrido, que, «não obstante a atribulada “vida contratual” dos mesmos, os contratos de seguro celebrados entre a autora e a 1ª ré têm de se considerar vigentes no momento do “sinistro”.» E pelos fundamentos indicados no mesmo acórdão é de manter a fixação do montante dos concretos danos em liquidação posterior. 44 PEDRO ROMANO MARTINEZ III. Pelo exposto, acordam em negar a revista da R, condenando-a nas respectivas custas. Anotação I. Enquadramento Na medida em que se pretende atender tão-só à representação aparente no âmbito da mediação de seguro, na transcrição do acórdão foram eliminados os trechos respeitantes a outras questões, nomeadamente processuais, que se colocaram. Como resulta do texto do acórdão transcrito, o signatário juntou um parecer que foi seguido «(…) de perto, e por vezes integralmente (…), por nas suas linhas mestras se nos afigurar a correcta doutrina.» Independentemente desta afirmação e porque são colocadas e resolvidas questões com diversa fundamentação, acompanhando-se integralmente a solução do acórdão, a anotação aduz outros fundamentos, na mesma linha da decisão judicial. De modo diverso desta substancial concordância com o sentido e fundamentação do acórdão está a perplexidade com a morosidade da justiça; o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça surge 11 anos depois do sinistro (2003), tendo o processo judicial sido iniciado nesse ano. No referido parecer colocavam-se duas questões que importa explanar. A LUCCHESI – Embarcações de Recreio (Sociedade Unipessoal), Lda., adquiriu uma embarcação de grande porte com duas embarcações de apoio para o exercício da sua actividade empresarial e, através da mediadora MULTISEGUROS, agente da EUROPEIA, celebrou três contratos de seguros para cobertura de riscos próprios e responsabilidade civil, titulados por três apólices com início de cobertura a 10 de Agosto de 2001 e vigência por um ano e seguintes. Tendo sido furtada a embarcação principal com as duas embarcações de apoio a 4 de Março de 2003, em acção intentada pela LUCCHESI contra a EUROPEIA (hoje LIBERTY SEGUROS) e a MULTISEGUROS foi colocada a questão da subsistência em vigor dos contratos de seguro mencionados. A questão da validade dos contratos de seguros encontra-se intimamente relacionada com a da responsabilidade da seguradora (EUROPEIA / LIBERTY) por actos praticados pela mediadora (MULTISEGUROS). Esta segunda questão assume particular relevo, porquanto o tomador do seguro, não só com respeito a estes seguros, como em outros seguros, limitava-se a contactar a mediadora tanto para a celebração de contratos de seguro como para as respectivas REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 45 alterações e pagamento de prémios. Ficou provado que a MULTISEGUROS, agente da EUROPEIA / LIBERTY, actuou dolosamente, pois apropriou-se indevidamente da quantia recebida para pagamento dos prémios e forjou um documento mediante o qual informava a seguradora de que o tomador pretendia suspender o contrato por ter devolvido a embarcação principal. A isto acresce que a mediadora, depois de se ter apropriado do valor entregue pelo tomador do seguro para pagamento dos prémios e de ter forjado o documento, enviou vários faxes à LUCCHESI indicando que estava tudo bem quanto às alterações ao contrato de seguro por esta solicitadas. Estavam, assim, em causa duas questões: 1.º Apreciar a validade dos contratos de seguro e vigência à data do sinistro, na medida em que a seguradora (EUROPEIA / LIBERTY) tomou duas posições: a) Primeiro, entendeu que os contratos de seguro se encontravam resolvidos por falta de pagamento dos prémios; b) Seguidamente, após receber o documento forjado pela mediadora, passou a entender que o contrato de seguro relativo à embarcação principal se encontrava suspenso desde os primeiros dias de vigência. 2.º Examinar a responsabilidade da seguradora (EUROPEIA / LIBERTY) tendo em conta os actos praticados pelo seu agente, a mediadora MULTISEGUROS. Todavia, a primeira, com menor relevo jurídico, não será agora atendida, limitando esta anotação à questão da responsabilidade do segurador por actos praticados pelo mediador de seguros. II. Mediação de seguros 1. Regime jurídico a) Aspectos gerais I. Os contratos de seguro em causa foram celebrados com a intermediação de um mediador, pelo que importa atender ao regime da mediação de seguros, constante do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro. Este diploma foi revogado pelo DecretoLei n.º 144/2006, de 31 de Julho, mas, não obstante algumas alusões ao novo regime, atender-se-á, em especial, ao regime vigente à data da celebração dos contratos de seguro em apreço e da ocorrência do sinistro. II. Relativamente à intervenção de um mediador na contratação de seguros, o signatário deste parecer escreveu: «Frequentemente, o contrato de seguro é celebrado através de intermediários de seguros, como seja um agente, um broker ou um banco, 46 PEDRO ROMANO MARTINEZ sendo necessário estudar o estatuto destes intermediários e a respectiva responsabilidade. O tomador do seguro, em vez de contactar directamente com a seguradora, negoceia o contrato de seguro com o intermediário, sendo o acordo ajustado com a seguradora através do intermediário. Ainda que intervenha um intermediário, as partes no contrato de seguro continuarão a ser o tomador e a seguradora».2 É prática comum a intervenção de um mediador, tanto para a celebração do contrato de seguro como na sua execução, seja para receber e enviar comunicações, em particular a participação de sinistro, receber pagamentos de prémios, enviar quitações, etc. São abundantes as decisões judiciais em que se discute qual o papel do mediador na celebração do contrato de seguro, mormente se as declarações por este emitidas vinculam o segurador.3 Mas a questão surge igualmente no que respeita a comunicações feitas através do mediador,4 ao envio da folha de férias ao mediador5 e ao pagamento de prémios realizado por intermédio do mediador.6 A questão do pagamento de prémios do tomador de seguro feito através do mediador tem sido discutida diversas vezes, mas, sempre que se entende que a falta de entrega (transferência) da quantia recebida pelo mediador ao segurador só responsabiliza o primeiro,7 assenta-se no pressuposto de não haver outorga de poderes ao mediador para a prática de tais actos. b) Tipos de mediadores Os mediadores de seguros (art. 3.º do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro) podem ser agentes de seguros (art. 18.º do Decreto-Lei n.º 388/91), angariadores de seguros (art. 30.º do Decreto-Lei n.º 388/91) e corretores de seguros (art. 36.º do Decreto-Lei n.º 388/91). A actividade de mediação de seguros pode ser exercida em regime de livre prestação de seguros (art. 46.º do Decreto-Lei n.º 388/91). A situação altera-se atento o regime do Decreto-Lei n.º 144/2006, em que se distingue o media2 3 4 5 6 7 Romano Martinez, Direito dos Seguros. Apontamentos, Principia, Cascais, 2006, pp. 54. Veja-se, quanto à celebração de contratos de seguros, nomeadamente, Acórdão do STJ de 13/5/2003 (Reis Figueira), proc. 03A1048; Acórdão do STJ de 10/2/1999 (Manuel Pereira), proc. 98S133; Acórdão da Relação de Lisboa de 22/5/2007 (Isabel Salgado), proc. 297/200077; Acórdão da Relação do Porto de 27/3/2007 (Anabela Silva), proc. 0720374; Acórdão da Relação do Porto de 16/1/2003 (Sousa Leite), proc. 0231764; Acórdão da Relação de Coimbra (Monteiro Casimiro), proc. 2493/2002. Já quanto à alteração a contratos de seguros feitas por mediador, veja-se Acórdão do STJ de 3/12/2003 (Ferreira Mesquita), CJ (STJ) XI, Tomo III, p. 290, e Acórdão da Relação do Porto de 8/10/2007 (Albertina Pereira), proc. 0742021. Nota: os acórdãos citados sem indicação de outra fonte encontram-se, no número de processo indicado, em www.dgsi.pt. Acórdão do STJ de 8/7/2003 (Silva Salazar), proc. 03A2264, em que se entendeu que a comunicação de mudança de local de mercadorias seguras feita ao mediador era suficiente. Acórdão da Relação de Évora de 2/11/2003 (Chambel Mourisco), proc. 2159/03-2. Acórdão do STJ de 9/4/2002 (Afonso de Melo), proc. 02A706, e Acórdão da Relação de Coimbra de 27/9/2005 (Garcia Calejo), proc. 2173/05. Acórdão da Relação do Porto de 29/1/1996 (Guimarães Dias), proc. 9550761 (só sumário). REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 47 dor de seguros ligado, o agente de seguros e o corretor de seguros (art. 8.º). A noção de agente de seguros é substancialmente diversa nos dois diplomas. No regime de 1991, o agente, podendo exercer a sua actividade junto de uma ou mais seguradoras, apresenta, propõe e prepara a celebração de contratos de seguros, podendo também celebrá-los, e presta assistência a esses contratos, podendo intervir na regularização de sinistros em nome e por conta da seguradora (art. 18.º do Decreto-Lei n.º 388/91). Já no regime de 2007, o agente exerce a sua actividade em nome e por conta de uma ou mais empresas de seguros (art. 8.º, alínea b), do Decreto-Lei n.º 144/2006). Em qualquer caso, o mediador de seguros tem uma função típica de distribuição comercial, pois cabe-lhe colocar no mercado «produtos» do segurador. Além disso, a mediação de seguros pressupõe a existência de colaboração entre as partes (segurador e mediador), a obediência do mediador a directrizes do segurador, ao controlo da distribuição de produtos feita pelo segurador e a obrigação de o mediador zelar e promover os interesses do segurador, mediante uma contrapartida. Trata-se, pois, de um típico contrato de distribuição comercial.8 c) Mediação de seguros e representação I. No caso concreto, como consta da especificação, o mediador era agente do segurador. Agente no sentido do diploma de 1991 (então vigente), situação muito próxima do agente no contrato de agência. A este propósito, o signatário deste parecer escreveu:9 «Sendo o mediador agente de seguros, além do regime constante dos citados preceitos do Decreto-Lei n.º 388/91, aplicar-se-á igualmente o regime jurídico do contrato de agência (Decreto-Lei n.º 178/86, de 3 de Julho); mesmo no caso de se tratar de um corretor de seguros, as normas do Decreto-Lei n.º 388/91 deverão ser completadas pelas do regime da agência. Concretamente, importa atender ao facto de o mediador ter a representação (com ou sem poderes) da seguradora ou a aparência de representação (arts. 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 178/86) para efeitos de vinculação da seguradora por actos daquele». E relativamente às consequências da actuação do mediador como agente, no mesmo estudo consta:10 8 9 10 Veja-se José Vasques, Novo Regime Jurídico da Mediação de Seguros, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, pp. 68 e 69. Romano Martinez, Direito dos Seguros, cit. p. 55. Autor, ob. e loc. cit. 48 PEDRO ROMANO MARTINEZ «Além de outras regras, a actividade de mediação de seguros encontra-se disciplinada no Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro. Os intermediários de seguros, não sendo seguradoras, como actuam em lugar destas, têm certos deveres em especial no que respeita a informações a prestar aos tomadores dos seguros. Sem descurar outros deveres, nomeadamente quando o intermediário tem funções relacionadas com a execução do contrato de seguro (p. ex., receber participações de sinistros ou cobrança de prémios), sobre os intermediários impendem especiais deveres de informação aquando da negociação do contrato de seguro, mormente no que respeita à explicação das condições apresentadas pela seguradora, que justificam a responsabilidade do mediador prevista no art. 9.º do Decreto-Lei n.º 388/91». II. Sem descurar a responsabilidade do mediador, tendo sido atribuídos poderes de representação, acresce a vinculação do segurador pelos actos do mediador. Deste modo, as comunicações feitas ou recebidas pelo mediador ou o pagamento do prémio recebido pelo mediador valem como se tivessem sido feitas, directamente, ao segurador. 2. Poderes de representação a) Atribuição de poderes de representação I. A determinação da validade dos contratos de seguro à data do sinistro está intimamente relacionada com a existência (ou não) de poderes de representação por parte do mediador. É indiscutível que os contratos foram validamente celebrados, a dúvida reside unicamente na sua subsistência em vigor à data do furto. E para se averiguar se os contratos deixaram de vigorar por resolução automática (justificada pela falta de pagamento dos prémios) ou por suspensão (baseada em documento forjado pelo mediador) importa verificar se os actos praticados pelo mediador produziram efeitos na esfera jurídica do segurador (art. 258.º do Código Civil [CC]). Em suma, cabe averiguar se o mediador praticava actos em nome do segurador e se lhe foram conferidos poderes de representação. Contrariamente ao que por vezes se afirma, inclusive em referências legislativas,11 os poderes de representação determinam que o representante actue em nome do 11 Atendendo só a diplomas sobre mediação de seguros, veja-se o art. 8.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, onde se alude a «exerce a actividade de mediação em nome e por conta»; de modo diverso no art. 4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 388/91 fala-se só em contrato celebrado «em nome REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 49 representado, não se impondo que actue também por conta.12 Importa também esclarecer que a existência de poderes de representação não resulta de uma actuação em nome de outrem – podendo ser uma actuação sem poderes. Daí que a existência de poderes de representação – permitindo que o representante actue em nome do representado – não procede do modo de actuação do representante, mas da concessão de tais poderes pelo representado, que pode ser implícita. II. Dos factos provados não resulta que o segurador, explicitamente, tenha conferido poderes de representação ao mediador, mediante a outorga de uma procuração (art. 262.º do CC). Mas a representação pode ser implícita, resultando da relação existente entre os dois sujeitos. Como indica PEDRO DE ALBUQUERQUE, 13 apesar de a doutrina dominante entender que os poderes de representação se fundam no acto jurídico específico (procuração), que é um negócio jurídico unilateral, independente da relação jurídica material que está na sua origem, importa perguntar como surge a representação. No fundo, ainda que se possa entender que a representação se funda num negócio abstracto, se colocarmos a questão: «a que título concedeu A a B poderes representativos?», ressalta a existência de uma relação interna que une o representante ao principal. «É esta relação de gestão ou gestória a fornecer razão explicativa para a circunstância e termos nos quais B (é representante) de A. É ela que, no dizer do próprio legislador, constitui a relação jurídica que determina a procuração (art. 264.º, n.º 1, do CC)».14 E o autor esclarece que o vínculo de gestão que serve de base à representação pode assentar numa multiplicidade de contratos (mandato, trabalho, agência, prestação de serviços) ou simplesmente resultar «da atribuição a outrem de uma posição à qual se encontra tipicamente ligada a concessão dos poderes representativos»;15 basta que «um dos sujeitos desenvolva uma actividade a favor de outro vinculando-se este às consequências e efeitos da actividade do primeiro».16 Ultrapassada a concepção formalista de que os poderes de representação resultam exclusivamente da procuração, tendo esta total independência da relação subjacente, pode concluir-se que, mesmo na falta de uma formal procuração, pode haver poderes 12 13 14 15 16 da seguradora», mas no n.º 2 do mesmo preceito faz-se referência à celebração de contratos em nome e por conta da seguradora. A referência à actuação «em nome e por conta» assenta na confusão (antiga) entre mandato e representação, institutos que se encontram perfeitamente distintos no actual direito português. Veja-se arts. 1180.º e ss. do CC e Pessoa Jorge, Mandato sem Representação, reimpressão, Almedina, Coimbra, 2001, pp. 158 e ss. e pp. 227 e ss. Pedro de Albuquerque, A Representação Voluntária em Direito Civil (Ensaio de Reconstrução Dogmática), Almedina, Coimbra, 2004, pp. 504 e ss. Autor e ob. cit., p. 512. Autor e ob. cit., p. 513. Autor e ob. cit., p. 515. 50 PEDRO ROMANO MARTINEZ de representação que resultam do modo de actuação dos sujeitos, nomeadamente numa relação jurídica. Como afirma PEDRO DE ALBUQUERQUE «Tratar-se-ia, no fundo, de dar expressão, ao nível do regime jurídico, (…) às exigências (…) resultantes da necessidade de se acautelarem as necessidades de tutela da certeza e segurança do tráfego jurídico».17 III. Na falta de procuração formalmente estabelecida, os poderes de representação do mediador resultariam da relação comercial existente com o segurador. No processo não há muitos dados que possam fundamentar os termos em que se desenvolvia a referida relação comercial. Não se sabe como se processava a relação comercial entre mediador e segurador, nomeadamente se, noutros contratos de seguro, havia uma simples angariação ou uma relação mais próxima com os clientes, como seja: o mediador surgia como intermediário nas declarações negociais entre segurador e clientes, havia uma conta corrente em que se colocava a crédito do segurador prestações recebidas pelo mediador, mormente prémios, e a débito do segurador comissões de angariação, etc.18 Em suma, faltaria averiguar como se processavam as relações comerciais entre o segurador e o mediador, averiguação essa que, atento o necessário sigilo comercial, se revela extremamente difícil. b) Representação tolerada I. Além de os poderes de representação poderem implicitamente resultar de uma relação jurídica estabelecida entre representado e representante (a relação subjacente), cabe atender ao que por vezes se designa por «representação tolerada».19 Na representação tolerada um sujeito – no caso o segurador – admite, repetidamente, que outrem – no caso, o mediador – pratique actos como seu representante. MENEZES CORDEIRO entende que, na representação tolerada, não há procuração nem os poderes de representação resultam, directamente, de um dado contrato (p. ex., contrato de trabalho, art. 115.º, n.º 3, do Código do Trabalho), pois trata-se «apenas de um esquema de tutela, por força da confiança, imputada ao “representado”, suscitada pela conduta do “representante”»,20 mas MOTA PINTO entende que se «o representado tolera a conduta conhecida do representante, e essa tolerância, segundo a boa fé e considerando os usos do tráfico, pode ser interpretada pela contraparte no 17 18 19 20 Autor e ob. cit., p. 523. Seria, nomeadamente, interessante saber se a seguradora pagou a comissão à mediadora pela angariação dos contratos de seguro em causa e se os factos provados nesta acção determinaram a cessação das relações comerciais entre as duas entidades. Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil Português, I, Parte Geral, Tomo IV, Almedina, Coimbra, 2005, p. 103; Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 4.ª edição revista por Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto, Coimbra Editora, Coimbra, 2005, p. 551. Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil Português, I, Parte Geral, Tomo IV, cit., p. 103. REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 51 negócio no sentido de que o representante recebeu procuração do representado para agir por ele», então foram conferidos poderes de representação.21 II. No caso, o segurador conhecia a actuação do mediador e tolerava – porque beneficiava da angariação de negócios – esse modo de actuar. Só assim se percebe, designadamente, que, passado um ano, depois de uma conversa telefónica com o mediador, aceite o reenvio de um fax (forjado) como meio (ou justificativo) para suspender um dos contratos de seguro. c) Representação aparente I. Mesmo que não se estivesse perante uma representação tolerada – apesar de os dados do processo apontarem nesse sentido –, o modo de actuação do mediador conforma, claramente, uma situação de representação aparente. No caso de representação aparente, «o representado não conhecia a conduta do representante, mas com o devido cuidado teria podido conhecer e impedir», por outro lado, «a contraparte podia de acordo com a boa fé compreender a conduta do representante no sentido de que ela não poderia ter ficado escondida do representado com a diligência devida, e que este, portanto, a tolera».22 A este propósito, MENEZES CORDEIRO explica que a aparência de representação assenta num dado objectivo (alguém actua como representante) e num dado subjectivo (negligência do “representado”), esclarecendo que tem particular relevo no domínio do Direito comercial, justificada na tutela do dano de confiança do terceiro de boa fé.23 II. Em caso de representação aparente, ainda que não se entenda que o acto produz efeitos na esfera jurídica do representado (segurador), este seria responsável perante o terceiro lesado (tomador do seguro) pelo acto do representante aparente (mediador). Neste ponto, há uma diferença entre o Direito civil e o Direito comercial; enquanto no primeiro a representação aparente, por via de regra, não terá o efeito da efectiva representação, só implicando responsabilidade civil, no Direito comercial é normal equipararem-se os efeitos da representação aparente aos da representação efectiva. Na medida em que o contrato de seguro, assim como a mediação de seguros integram o elenco das relações comerciais, estão sujeitos ao regime de Direito comercial. 21 22 23 Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, cit., p. 551. Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, cit., p. 551. Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil Português, I, Parte Geral, Tomo IV, cit., pp. 103 e 104 52 PEDRO ROMANO MARTINEZ III. A representação aparente tem, pois, particular relevo no Direito comercial, mormente nos negócios de distribuição comercial.24 Relativamente ao contrato de agência, no art. 23.º do Decreto-Lei n.º 178/86, de 3 de Julho, estabelece-se que, havendo aparência de representação, o negócio é eficaz perante o representado (principal). Está em causa a necessidade de tutelar a legítima confiança de terceiros, solução a que também se poderia chegar, em sede geral, pelo recurso ao instituto do abuso de direito.25 Todavia, o mediador de seguros, ainda que designado agente, não está sujeito ao regime do contrato de agência, sendo distinta a mediação de seguros da agência, como a jurisprudência tem assinalado.26 E do regime jurídico da mediação de seguros (Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro / hoje Decreto-Lei n.º 144/2006) não consta regra similar quanto à representação aparente.27 Ainda assim, é opinião generalizada que várias regras do regime de agência – entre as quais a norma que prescreve o regime da representação aparente – se aplicam a outros contratos de distribuição comercial. MOTA PINTO afirma expressamente: «Tal solução é de alargar, pelo menos, a todos os casos em que a representação se verifica no quadro de contratos de cooperação ou de colaboração, no domínio comercial».28 De igual modo, PINTO MONTEIRO escreve: «a solução consagrada por esta norma será de alargar a todos os contratos de cooperação ou de colaboração (como decidiu o já citado Acórdão da Relação do Porto de 6 de Outubro de 1992, in CJ, ano XVII, tomo IV, p. 250), ou, até, aos contratos de gestão em geral (na linha do também já citado Acórdão da Relação de Lisboa de 7 de Outubro de 1993, in CJ, ano XVIII, tomo IV, p. 135)».29 Nesta sequência, não se tratando de uma inovação mas da consagração do regime geral, vigente neste domínio, no projecto de revisão do regime 24 25 26 27 28 29 Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, cit., p. 551; Pinto Monteiro, Contrato de Agência. Anotação ao Decreto-Lei n.º 178/86, 5.ª edição, Almedina, Coimbra, 2004, anotações 3 e 4 ao art. 23.º pp. 108 e ss., e Contratos de Distribuição Comercial. Relatório, Almedina, Coimbra, 2002, p. 90. Pinto Monteiro, Contrato de Agência. Anotação ao Decreto-Lei n.º 178/86, cit., anotação 3 ao art. 23.º pp. 108 e 109. Acórdão do STJ de 18/12/2007 (Urbano Dias), proc. 07A4305, e Acórdão da Relação de Lisboa de 22/5/2007 (Isabel Salgado), CJ XXXII, Tomo III, p. 84. De modo diverso, no regime da Lei do Contrato de Seguro, a que se aludirá, encontra-se previsão específica para a representação aparente. Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, cit., p. 551. Pinto Monteiro, Contrato de Agência. Anotação ao Decreto-Lei n.º 178/86, cit., anotação 4 ao art. 23.º p. 109. O autor afirma o mesmo em Contratos de Distribuição Comercial. Relatório, cit., p. 90, e, em ambas as obras, cita abundante doutrina no mesmo sentido. Idêntica posição Acórdão do STJ de 15/3/2005 (Moreira Alves), CJ (STJ) XIII, Tomo I, p. 137. REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 53 dos seguros – Lei do Contrato de Seguro, Projecto30 –, a propósito da mediação de seguros (arts. 28.º e ss.), prescreve-se um regime de representação aparente (art. 30.º), similar ao constante do diploma da agência. O projecto – à data da emissão do parecer – veio a ser aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril, constando a representação aparente do art. 30.º da Lei do Contrato de seguro (LCS). No citado art. 30.º da LCS dispõe-se: 1 – O contrato de seguro que o mediador de seguros, agindo em nome do segurador, celebre sem poderes específicos para o efeito é ineficaz em relação a este, se não for por ele ratificado, sem prejuízo do disposto no n.º 3. 2 – Considera-se o contrato de seguro ratificado se o segurador, logo que tenha conhecimento da sua celebração e do conteúdo do mesmo, não manifestar ao tomador do seguro de boa fé, no prazo de cinco dias a contar daquele conhecimento, a respectiva oposição. 3 – O contrato de seguro que o mediador de seguros, agindo em nome do segurador, celebre sem poderes específicos para o efeito é eficaz em relação a este se tiverem existido razões ponderosas, objectivamente apreciadas, tendo em conta as circunstâncias do caso, que justifiquem a confiança do tomador do seguro de boa fé na legitimidade do mediador de seguros, desde que o segurador tenha igualmente contribuído para fundar a confiança do tomador do seguro. Apesar de este dispositivo não se encontrar em vigor à data dos factos, consagra doutrina tradicional, no sentido de tutela da confiança, razão pela qual a solução dele constante foi seguida no acórdão que se anota.31 Sendo a mediação de seguros uma forma de distribuição comercial e, portanto, um contrato de distribuição comercial,32 antes da entrada em vigor da Lei do Contrato de Seguro já se lhe aplicava o regime da representação aparente previsto no art. 23.º do Decreto-Lei n.º 178/86.33 30 31 32 33 O projecto, cuja consulta pública terminou no fim do passado mês de Setembro, encontra-se disponível na página do Ministério das Finanças e na página do Instituto de Seguros de Portugal. Sobre este preceito, veja-se a anotação de Eduarda Ribeiro, in Pedro Romano Martinez / Leonor Cunha Torres / Arnaldo da Costa Oliveira / Maria Eduarda Ribeiro / José Pereira Morgado / José Vasques / José Alves de Brito, Lei do Contrato de Seguro Anotada, 2.ª ed., Coimbra, 2013, pp. 166 ss. Vd. supra, assim como José Vasques, Novo Regime Jurídico da Mediação de Seguros, cit., pp. 68 e 69. Neste sentido, Acórdão da Relação de Coimbra de 14/12/2006 (Ana Luísa Geraldes) CJ XXXI, Tomo V, p. 113 (pp. 114-115). 54 PEDRO ROMANO MARTINEZ A figura da representação aparente, mesmo sem previsão específica no diploma sobre mediação de seguros, pelas razões indicadas, tem sido admitida e invocada amiúde,34 até porque a protecção do consumidor de seguros tem de ser tutelada nestas circunstâncias. IV. A representação aparente assenta na verificação de determinados pressupostos. Adaptando o disposto no art. 23.º do regime da agência à mediação de seguros – e hoje, por aplicação directa do art. 30.º da LCS –, dir-se-á que haverá representação aparente se tiverem existido razões ponderosas, objectivamente apreciadas, tendo em conta as circunstâncias do caso, que justifiquem a confiança do tomador de boa fé na legitimidade do mediador de seguros, desde que o segurador tenha igualmente contribuído para fundar a confiança do tomador. Estes dados encontram-se preenchidos no caso em apreço, pois o tomador do seguro confiou legitimamente na actuação daquele mediador, com o qual mantinha uma relação comercial estável e duradoura, e o segurador não podia desconhecer o modo de actuação deste mediador e pactuou com situações pouco correctas, em especial a aceitação, como sendo uma declaração negocial do tomador, do reenvio pelo mediador de um fax (forjado), com mais de um ano, com dados insuficientes. Concluindo, os actos jurídicos praticados pelo mediador são eficazes perante o segurador, mesmo que não tivessem sido conferidos poderes de representação por se estar perante uma situação óbvia de representação aparente, razão pela qual, nomeadamente o pagamento do prémio feito pelo tomador do seguro ao mediador, vale como tendo sido feito ao segurador. e) Representação para actos de execução do contrato I. Acresce ainda que no caso em análise não se discute se o mediador tinha poderes de representação para celebrar contratos de seguros, pois estes foram (indiscutivelmente) celebrados e titulados por apólices emitidas pelo segurador. Discute-se, sim, se o mediador tinha poderes para a prática de actos de execução dos contratos de seguro já validamente celebrados. Dir-se-ia que está em causa um poder de representação menos exigente; trata-se de poderes de representação unicamente para a prática de actos de execução dos contratos de seguros angariados, propostos e preparados pelo mediador, em particular para a cobrança de prémio. 34 José Vasques, Novo Regime Jurídico da Mediação de Seguros, cit., pp. 78 e ss., em especial, p. 83. REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 55 Como se viu na jurisprudência citada, há uma especial exigência quanto à outorga de poderes de representação para celebrar contratos de seguro e ainda para ajustar alterações supervenientes aos ditos contratos, nomeadamente quanto ao âmbito da cobertura. É isso que decorria do então vigente art. 4.º do Decreto-Lei n.º 388/91, que vedava a celebração de contratos de seguro por parte de mediadores, salvo no caso especial do n.º 2 do mesmo preceito. 35 Mas a mesma exigência não se justifica para a representação em actos de execução do contrato, como receber comunicações, maxime a participação de sinistros, prestar informações ou receber o pagamento de prémios. II. Quanto ao pagamento dos prémios, ao que foi referido anteriormente, acresce que o regime regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal – dando relevo ao princípio da representação aparente – prescreve que «o pagamento pontual do prémio do contrato de seguro, ao mediador expressamente designado pela seguradora para receber o prémio é liberatório para o tomador do seguro» (art. 5.º, n.º 1, da norma regulamentar do ISP n.º 17/94-R, de 6 de Dezembro, na redacção dada pela norma n.º 10/2000-R, de 29 de Setembro).36 Deste regime regulamentar, aplicável à situação em análise, decorre que o pagamento ao mediador vincula o segurador. Ora, do aviso de cobrança da seguradora, enviado ao tomador, consta que o pagamento pode ser efectuado no agente (mediadora). 3. Indícios de representação a) Relação entre tomador e mediadora O tomador do seguro só contactou a mediadora e foi com a intermediação desta que os contratos de seguro foram celebrados com a seguradora. Foi igualmente através da mediadora, mediante faxes com esta trocados, que se ajustou a data de início de cobertura; daí que os certificados provisórios, espelhando o acordo entre tomador e mediadora, foram emitidos e enviados pela seguradora sem nenhum contacto entre esta e o tomador. Por isso, a mediadora enviou ao tomador fax de 14/9/2001 solicitando que procedesse ao pagamento dos recibos emitidos pela seguradora; refira-se, a propósito, que na factura recibo emitida pela seguradora se afirmava – como é frequente neste âmbito – que o pagamento dos prémios podia ser efectuado junto da mediadora. 35 36 Veja-se igualmente o disposto na alínea f) do art. 8.º do Decreto-Lei n.º 388/91, onde se proíbe o mediador de assumir em seu nome a cobertura de riscos. Veja-se, nomeadamente, o art. 29.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, que revogou aquele diploma. A referida norma regulamentar pode ser consultada na página do Instituto de Seguros de Portugal (www.isp.pt). 56 PEDRO ROMANO MARTINEZ As subsequentes comunicações relacionadas com os contratos de seguro em análise foram trocadas entre o tomador e a mediadora, respondendo esta como tudo tratando junto da seguradora. A mediadora, na troca de comunicações com o tomador do seguro, de imediato, sem necessidade de prévia autorização da seguradora, comunicava que tudo estava resolvido; só no fax de 4 de Março de 2003, a mediadora informa que foi dado o «devido andamento ao processo, junto da Companhia de Seguros». O tomador limitou-se a comunicar o sinistro à mediadora e esta recebeu a participação do sinistro e deu a entender que estava a diligenciar a respectiva regularização indicando que o processo se encontrava pendente para análise. O tomador só contactou directamente a seguradora quando achou que a regularização do sinistro estava a tardar demasiado tempo. b) Relação entre mediadora e seguradora I. No plano geral, é de atender à informação ao público prestada pela seguradora na sua página na Internet, onde se indica que os agentes podem «Emitir e alterar apólices no momento», «Actualizar dados do cliente» e «Gerir a sua carteira». Nessa mesma publicidade, a seguradora ainda informa os clientes que podem contactar a empresa, nos seus escritórios, ou o agente. Esta publicidade é um indício de outorga de poderes de representação, ainda que limitados a certos actos, e da mesma publicidade resulta, indiscutivelmente, uma situação de representação tolerada. II. Quanto a aspectos concretos da relação estabelecida entre a seguradora e a mediadora, importa realçar os seguintes. Os contratos de seguro em causa foram angariados e preparados pela mediadora, actuando esta em benefício da seguradora. Nesta sequência, a seguradora, por fax de 10/9/2001, envia à mediadora a relação dos prémios que deviam ser pagos. Apesar de ter considerado os contratos resolvidos entre Setembro e Novembro de 2001, só em Julho de 2002 a seguradora contactou a mediadora (e não o tomador do seguro) para saber o que se passava com os contratos de seguros em causa, cujos prémios não havia recebido. Nesse contacto, a seguradora acreditou numa «história» contada pela mediadora quanto à vontade do tomador – manifestada em Agosto ou Setembro de 2001 – no sentido de suspender um dos contratos de seguro por ter devolvido a embarcação principal em razão de defeitos de construção. REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 57 A seguradora confiou igualmente nessa manifestação de vontade do tomador do seguro, comunicada pelo mediador através do reenvio de um fax. Este fax, supostamente enviado pelos mandatários do tomador do seguro, teria sido recebido pelo mediador a 8 de Agosto de 2001, mas só foi reenviado ao segurador em Julho de 2002; além disso, o referido fax não continha indicações respeitantes aos contratos de seguro a suspender e, principalmente, era manifestamente forjado. A seguradora, na sua relação com a mediadora, confiou em tudo isto. Com base nestas informações da mediadora, a seguradora reconsiderou a resolução dos contratos e passou a entender que um deles se encontrava suspenso, razão pela qual enviou nova factura para pagamento de prémio. Tendo a seguradora enviado cópia desta factura ao mediador, mas nem sequer contactou o tomador ou lhe enviou comunicação indicando que aceitava a suspensão do contrato. Mais, aceitou a suspensão de um dos contratos e nada questionou quanto aos outros dois contratos de seguro. Ficou provado que a seguradora não tinha conferido poderes à mediadora para aceitar o risco ou a cobertura, cabendo-lhe receber e encaminhar propostas recebidas dos clientes. Mas isto não exclui que decorressem da relação comercial entre segurador e mediador poderes de representação na execução de contratos (menos exigente do que para a celebração ou modificação do contrato), tendo ficado provado que recebia e reencaminhava declarações de vontade, nomeadamente que recebeu, via mediadora, a participação do sinistro, e que procedia à gestão de sinistros. III. Quanto aos indícios de representação da mediadora, no que respeita ao pagamento de prémios de seguros, cabe, ainda, atender ao número 80.º da base instrutória e à sua resposta. Do quesito 80.º consta: «A 2.ª R estava autorizada pela 1.ª R a cobrar o pagamento dos prémios?», tendo ficado não provado. A primeira dúvida que se coloca respeita à possibilidade de se questionarem na base instrutória aspectos de direito; estar ou não uma entidade autorizada a praticar certos actos jurídicos não é matéria de facto. Da referida base instrutória constavam outras questões que não respeitavam a matéria de facto (números 41.º e 45.º) que, por esse motivo, não foram respondidas. A isto acresce que a resposta a esta questão, de algum modo, contradiz o que consta de documentos juntos ao processo: dos avisos cobrança de recibos, emitidos pela seguradora, constava que o pagamento podia ser feito ao agente (mediadora). Assim, pode ler-se a resposta a este quesito (80.º), conjugada com os documentos juntos ao processo, do seguinte modo: a seguradora não autorizou a mediadora para receber prémios de seguros, fazendo-os entrar na conta corrente entre as empresas, 58 PEDRO ROMANO MARTINEZ mas permitia que os clientes fizessem o pagamento directamente à mediadora, com a obrigação desta de entregar, de imediato, as importâncias recebidas à seguradora. III. Responsabilidade do segurador por actos do mediador 1. Responsabilidade do mediador Do art. 8.º do Decreto-Lei n.º 388/91 decorriam várias obrigações do mediador para com o tomador do seguro, tais como: a) Apresentar a modalidade de contrato que mais convenha ao caso específico deste; b) Prestar assistência ao contrato; g) Cobrar ou devolver os recibos que lhe forem entregues. Sendo o mediador responsável pelo incumprimento das suas obrigações, em especial a prevista na alínea g), assim como «pelos factos que lhe sejam imputáveis e que se reflictam no contrato em que interveio (art. 9.º do Decreto-Lei n.º 388/91).37 Independentemente do disposto nestes preceitos, o mediador seria responsável pela violação do contrato de prestação de serviços ajustado com o tomador. E na eventualidade de não ter sido celebrado um contrato de prestação de serviços entre o tomador do seguro e o mediador, este seria responsável pelas informações incorrectas prestadas e por se ter apropriado de verbas destinadas ao pagamento dos prémios, com base na responsabilidade pela confiança.38 A responsabilidade do mediador perante o tomador do seguro é indiscutível, não carecendo de maiores explicações. Mas o facto de o mediador ser responsável não exclui a existência de outros responsáveis (no caso, o segurador); a pluralidade de responsáveis – fora situações pontuais como na eventualidade de relevância negativa da causa virtual – não exclui a responsabilidade dos vários devedores para com o lesado, podendo, depois, segundo o direito de regresso, algum dos responsáveis primários ressarcir-se junto de outro responsável. 37 38 Vd. arts. 28.º e ss. do Decreto-Lei n.º 144/2006. A responsabilidade do mediador, nomeadamente do mediador de seguros, por actos negligentes relativamente a quem não é parte no contrato (tomador de seguro), com base na responsabilidade na confiança, encontra-se bem relatada em Carneiro da Frada, Teoria da Confiança e Responsabilidade Civil, Almedina, Coimbra, 2004, pp. 126 e ss., em especial, nota 105 (p. 129). REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 59 2. Responsabilidade do segurador pelos actos do mediador a) Responsabilidade por informações prestadas pelo mediador É importante realçar que, como consta da base instrutória (n.º 8), as declarações da mediadora permitiram fundar a convicção do tomador do seguro de que os contratos estavam válidos e vigentes. A responsabilização do segurador em caso de informações incorrectas prestadas ao tomador do seguro pelo mediador tem sido várias vezes discutida nos tribunais, com decisões nem sempre coincidentes. Já se entendeu que as informações prestadas pelo mediador não vinculam o segurador,39 mas também que há responsabilidade do segurador por informações erradas prestadas pelo mediador quanto à cobertura do seguro40 ou pelas declarações emitidas pelo mediador.41 A referida discrepância encontra duas justificações. Por vezes, entende-se que a responsabilidade do segurador por informações erradas do mediador está associada com a outorga de poderes de representação; mas este argumento, sendo válido para concluir pela existência de responsabilidade civil, não parece que, por si, seja suficiente para excluir o dever de indemnizar. De facto, ainda que o mediador não tenha poderes de representação do segurador, este pode ser responsável pelas informações prestadas por aquele, nomeadamente se o segurador utiliza o mediador para o cumprimento das suas obrigações relativamente ao tomador (art. 800.º, n.º 1, do CC), isto é, se transferiu para o mediador o dever de prestar certas informações contratuais. É conveniente ter em conta que o citado art. 800.º do CC não circunscreve esta situação de responsabilidade objectiva à representação, admitindo-a também em meros casos de auxílio no cumprimento de obrigações, sem poderes de representação. Por outro lado, como a responsabilidade do segurador por informações prestadas pelo mediador assenta na tutela do terceiro (tomador do seguro), que confiou no sujeito com quem contactou, está em causa uma especial tutela da confiança, que nem sempre se justifica em todos os casos de actuação de mediadores. 39 40 41 Acórdão da Relação de Guimarães de 12/7/2006 (Rosa Tching), proc. 1357/06-1. Acórdão da Relação do Porto de 22/11/2004 (Rui Ferreira), proc. 0454928. Acórdão da Relação de Coimbra de 31/5/2005 (Távora Vítor), CJ XXX, Tomo III, p. 5. No mesmo sentido, vejam-se as decisões judiciais citadas por José Vasques, Novo Regime Jurídico da Mediação de Seguros, cit., nota 263, pp. 78 e 79. 60 PEDRO ROMANO MARTINEZ Na questão em apreço é este o aspecto de particular relevo. Independentemente de o segurador ter conferido ao mediador poderes de representação, tendo em conta a relação existente entre segurador e mediador, por um lado, e o relacionamento entre tomador do seguro e mediador, por outro, a tutela da confiança do terceiro lesado (tomador) determina a responsabilização do segurador pelas informações incorrectas prestadas pelo mediador. Não se pode daqui concluir que os seguradores são sempre responsáveis pelas informações incorrectas prestadas pelos mediadores. Para tal é necessário que se justifique uma especial tutela de confiança do tomador do seguro, relacionada com a situação concreta e um comportamento negligente do segurador. Ora, o tomador, tendo em conta a relação continuada com o mediador, confiou na subsistência dos contratos de seguro e o segurador não actuou diligentemente ao só indagar junto do mediador da falta de pagamento dos prémios mais de um ano depois do respectivo vencimento e de ter confiado no teor de um fax, de aparência pouco fidedigna, reenviado pelo mediador, com dados incompletos, em que era solicitada a suspensão de um dos contratos, nada indagando quanto aos outros dois. b) Responsabilidade por não entrega dos prémios recebidos I. Quanto à responsabilidade do segurador em caso de ilícita apropriação por parte do mediador dos prémios que lhe foram pagos, importa atender aos termos já indicados na alínea precedente. A questão também pode ser discutida a propósito da representação. Assim, decidiuse não responsabilizar o segurador por actos do mediador, na medida em que este não tinha poderes de representação, pois limitava-se a aproximar as partes na feitura do contrato de seguro.42 Mas, tal como antes indicado, a responsabilidade do segurador por actos do mediador é autónoma da existência de poderes de representação. Importa verificar se há incúria do segurador e, especialmente, se existem ponderosas razões de tutela da confiança do terceiro lesado. A responsabilidade do segurador por actos do mediador, independentemente de haver ou não outorga de poderes de representação, baseada no dano de confiança encontra-se bem identificada em recentes decisões jurisprudenciais e na doutrina. 42 Acórdão da Relação de Coimbra de 23/3/2004 (Távora Vítor) CJ XXIX, Tomo II, p. 22. REPRESENTAÇÃO APARENTE NO ÂMBITO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 61 No Acórdão da Relação de Coimbra de 14 de Dezembro de 2006,43 considerou-se o segurador responsável pelo dano de confiança por o seu colaborador (mediador de seguros não exclusivo) não ter entregado a proposta de seguro recebida de um cliente. Neste caso, apesar de o segurador não ter conferido poderes de representação ao mediador de seguros e de este, por isso, não poder contratar em nome daquele, tendo em conta os princípios da boa fé e da tutela de terceiros, considerou-se o segurador responsável porquanto o mediador se apresentava como seu representante (embora não o sendo), tendo nisso o tomador do seguro confiado. Na doutrina, esta posição encontra particular desenvolvimento em MENEZES CORDEIRO.44 Como o autor refere, a confiança das pessoas é protegida desde o Direito romano e, no Direito português, além de disposições legais específicas (p. ex., arts. 266.º e 291.º do CC), há tutela da confiança em institutos gerais. Nomeadamente, a protecção da confiança encontra tutela na boa fé. Basta que haja uma situação de confiança – justificada e em que alguém investiu – e a imputação a outrem dessa situação de confiança. Havendo tutela da confiança responsabiliza-se aquele a quem se imputa essa situação. II. A situação em apreço conforma bem os pressupostos indicados. O tomador, por via da actuação do mediador, confiou legitimamente na celebração e manutenção em vigor de três contratos de seguro e desenvolve a sua actividade no pressuposto de ter essa cobertura. Ao segurador, tendo em conta a relação com o mediador e o facto de ter emitido as apólices de seguro e as facturas relativas aos prémios, imputa-se a mencionada situação de confiança, sendo, por isso, responsável. Valem as regras gerais da responsabilidade civil, nomeadamente no que respeita ao apuramento do dano. 43 44 Acórdão da Relação de Coimbra de 14/12/2006 (Ana Luísa Geraldes) CJ XXXI, Tomo V, p. 113. A solução não é pacífica e surge contestada no Acórdão da Relação de Lisboa de 22/5/2007 (Isabel Salgado), CJ XXXII, Tomo III, p. 84. Mas quanto a este último aresto é necessário atender aos factos: estava em causa a contratação de um seguro feita pelo mediador, sem ter havido qualquer contacto ou documento do segurador, pois o tomador pagou o valor indicado pelo mediador só recebendo em troca um papel deste e não do segurador. Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil Português, I, Parte Geral, Tomo I, 3.ª edição, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 409 e ss. O processo especial de tutela da personalidade, no Código de Processo Civil de 2013 MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA * Sumário 1. O Código de Processo Civil de 2013 reformulou o processo especial de tutela da personalidade, com o objectivo de aperfeiçoar a protecção urgente contra ameaças ou ofensas a direitos de personalidade. 2. Os traços essenciais dessa reformulação traduzem-se na retirada do âmbito da jurisdição voluntária e na previsão de uma providência cautelar integrada no próprio processo, que possibilita a adopção de medidas urgentes e provisórias, eventualmente sem contraditório prévio. 3. Os princípios da adequação formal e da gestão processual, possibilitando adaptações de tramitação e ritmos de processamento em função do caso concreto, poderão ampliar a abrangência e a utilidade do processo agora revisto, nomeadamente quando o requerente pretender deduzir um pedido de indemnização fundado na ameaça ou ofensa invocada no pedido de tutela e a cumulação não implicar o desvirtuamento da celeridade e simplificação do processo especial. I. Considerações gerais 1. Como tem sido recordado, em inúmeros trabalhos e repetidas sessões de comentário e debate das opções que assumiu, o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 1 de Setembro de 2013 resultou de um processo legislativo complexo, que começou por ter como objectivo a elaboração de um projecto de alteração pontual de disposições do Código anterior, julgadas desajustadas, mas terminou com a aprovaJURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 63-80. * Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça. 64 MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA ção de um Código formalmente novo, aprovado pela Assembleia da República na sequência da apresentação da Proposta de Lei nº 113/XII.1 Nesse processo de transformação, que incluiu alterações de sistematização das matérias – com repercussões relevantes, nomeadamente, na disciplina do processo especial de tutela da personalidade, retirado do âmbito da jurisdição voluntária2 –, mantiveram-se opções de fundo que poderão traduzir-se numa maior abrangência ou utilidade do referido processo. Penso nos princípios da adequação formal e da gestão processual e na sua aplicação combinada no âmbito dos processos especiais. No breve estudo que se segue procurar-se-ão explicar os motivos que levaram às alterações, descortinar a sua real extensão e concluir com uma breve apreciação do novo regime. 2. Afirma-se na Exposição de Motivos da Proposta de Lei nº 113/XIII que se pretendeu conferir “especial relevo à disciplina dos procedimentos cautelares e dos procedimentos autónomos urgentes, introduzindo-se na lei de processo relevantes inovações. É previsto um procedimento urgente, autónomo e auto-suficiente, destinado a possibilitar a obtenção de uma decisão particularmente célere que, em tempo útil, assegure a tutela efectiva do direito fundamental de personalidade dos entes singulares. Assim, opera-se um rejuvenescimento e alargamento dos mecanismos processuais de tutela da personalidade, no sentido de decretar, no mais curto espaço de tempo, as providências concretamente adequadas a evitar a consumação de qualquer ameaça ilícita e directa à personalidade física ou moral do ser humano ou a atenuar, ou a fazer cessar, os efeitos de ofensa já cometida, com a execução nos próprios autos”. Da análise do texto que veio a ser aprovado pela Lei nº 41/2013, de 26 de Junho, retira-se que este propósito se traduziu, por um lado, na introdução de alterações nos preceitos relativos ao (anterior) processo especial de “tutela da personalidade, do nome e da correspondência confidencial”, os (então) artigos 1474º e 1475º do Código de Processo Civil e, por outro, na deslocação desse processo especial do elenco dos processos de jurisdição voluntária para o primeiro lugar de entre os processos 1 2 Disponível em http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DiplomasAprovados.aspx O projecto de alteração que esteve na base da proposta, que já continha as alterações que hoje figuram nos artigos 878º a 880º do Código, mantinha-o na jurisdição voluntária, correspondendo aos artigos 1474º, 1475º e 1475º-A respectivos. Sobre esse projecto, veja-se João Paulo Remédio Marques, Alguns aspectos processuais da tutela da personalidade humana no novo Código de Processo Civil de 2013, in O Novo Processo Civil, Contributos da doutrina para a compreensão do novo Código de Processo Civil, Caderno I, 2ª ed., Centro de Estudos Judiciários, Lisboa, Dezembro de 2013, pág. 499 e segs., pág. 500 e segs. O PROCESSO ESPECIAL DE TUTELA DA PERSONALIDADE 65 especiais, mas de jurisdição contenciosa (artigos 878º a 880º do Código actual), designado como “tutela da personalidade”. 3. Começo todavia por observar que a leitura da Exposição de Motivos faz supor que se pretendeu aperfeiçoar a execução do comando constitucional do nº 5 do artigo 20º da Constituição, resultante da revisão constitucional de 1997, e que determina ao legislador que assegure “para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais”, “procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violação desses direitos”. Foi este imperativo de garantia da tutela judicial efectiva, como se sabe, que assumidamente3/4 esteve na base da introdução do “processo de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias”, na reforma do contencioso administrativo, como processo urgente e autónomo, embora subsidiário em relação aos procedimentos cautelares,5 e não limitado aos direitos, liberdades e garantias pessoais, em alargamento da exigência constitucional. O contexto em que ambos os procedimentos se inserem explicam facilmente as diferenças de concretização do mesmo direito à tutela judicial efectiva. O meio previsto no Código do Processo nos Tribunais Administrativos traduz-se numa intimação dirigida à Administração;6 o processo especial regulado no Código de Processo 3 4 5 6 Cfr. Exposição de Motivos que acompanhou a Proposta de Lei nº 92/VIII (Aprova o Código do Processo nos Tribunais Administrativos, revoga o Decreto-Lei nº 267/85, de 16 de Julho), na qual se escreveu, no ponto 15: “Merece, entretanto, destaque a introdução de um novo meio processual, destinado a dar cumprimento à determinação contida no artigo 20.º, n.º 5, da Constituição: a intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias (…)”, disponível http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=18673 Cfr. anotação XXIII ao artigo 20º da Constituição in, Jorge Miranda / Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, 2ª ed., Wolters Kluwer Portugal / Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pág. 453 e segs. Artigo 109º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei nº 15/2002, de 22 de Fevereiro. Segundo relata João Paulo Remédio Marques, Alguns aspectos processuais.. cit., pág. 504 e segs., as alterações propostas pela Comissão que elaborou o projecto que esteve na base da Proposta de Lei, que integrou, inspiraram-se “no artigo 109º, nº 1, do Código do Processo nos Tribunais Administrativos”. No fundo, é uma modalidade de amparo legal, sabendo-se que, entre nós, não foi constitucionalmente previsto o amparo constitucional, como o Tribunal Constitucional repetida e uniformemente tem afirmado, a propósito da configuração do recurso de constitucionalidade. Cfr, a propósito, o nosso estudo Subsistência do controlo difuso ou migração para um sistema concentrado de reenvio prejudicial, in Perspectivas de Reforma da Justiça Constitucional em Portugal e no Brasil, Almedina, Coimbra, 2012, pág. 89 e segs. e, para o direito ordinário, José Carlos Vieira de Andrade, A Justiça Administrativa (Lições), 8ª ed., Almedina, Coimbra, pág 275 e segs. e Maria Fernanda Maçãs, As formas de tutela urgente previstas no Código do Processo nos Tribunais Administrativos, in Revista do Ministério Público, ano 25, Out/Dez 2004, nº 100, pág. 41 e segs., pág. 48 e segs. 66 MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA Civil, não subsidiário relativamente aos procedimentos cautelares, desenrola-se entre particulares (ou entre particulares e entidades que, embora públicas, não intervêm no âmbito dos seus poderes de autoridade), permitindo a obtenção de medidas preventivas ou atenuantes de ofensas aos direitos abrangidos, mas que se discutem entre os mesmos. Acresce que não é nova a existência de um processo autónomo e expedito de tutela geral da personalidade, nem sequer a sua previsão no Código de Processo Civil, como se viu; por isso falo em intenção de aperfeiçoamento e não, apenas, de execução. II. Confronto com o anterior processo especial de tutela da personalidade, do nome e da correspondência confidencial (artigos 1474º e 1475º do Código de Processo Civil então vigente). Do confronto entre os dois regimes definidos saltam à vista duas diferenças, que vou começar por analisar: a deslocação para fora da jurisdição voluntária e a previsão de uma providência cautelar sem processamento autónomo, eventualmente sem contraditório prévio Concluído esse estudo, vou referir as outras diferenças agora introduzidas. 1. O processo especial de tutela da personalidade, do nome e da correspondência confidencial era um dos processos de jurisdição voluntária e correspondia a uma das vias possíveis de tutela judicial dos direitos de personalidade,7/8 a par das acções comuns (nomeadamente, de responsabilidade civil) e dos procedimentos cautelares (em regra, do procedimento cautelar comum, ou inominado), em tradução da previsão da possibilidade de obtenção de “providências (…) com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida” à “personalidade física ou moral” pelo nº 2 do artigo 70º do Código Civil; e assim era mantido no projecto que esteve na origem da Proposta de Lei nº 113/XII, como se observou já. É agora o primeiro dos processos especiais (artigos 878º a 880º do Código de Processo Civil). 7 8 Tendo como objectivo o processo constante do novo Código de Processo Civil, não se curarão aqui de meios especiais de tutela judicial previstos em áreas específicas. Também se não tratarão questões de natureza substantiva, como seja a de saber se, para além da ilicitude da ameaça, é ou não necessária a culpa do agente, para que a providência seja decretada. Inseridos no Código de Processo Civil, na sequência do Código Civil de 1966, pelo DecretoLei nº 47.690, de 11 de Maio de 1967, com a designação de tutela da personalidade, do nome e, seguramente por lapso, da correspondência oficial. O objectivo foi o de adjectivar as providências previstas no nº 2 do artigo 70º. O PROCESSO ESPECIAL DE TUTELA DA PERSONALIDADE 67 Deixou assim de estar sujeito às regras próprias da jurisdição voluntária, quer no que respeita à sujeição a princípios próprios, reveladores de que se pretende que o juiz disponha dos poderes necessários à melhor prossecução, em cada momento, do interesse fundamental cuja tutela lhe incumbe defender ou controlar, quer quanto à tramitação, decalcada sobre a dos incidentes (cfr. anterior Código de Processo Civil, artigo 1409º, nº 1 e actual nº 1 do artigo 986º) e, portanto, significativamente simplificada. Sucintamente, esta deslocação tem implicações no que respeita: – À delimitação entre os poderes das partes9 e do juiz, quanto aos factos de que o tribunal pode conhecer para julgar; – Ao critério de julgamento; – Ao valor das resoluções proferidas; – À admissibilidade de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça; – À inaplicabilidade legal das regras de tramitação dos incidentes. 2. Nos processos de jurisdição voluntária, o tribunal investiga livremente os factos que entender necessários à boa decisão da causa, sem estar dependente, directa ou indirectamente, de alegação das partes (nº 2 do artigo 986º do Código de Processo Civil). Ao sair do âmbito da jurisdição voluntária, o processo especial de tutela da personalidade passa a estar abrangido pelas regras gerais sobre os poderes de cognição do tribunal em matéria de facto, que, em termos simplificados, se poderão descrever desta forma: – Foi eliminada do Código de Processo Civil a afirmação genérica de que o tribunal está limitado pelos factos alegados pelas partes, constante do anterior artigo 664º; tal como desapareceu a referência ao princípio dispositivo, anteriormente incluída na epígrafe do (então) artigo 264º (correspondente hoje, no que agora releva, ao artigo 5º). Este desaparecimento não significa, nem poderia significar, a supressão do princípio, que é a tradução processual da natureza privada e disponível da generalidade dos direitos apreciados segundo as regras do processo civil, e que continua a informar pontos basilares do regime aplicável à generalidade das acções (princípio do pedido, limitação dos poderes de cognição do tribunal, admissibilidade de negócios processuais, para além de outros); 9 Utiliza-se este termo no sentido de sujeitos do processo; não se está a adoptar qualquer posição sobre a natureza dos processos de jurisdição voluntária, muitas vezes apresentados como processos sem partes. 68 MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA – No que respeita aos factos, mantém-se o ónus da alegação (e a consequente impossibilidade de conhecimento oficioso pelo tribunal) quanto àqueles que constituem a causa de pedir ou nos quais se baseiam as excepções (nº 1 do artigo 5º do Código); – Tratando-se de factos complementares ou concretizadores da causa de pedir ou da excepção, o tribunal pode utilizá-los para julgar, quer tenham sido alegados, quer resultem da instrução da causa, presumindo-se o consentimento da parte a que beneficiam (nº 2 do mesmo artigo 5º);10 – Não dependem de alegação os factos instrumentais ou indiciários (mesmo nº 2). Tendo fundamentalmente uma função probatória, vale quanto a eles a regra de que o tribunal os pode conhecer tenham ou não sido alegados; neste caso, também desde que venham ao seu conhecimento pela instrução. Note-se que, quer na jurisdição voluntária, quer na jurisdição contenciosa, o tribunal dispõe de poderes inquisitórios em matéria de prova, embora se possa detectar uma diferença de grau entre uma e outra (cfr. artigos 411º e 986º, nº 2). Estas distinções, que traduzem a diferente função dos diversos factos e que poderão nem sempre ser de fácil concretização, têm hoje que ser consideradas no processo especial de tutela da personalidade; o que pode implicar uma dificuldade acrescida e significa, seguramente, uma diminuição dos poderes do tribunal. Uma deficiente alegação poderá ter consequências diferentes da que teria, caso se mantivesse a aplicação do princípio da livre investigação pelo tribunal. Mesmo que se entenda que os princípios da adequação formal e da gestão processual – ou, como suponho que será mais adequado, uma correcta compreensão do princípio da prevalência do fundo sobre a forma – permitem um convite à correcção dos articulados, adequadamente inserido na tramitação do processo, sempre haverá que respeitar os limites da possibilidade de correcção, numa aplicação adaptada do disposto no artigo 590º, n os 3 e segs.11 3. No âmbito da jurisdição voluntária, o tribunal decide segundo critérios de conveniência e oportunidade (não de equidade, nem de direito estrito). Naturalmente que esta regra, que mais uma vez se explica pela intenção de dotar o tribunal das ferramentas adequadas à melhor prossecução do interesse único ou dominante no concreto processo que estiver em causa, não vale para os pressupostos (processuais ou 10 11 Trata-se de uma presunção que, segundo penso, pode ser afastada, mediante declaração do interessado de que não pretende que o tribunal utilize o facto para julgar. Embora tenha sido eliminada a alegação a posteriori, considerada pelo anterior nº 3 do artigo 264º como condição dessa utilização (“desde que a parte interessada manifeste vontade de deles se aproveitar …”)., suponho que deve prevalecer a disponibilidade da parte. Tendo em conta a tramitação simplificada do processo especial de tutela da personalidade, o momento adequado ao convite será o da audiência, perante o requerimento inicial e a contestação. O PROCESSO ESPECIAL DE TUTELA DA PERSONALIDADE 69 substantivos) da decisão, mas apenas para esta última. Os pressupostos são estritamente vinculados. Admito que, da conjugação entre o nº 2 do artigo 70º do Código Civil (“a pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer providências adequadas às circunstâncias do caso”) com o nº 4 do artigo 879º do Código de Processo Civil (“o tribunal determina o comportamento concreto a que o requerido fica sujeito”), se possa concluir no sentido de que se mantém o afastamento do princípio de que o tribunal está limitado qualitativa e quantitativamente pelo pedido formulado (nº 1 do artigo 609º do Código de Processo Civil), devendo continuar a determinar-se, na decisão, segundo a conveniência e a oportunidade. Mas a verdade é que o intérprete tem de atribuir um significado consistente à deslocação do processo para a jurisdição contenciosa; e um dos objectivos poderá ter sido, precisamente, o de obrigar a interpretar o nº 2 do artigo 70º do Código Civil e o nº 4 do artigo 879º do Código de Processo Civil à luz da limitação ao pedido e à legalidade estrita (artigo 4º do Código Civil e 607º, nº 3, do Código de Processo Civil). 4. Nos processos de jurisdição voluntária, vigora a regra da modificabilidade das resoluções tomadas, em conformidade com uma eventual superveniência de factos (objectiva ou subjectiva) que justifique a alteração. Tem-se dito que não adquirem força de caso julgado, ainda que se tenham esgotado os recursos admissíveis, ou que não haja sido interposto recurso (cfr. artigos 619º, 628º, 988º, nº 1). Mais uma vez, é a melhor defesa do interesse relevante que assim se permite; pensese, por exemplo, na modificação das decisões de regulação do exercício das responsabilidades parentais e, no âmbito dos direitos de personalidade, na possibilidade de modificação dos horários de funcionamento de um estabelecimento que perturba o descanso dos habitantes do prédio onde se situa, por exemplo, em virtude de ter sido melhorado o sistema de isolamento ou, em geral, de uma medida de execução duradoura. Suponho que esta susceptibilidade de modificação foi eliminada. O Código actual apenas prevê a possibilidade de modificação da “decisão provisória” referida no nº 3 do artigo 879º; admito que se possa sustentar a aplicação do regime da renovação da instância, em caso de obrigações duradouras, previsto pelo nº 2 do artigo 282º do Código de Processo Civil. 5. Das resoluções tomadas segundo critérios de conveniência e oportunidade não cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça (nº 2 do artigo 988º do Código de Processo Civil). Trata-se de uma restrição decorrente da limitação dos poderes de controlo deste Tribunal, que apenas conhece de direito (artigo 682º do Código de Processo Civil) e que o Supremo Tribunal de Justiça é frequentemente chamado a interpretar, desde que se substituiu a regra de que não havia em caso algum recurso 70 MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA para o Supremo Tribunal de Justiça no âmbito da jurisdição voluntária, vigente até à reforma de 1995/1996.12 A restrição deixa de valer, naturalmente; o que não significa que a fiscalização que o Supremo Tribunal de Justiça pode exercer sobre o critério de conveniência e oportunidade do mérito da decisão de que se interpõe recurso de revista tenha a mesma amplitude que o controlo de legalidade. 6. O Código de Processo Civil definia a tramitação deste processo, como se disse já, mediante remissão para o regime dos incidentes e pelo artigo 1475º, que apenas determinava que o requerido tinha de ser citado e, que, quer contestasse, quer não, se decidia “após a produção das provas necessárias”. Deixando de lado, por enquanto, a inclusão neste processo de uma (eventual) providência cautelar, salientam-se os seguintes pontos, dentro da tramitação especificamente definida pelo artigo 879º: – As provas devem ser oferecidas com o requerimento inicial ou com a contestação. O mesmo se verifica, aliás, quer no processamento dos incidentes (nº 1 do artigo 293º), quer no processo declarativo comum, embora com possibilidade de alteração posterior (cfr. 552º, nº 2 e 572º, d)); – Não se fixa um prazo determinado para a apresentação da contestação, salvo se tiver sido proferida uma decisão provisória, sem citação prévia do requerido (nºs 1, 2 e 6 do artigo 879º). Caberá ao tribunal ponderar cuidadosamente, quer a conveniência da sua audição, sem esquecer que o princípio basilar é o do contraditório (artigo 3º do Código de Processo Civil), quer o prazo em que há-de marcar a audiência, que pode realizar-se “num dos 20 dias subsequentes” à entrada do requerimento inicial e na qual, tendo sido citado, o requerido pode apresentar a defesa.13 A não fixação genérica de prazo de realização da audiência permite indiscutivelmente uma melhor adaptação ao caso concreto; mas pode traduzir-se numa séria 12 13 Estou a referir-me ao nº 2 do artigo 1411º do Código de Processo Civil, na redacção anterior a essa reforma, interpretado pelo Assento nº 2/1965: “Nos processos de jurisdição voluntária em que se faça a interpretação e aplicação de preceitos legais em relação a determinadas questões de direito, as respectivas decisões são recorriveis para o Tribunal Pleno, nos termos do artigo 764º do Código de Processo Civil”, disponível em www.dgsi.pt, como processo nº 060184 ou no Boletim do Ministério da Justiça nº 146, pág. 325 e segs. Rita Cruz, Algumas notas à Proposta de alteração do processo especial de tutela urgente da personalidade, A Reforma do Processo Civil 2012, Contributos, in Revista do Ministério Público, cadernos, 11, 2012, Lisboa, 2012, pág. 63 e segs., pág. 69, sustenta mesmo que a falta de determinação do prazo da contestação “não garante a igualdade processual entre as partes na apresentação quer dos factos quer das provas”. O PROCESSO ESPECIAL DE TUTELA DA PERSONALIDADE 71 limitação da defesa, se for marcada com uma antecedência que impossibilite ou dificulte desproporcionadamente a defesa cabal do requerido. Nomeadamente, o tribunal deverá ter em conta eventuais indícios de uma conduta processual menos correcta, no que toca à escolha do momento da apresentação do requerimento e à pressa ou urgência da decisão, exigindo ao requerente a devida consideração dos interesses da parte contrária e a diligência adequada às circunstâncias do caso; – Na audiência, se o objecto do pedido estiver na sua disponibilidade e se o requerido tiver sido citado e comparecer, ou se estiver representado por mandatário com poderes para o efeito, o juiz deverá tentar obter a conciliação das partes e, se esta falhar, produz-se a prova e é proferida decisão. O prazo em que o processo é decidido dependerá da maior ou menor complexidade da prova; – A anterior remissão para o regime dos incidentes permitia saber qual o número de testemunhas que cada parte podia apresentar (cinco, de acordo com o nº 1 do artigo 294º, tal como “nas acções de valor não superior à alçada do tribunal de primeira instância” – nº 1 do artigo 511º). A falta de remissão parece conduzir à aplicação do regime do processo comum (dez, em regra, mesmo nº 1 do artigo 511º); note-se que os poderes conferidos ao juiz, nesta matéria, apenas lhe possibilitam admitir um maior número de testemunhas (nº 4) e que a deslocação do âmbito da jurisdição voluntária exclui a regra, constante do nº 2 do artigo 986º, de que “só são admitidas as provas que o juiz considere necessárias”. Suponho que os princípios da adequação formal e da gestão processual não podem justificar a fixação de um limite de testemunhas inferior ao legal; tenha-se em conta, nomeadamente, que a “admissibilidade de meios probatórios” é um dos limites à irrecorribilidade das decisões proferidas neste âmbito. Não deixa todavia de ser contraditório com a intenção de aperfeiçoamento da tutela célere dos direitos de personalidade a admissibilidade de dez testemunhas por cada parte, por confronto com o processamento anterior, que o legislador de 2013 julgou ser insuficiente e carecer de reformulação. Admite-se, assim, que se possa aplicar o regime previsto para as providências cautelares e, por esta via (nº 3 do artigo 365º e nº 1 do artigo 294º), limitar a cinco esse número. Esta aplicação fundamenta-se na circunstância de o novo processo de tutela da personalidade conter a hipótese, já enunciada, de uma providência cautelar inserida no processamento (nº 5 do artigo 879º). Ora a eventualidade de a decidir, mediante uma decisão provisória, pressupõe “o exame das provas oferecidans pelo requerente”; – A sentença deve ser “sucintamente fundamentada” (nº 3 do artigo 879º); cfr. artigo 295º e a remissão para o artigo 607º, embora acompanhada da indicação da necessidade de proceder às devidas adaptações. 72 MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA 7. Analisadas as implicações da deslocação, sou levada a concluir que não terá sido a melhor opção, porque afastou a possibilidade de aplicação de regras que me parecem manifestamente adequadas à melhor tutela dos direitos em causa. É certo que têm sido apontados inconvenientes ao regime anterior, dos quais saliento os seguintes: – Por regra, os processos de tutela da personalidade respeitam a situações de conflito entre direitos, o que torna inadequada a inserção na jurisdição voluntária;14 – A inclusão na jurisdição voluntária impede a cumulação da medida requerida, preventiva ou atenuante de uma ofensa ao direito de personalidade do requerente, com pedidos de indemnização decorrentes da mesma ofensa.15 8. É incontestável que normalmente existe um conflito de direitos entre o requerente que inicia um processo de tutela de direitos de personalidade e o requerido. Mas suponho que a lei portuguesa, que optou por uma delimitação formal e não material do âmbito da jurisdição voluntária – são processos de jurisdição voluntária aqueles que a lei como tal qualifica –, há muito que se determina por razões de ordem prática. Ou seja: independentemente de não esquecer o critério material de distinção, qualifica como jurisdição voluntária os processos aos quais entende conveniente a aplicação das respectivas regras. Da consideração conjunta dos que assim foram seleccionados, o que concluímos é que se trata de processos relativos a interesses em si mesmos privados mas relativamente aos quais é de interesse público que o tribunal intervenha para definir a melhor forma de os tutelar;16 o que se alcança por uma de três vias: adopção de medidas directas pelo tribunal (ex: regulação responsabilidades parentais), como seria o caso da tutela preventiva ou atenuante de ofensas à personalidade, integração de actos de particulares (mediante homologações, autorizações ou suprimentos de vontade) ou verificação da regularidade de actos de particulares (ex: notificação para preferência). 14 15 16 Como dá nota Rita Cruz, op. cit., pág. 65, citando o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 6 de Julho de 1989, in Colectânea de Jurisprudência, 1988-IV, pág. 192 e segs., segundo o qual “Para prevenir o dano que representa ofensa dos direitos de personalidade, prevê a Lei a forma de processo do art. 1474º do C.P.Civil, a acção comum para a resolução e reparação e resolução do conflito de direito do art. 335º do C. Civil” (pág. 193). Desenvolvendo o problema, face à lei anterior, Pedro Pais de Vasconcelos, Direito de Personalidade, Almedina, Coimbra, Novembro, 2006, págs. 135-136. Processo Civil, Processos de Jurisdição Voluntária in Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado. O PROCESSO ESPECIAL DE TUTELA DA PERSONALIDADE 73 Trata-se frequentemente de situações de conflito, mas que a lei pretende que sejam solucionadas de modo a prosseguir o interesse que, do seu ponto de vista, deve prevalecer. Atente-se, nomeadamente, no significado da inserção dos processos relativos ao exercício de direitos sociais no âmbito da jurisdição voluntária, que em regra têm subjacentes situações de conflito agudo. O que esta observação pode traduzir é antes a da eventual inadequação de um processamento tão simplificado para dirimir conflitos complexos, para cuja adequada resolução, por exemplo, se exija prova também ela complexa. Pense-se, por exemplo, num conflito entre o direito ao repouso e o direito de iniciativa económica privada.17/18 Suponho, todavia, que essa observação continua a ser fundada, não obstante a retirada da jurisdição voluntária, porque se mantém uma tramitação bastante simplificada, por confronto com a acção declarativa comum. Apesar de se ter introduzido na lei a possibilidade de obtenção de uma medida rápida e provisória, dentro do próprio processo de tutela da personalidade, e de ter sido conferido ao juiz o poder de adaptar ao caso concreto a tramitação abstractamente aplicável, continuará seguramente a colocar-se a questão de saber se não será contraditório com a razão de ser da manutenção de um processo simples e expedito permitir-lhe aproximá-lo da tramitação do processo comum. 9. Também se observa que a inclusão na jurisdição voluntária impede, por exemplo, a cumulação com pedidos de indemnização fundados na mesma ofensa; ou que, de qualquer modo, esse impedimento resulta de se tratar de um processo especial, sendo certo que as acções de responsabilidade civil por violação ilícita e culposa de direitos de personalidade seguem a forma de processo declarativo comum. A observação tem pleno cabimento, naturalmente; e fundamenta-se nas exigências processuais relativas à admissibilidade de cumulação de pedidos. Com efeito, quando pretende evitar a consumação de uma ameaça ilícita ou a atenuar os efeitos de uma ofensa já concretizada e, simultaneamente, pedir a condena17 18 Cfr. o caso sobre o qual recaiu o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 2 de Fevereiro de 1998, www.dgsi.pt, proc. nº 9751142, no qual se contrapunham “os direitos à saúde e ao ambiente, como direitos de personalidade” e o “direito à laboração das instalações fabris”. Cfr., no entanto, o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21 de Junho de 2011, www.dgsi.pt, proc. nº 2345/10.2YXLSB.L1-1, no qual se afirmou expressamente que “O facto do processo especial de tutela de personalidade previsto nos artos 1474º e 1475º do CPC ser expedito e simplificado, não proíbe antes aconselha o meio processual agora em apreço, designadamente, quando há um conflito com a administração do prédio e restantes condóminos, os quais se opõem a instalação da cadeira elevatória no prédio onde todos vivem.” 74 MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA ção do agente no pagamento de uma indemnização, o interessado depara-se com o obstáculo da diversidade de formas de processo, que o novo Código de Processo Civil mantém como condição da cumulação de pedidos;19 obstáculo esse que acaba por conduzir à propositura de uma acção comum de indemnização na qual se formulam simultaneamente o pedido de indemnização e de cessação da ofensa, ou de proibição de condutas que possam traduzir-se em ofensas, com uma providência cautelar associada, caso se verifiquem os respectivos pressupostos.20 É claro que esta opção pressupõe que não seja obrigatório o recurso ao processo especial de tutela da personalidade, em caso de coincidência (no caso, parcial) de objectos. O obstáculo existe e, em abstracto, funciona nos dois sentidos, ou seja, quer a acção seja proposta como acção de responsabilidade, segundo o processo comum, quer o autor opte pela via do processo especial de tutela da personalidade; e não resulta da qualificação (ou não) de jurisdição voluntária.21 Será interessante fazer a ponderação a que se alude no final do ponto anterior: até que ponto a consagração simultânea dos princípios da adequação formal e da gestão processual permitirá ultrapassar obstáculos formais desta natureza. É provavelmente certo que a vantagem se encontraria, desde logo, na circunstância de, quer o pedido de providência, quer o pedido de indemnização, se basearem na mesma ofensa; mas é igualmente certo que o processamento da acção teria de sofrer a adaptação indispensável à correcta apreciação dos pressupostos da responsabilidade civil e do cálculo da indemnização adequada, o que dificilmente se ajustaria ao objectivo de simplicidade e de celeridade pretendido com a redução do processo especial ao mínimo indispensável de complexidade. Poder-se-ia eventualmente sugerir que, em execução do princípio da gestão processual, se obviasse a esse inconveniente organizando o processo em etapas sucessivas, resolvendo em primeiro lugar o pedido destinado a evitar a ameaça (proibição de publicação, por exemplo) ou a fazer cessar a ofensa em curso (encerramento do 19 20 21 Por razões evidentes, uma vez que a tramitação a seguir há-de ser adequada a todos os pedidos e apreciação numa mesma acção, a lei exige sempre como condição da pluralidade de pedidos (cumulação, reconvenção, coligação…), quer que o tribunal seja absolutamente competente para conhecer de todos eles, quer que a forma de processo não seja diferente (ou, pelo menos, “manifestamente incompatível”, inviabilizando a adequação formal) – cfr., artigos 37º, nos 2 e 3, 266º, nº 3, 553º, 555º do Código de Processo Civil). Sobre o objectivos dos diversos meios disponíveis, cfr. o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Junho de 2007, www.dgsi,pt, como proc. nº 07A2022. Tiago Soares da Fonseca, Da tutela judicial civil dos direitos de personalidade, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 66 (2006), vol. I, Janeiro, disponível em www.oa.pt, escrevendo a propósito da lei anterior e tendo em conta o artigo 470º do Código de Processo Civil anterior, sustenta que a cumulação era uma prática contra legem. O PROCESSO ESPECIAL DE TUTELA DA PERSONALIDADE 75 estabelecimento que produz ruído) e, seguidamente, o pedido de indemnização; o princípio da gestão processual, especialmente se for combinado com o da adequação formal, possibilita ao juiz separar questões, segundo a sua premência ou prejudicialidade, por exemplo, e ir decidindo parcelarmente a causa, ou separando a prova e a discussão em blocos, como for mais adequado. A forma ampla como estes princípios estão consagrados parece inculcar que o juiz pode introduzir as alterações que considere ajustadas, sempre com respeito dos limites do fim que prosseguem – julgamento da causa num prazo razoável – e dos princípios do contraditório e do processo equitativo, da igualdade e da proporcionalidade. A inclusão da providência cautelar, prevista no nº 5 do artigo 879º do Código de Processo Civil, permitiria não frustrar a eventual urgência das medidas preventivas ou atenuantes requeridas. Na verdade, porém, esta solução só se torna necessária se a previsão do processo especial de tutela da personalidade impedir a obtenção das medidas a que corresponde através da via do processo comum; e se a medida cautelar do nº 5 do artigo 879º citado excluir a admissibilidade de uma providência cautelar comum. Não tem sido esse o sentido da jurisprudência22 e provavelmente não se justificará uma mudança de orientação; o que naturalmente implica que se aceite o desvio à regra de que o processo comum só é aplicável na falta de processo especial (nº 2 do artigo 546º do Código de Processo Civil) e que o processo de tutela da personalidade é de utilização facultativa, solução que, além do mais, permite ao requerente ponderar se a sua simplicidade é compatível com a devida apreciação da sua pretensão. Se assim for, parece que lhe será permitido optar por qualquer das vias até hoje admitidas: propositura do processo especial de tutela da personalidade ou de uma acção comum com uma providência cautelar associada, se houver urgência; na segunda alternativa, cumulando ou não um pedido de indemnização. Ou a propositura do processo especial seguido de uma acção comum de indemnização, beneficiando do caso julgado parcial. 10. De entre as demais alterações introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2013, começo por salientar a que me parece mais positiva, que reforça a natureza expedita do processo especial e, portanto, a sua eficácia: a previsão de uma provi- 22 Cfr, a título de exemplo, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22 de Outubro de 1998, www.dgsi.pt, proc. nº 97B1024, no qual se condenou uma empresa que explorava um campo de tiro aos pratos, próxima de uma zona residencial, a cessar essa actividade, conforme pedido, em defesa do “direito ao repouso, à saúde, ao sossego, a todas aquelas faculdades que integram e comandam a necessidade de recuperação fisiológica do ser humano (…)”. 76 MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA dência não autónoma, no sentido de se inserir no próprio processo, de natureza cautelar e irrecorrível, em caso de “possibilidade de lesão iminente e irreversível da personalidade física ou moral” do requerente (nos 5 e 6 do artigo 879º).23/24 Permite-se agora que o tribunal, eventualmente sem contraditório prévio, profira uma decisão provisória, se as provas oferecidas pelo requerente demonstrarem “a possibilidade de lesão iminente e irreversível da personalidade física ou moral” do mesmo. O contraditório prévio só poderá ser dispensado em situações de especial urgência; e a decisão provisória apenas deverá ser tomada se o tribunal não dispuser de elementos para decidir o pedido (se “não puder formar uma convicção segura sobre a existência, extensão, ou intensidade da ameaça ou da consumação da ofensa”). Não creio que o texto seja particularmente claro, quanto à inserção da providência na tramitação, em particular quanto a saber como se articula com a audiência de contestação e de produção de prova. Suponho, no entanto, que o regime desenhado pressupõe que o interessado requeira a emissão da decisão provisória, cabendo então ao tribunal marcar uma audiência de produção da prova oferecida apenas pelo requerente, sem citação do requerido, uma vez que é em função dessa apreciação que o tribunal pondera se deverá ou não definir a medida provisória (corpo do nº 5), e se a especial urgência do caso impõe a dispensa de contraditório prévio. Realizada a audiência, e consoante a conclusão a que chegar, ou decreta a medida, ou determina a citação do requerido. Se, requerida a medida provisória e citado o requerido, forem necessários mais elementos para a decisão definitiva, pode também ser decretada uma composição provisória do litígio. 23 24 Fica por esta via resolvida a dúvida que se levantava quanto à possibilidade de requerer providências cautelares associadas ao processo especial, questão de especial relevância porque o processo especial anterior não dispensava em caso algum a citação do requerido. Sendo difícil essa citação, a utilidade do processo era diminuta ou nula, em casos de urgência, forçando os interessados a recorrerem às providências cautelares, seguidas da propositura da acção principal. Trata-se de um mecanismo semelhante ao que existe, por exemplo, quanto à suspensão imediata de titulares de órgãos sociais, no processo de, destituição de titulares de órgãos sociais, incluído na jurisdição voluntária (artigos 1053º e segs.). Também aí se encontra prevista uma providência cautelar dentro de um processo especial, que pode ser decretada sem audição prévia do requerido (artigo 1055º); e aproxima-se, no fundo, da relação que, no Código do Processo nos Tribunais Administrativos, se estabelece entre a intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias e a possibilidade de decretamento provisório de uma providência cautelar, prevista no artigo 131º do mesmo Código (cfr. nº 1 do artigo 109º). O PROCESSO ESPECIAL DE TUTELA DA PERSONALIDADE 77 Em qualquer dos casos, a decisão provisória é irrecorrível e há-de ser alterada ou confirmada no próprio processo especial. Suponho que o tribunal poderá deparar-se com a eventualidade de serem necessárias mais provas, ainda que determinadas oficiosamente (cfr. artigo 411º do Código de Processo Civil), ou de terem sido requeridas provas de produção demorada (prova pericial, por exemplo), que aconselhem uma medida provisória enquanto não estiverem concluídas. 11. Encontram-se ainda outras diferenças, a saber: a) Quanto ao âmbito do processo especial: – Esclareceu-se que o processo especial tem um âmbito de aplicação genérica, como meio judicial de tutela da personalidade e de execução do nº 2 do artigo 70º do Código Civil. Suscitava-se na verdade a dúvida, a meu ver infundada, sobre se o processo apenas se poderia aplicar à tutela preventiva ou atenuante dos direitos de personalidade especificados nos artigos 1474º e 1475º, inseridos numa secção cujo título era tutela da personalidade, do nome e da correspondência confidencial. Receio, no entanto, que suscite dificuldades a sua utilização em caso de protecção de cartas missivas confidenciais cujo destinatário faleceu, que deixou de ser especialmente referido (cfr. artigo 1474º, nº 3 do Código de Processo Civil anterior); embora entenda que devem ser ultrapassadas com a consideração de que o artigo 71º tutela a ofensa da personalidade de pessoas falecidas, com remissão expressa para as providências previstas no nº 2 do artigo 70º; – Afastou-se a sua aplicabilidade à tutela de direitos de personalidade de pessoas colectivas, aliás em sintonia com a letra do artigo 70º do Código Civil (“1. A lei protege os indivíduos…”);25 – Continua a comportar o pedido de providências preventivas (“evitar a consumação”) e de providências destinadas a atenuar os efeitos de ofensa já cometida, esclarecendo-se agora que também se pode pretender fazer cessar uma ofensa em curso (já se devia considerar englobada, como medida atenuante); – Esclarece que a ofensa tem que ser ilícita e directa. Não creio que o Código de Processo Civil seja o local próprio à definição destes requisitos, de natureza substantiva. Para a escolha da via processual não se pode previamente averiguar se é lícita ou ilícita, ou directa ou indirecta a ofensa ou a ameaça alegada pelo requerente; 25 Claro que não está de forma alguma em causa saber se os direitos de personalidade podem ou não ser encabeçados em pessoas colectivas; apenas se trata do âmbito de aplicação deste processo especial. 78 MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA b) Quanto à legitimidade passiva: Numa preocupação de explicitar quem tinha legitimidade passiva neste processo especial, o Código de Processo Civil anterior referia-se ao “autor da ameaça ou ofensa”, àquele que “usou ou pretende usar” o nome ou ao “detentor da carta”. Suponho que essa especificação se explicava pela opção por um conceito de legitimidade que foi expressamente abandonado com a reforma do Código de Processo Civil de 1995/1996, em alteração ao (então) nº 3 do artigo 26º, correspondente ao actual nº 3 do artigo 30º. A ausência de qualquer indicação significa que são plenamente aplicáveis as regras gerais sobre legitimidade (activa ou passiva). c) Quanto aos recursos: Pese embora a afirmação, no trecho já transcrito do preâmbulo da Proposta de Lei nº 113/XII, de que se trata de um procedimento urgente, não se encontra nenhuma indicação nesse sentido quanto ao processamento em 1ª Instância. Para ser processado como urgente, um processo tem de assim ser qualificado, tendo em conta as correspondentes implicações (cfr. por exemplo as regras de contagem ou de duração de prazos, nº 1 do artigo 138º, nº 3 do artigo 156º, nº 1 do artigo 162º, nº 1 do artigo 638º do Código de Processo Civil). Suponho que se justificaria o esclarecimento, nomeadamente quanto à medida provisória, que funcionalmente é uma providência cautelar; recorde-se que as providências cautelares são sempre urgentes (nº 1 do artigo 363º do Código de Processo Civil). Prevê-se, todavia, que os recursos seja “processados como urgentes” (nº 1 do artigo 880º), o que, para além do mais, significa que os prazos são reduzidos a metade (nº 1 do artigo 638º) e correm em férias (nº 1 do artigo 138º). Mas devem ser interpostos em férias, entendendo-se aplicável o nº 2 do artigo 137º (“actos que se destinem a evitar prejuízo irreparável”)? Admito que, em casos onde esteja em causa “evitar prejuízo irreparável”, o processo possa ser iniciado em férias; e que assim deva ser processado, até à decisão da medida provisória. Seria preferível ter esclarecido expressamente se, em 1ª Instância, o processo é ou não urgente. O PROCESSO ESPECIAL DE TUTELA DA PERSONALIDADE 79 d) Quanto à execução da medida decretada: esclarece-se hoje, no nº 2 do artigo 880º do Código de Processo Civil, que é executada nos próprios autos do processo especial, assim se resolvendo dúvida anterior, e sem necessidade de requerimento (oficiosamente), com liquidação imediata de sanção pecuniária compulsória, se tiver sido imposta ao requerido a realização de uma conduta. III. Confronto com as providências cautelares e conclusão. O processo especial de tutela da personalidade é um processo expedito, mas que se não confunde nem identifica com as providências cautelares, nem sequer com aquelas nas quais pode ser decretada a inversão do contencioso (cfr. artigo 369º e segs. do Código de Processo Civil), ou seja, a deslocação, para o requerido, do ónus de propositura da acção principal, sob pena de se consolidar como definitiva a medida que tiver sido decretada. É antes um processo definitivo e autónomo que, aliás, pode conter uma providência cautelar tramitada no próprio procedimento, como se viu já; mas que, no fundo, desempenha uma função preventiva, mesmo quando apenas se pretende a atenuação ou a cessação da ofensa ao direito do requerente. Em caso de urgência e não pretendendo, senão, uma das finalidades admitidas pelo nº 1 do artigo 878º do Código de Processo Civil, não se tendo como obrigatória a sua utilização, o requerente poderá optar pelo processo especial, requerendo eventualmente uma medida provisória e sem contraditório prévio, ou por uma providência cautelar comum, sendo-lhe provavelmente possível requerer a inversão do contencioso (nº 1 do artigo 169º citado). Se optar pela segunda via e conseguir que seja decretada a providência e a inversão, o efeito prático alcançado pode acabar por ser equivalente ao que conseguiria pela primeira, em caso de êxito; assim sucederia se o requerido não propusesse a acção principal, com o objectivo de demonstrar que o direito do requerente não existia (nº 1 do artigo 371º do Código Civil), pois se consolidaria a decisão proferida. Com esta especialidade, mantêm-se com o novo Código de Processo Civil as vias de tutela da personalidade individual anteriormente existentes e que exigem ao interessado uma ponderação entre as respectivas vantagens e inconvenientes, tendo em conta o caso concreto. A terminar, suponho que o balanço do novo regime permite tirar duas conclusões: positiva, quanto à inclusão de uma providência cautelar do próprio processo, abrindo uma via em abstracto mais expedita do que a conjugação entre uma acção comum e um procedimento cautelar (mas com a prevenção de que, contrariamente à justiça 80 MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA cautelar, o processo especial não é qualificado por lei como urgente, em 1ª Instância); mas também negativa, quanto à retirada do processo do âmbito da jurisdição voluntária. Bibliografia especificamente utilizada: – – – – – – – – – – – António Menezes Cordeiro, Os Direitos de Personalidade na Civilística Portuguesa, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Inocêncio Galvão Teles, Almedina, Coimbra, 2002, pág. 21 e segs.; João Paulo Remédio Marques, Alguns aspectos processuais da tutela da personalidade humana no novo Código de Processo Civil de 2013, in O Novo Processo Civil, Contributos da doutrina para a compreensão do novo Código de Processo Civil, Caderno I, 2ª ed., Centro de Estudos Judiciários, Lisboa, Dezembro de 2013, pág. 499 e segs.; Jorge Miranda / Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, 2ª ed., Wolters Kluwer Portugal / Coimbra Editora, Coimbra, 2010; José Carlos Vieira de Andrade, A Justiça Administrativa (Lições), 8ª ed., Almedina, Coimbra; Maria Fernanda Maçãs, As formas de tutela urgente previstas no Código do Processo nos Tribunais Administrativos, in Revista do Ministério Público, ano 25, Out/Dez 2004, nº 100, pág. 41 e segs.; Maria dos Prazeres Pizarro Beleza, Processo Civil, Processos de Jurisdição Voluntária in Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, 4, Verbo, Lisboa, 1997; Maria dos Prazeres Pizarro Beleza, Subsistência do controlo difuso ou migração para um sistema concentrado de reenvio prejudicial, in Perspectivas de Reforma da Justiça Constitucional em Portugal e no Brasil, Almedina, Coimbra, 2012, pág. 89 e segs. Pedro Pais de Vasconcelos, Direito de Personalidade, Almedina, Coimbra, Novembro, 2006; Rabindranath Capelo de Sousa, O Direito Geral de Personalidade, Coimbra Editora, Coimbra, 1995; Rita Cruz, Algumas notas à Proposta de alteração do processo especial de tutela urgente da personalidade, A Reforma do Processo Civil 2012, Contributos, in Revista do Ministério Público, Cadernos, 11, 2012, ed. do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Lisboa, 2012, pág. 63 e segs.; Tiago Soares da Fonseca, Da tutela judicial civil dos direitos de personalidade, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 66 (2006), vol. I, Janeiro, disponível em www.oa.pt A insolvência e a tutela do direito de retenção Em especial os casos do promitente comprador e do (sub)empreiteiro - Uma perspetiva prática BRUNO OLIVEIRA PINTO * Sumário * introdução – o direito de retenção * a declaração de insolvência e o direito do administrador a optar pelo não cumprimento * a tutela dos direitos do promitente comprador enquanto consumidor * o acórdão de fixação de jurisprudência de 20/03/2014 * os problemas advindos da não constituição da propriedade horizontal * a tutela dos créditos do (sub)empreiteiro * da não correspondência entre o crédito do (sub)empreiteiro e o preço da empreitada * conclusão – em defesa dos direitos de retenção do promitente comprador enquanto consumidor e do (sub)empreiteiro Prólogo Depois de já termos pronto e enviado para publicação o presente texto, o STJ proferiu o acórdão uniformizador de jurisprudência de 20/03/2014, relatado pelo Conselheiro Távora Victor, publicado no DR, Iª Série, de 19/05/2014, págs. 2882-2894. JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 81-100. * Juiz de Direito. 82 BRUNO OLIVEIRA PINTO Num primeiro momento, pareceu-nos que a utilidade do presente texto poderia estar em causa, uma vez que a situação em análise no mesmo estaria consolidada num determinado sentido pelo referido acórdão. No entanto, como resultará evidente da leitura do presente artigo, não só a decisão jurisprudencial referida apenas abarca uma parte da problemática contemplada neste texto, como também a leitura do citado aresto suscita dúvidas e interrogações que, não obstante o sentido da decisão, com o qual genericamente concordamos, devem ser ponderadas, posto que se nos afigura que a fundamentação dessa decisão deixa algum campo para crítica, como, de resto, logo se infere da profusão de declarações de voto que acompanham o mencionado acórdão. Assim, a par da exposição da nossa orientação sobre a matéria relativa ao direito de retenção do promitente comprador perante a insolvência do empreiteiro, que já constituía parte importante do presente texto, o mesmo passará também a incluir uma breve incursão crítica pela fundamentação do acórdão uniformizador, a qual sempre se imporia em função do entendimento por nós perfilhado a propósito do tema, corporizado no texto que já se encontrava produzido. 1. Introdução – o direito de retenção O presente texto, cujo conteúdo surge intimamente ligado à nossa atividade profissional quotidiana, visa acima de tudo proporcionar uma visão de caráter prático sobre questões que têm gerado grande controvérsia ao longo do tempo na doutrina e na jurisprudência (sendo esta, também por isso, alvo de atenção mais detalhada), mas que são, simultaneamente, matéria cuja ponderação a prática repetidamente suscita e que se reveste de inegável interesse para a comunidade jurídica e a sociedade em geral. O direito de retenção vem consagrado no art.º 754º do Código Civil, segundo o qual o devedor que disponha de um crédito contra o seu credor goza do direito de retenção se, estando obrigado a entregar certa coisa, o seu crédito resultar de despesas feitas por causa dela ou de danos por ela causados. A ideia subjacente a este instituto consiste em proporcionar a quem é devedor e simultaneamente credor um meio de garantia em relação às despesas efetuadas por causa da coisa que é objeto da prestação de entrega a que esse devedor está adstrito. Ou seja, este devedor goza da faculdade de reter a coisa até que o seu crédito seja pago. Só então estará plenamente obrigado a entregar a coisa ao credor. A INSOLVÊNCIA E A TUTELA DO DIREITO DE RETENÇÃO 83 Como refere Almeida Costa,1 o facto de o direito de retenção apenas poder ser exercido sobre bens suscetíveis de penhora, nos termos do art.º 756º, al. c) do Código Civil, faz avultar a ideia da sua configuração como uma verdadeira garantia real, e não apenas como simples meio de constranger o devedor ao cumprimento. O art.º 755º do Código Civil consagra vários casos especiais de direito de retenção, nomeadamente o do transportador, sobre as coisas transportadas, pelo crédito do transporte, o do albergueiro, sobre as coisas que as pessoas tenham trazido para a pousada, pelo crédito da hospedagem, o do mandatário, sobre as coisas que lhe tiverem sido entregues para a execução do mandato, pelo crédito resultante da sua atividade, o do gestor de negócios, sobre as coisas que tenha em seu poder para a execução da gestão, pelo crédito proveniente desta, o do depositário e do comodatário, sobre as coisas que lhes tiverem sido entregues em consequência dos respetivos contratos, pelos créditos deles resultantes, e o do beneficiário de promessa de transmissão ou constituição de direito real que obteve a tradição da coisa a que se refere o contrato prometido, sobre essa coisa, pelo crédito resultante do não cumprimento imputável à outra parte, nos termos do art.º 442º do Código Civil. Não obstante o que se acaba de referir, convirá ter presente que, em muitos dos casos, não estamos verdadeiramente perante uma retenção física da coisa, mas apenas perante uma preferência de pagamento em sede de graduação de créditos, nos termos do art.º 759º do Código Civil, na medida em que, em muitas situações, não é sequer possível a ocorrência da efetiva retenção física. No processo de insolvência, nomeadamente, uma vez proferida a sentença declaratória da insolvência, procede-se à imediata apreensão dos bens, nos termos dos art. os 149º e 150º do Código da Insolvência e Recuperação de Empresas (CIRE), pelo que a questão de que cuidamos é verdadeiramente de apurar se o crédito garantido por direito de retenção goza, ou não, de preferência de pagamento. 2. A declaração de insolvência e o direito do administrador a optar pelo não cumprimento2 No que se refere aos créditos emergentes de contratos promessa que, à data da insolvência, se encontrem ainda em situação de poderem ou não ser cumpridos, convém desde logo ter presente que a opção do administrador de insolvência por não cumprir esses contratos é legítima, em face do disposto do art.º 102º do CIRE. 1 2 Direito das Obrigações, 6ª Edição, Almedina, Coimbra, 1994, pág. 854. A matéria tratada neste ponto e no que se lhe segue foi escrita antes da publicação do acórdão uniformizador de jurisprudência de 20/03/2014, e traduz o entendimento por nós perfilhado, em função da análise da doutrina e jurisprudência até então produzidas. 84 BRUNO OLIVEIRA PINTO O caso particular dos contratos promessa encontra-se previsto no art.º 106.º do CIRE, que, sob a epígrafe “promessa de contrato”, regula as situações em que um dos intervenientes em contrato promessa é declarado insolvente. Nos termos do respetivo nº 1, no caso de o contrato promessa ter eficácia real e ter havido tradição da coisa, o administrador está obrigado à celebração do contrato definitivo. Os problemas colocam-se no caso de o contrato promessa não gozar de eficácia real e de ter havido tradição da coisa. Neste campo tem havido uma acentuada divergência a nível doutrinal e jurisprudencial. Por um lado, alguma jurisprudência vem admitindo que, no caso de insolvência do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador direito de retenção em caso de incumprimento do contrato promessa relativamente ao imóvel prometido vender, caso tenha havido tradição da coisa. Esta jurisprudência apela, nomeadamente, a uma ideia de imputabilidade reflexa em relação ao incumprimento do contrato, na medida em que, gerando a insolvência uma impossibilidade objetiva e superveniente de cumprimento do contrato por parte do promitente vendedor insolvente, este seria de todo o modo responsável por se ter deixado colocar em situação de insolvência. Neste sentido, podem ver-se os Acs. STJ de 19/09/20063 e 22/02/2011,4 embora consideremos que semelhante fundamentação não é inteiramente convincente. Efetivamente, em especial no segundo dos citados arestos (posto que o primeiro ainda foi tirado ao abrigo do Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Falência – CPEREF), não nos parece ter sido tida na devida conta a possibilidade de o administrador de insolvência poder licitamente optar pelo não cumprimento do contrato. Refira-se ainda, a propósito, o Ac. STJ de 28/05/2002,5 igualmente na vigência do CPEREF, onde se defendia o direito de retenção sem mais e de forma inquestionável, não obstante se considerar igualmente a impossibilidade de cumprimento não imputável ao promitente vendedor mas à própria declaração de insolvência em si. Nesse aresto colocava-se, em primeira linha, a questão de salvaguarda, ou não, da 3 4 5 Relatado pelo Cons. Sebastião Póvoas, acessível em www.dgsi.pt. Relatado pelo Cons. Azevedo Ramos, disponível no mesmo endereço eletrónico. Relatado pelo Cons. Faria Antunes, também em www.dgsi.pt. A INSOLVÊNCIA E A TUTELA DO DIREITO DE RETENÇÃO 85 retenção física da coisa, que o Supremo negou, conquanto admitisse a existência de preferência de pagamento. Posteriormente, e num litígio em que o cerne da questão residia precisamente na existência da preferência de pagamento, o mesmo relator veio sustentar fundamentação de sentido contrário. Efetivamente, no Ac. STJ de 16/03/2004;6 defende-se que nestes casos não existe qualquer direito de retenção, uma vez que a impossibilidade de cumprimento decorreria da sentença declaratória de falência (também aqui se estava ainda no campo do CPEREF), não havendo culpa do promitente vendedor, requisito imprescindível para a existência de direito de retenção. Mais recentemente vem sendo reforçada a ideia de que, atento o disposto no art.º 119º do CIRE, que confere carácter imperativo às normas que o antecedem, não pode ser postergado o direito/dever do administrador de insolvência de decidir se opta pelo cumprimento do contrato promessa ou não (sempre, repita-se, nos casos em que o contrato promessa tem eficácia meramente obrigacional). Refira-se, de passagem, que, neste ponto, concordamos com a ideia, por alguns expressa, de que a mera inclusão na lista de créditos reconhecidos (nos termos do art.º 130º do CIRE) do crédito resultante do incumprimento do contrato como crédito comum consubstanciará já recusa tácita do cumprimento do contrato. Deste modo, impondo a lei ao administrador a obrigação de tomar uma decisão, que pode ir no sentido do não cumprimento do contrato, não existirá incumprimento culposo do contrato promessa, requisito indispensável para efeitos de se reconhecer ao promitente comprador o direito de retenção. Ou seja, para esta corrente, sendo lícito ao administrador de insolvência recusar o cumprimento do contrato, falece o requisito de imputabilidade consignado nos art.os 442º e 755º, n.º 1, al. f) do Código Civil, que é pressuposto da concessão ou reconhecimento do direito de retenção. Como tal, se este direito beneficia o promitente comprador em caso de incumprimento culposo do promitente vendedor (ou, para utilizar a perfeita expressão do art.º 755º do Código Civil, “incumprimento imputável à outra parte”), se o incumprimento não for imputável a esse promitente vendedor, não pode haver direito de retenção. Consideramos que este entendimento será tecnicamente mais correto do que o anteriormente exposto, enquadrando de forma mais adequada na economia dos regimes 6 Relatado igualmente pelo Cons. Faria Antunes, no mencionado endereço eletrónico. 86 BRUNO OLIVEIRA PINTO do contrato promessa e da insolvência o tratamento a dar aos contratos não cumpridos em que houve tradição da coisa. Nesta corrente jurisprudencial podemos citar, a título de exemplo os Acs. da Relação do Porto de 11/10/20117 e da Relação de Coimbra de 18/10/2011.8 Desenvolvendo com bastante pormenor e pertinência a perspetiva de que a recusa do administrador de insolvência em cumprir o contrato promessa não configura incumprimento imputável à parte que ocupa a posição de promitente vendedor para efeitos de ser reconhecido ao promitente comprador direito de retenção, pode ver-se igualmente na doutrina Nuno Pinto Oliveira e Catarina Serra,9 constituindo uma síntese perfeita desta posição. Aí se refere, nomeadamente, que o princípio par conditio creditorum acarreta uma limitação generalizada dos direitos “naturais” dos credores e corresponde a uma exigência de justiça distributiva, de distribuição do sacrifício, de “comunhão de perdas” ou de “comunhão no risco”. Catarina Serra, noutra incursão sobre o tema,10 desenvolve igualmente esta ideia, partindo da remissão contida no nº 2 do art.º 106º do CIRE e concluindo na aplicação do regime da venda com reserva de propriedade, para referir, a final, que o crédito em causa é um crédito não garantido, mas comum, estando excluída qualquer possibilidade de o promitente comprador invocar a titularidade de um direito de retenção sobre a coisa objeto de tradição. Outros autores, nomeadamente, Luís Menezes Leitão,11 defendem que o art.º 106º do CIRE não pode ser interpretado no sentido de que ao administrador é lícito recusar o cumprimento de contratos promessa no caso de haver tradição da coisa, mesmo que o contrato apenas tenha eficácia obrigacional. Para este autor, nestes casos, o art.º 755º f) do Código Civil atribui ao promitente comprador um direito de retenção, que constitui uma garantia que tem que ser atendida em sede de insolvência. 7 8 9 10 11 Relatado pelo Des. Henrique Araújo, disponível em www.dgsi.pt. Relatado pelo Des. Moreira do Carmo, acessível no mesmo endereço eletrónico. Insolvência e Contrato Promessa: Os Efeitos da Insolvência Sobre o Contrato-Promessa Com Eficácia Obrigacional, Revista da Ordem dos Advogados, Tomo I/IV - Janeiro/Dezembro 2010 - págs. 395 a 440. O Regime Português da Insolvência, 5ª Edição, Almedina, Coimbra, 2012, págs. 101 a 107. Direito da Insolvência, 3.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2011, págs. 191 a 194. A INSOLVÊNCIA E A TUTELA DO DIREITO DE RETENÇÃO 87 É aqui defendida12 uma interpretação corretiva do preceito do art.º 106º do CIRE, da qual resulte que o contrato promessa sem eficácia real deve obrigatoriamente ser cumprido pelo administrador no caso de ter havido tradição da coisa, passando a ser este o caso abrangido pelo nº 1 do dito art.º 106º (já no caso de o contrato promessa ter eficácia real, o mesmo não seria, em caso algum, afetado pela declaração de insolvência). Como adiante se verá, propendemos a considerar que, não se discutindo o direito do administrador à opção pelo não cumprimento do contrato promessa, pelo menos face à letra do atual art.º 106º do CIRE, são justificadas as objeções que se levantam às consequências que decorrem do entendimento segundo o qual o administrador, podendo não cumprir, simplesmente não incorre em incumprimento culposo para efeitos de aplicação do art.º 442º do Código Civil. E isto porque tal posição, conduzindo ao entendimento de que o promitente comprador não tem direito de retenção, por falta do pressuposto “incumprimento culposo”, deixa este numa posição de tutela demasiado precária, que suscita as maiores reservas. De onde provém e como se justifica a necessidade dessa tutela, é o que abordaremos a seguir. 3. A tutela dos direitos do promitente comprador enquanto consumidor No âmbito da discussão a que vimos fazendo referência, merece destaque a posição de Miguel Pestana de Vasconcelos,13 que introduz um novo elemento na questão, ao defender que, sem embargo de se poder entender que, efetivamente, o não cumprimento do contrato pelo administrador de insolvência não se traduz em incumprimento culposo14 ou simplesmente incumprimento imputável ao promitente vendedor, tal incumprimento deve ser tratado do mesmo modo, posto que de contrário se irá prejudicar consideravelmente o promitente comprador, com especial relevo nos casos em que o mesmo deva ser tratado como consumidor, nos termos e para os efeitos do art.º 2.º da Lei 24/96 de 31/07. Na verdade, o direito de retenção foi instituído pelo Decreto-Lei nº 230/80, de 18 de Julho, e reafirmado pelo Decreto-Lei nº 379/86, de 11 de Novembro, que deslocou esse direito do art.º 442º para o art.º 755º do Código Civil (como refere Menezes 12 13 14 E também em Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas Anotado, 6ª Edição, Almedina, Coimbra, 2012, pág. 138 – nota nº 5 ao art.º 106º. Direito de Retenção, Contrato-Promessa e Insolvência, in Cadernos de Direito Privado, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, n.º 33 (Janeiro/Março de 2011), págs. 3 a 29. Já agora, faça-se também a precisão de que o incumprimento culposo a que vimos fazendo referência não tem necessariamente de ter qualquer relação com um eventual carácter culposo que venha a ser atribuído à insolvência em sede de incidente de qualificação. 88 BRUNO OLIVEIRA PINTO Cordeiro,15 apenas foi operada uma correção sistemática, transferindo-se esse direito para a sua sede natural). Tal sucedeu em especial homenagem aos direitos dos consumidores, como decorre com clareza do respetivo preâmbulo.16 Façamos aqui um parêntesis para recordar que a lei de defesa do consumidor (a citada Lei nº 24/96, de 31 de Julho, atualmente na redação conferida pela Lei 10/2013, de 28 de Janeiro), define, no seu art.º 2º, como consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não profissional, por pessoa que exerça com caráter profissional uma atividade económica que vise a obtenção de benefícios. Tal definição surge na sequência da consagrada no art.º 2º da Lei nº 29/81, de 22 de Agosto, que anteriormente regulava a defesa do consumidor e que surgiu sensivelmente no mesmo período do referido Decreto-Lei nº 230/80, de 18 de Julho, época em que a proteção deste tipo de direitos se começou a colocar com especial acuidade, devido à conjuntura económica que então se vivia, com relevo especial para a elevada inflação (que motivava que, muitas vezes, a mera restituição do sinal em dobro se tornasse vantajosa para o promitente vendedor faltoso). Ora, como refere Pestana de Vasconcelos, 17 mal se compreenderia que, tendo um direito sido criado para salvaguardar os direitos dos consumidores, aliás constitucionalmente consagrados (art.º 60º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa), o mesmo fosse afastado precisamente num dos casos em que estes direitos mais carecem de tutela, como é o caso da existência de incumprimento de contrato promessa e insolvência do promitente vendedor, em que os consumidores que se acham na posição de promitentes compradores se encontram especialmente vulneráveis. Este autor defende, em consequência, que existe uma lacuna no regime legal e que a alínea f) do nº 1 do art.º 755º do Código Civil deve ser analogicamente aplicada a estas situações. É certo que devem ser considerados de peso os argumentos que já referimos e que alguma doutrina18 utiliza, nomeadamente quando argumenta com o princípio par conditio creditorum, o qual exigiria a compressão da posição do promitente comprador, no sentido de que esta cederia perante a prevalência do tratamento igualitário do conjunto de credores, com a consequente comunidade de sacrifícios. 15 16 17 18 Estudos de Direito Civil, vol. I, Almedina, Coimbra, 1987, págs. 87 e 88. Vd. Calvão da Silva, Sinal e Contrato-Promessa, 5ª Edição, Coimbra, 1996, pág. 127, classificando esta concessão como “generosa”. Estudo citado, pág. 28. Vd. Pinto de Oliveira e Catarina Serra, ob. e loc. cit.. A INSOLVÊNCIA E A TUTELA DO DIREITO DE RETENÇÃO 89 Admite-se, efetivamente, que o argumento tem algum sentido, porquanto se, em sede de uma normal execução, é possível razoavelmente supor que o devedor pode ter outros bens, aptos a satisfazer eventuais créditos detidos por outros credores (de acordo com o princípio inserto no art.º 601º do Código Civil), em sede de insolvência assiste-se a um concurso universal de credores, apresentando-se todos com vista à satisfação dos seus créditos através da liquidação do acervo de bens apreendidos para a insolvência (e que, em princípio, esgotarão o ativo atacável do devedor). Não deixa, contudo, de ser verdade que o direito, a par dos grandes princípios gerais que enformam os diversos ordenamentos jurídicos, é feito também de opções de carácter jurídico, consagrando determinados entendimentos jurisprudenciais e doutrinais em detrimento de outros e mesmo opções políticas julgadas preferenciais e que, não raras vezes, fundamentam a ação do legislador. Se atentarmos, designadamente, na resenha histórica levada a cabo por Luís Menezes Leitão,19 facilmente constataremos que, ao longo do tempo, o legislador tem oscilado entre soluções ideológicas diversas, quando não diametralmente opostas, tendo passado de um sistema de falência-liquidação para um sistema de falênciasaneamento, retornando com o CIRE ao sistema de falência-liquidação, entretanto já mitigado com a entrada em vigor das normas reguladoras do processo especial de revitalização (art.os 17º-A a 17º-I). Esta flutuação em termos ideológicos conduziu, em concreto, a relevantes diferenças nas soluções adotadas em termos legislativos. Recorde-se, a título de exemplo, a supressão dos privilégios creditórios do Estado, operada pelo art.º 152º do CPEREF, cujo intento consistia em incentivar os representantes do mesmo, maxime o Ministério Público, a batalharem pela salvação das empresas recuperáveis, objetivo confesso do diploma, que de todo desapareceu com o surgimento do CIRE, cuja filosofia vai no sentido oposto, conferindo-se prevalência à liquidação. Carvalho Fernandes e João Labareda20 classificaram esta inovação como uma das mais – se não mesmo a mais – significativas inovações introduzidas pelo CPEREF, salientando a necessidade de os credores cujo privilégio deixava de existir se envolverem na salutar colaboração em medidas de recuperação da empresa, uma vez que os seus créditos já não seriam pagos “à cabeça”. Por outro lado, realçavam a extensão ao Estado e a outras entidades abrangidas dos deveres sociais de solidariedade económica e social exigíveis à generalidade dos credores, chamando-os a “dar exemplo de participação no sacrifício comum”. 19 20 Direito da Insolvência, cit., págs. 51 a 82. Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência Anotado, 2ª Edição, Quid Juris, Lisboa, 1995, pág. 381. 90 BRUNO OLIVEIRA PINTO Vemos, assim, como uma mera opção de política legislativa alterou decisivamente o rumo da legislação falimentar e as soluções a dar aos casos concretos, com diferenças importantes em termos de graduação dos créditos em sede de falência. Ora, uma outra dessas opções politico-legislativas, como acima se referiu, visou, a seu tempo, consagrar a existência de um direito de retenção do promitente comprador em caso de não cumprimento do contrato promessa, cuja justificação histórica já acima aflorámos. Significa isto que, embora o princípio par conditio creditorum seja uma trave mestra do direito falimentar, não é um instituto que deva ser considerado isoladamente, prevalecendo em qualquer circunstância sobre tudo o mais. Cremos mesmo que a sua aplicação não impede sequer a adequada tutela dos direitos do promitente comprador nos casos de que nos ocupamos. Na verdade, os credores nunca estão, ou só muito raramente estão realmente em situação de igualdade no concurso para a satisfação dos respetivos créditos: a verdadeira igualdade reside na possibilidade que a todos é dada de concorrerem, de acordo com as mesmas regras, para a satisfação dos seus créditos. Já a medida dessa satisfação vai depender de forma considerável das opções que ao longo do tempo foram sendo tomadas na salvaguarda de determinados credores ou determinados tipos de créditos, necessariamente em detrimento de outros. Portanto, não se nos afigura que seja a especialidade do processo de insolvência que justifica que se olhe para o direito de retenção de uma forma diferente daquela através da qual o mesmo é visto nos termos gerais. Por isso, se dirá21 que, se é lícito ao administrador de insolvência optar pelo não cumprimento do contrato promessa em caso de insolvência do promitente vendedor, e se essa opção não é considerada incumprimento imputável à parte para efeitos de reconhecimento do direito de retenção ao promitente comprador, deve ser tratada como se o fosse, precisamente para efeitos de reconhecimento do direito de retenção ao promitente comprador que obteve a tradição da coisa, desde que este se possa arrogar da posição de consumidor, de acordo com a definição que do mesmo faz a respetiva lei. Em suma, entendemos que, quando o promitente comprador é um consumidor, ao administrador de insolvência é lícito recusar o cumprimento do contrato promessa, 21 Em qualquer das perspetivas apontadas, seja por via de interpretação corretiva, como sustenta Menezes Leitão – ob. e loc. cit. – seja por recurso à integração de lacuna legal, conforme defende Pestana Vasconcelos – ob. e loc. cit. A INSOLVÊNCIA E A TUTELA DO DIREITO DE RETENÇÃO 91 mas tal situação tem de ser tratada como se houvesse um incumprimento imputável ao promitente vendedor, para efeitos de se reconhecer ao promitente comprador a existência de direito de retenção, se tiver havido tradição da coisa. Esta síntese, de encontro à posição que defendemos, encontra-se igualmente plasmada no Ac. STJ de 14/06/2011,22 cuja jurisprudência, como decorre do que se disse aplaudimos (muito embora nessa decisão se tenha negado o reconhecimento do direito de retenção, por se considerar não estarem reunidos os pressupostos para tal). Aí se refere, nomeadamente, que a recusa do administrador em executar o contrato não exprime incumprimento mas “reconfiguração da relação”, não sendo aplicável o conceito do art.º 442º, nº 2 do Código Civil, “incumprimento imputável a uma das partes”, com o inerente juízo de censura. Todavia, se for um consumidor, o promitente comprador não insolvente tem direito de retenção em homenagem à tutela da posição do consumidor, que se verifica com especial acuidade no processo de insolvência, face à possibilidade lícita de o administrador entender que não pretende cumprir o contrato promessa. 4. O acórdão de fixação de jurisprudência de 20/03/2014 O acórdão de fixação de jurisprudência de 20/03/2014 veio fixar jurisprudência no sentido de que, no âmbito da graduação de créditos em insolvência o consumidor promitente comprador em contrato, ainda que com eficácia meramente obrigacional com traditio, devidamente sinalizado, que não obteve o cumprimento do negócio por parte do administrador da insolvência, goza do direito de retenção nos termos do estatuído no artigo 755º, nº 1, alínea f) do Código Civil. A análise deste acórdão permite-nos perceber que no mesmo se adota a tese da “imputabilidade reflexa”, apelando a um conceito centrado na culpa do insolvente enquanto tal. Trata-se de uma ideia segundo a qual o insolvente, ao deixar-se cair na situação de insolvência, faz recair sobre si a culpa no não cumprimento do contrato promessa. Daqui parte-se para a consideração da necessidade da tutela investida no consumidor como justificativa desse juízo de culpa e conclui-se que, quando o empreiteiro entra em insolvência incumpre culposamente o contrato promessa, pelo que a necessidade de garantia dos direitos dos consumidores fundamenta a concessão aos mesmos de direito de retenção em casos em que o contrato promessa não tem eficácia real. Ora, como de algum modo se intui do que já atrás expusemos, esta posição é passível de crítica por duas ordens de razões: 22 Relatado pelo Cons. Fonseca Ramos, acessível em www.dgsi.pt. 92 BRUNO OLIVEIRA PINTO A primeira reside na circunstância de, efetivamente, o juízo de culpa em causa poder ser de todo impossível de formular. Por um lado, porque a lei considera, pelo menos em certos casos, lícito o não cumprimento do contrato pelo administrador de insolvência. Por outro, porque a própria insolvência pode ser de todo fortuita, tornando-se logicamente complicado justificar como se considera o incumprimento culposo em caso de insolvência, quando a própria insolvência pode ser fortuita e não culposa. Ou seja, uma insolvência não culposa fundamenta um incumprimento culposo, o que se afigura algo incongruente. A segunda razão radica no facto de o entendimento adotado no acórdão uniformizador implicar a desnecessidade do juízo acerca da defesa dos direitos do consumidor que enuncia como postulado fundamental da decisão tomada. Na verdade, se já temos o incumprimento culposo quando ocorre a insolvência do promitente vendedor, é lógico que se considere desnecessário que o promitente comprador tenha de ser consumidor, posto que a culpa do vendedor logo que se torna insolvente implica que todos os promitentes compradores fiquem na mesma posição, devendo beneficiar de direito de retenção, independentemente de serem consumidores ou não. Esta situação justifica a profusão de votos de vencido no sentido de que a referência aos consumidores no segmento uniformizador é desnecessária, bastando que se considere que o promitente comprador nestas situações tem direito de retenção, independentemente da sua categoria de consumidor ou não.23 Em nosso entender, é de seguir a posição expressa na declaração de voto do Conselheiro Fonseca Ramos,24 no sentido de que a recusa do administrador de insolvência em cumprir o contrato promessa não exprime incumprimento do contrato, mas, numa manifestação de especificidade do processo insolvencial, uma reconfiguração da relação, deixando de ser aplicável o segmento normativo do art.º 442º, nº 2 do Código Civil, relativo ao “incumprimento imputável a uma das partes”, considerando-se (mesmo que tenha de se ficcionar) que a decisão lícita do administrador de não cumprir o contrato se reconduz a incumprimento suscetível de fundar a atribuição de direito de retenção ao promitente comprador. Mas tal só sucederá quando este se revista da condição de consumidor. É aqui que reside a necessidade de fazer apelo à defesa dos direitos dos consumidores e respetiva tutela e é por isto que se justifica a introdução nesta problemática do conceito de promitente comprador que é simultaneamente consumidor. 23 24 De que são exemplo os votos dos Conselheiros Abrantes Geraldes e Pires da Rosa. Que já subscrevera o acórdão de 14/06/2011, a que acima nos referimos. A INSOLVÊNCIA E A TUTELA DO DIREITO DE RETENÇÃO 93 Por isso se reitera que aqui falha o citado acórdão, ao prescindir do dito juízo de reconfiguração da relação e exigir que o promitente comprador tenha a natureza de consumidor, quando já estabelece um juízo de culpa em face do qual essa natureza é prescindível (não se entrando sequer na problemática, abordada nos mencionados votos de vencido, de no caso concreto que originou o acórdão não estar sequer assente a natureza de consumidor do promitente comprador). 5. Os problemas advindos da não constituição da propriedade horizontal Ocorre frequentemente que a insolvência apanhe o insolvente e seus credores no decurso da construção de um ou vários imóveis destinados, nomeadamente, a habitação. Aqui, coloca-se o problema de não haver, por vezes, sequer propriedade horizontal constituída. Deste modo, estando em construção um edifício não submetido ao regime da propriedade horizontal (devendo sê-lo), é evidente que existirão problemas aquando da efetivação da tutela do promitente comprador, desde logo pela razão singela de que pode não ser possível definir qual o objeto do respetivo direito de retenção. Nalguns casos ocorre até que frações construídas e acabadas, com o decurso do tempo são objeto de atos de vandalismo, que vão fazendo desaparecer alguns traços de acabamento que contribuem para definir a fração enquanto tal, como sejam, portas, janelas ou equipamentos de cozinha ou casa de banho. Em primeiro lugar, a este propósito, não poderá olvidar-se que constitui jurisprudência obrigatória a de que o direito de retenção do promitente comprador não é afetado pela circunstância de o edifício em que se insere a fração prometida vender não estar ainda submetido ao regime da propriedade horizontal.25 Assim, o direito de retenção a reconhecer ao promitente comprador beneficiário da tradição da coisa não pode ser afetado pela falta de conclusão do prédio e falta de constituição da propriedade horizontal. Contudo, subsiste o problema da determinação do exato montante do crédito sobre o qual incidiria o direito de retenção, atento o que acima se disse. 25 Fixada através do Ac. STJ de 12/03/1996, publicado no DR, IIª Série, de 08/06/1996, igualmente acessível em www.dgsi.pt. 94 BRUNO OLIVEIRA PINTO Tendo o promitente comprador direito à devolução do sinal em dobro, nos termos do art.º 442º do Código Civil, face ao não cumprimento do contrato promessa, o seu crédito só deverá ser garantido por direito de retenção até ao limite do preço convencionado. Na verdade, não havendo propriamente uma fração a vender (problema que se agudiza nos citados casos em que, com o passar do tempo, os sinais que a distinguiam, como portas e janelas, foram desaparecendo), haverá, em cada caso, que calcular quanto valeria a fração prometida vender no conjunto do prédio, assim se apurando necessariamente o respetivo preço. Só será possível atender-se ao montante do sinal em dobro caso este não exceda o preço da fração prometida vender, posto que de contrário estar-se-á a afetar o equilíbrio entre o valor dessa fração e o do resto do prédio. Apenas se justificará diferente procedimento nos casos em que exista realmente uma fração individualizada a vender. Aí, consoante o que vier a ser o produto da venda poder-se-á pagar tudo, até ao limite do sinal em dobro (note-se que também pode acontecer que a fração seja vendida por um valor inferior ao do sinal em dobro ou mesmo do preço acordado, o que é um risco que correrá por conta do promitente comprador/credor, uma vez que apenas lhe assiste o direito a ser pago com privilégio pelo produto da venda da fração que prometeu comprar). Ou seja, o crédito existe na totalidade pelo sinal em dobro, mas só será garantido pelo direito de retenção no montante correspondente ao preço da fração, que traduz o seu valor proporcional em face do valor total de venda do prédio em que a fração se insere. É a solução que se nos afigura mais equitativa e equilibrada e capaz de salvaguardar a justiça do caso concreto (por analogia com o princípio contido no art.º 566º, n.º 3 do Código Civil). 6. A tutela dos créditos do (sub)empreiteiro Em sede de insolvência de empresas de construção, é também bastante comum a ocorrência de créditos cujos titulares são outras empresas de construção civil, que assumem quanto ao insolvente a posição de subempreiteiros em diversos contratos que se encontram em curso (por vezes a insolvência sobrevém a um período que já era de inatividade, ao passo que noutros a insolvência interrompe trabalhos em curso e, noutros ainda, ocorre subsequentemente a um período mais curto de inatividade, que já de si se seguia à interrupção de algumas obras que se estavam a realizar e se quedaram inacabadas). A INSOLVÊNCIA E A TUTELA DO DIREITO DE RETENÇÃO 95 O já atrás citado art.º 754º do Código Civil consagra a existência, em geral, de direito de retenção em favor de todos os que disponham de um crédito contra o seu credor e estejam obrigados a entregar certa coisa, na medida das despesas feitas por causa dessa coisa (ou dos danos por ela causados). A existência, ou não, de direito de retenção irá depender, neste campo, da interpretação que se der ao segmento do texto legal onde se menciona a “medida das despesas feitas por causa dessa coisa”. Também aqui a doutrina e a jurisprudência vêm evidenciando ao longo do tempo algumas divergências. O Código Civil de 1867 não regulava a matéria numa divisão especial, referindo-se casuisticamente ao direito de retenção, o que motivava a discussão sobre se este direito tinha um caráter genérico ou apenas existia nos casos expressamente previstos na lei.26 Vaz Serra, no seu projeto,27 defendia a consagração de um direito de retenção por parte do empreiteiro sobre coisas móveis e imóveis, o que não veio a ter acolhimento, conforme adiante melhor se referenciará. A consagração no Código Civil de 1966 do direito de retenção como instituto de âmbito geral veio superar a referida divergência doutrinal e jurisprudencial, mas, do mesmo passo, suscitou novas questões, de entre as quais avulta precisamente a da consagração legal de direito de retenção a favor do empreiteiro. O Acórdão do STJ de 08/04/199728 rejeita expressamente a existência de direito de retenção para garantia do pagamento do preço da coisa retida e a entregar, apenas admitindo o exercício da exceção de não cumprimento. No mesmo sentido vão Pires de Lima e Antunes Varela,29 utilizando, por um lado, o argumento de que as expressões legais “despesas feitas por causa da coisa” ou “danos causados pela coisa” não respeitam a créditos típicos do empreiteiro, visto que o crédito deste tem por objeto o preço da empreitada e, por outro, a circunstância de a disposição que, no anteprojeto do Código Civil elaborado por Vaz Serra, abarcava o direito de retenção do empreiteiro ter sido suprimida na segunda revisão 26 27 28 29 Vd. Almeida Costa, ob. cit., pág. 851 e Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, vol. I, 4ª Edição, Coimbra Editora, 1987, pág. 773. Empreitada, in BMJ nº 145 (1965), pág. 185. Relatado pelo Cons. Herculano Lima, cujo sumário se encontra acessível em www.dgsi.pt. Código Civil Anotado, vol. II, 3.ª Edição, Coimbra Editora, 1986, pág. 799 e ss. 96 BRUNO OLIVEIRA PINTO ministerial (o art.º 749º proposto consagrava, na respetiva alínea c), a existência de direito de retenção quando os dois créditos se fundem na mesma relação jurídica, sendo que o direito de crédito do empreiteiro relativo ao preço da obra era tido como o exemplo típico do campo de aplicação desta disposição). O Acórdão da Relação de Lisboa de 19/05/199230 apenas admite a existência de direito de retenção relativamente a despesas que o empreiteiro tenha feito e não em relação a todo o preço da empreitada. Em sentido não tão claro, o Acórdão da Relação do Porto de 16/10/199531 fala no pagamento do que o empreiteiro despendeu na execução da obra. Outros acórdãos defendem a existência de direito de retenção para pura e simples garantia do pagamento do preço da obra. São os casos dos Acs. STJ de 14/12/1994,32 03/06/200833 e 29/01/201434 e Relação de Lisboa de 09/05/199635 e 14/06/200736 e, finalmente, Relação de Évora de 15/09/201037). No mais recente dos referidos arestos, o Ac. STJ de 29/01/2014, refere-se que, de acordo com a definição do artigo 1207.º do Código Civil, a empreitada pressupõe a realização de “certa obra”. A intervenção do empreiteiro é, assim, mais profunda do que a vulgar situação em que se fazem despesas “por causa da coisa” ou de “danos por ela causados”. Merece, por aí, maior proteção garantística. Nomeadamente, mal se compreenderia que assistisse ao que leva a cabo benfeitorias na coisa este direito e ele fosse recusado ao que a cria. Neste sentido aparenta igualmente dirigir-se Carvalho Fernandes,38 atento o exemplo que aí é dado. Refere este autor a possibilidade que ocorre no âmbito de um contrato de prestação de serviços em que o dono de uma oficina de reparação de automóveis procede à reparação de uma viatura alheia, tendo a obrigação de entregar o automóvel, uma vez reparado. Contudo, enquanto o dono do veículo não pagar o preço da reparação, o mecânico pode recusar-se a fazer a entrega. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Relatado pelo, então, Des. Sousa Inês, disponível, apenas em sumário, em www.dgsi.pt. Relatado pelo Des. Ribeiro de Almeida, igualmente apenas acessível em sumário, no endereço eletrónico mencionado. Relatado pelo Cons. Cardona Ferreira, sumariado no mesmo local. Relatado pelo Cons. Cardoso de Albuquerque, em texto integral em www.dgsi.pt. Relatado pelo Cons. João Bernardo, disponível no mesmo endereço eletrónico. Relatado pelo Des. Campos Oliveira, sumariado em www.dgsi.pt. Relatado pela Des. Fernanda Isabel Pereira, acessível em www.dgsi.pt. Relatado pelo Des. Bernardo Domingos, disponível no mesmo endereço eletrónico. Lições de Direitos Reais, 3ª Edição, Quid Juris, Lisboa, 2001, pág. 155. A INSOLVÊNCIA E A TUTELA DO DIREITO DE RETENÇÃO 97 Na esteira destas posições, regista-se igualmente a sustentada por Romano Martinez.39 Este autor defende que o crédito do preço resulta de despesas feitas por causa da coisa. Tendemos a não concordar inteiramente com esta corrente de pensamento. E isto porque a lei claramente refere despesas feitas e não o preço ou valor da coisa. Notese que, por exemplo, a Relação de Évora (em Acórdão de 12/01/200540) já defendeu que o próprio lucro inerente se engloba nas despesas com a execução da obra. Entendemos que, efetivamente, a margem de lucro não está incluída nas despesas feitas com a execução da obra. De acordo com as regras da experiência comum, tais despesas são tendentes a obter um lucro futuro, mas com o mesmo obviamente não se confundem. Consideramos que a posição que sustenta que o crédito do empreiteiro é apenas o que concerne ao preço é algo reducionista, sendo que deve, como adiante se verá, ser feito um esforço para distinguir aquilo que na empreitada corresponde a despesas feitas pelo empreiteiro com vista à obtenção de um lucro e esse mesmo lucro, sendo que o preço abrange estas duas realidades. A previsão do Código Civil apenas consagra a tutela da primeira delas. Ou seja, perante uma situação de crise de determinado contrato de empreitada, o empreiteiro verá garantida por direito de retenção a sua posição, no que concerne às despesas que fez para a execução da obra. Não há, assim, uma tutela da sua margem de lucro, mas evita-se que o mesmo, podendo não ganhar, perca todo o investimento que fez. 7. Da não correspondência entre o crédito do (sub)empreiteiro e o preço da empreitada Na sequência do que se referiu, entendemos, pois, que para apuramento do montante do crédito do subempreiteiro sobre o empreiteiro insolvente que haverá de ter-se por garantido por eventual direito de retenção há que descontar ao crédito reclamado a provável margem de lucro. No apuramento das possíveis margens de lucro, como é evidente, é bastante complicado calcular uma margem de lucro média, mesmo que restrita a um determinado ramo de atividade. 39 40 Contrato de Empreitada, Almedina, Coimbra, 1994, pág. 85. Relatado pelo Des. Mata Ribeiro, acessível em www.dgsi.pt. 98 BRUNO OLIVEIRA PINTO Na nossa prática processual, procurando aproximar a decisão daquela que é a realidade dos sujeitos envolvidos, entendemos útil pesquisar, designadamente com recurso à internet, cálculos e estimativas já efetuados por associações do setor da construção (por exemplo, as estimativas feitas pela Associação Nacional de Construtores de Casas dos Estados Unidos da América – National Association of Home Builders,41 tendo já acedido a uma estimativa de margens de lucro dos empreiteiros na ordem dos 12%). Neste campo, cremos que é mais aproximado à realidade e mais justo não renegar as dificuldades da estimativa das margens de lucro e recorrer, tendo por base os dados obtidos, designadamente da forma já exposta, a um juízo de equidade que permita uma aproximação o mais rigorosa possível ao montante das despesas do (sub)empreiteiro que devam considerar-se efetuadas por conta da obra realizada para o insolvente. A esta indemnização podem obstar alguns fatores excecionais, como sejam o abandono da obra pelo (sub)empreiteiro. Esta é uma invocação comum nos processos em que se discutem créditos por empreitadas ou subempreitadas e, numa situação de insolvência, levanta problemas particulares, posto que a própria cessação de atividade do empreiteiro vai, naturalmente, acarretar dificuldades para a conclusão das obras por parte do subempreiteiro. Neste ponto, haverá que compreender se esse abandono efetivamente acontece ou se o próprio subempreiteiro se vê forçado a refrear as diligências a realizar no âmbito da obra devido às vicissitudes que a própria situação do empreiteiro insolvente lhe levanta. Entendemos aqui oportuno referir a jurisprudência do Acórdão da Relação de Lisboa de 02/06/200942 que (ainda que adote um critério diferente do por nós perfilhado para o cálculo das despesas do empreiteiro e inerente montante a reter) refere que o abrandamento da intensidade dos trabalhos pelo empreiteiro, devido, por exemplo, a incumprimento de pagamentos pelo dono da obra não integra o conceito de abandono, o qual para existir pressuporia a cessação voluntária dos trabalhos por parte do empreiteiro com intenção de não os retomar. A própria experiência comum diz-nos que o que é normal é que o empreiteiro, com o passar do tempo, não se sinta constrangido a manter o seu material imobilizado 41 42 Que lográmos consultar em: http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2003265139_inprices19.html Relatado pelo Des. José Aveiro Pereira, acessível em www.dgsi.pt. A INSOLVÊNCIA E A TUTELA DO DIREITO DE RETENÇÃO 99 numa determinada obra à espera que lhe paguem e a mesma possa recomeçar, já para não falar na própria possibilidade de subtração de material por parte de terceiros. 8. Conclusão – em defesa dos direitos de retenção do promitente comprador enquanto consumidor e do (sub)empreiteiro Em conclusão, não será demais realçar o inegável relevo prático das questões que abordámos, bem como a controvérsia que ao longo do tempo as mesmas vêm gerando na doutrina e na jurisprudência, sinal de que, porventura, ainda estamos longe de respostas definitivas. Pela nossa parte, reafirmaremos que, nos casos de insolvência de empreiteiro, gozam de direito de retenção, por um lado, o beneficiário de promessa de compra e venda (sem eficácia real) que assuma a natureza de consumidor e nos casos em que tenha havido tradição da coisa e, por outro, o subempreiteiro, pelo crédito decorrente das despesas que tenha feita com a realização da obra, descontada a sua provável margem de lucro. Tal entendimento funda-se, no primeiro caso, na emergência da tutela dos direitos dos consumidores, constitucionalmente consagrada, e, no segundo, na necessidade de garantir de algum modo, mesmo que só em parte, o direito de quem afinal constrói a coisa que irá ser objeto de liquidação e cuja venda gerará um produto pelo qual os credores se pagarão. Por último, refira-se ainda que, na esteira da jurisprudência do Tribunal Constitucional,43 a atribuição de direito de retenção com prevalência, nomeadamente, sobre garantia hipotecária registada mesmo anteriormente à tradição da coisa não implica uma interpretação dos art.os 755º, n.º 1, al. f) e 759º, n.º 2, ambos do Código Civil em sentido inconstitucional. Como tal, nos termos destas disposições, estes créditos são pagos com prevalência sobre os hipotecários, embora atrás dos garantidos por privilégio imobiliário especial (art.º 751º do Código Civil). 43 Vd., por exemplo, o Ac. n.º 256/2004, de 19/05/2004 - DR, IIª Série, 28/06/2004, pág. 9641 e ss. 100 BRUNO OLIVEIRA PINTO Bibliografia Adriano Vaz Serra, Empreitada, Boletim do Ministério da Justiça nº 145, 1965. António Menezes Cordeiro, Estudos de Direito Civil, vol. I, Almedina, Coimbra, 1987. Catarina Serra, O Regime Português da Insolvência, 5ª Edição, Almedina, Coimbra, 2012. Catarina Serra e Nuno Pinto Oliveira, Insolvência e Contrato-promessa: Os Efeitos da Insolvência Sobre o Contrato-promessa Com Eficácia Obrigacional, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 70, Tomo I/IV (Jan/Dez 2010), págs. 395 a 440. Fernando Pires de Lima e João Antunes Varela, Código Civil Anotado, vol. I, 4ª Edição, Coimbra, 1987, e vol. II 3ª Edição, Coimbra, 1986. João Calvão da Silva, Sinal e Contrato-promessa, 5ª Edição, Coimbra, 1996. Luís Carvalho Fernandes, Lições de Direitos Reais, 3ª Edição, Quid Juris, Lisboa, 2001. Luís Carvalho Fernandes e João Labareda, Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência Anotado, 2ª Edição, Quid Juris, Lisboa, 1995. Luís Menezes Leitão, Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas Anotado, 6ª Edição, Almedina, Coimbra, 2012. Luís Menezes Leitão, Direito da Insolvência, 3ª Edição, Almedina, Coimbra, 2011. Mário Almeida Costa, Direito das Obrigações, 6ª Edição, Almedina, Coimbra, 1994. Miguel Pestana de Vasconcelos, Direito de Retenção, contrato-promessa e insolvência, Cadernos de Direito Privado, nº 33, Janeiro/Março de 2011, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, págs. 3 a 29. Pedro Romano Martinez, Contrato de Empreitada, Almedina, Coimbra, 1994. A crise, a reforma laboral e a jurisprudência constitucional em Portugal1 JOSÉ JOÃO ABRANTES * 1. Introdução 1.1. Regulador de uma relação em que os direitos de uma das partes podem ser feitos perigar pelo maior poder económico e social da outra, o direito do trabalho formouse historicamente como um direito de compensação e protecção dos trabalhadores assalariados. Os últimos anos, porém, têm assistido, em Portugal e em muitos outros países, a grandes mudanças na política legislativa do trabalho, naquilo que tem sido designado por “flexibilização” da legislação laboral. Nas últimas décadas, a ideia de emprego e a de emprego com direitos têm, de certa forma, aparecido contrapostas. Ao direito laboral, cuja preocupação maior deveria ser, já não a segurança do emprego, mas sim o próprio emprego, competiria, fundamentalmente, garantir a flexibilização e a diminuição dos custos laborais, se necessário à custa da própria estabilidade da relação e dos direitos dos trabalhadores. As correntes neoliberais são hoje, de facto, uma tentação das políticas de emprego e têm influenciado a União Europeia e outras instituições, como a OCDE e o Banco Mundial, atingindo a sua expressão mais acabada na célebre proposta do círculo de Kronberg “mais mercado JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 101-118. * Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 1 Texto que serviu de base à intervenção do autor num seminário sobre o tema Cuestiones jurídico laborales de actualidade, realizado na Facultad de Derecho da Universidade da Coruña em 31.01.2014, sob a coordenação dos Professores Jesús Martínez Girón e Alberto Arufe Varela, a quem o autor agradece o honroso convite para a sua participação. 102 JOSÉ JOÃO ABRANTES no direito do trabalho”, exprimindo, no fundo, a ideia de converter este ramo do direito numa mera formalização das leis do mercado. Invocando a desnecessidade de protecção do trabalhador e a rigidez das leis laborais, preconizam o enfraquecimento dos direitos individuais e colectivos dos trabalhadores. A flexibilização tem-se feito também sentir, de forma vincada, na administração pública, sobretudo com a crescente laboralização da relação de emprego público, 2 iniciada com a Lei n.º 23/2004, que consentiu a utilização do contrato por tempo indeterminado para actividades que não impliquem o exercício de poderes de autoridade ou funções de soberania,3 a que se seguiram as Leis n.º 12-A/2008 e 59/2008, que abandonaram as noções de funcionário e de agente administrativo e afastaram a nomeação como regra da constituição da relação de emprego público, colocando nesse lugar o contrato de trabalho (ficando aquela reservada aos trabalhadores com carreira directamente adstrita ao designado núcleo duro da função pública, ou seja, ao exercício de poderes de autoridade ou de soberania). 1.2. Ora, não só não é correcto responsabilizar as leis laborais pelo deficiente funcionamento do aparelho produtivo como não é verdade que a essência e a função social deste ramo do direito tenham perdido a razão de ser. Se não se pode deixar de concordar com uma mera rectificação de dispositivos desnecessariamente rígidos ou adaptação de algumas normas legais a novos condicionalismos, em si perfeitamente compatíveis com a filosofia tradicional deste ramo do direito, já merecerá censura, segundo cremos, tudo o que conduza a uma subversão dos princípios e valores fundamentais da sua regulamentação jurídica tradicional, nomeadamente, tendo em conta aquela que, hoje, deve ser a sua função social, tal como é recortada por uma Lei Fundamental que tem como princípio basilar a dignidade da pessoa humana (art.º 2.º) e para a qual das “tarefas fundamentais do Estado” fazem parte a promoção do bem-estar e qualidade de vida do povo e da igualdade real entre os portugueses, “bem como a efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais” [art.º 9.º - alínea d)]. A Constituição parte, com efeito, de um conceito humanista da relação laboral, que tem subjacente uma exigência de reconciliação entre o económico e o social, entre eficácia produtiva e reconhecimento das aspirações e dos direitos dos trabalhadores. 2 3 Mesmo continuando a ser uma relação laboral específica, apenas aplicável na administração pública, a relação de emprego público encontra-se hoje cada vez mais próxima do regime laboral privado. Cfr., por todos, Paulo Veiga e Moura, A privatização da função pública, Coimbra, 2004. Previu essa lei a cessação do contrato de trabalho por razões objectivas, isto é, o despedimento por redução de actividade da pessoa colectiva pública, determinada, nos termos da lei, por razões de economia, eficácia e eficiência na prossecução das respectivas atribuições (abrangendo o despedimento colectivo e o despedimento por extinção de posto de trabalho). A CRISE, A REFORMA LABORAL E A JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL EM PORTUGAL 103 1.3. Na sequência do pedido de assistência financeira feito em Abril de 2011 à Troika CE/FMI/BCE, do Memorando de Entendimento assinado com a mesma um mês depois e do Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego, celebrado em 18 de Janeiro de 2012 na Comissão Permanente de Concertação Social, têm sido tomadas algumas medidas de política laboral, normalmente com um sentido que obedece à referida lógica, que temos estado a criticar, de que é preciso diminuir os custos laborais e os direitos dos trabalhadores. Algumas dessas medidas têm sido objecto de apreciação pelo Tribunal Constitucional, o que levou a várias declarações de inconstitucionalidade.4 Assim, o acórdão n.º 353/12, de 5-07, declarou a inconstitucionalidade da suspensão dos subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos e dos reformados, que se encontrava prevista no OE para 2012, por violação do princípio da igualdade.5 No ano seguinte, o acórdão n.º 187/13, de 5-04, declarou a inconstitucionalidade da redução dos mesmos subsídios, prevista no OE para 2012, com o mesmo fundamento, e ainda a inconstitucionalidade da redução dos subsídios de doença e de desemprego, por violação do princípio da proporcionalidade.6 Ainda relativamente aos trabalhadores da administração pública, o acórdão n.º 474/13, de 29-08, julgou inconstitucional a lei da requalificação, com fundamento, por um lado, na violação da garantia da segurança no emprego, do art.º 53.º da CRP, e, por outro lado, do princípio da confiança. Menos de um mês depois, o acórdão n.º 602/13, de 20-09, declarou a inconstitucionalidade de algumas normas constantes da Lei n.º 53/2012, de 25-06, diploma legislativo que havia consubstanciado o essencial da reforma laboral de 2012. É fundamentalmente sobre estes dois últimos acórdãos que vamos fazer incidir a nossa atenção no presente artigo.7 4 5 6 7 Os acórdãos a seguir referidos podem ser encontrados no site do Tribunal Constitucional. Na vertente de igualdade na repartição dos encargos públicos: segundo o tribunal, havia um tratamento desproporcionadamente desigual entre os trabalhadores do sector público e privado. Ao contrário do que fizera antes, no acórdão n.º 353/12, desta vez, o Tribunal não proferiu qualquer decisão limitadora dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade apenas para o futuro. Sobre estes acórdãos, remetemos para o excelente artigo de Ravi A. Pereira, “Igualdade e proporcionalidade: um comentário às decisões do Tribunal Constitucional de Portugal sobre cortes salariais no sector público”, in Revista Española de Derecho Constitucional, num. 98 (2013), p. 317 ss., onde o autor faz uma análise muito completa sobre conceitos basilares, como os de igualdade proporcional e justa repartição dos encargos públicos. Já depois de escrita esta parte do nosso artigo, surgiu o acórdão n.º 862/13, de 19-12, que se pronunciou pela inconstitucionalidade da lei que previa a convergência dos regimes de pensões do sistema de protecção social da Administração Pública e do sistema geral da segurança 104 JOSÉ JOÃO ABRANTES 2. O acórdão n.º 474/13, de 29-08 2.1. O acórdão n.º 474/13 declarou a inconstitucionalidade da lei da requalificação dos trabalhadores da administração pública, constante do decreto parlamentar n.º 177/XII. Esse decreto teve na sua origem a proposta de lei n.º 154/XII/2ª, em cuja memória justificativa encontramos enunciado o propósito de ultrapassar “dificuldades e resistência” à aplicação da Lei n.º 53/2006, que se associa à complexidade dos mecanismos previstos nesta lei e ao “diminuto contributo que a mesma deu aos processos de reforma e de racionalização da Administração Pública”, impedindo que funcionem como “catalisadores privilegiados dos processos de reforma e racionalização actualmente impostos às Administrações Públicas”.8 De facto, o regime de mobilidade especial dos trabalhadores da Administração Pública consta presentemente da Lei n.º 53/2006, de 7-12, e do Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25-10, diplomas de acordo com os quais a colocação de trabalhadores em mobilidade especial tanto pode ocorrer face a uma reorganização de serviços (extinção, fusão ou reestruturação) como face a uma racionalização de efectivos. No primeiro caso, o que está em causa é uma alteração da natureza jurídica do serviço ou das suas atribuições, competências ou estrutura orgânica, uma alteração no plano orgânico e funcional, sendo o plano da gestão de recursos humanos uma vertente secundária da reorganização; diferentemente, a racionalização de efectivos dirige-se primariamente à maximização gestionária dos recursos humanos, em serviços cuja estrutura e missão não sofre modificações.9 8 9 social; fê-lo, “com base na violação do princípio da confiança, ínsito no princípio do Estado de direito democrático consagrado no artigo 2.º da CRP”. Essa exposição de motivos refere igualmente o Memorando de Entendimento celebrado entre o Estado Português e a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, que, na sua 7ª actualização (de Maio de 2013, previu que se procedesse à revisão da lei de mobilidade especial, no sentido da sua simplificação, de uma redução crescente ao longo do tempo da remuneração dos trabalhadores que se encontrem nessa situação e da sua duração (bem como a aplicação do regime a professores e profissionais de saúde). O MoU critica a ausência de limite temporal máximo para o reinício de função, “o que leva em muitos casos a que os trabalhadores permaneçam nessa situação durante vários anos, muitas vezes até à ocorrência da aposentação ou reforma, sem qualquer tipo de ligação ou apelo para o regresso ao exercício de funções na Administração Pública”. A primeira implica a fixação, no diploma de extinção ou reestruturação, de critérios gerais e abstractos de selecção do pessoal necessário à prossecução das atribuições ou competências. A racionalização de efectivos, por sua vez, ocorre (art.º 3.º/4 do Decreto-Lei n.º 200/2006), “quando, por decisão do dirigente máximo do serviço ou do membro do Governo responsável de que depende, se procede a alterações no seu número ou nas carreiras ou áreas funcionais dos recursos humanos necessários ao adequado funcionamento de um serviço, após reconheci- A CRISE, A REFORMA LABORAL E A JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL EM PORTUGAL 105 De acordo com a Lei n.º 53/2006, o processo de mobilidade especial tem as seguintes fases: uma fase de transição, de 60 dias, em que o trabalhador mantém a remuneração base mensal; segue-se uma fase de requalificação, durante 10 meses, seguidos ou interpolados, destinada a reforçar as capacidades profissionais do trabalhador e criar melhores condição de empregabilidade e de reinício de funções, durante a qual o trabalhador sofre a redução da sua remuneração para dois terços da remuneração base mensal; a terceira e última fase (fase de compensação), que se prolonga por tempo indeterminado até que ocorra o reinício de funções em qualquer serviço, a aposentação, desvinculação ou pena disciplinar expulsiva, origina que a remuneração se reduz para metade daquela remuneração base mensal (não podendo, em qualquer caso, ser inferior ao salário mínimo nacional), sendo, contudo, permitido ao trabalhador acumular esse rendimento com a remuneração auferida noutra actividade profissional. O novo regime apresentava-se como “uma mudança de paradigma”, com a intenção assumida de “harmonização das regras aplicáveis no âmbito dos diferentes procedimentos de reorganização abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 200/2006”, incluindo “um reforço dos motivos orçamental e económico para efeitos de fundamento para o início de procedimentos de reorganização e aplicação do sistema de requalificação”. A principal novidade estava no facto de a racionalização de efectivos passar a abranger, paralelamente a causas organizativas ligadas à fusão, extinção ou organização dos serviços, três novos fundamentos, de ordem económica, com impacto na gestão dos recursos humanos: redução de orçamento do serviço (por diminuição de transferências do Orçamento do Estado ou de receitas próprias); necessidade de requalificação dos seus trabalhadores, para adequação às atribuições ou objectivos definidos para o serviço; e cumprimento da estratégia estabelecida. Com a colocação em requalificação, previa-se que o trabalhador sofresse, de imediato, uma redução da remuneração para 2/3 da remuneração base durante os primeiros seis meses, passando para metade dessa remuneração base ultrapassado esse prazo.10 Mas, neste ponto, o que de mais relevante aparecia de novo era tratar-se de um regime com um horizonte temporal: decorrido o prazo de 1 ano, seguido ou interpolado, sem que tenha ocorrido o reinício de funções em qualquer órgão ou serviço por tempo indeterminado, o contrato de trabalho cessava inexoravelmente (art.º 18.º, n.os 1 e 2). 10 mento, em acto fundamentado, na sequência de processo de avaliação, de que o pessoal que lhe está afecto é desajustado às suas necessidades permanentes”. Tal como acontece na mobilidade especial, a remuneração não podia ser inferior à retribuição mínima mensal garantida e o trabalhador podia exercer outra actividade remunerada. 106 JOSÉ JOÃO ABRANTES Se, para alguns trabalhadores, os expedientes de gestão dos recursos humanos já antes poderiam culminar na cessação do vínculo laboral público, para outros, o instituto agora criado – a requalificação – permitia, no fundo, que a administração pública pudesse pôr termo àquilo que, no modelo anterior, equivalia à situação de mobilidade especial. A requalificação, num primeiro nível, afastaria o trabalhador do seu posto de trabalho e colocá-lo-ia em inactividade, caso não logre obter de imediato a reafectação, com consequências na retribuição; num segundo nível, o prolongamento dessa situação para além de um ano levaria ao despedimento. As novas causas de recurso à requalificação, ainda que não fossem causa directa da cessação do contrato, assumiam, assim, uma importância fundamental, como um pressuposto para chegar ao despedimento. A questão de constitucionalidade respeita, assim, a esses novos motivos que habilitam o empregador a encetar a requalificação, enquanto pressuposto da cessação contratual. Ora, se é verdade que a Constituição acolhe causas de cessação da relação laboral por motivos objectivos, também impõe que sejam respeitados determinados requisitos,11 devendo assegurar-se a susceptibilidade de controlo judicial de que se trata de uma medida respeitadora dos critérios de proporcionalidade, nas dimensões de necessidade, adequação e proibição do excesso, que informam a licitude das restrições aos direitos fundamentais. A lei, por imposição do artigo 53.º, não pode deixar de assegurar esse controlo da adequação entre o escopo da medida e as suas conse11 Desde o acórdão do TC n.º 64/91 que isto é bem claro, com o tribunal a considerar que a proibição dos despedimentos sem justa causa não impede a existência de outras causas de cessação, a par da justa causa subjectiva, se respeitados determinados requisitos pelo legislador ordinário, entre os quais os conceitos utilizados não deverem ser vagos ou demasiado imprecisos e dever ser assegurado o controlo externo da existência de uma situação de impossibilidade objectiva de subsistência do vínculo laboral, para impedir que a cessação possa encontrar justificação apenas na mera conveniência da empresa. O controlo judicial é parte essencial do princípio da segurança no emprego, que visa evitar despedimentos arbitrários, imotivados ou ad nutum ou feitos com base na mera conveniência da empresa; nas palavras de Júlio Gomes, “deve aferir a proporcionalidade existente entre a motivação invocada e o despedimento” (Direito do Trabalho, p. 995). Como já tivemos ocasião de escrever anteriormente (cfr. “Parecer sobre o Anteprojecto de Código do Trabalho”, in MTSS, Código do Trabalho Pareceres, 2004, p. 255), a segurança no emprego “exige sempre a necessidade de uma razão objectiva, socialmente válida, para legit imar a cessação do contrato por acto unilateral do empregador ou por motivos ligados à empr esa”. O núcleo essencial da justa causa assenta na inexigibilidade de manutenção da relação laboral, a qual é aferida em função de um comportamento culposo do trabalhador ou de racionalidade económica que dita a redução ou a alteração do conteúdo funcional de postos de trabalho de dada organização. Cfr., igualmente neste sentido, Luís Menezes Leitão, “Parecer sobre a conformidade da Proposta de Lei 29/IX (Código do Trabalho) com a Constituição da República Portuguesa”, na mesma obra Código do Trabalho Pareceres, p. 365 ss., P. Romano Martinez, Direito do Trabalho, 6.ª ed., 2013, p. 908 ss., e António Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, 16.ª ed., 2012, p. 477 ss., entre outros. A CRISE, A REFORMA LABORAL E A JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL EM PORTUGAL 107 quências. Tem que ficar claro que o empregador se encontra impedido de definir e criar livremente os próprios pressupostos da actuação que conduz ao despedimento. Existe uma clara similitude com o despedimento colectivo e com o despedimento por extinção do posto de trabalho, que, contudo, não podem ser obtidos com a simples invocação de redução de receitas: para recorrer a esses instrumentos, o empregador privado tem que demonstrar, por um lado, a ocorrência de uma cláusula geral motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos - que não lhe seja imputável e, por outro lado, uma relação de adequação e de justa medida entre tais motivos e o despedimento que visa empreender. Ao invés, as novas razões objectivas passíveis de justificar a cessação do vínculo radicam em fórmulas indeterminadas, que, sem grande dificuldade, podem habilitar a colocação de trabalhadores em situação de requalificação, da qual pode resultar, para aqueles que não reiniciem funções após o termo dessa situação, a cessação do contrato de trabalho. Os motivos de cessação do vínculo por razões orçamentais, assentes numa mera decisão política, não são acompanhados de critérios objectivos e seguros que permitam controlar a legalidade do despedimento. A “redução de orçamento do serviço” permite ao Estado dispor dos seus funcionários e dispensá-los com um grau de liberdade dificilmente compatível com o conceito de justa causa; há um défice de justificação e precisão da norma, à luz do princípio da proporcionalidade, não sendo possível demonstrar que a redução orçamental não seja decidida com base em motivações políticas, destinadas a gerar despedimentos especialmente orientados para determinados serviços. Tal raciocínio impõe-se, a fortiori, para a “necessidade de requalificação dos respectivos trabalhadores, para a sua adequação às atribuições ou objectivos definidos” e “de cumprimento da estratégia estabelecida”: as “atribuições ou objectivos definidos” e a “estratégia estabelecida” não são critérios suficientemente explícitos e determinados. As disposições normativas em causa não fornecem um suporte normativo que permita aos tribunais escrutinar, com objectividade, a motivação dos actos da administração pública que determinam a requalificação e a cessação do contrato. A sua vaguidade e imprecisão não permitem superar o teste da adequação e de justa medida do nº 2 do art.º 18º da CRP. Por isso, julgamos de aplaudir a declaração de inconstitucionalidade dessas normas que alargavam os motivos de cessação do vínculo laboral dos trabalhadores em funções públicas com fundamento em razões objectivas, por inexistência de justa causa, com violação, assim, dos artigos 53º e 18.º, n.os 2 e 3, da CRP. 2.2. O acórdão declarou ainda a inconstitucionalidade das normas do mesmo decreto que removiam a garantia do artigo 88º da Lei nº 12-A/2008 e sujeitavam trabalhadores que antes não podiam ser despedidos com fundamento em razões objectivas a um novo regime que permite cessar o seu vínculo laboral com base nessas razões, por inobservância do princípio da confiança, enquanto decorrência do princípio do Esta- 108 JOSÉ JOÃO ABRANTES do de direito democrático, do art.º 2.º da CRP, que, nas palavras do acórdão n.º237/98, citado pelo tribunal, postula a “protecção da confiança dos cidadãos e da comunidade na ordem jurídica e na actuação do Estado, o que implica um mínimo de certeza e segurança jurídica nos direitos das pessoas e nas suas expectativas juridicamente criadas”. Aquele preceito conferiu aos funcionários públicos com nomeação definitiva a garantia de não poderem ser objecto de despedimento por razões objectivas, ainda que transitassem para a modalidade de contrato por tempo indeterminado. A remoção dessa garantia, operada pelo decreto, é inadmissível, à luz do princípio da tutela da confiança, por envolver uma mutação na ordem jurídica com a qual os destinatários não poderiam contar. Quando a referida lei admitiu o despedimento por razões objectivas de trabalhadores que correspondiam aos clássicos funcionários públicos, exceptuando os trabalhadores que, antes da sua entrada em vigor, já tinham a nomeação definitiva, foram geradas expectativas de continuidade de um quadro jurídico pautado por uma estabilidade reforçada no emprego. O Estado sustentou até ao presente a salvaguarda dessa estabilidade dos funcionários públicos nomeados definitivamente e que transitaram para contrato de trabalho por tempo indeterminado em funções públicas. O decreto não podia remover de forma abrupta essa garantia contra o despedimento por razões objectivas. É evidente que o princípio da confiança não preclude a liberdade de conformação legislativa,12 mas a afectação de expectativas em sentido desfavorável é inadmissível quando constitua uma mutação com que, razoavelmente, os destinatários das normas não pudessem contar e ainda quando não ditada pela necessidade de salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos que devam considerar-se prevalecentes (devendo recorrer-se, aqui, ao princípio da proporcionalidade, explicitamente consagrado no n.º 2 do artigo 18.º da Constituição). Tal como aparece claramente exposto, por exemplo, nos acórdãos n.os 128/2009 e 188/2009, os critérios referidos são reconduzíveis a quatro requisitos, a quatro testes, sem os quais a confiança dos cidadãos na estabilidade da ordem jurídica e na constância da conduta do Estado não se mostra merecedora de tutela. É necessário, em primeiro lugar, que o Estado, v.g., o legislador, tenha tido condutas capazes de gerar expectativas de continuidade; depois, que tais expectativas sejam legítimas, justificadas e fundadas em boas razões; em terceiro lugar, que os privados tenham feito 12 Como se escreve no acórdão n.º 287/90, citado pelo tribunal, não existe “um direito à nãofrustração de expectativas jurídicas ou à manutenção do regime em relação a relações jurídicas duradoiras ou relativamente a factos complexos já parcialmente realizados”. A CRISE, A REFORMA LABORAL E A JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL EM PORTUGAL 109 planos de vida tendo em conta a prognose de continuidade daquelas condutas; por último, que não haja razões de interesse público justificativas, em ponderadas, da não continuidade dessa conduta geradora de expectativa. Ora, é inquestionável que a segurança do estatuto desses trabalhadores, sempre imune à cessação por razões objectivas, permaneceu inalterada ao longo de diversas e sucessivas reformas. A Lei n.º 12-A/2008 deixou imodificado esse elemento nuclear. Fê-lo relativamente aos trabalhadores que continuaram com vínculo de nomeação definitiva, através do art.º 32.º, com a possibilidade de o empregador público cessar unilateralmente a relação apenas por causas subjectivas; fê-lo também relativamente àqueles que, até então nomeados definitivamente, viram esse vínculo transferido para contrato por tempo indeterminado, através da norma de salvaguarda do n.º 4 do artigo 88.º Tudo isto é feito num contexto que não era alheio a considerações de dificuldades orçamentais graves e a obrigações no contexto da UE, que o legislador teve como compatíveis com a legislação editada. Tratou-se, sem dúvida, de uma manifestação expressiva por parte do Estado de que esses trabalhadores mereciam uma excepção relativamente à cessação da relação jurídica de emprego público. Mais tarde, com o agudizar das dificuldades económico-financeiras do Estado e com o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, os mesmos trabalhadores (juntamente com a generalidade daqueles que recebem por verbas públicas) viram ser-lhes impostas medidas de redução remuneratória, com motivação no benefício de maior estabilidade no emprego em relação aos trabalhadores privados – juízo em que a inaplicabilidade de causas de cessação da relação por razões objetivas foi decisiva. Mais se intensificou, então, o quadro gerador de confiança, resistente a tais constrangimentos, e em função dessa motivação. Tudo isto não pode ter deixado de criar, razoavelmente, nos destinatários da norma que o decreto agora pretendia revogar uma expectativa especialmente forte na preservação em concreto desse regime de excepção, de forma a ter-se como inesperada a eliminação dessa norma de salvaguarda – encontrando-se, pois, verificados os requisitos de tutela da confiança e não havendo razões públicas de peso que sobre ela devam prevalecer.13 13 Noutra perspectiva, falece justificação na igualdade formal que se obtém entre esses trabalhadores e os trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas constituídos a partir de 2009. A uniformidade das relações jurídicas laborais não constitui um valor per se, nem integra, seja no regime público, seja no privado, fundamento de interesse público para postergar a tutela da confiança legítima. Em especial num quadro tão vasto e complexo como a AP, dificilmente deixarão de existir hipóteses de trabalhadores a desempenhar a mesma tarefa 110 JOSÉ JOÃO ABRANTES 3. O acórdão n.º 602/13, de 20-09 3.1. Passemos agora ao acórdão n.º 602/13, de 20-09, que declarou inconstitucionais algumas normas da Lei n.º 53/2012, de 25-06. Entre as medidas de política laboral tomadas na sequência da intervenção da Troika, merecem destaque as alterações ao Código do Trabalho introduzidas pela Lei n.º 23/2012, de 25-06, cujo sentido geral obedece à tal lógica de redução dos custos laborais e dos direitos dos trabalhadores. Isso é visível em qualquer das áreas abrangidas – tempo de trabalho, fiscalização das condições de trabalho, cessação do contrato por motivos objectivos e regime aplicável aos instrumentos de regulamentação colectiva.14 É assim que, por exemplo, o banco de horas – que só podia ser instituído por contratação colectiva – passou a poder ser negociado directamente com o trabalhador (banco de horas individual) e em certas condições, se uma maioria dos trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade económica o aceitar, poderá mesmo vir a ser imposto aos outros trabalhadores contra a sua vontade (“banco de horas grupal”).15 Os acréscimos remuneratórios do trabalho suplementar foram reduzidos para metade. Foram eliminados 4 feriados (dois civis e dois religiosos),16 bem como a majoração de 1 a 3 dias de férias em caso de inexistência de faltas injustificadas ou de número reduzido de faltas justificadas.17 Por outro lado, as empresas poderão encerrar para férias nas “pontes” e retomou-se a velha norma da LFFF, que determina que a falta injustificada a um período normal de trabalho diário imediatamente anterior ou posterior a dia de descanso ou a feriado implica a perda de retribuição (também) relativamente a esse dia. No despedimento por extinção do posto de trabalho, as empresas passaram a ter maior liberdade para escolher os trabalhadores que vão despedir, pois caíram os 14 15 16 17 com regimes não inteiramente coincidentes (o que, note-se, acontece igualmente na relação jurídica de emprego privada). Diga-se ainda que a própria exposição de motivos da proposta legislativa que viria a culminar na Lei n.º 23/2012, só por si, também justificaria a nossa atenção. Para além de outros aspectos, faz-se aí, por exemplo, referência à flexisegurança, quando a proposta nada tem a ver com este conceito. Solução, em nosso entender, de duvidosa constitucionalidade, face, pelo menos, ao art.º 59.º, n.º 1, alínea b) da CRP. Alega-se que o nosso país tem mais feriados do que a generalidade dos países europeus, o que está por demonstrar. Basta lembrar a Quinta-feira da Ascensão, a segunda-feira de Páscoa, o segundo dia de Natal (o “Boxing Day”) e outros casos de feriados nalguns desses países, que o não são em Portugal. O que não deixa de ser curioso, quando, em 2003, essa majoração foi apontada como sendo uma das grandes medidas para a salvação da produtividade e da competitividade. A CRISE, A REFORMA LABORAL E A JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL EM PORTUGAL 111 anteriores critérios de selecção do posto a eliminar, v.g., de antiguidade, bastando agora que a empresa aplique “critérios relevantes e não discriminatórios” para o efeito. Por sua vez, no que toca ao despedimento por inadaptação, este passa a poder ocorrer mesmo sem alterações no posto de trabalho, criando-se, no fundo, um novo tipo de despedimento. Quer naquela primeira modalidade de despedimento quer nesta última, deixa igualmente de ser obrigatório para o empregador tentar colocar o trabalhador em causa noutro posto de trabalho compatível com a respectiva categoria. Muitos outros aspectos poderiam ser trazidos à colação, como, por exemplo, a redução acentuada das compensações por despedimento ou questões em matéria de contratação colectiva, etc. Mas os exemplos apontados já chegam para demonstrar que se continua a privilegiar a aposta num modelo de flexibilidade identificada com a compressão de custos sociais e, consequentemente, reduzida à precarização dos vínculos laborais, à adaptabilidade dos horários de trabalho e à mobilidade. Para além disso, julgamos que há também um aproveitamento da crise vista como uma oportunidade para retirar direitos sociais e proceder a um “ajuste de contas” com as conquistas dos trabalhadores ao longo das últimas décadas. 3.2. Para além da declaração de inconstitucionalidade de alguns segmentos do art.º 7.º da Lei n.º 23/2012, por violação do direito de contratação colectiva, que vamos deixar de parte neste nosso artigo, o acórdão n.º 602/2013 também chumbou a alteração segundo a qual, no despedimento por extinção do posto de trabalho, deixariam de se aplicar os anteriores critérios de selecção do posto a eliminar, passando a bastar que a empresa aplicasse “critérios relevantes e não discriminatórios”, bem como a regra segundo a qual, quer nesse despedimento quer no despedimento por inadaptação, deixaria de ser obrigatório para o empregador tentar colocar o trabalhador em causa noutro posto de trabalho disponível e compatível com a sua qualificação profissional. Subscrevemos por inteiro a posição do tribunal em relação a ambas as questões. No que toca à primeira, considerou-se que a não indicação legal de critérios que devem presidir à selecção dos trabalhadores a despedir não assegura a objectividade do despedimento e o controlo efectivo pelo tribunal da sua validade, antes abrindo a porta à arbitrariedade e à possibilidade de despedimentos baseados exclusivamente na conveniência da empresa. Relativamente à segunda, entendeu-se que o regime lesaria desproporcionadamente a garantia constitucional da segurança no emprego, sendo, por isso, inconstitucional.18 18 “Claramente inconstitucional”, diz Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, p. 508 s. A colocação do trabalhador em causa noutro posto de trabalho disponível e compatível com a sua qualificação profissional é, aliás, uma solução comum aos mais diversos ordenamentos. 112 JOSÉ JOÃO ABRANTES 3.3. Ao invés, já não nos parece de acompanhar a posição do tribunal na parte em que julgou como não contrária à Lei Fundamental a nova figura do despedimento por inadaptação fundado exclusivamente numa diminuição da qualidade da prestação laboral que se traduza em alguma das situações referidas no artigo 374.º, n.º 1, do CT e que seja razoável prever que tenha carácter definitivo. Entendemos que, neste ponto, o tribunal andou mal. No nosso juízo, a referida alteração legislativa é igualmente merecedora de censura do ponto de vista da sua conformidade à Constituição. É o que passamos a explicar de seguida. O despedimento por inadaptação, introduzido no ordenamento português pelo Decreto-Lei n.º 400/91, teve subjacente a finalidade de se acautelar a reestruturação das empresas como instrumento essencial de competitividade no mercado. O conceito traduzia-se numa inadaptação superveniente do trabalhador a modificações no seu posto de trabalho, não suprida mediante formação profissional adequada e um período suficiente de adaptação. Era nessa causa objectiva de o trabalhador não conseguir adaptar-se a uma alteração do seu posto de trabalho, mesmo depois de realizadas todas as diligências necessárias e adequadas a essa adaptação, que se fundava a sua admissibilidade constitucional.19 Ora, com a Lei n.º 23/2012, criou-se, no fundo, um novo tipo de despedimento, em que, contrariamente ao que acontecia antes, o despedimento por inadaptação - que, conforme o art.º 373.º, se traduz na cessação de contrato de trabalho promovida pelo empregador com fundamento em inadaptação superveniente do trabalhador ao posto de trabalho, verificando-se esta em qualquer das situações das várias alíneas do n.º 1 do art.º 374.º (redução continuada de produtividade ou qualidade do trabalho; avarias repetidas nos meios afectos ao posto de trabalho; riscos para a segurança e saúde do trabalhador, doutros trabalhadores ou terceiros), quando, sendo determinada pelo modo de exercício de funções do trabalhador, torne praticamente impossível a subsistência da relação (art.º 374.º, n.º 1)20 – passou a poder ocorrer mesmo sem necessidade prévia de modificações no posto de trabalho. Pode, de facto, ocorrer tanto na sequência dessas modificações por alterações nos processos de fabrico ou de comercialização, novas tecnologias ou equipamentos baseados em diferente ou mais complexa tecnologia, nos seis meses anteriores ao início do procedimento de despedimento (art.º 375.º, n.º 1); ou, então, sem que tenha havido modificações no posto de trabalho, se se verificar a existência de uma modificação substancial da prestação realizada pelo trabalhador, de que resultem nomeadamente situações caracterizado19 20 Acórdão n.º 64/91, já antes referido. Isto é assim no âmbito do regime geral, aplicável aos trabalhadores comuns, não relevando o regime especial dos trabalhadores afectos a cargos de complexidade técnica ou de direcção ( cfr. art.º 374.º, n.os 1 e 2). A CRISE, A REFORMA LABORAL E A JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL EM PORTUGAL 113 ras da inadaptação segundo o referido artigo 374.º, n.º 1, desde que seja razoável prever que tal modificação substancial tenha um carácter definitivo (art.º 375.º, n.º 2). Ou seja, passou a haver duas modalidades distintas de despedimento por inadaptação: uma, correspondente à situação tradicional, em que a inadaptação ocorre após terem sido introduzidas modificações no posto de trabalho; uma outra, na qual, sem alterações no posto de trabalho, há uma modificação substancial da prestação do trabalhador, nomeadamente, uma redução continuada de produtividade ou de qualidade. Esta nova modalidade de despedimento, consagrada no n.º 2 do art.º 375.º e que resulta da inadaptação do trabalhador ao posto de trabalho revelada apenas por uma modificação substancial (e estimável como definitiva) do modo como ele exerce as suas funções, reportando-se a um facto relativo ao trabalhador, não corresponde, porém, à impossibilidade subjectiva determinante da caducidade do contrato. Está em causa, não a impossibilidade de desenvolver a prestação, mas a diminuição significativa da aptidão do trabalhador para a função, por razão a ele atinente, sendo que o carácter permanente desta inaptidão superveniente torna inexigível para o empregador que continue a manter aquele trabalhador ao seu serviço. Não tendo havido alterações no posto de trabalho, a modificação substancial da prestação é unicamente reportada ao modo como o trabalhador exerce as suas funções, traduzido num conjunto de elementos objectivos que revelem uma prestação laboral de menor qualidade ou rendimento, mas sem culpa. Esta modalidade de despedimento – verdadeiramente, uma “inaptidão” ou “menor capacidade profissional” – corresponde a casos em que o trabalhador, sem culpa (o que exclui a justa causa disciplinar), manifeste uma redução ou mesmo cessação das aptidões físicas, psíquicas ou técnicas que levaram à sua contratação e suportaram a sua prestação de trabalho até certo momento. A situação, por sua vez, não é consequência de qualquer modificação técnica ou organizacional ocorrida no posto de trabalho. Se a causa subjacente a esta modalidade de despedimento é, assim, uma causa objectiva, na medida em que assenta em factos referentes a condutas não culposas do trabalhador, a verdade é que há, contudo, uma diferença relativamente às demais modalidades de despedimento por justa causa objectiva, incluindo a inadaptação proprio sensu, nas quais a causa assenta em dados referentes à organização ou gestão da empresa, sendo em consequência destas que se verifica a necessidade, objectivamente fundamentada, de despedir um trabalhador. No caso em apreço, a causa do despedimento refere-se exclusivamente ao próprio trabalhador e ao modo de exercício das suas funções, exigindo-se apenas que a ina- 114 JOSÉ JOÃO ABRANTES daptação, revelada pelos maus resultados da prestação laboral, não lhe seja imputável a título de culpa e que seja razoável prever o seu carácter definitivo. O TC considerou esta diferença irrelevante e, ponderando a segurança no emprego, por um lado, e o direito à livre iniciativa económica, por outro, entendeu que, mesmo sem modificações no posto de trabalho, continua a não ser exigível ao empregador a manutenção do vínculo com um trabalhador que, reconhecidamente, não consegue trabalhar com o equipamento disponibilizado, que põe em risco a sua própria segurança ou a de outros pelo modo como realiza a sua prestação ou cuja produtividade diminuiu drástica e definitivamente – concluindo pela não inconstitucionalidade do despedimento por inadaptação fundado exclusivamente numa diminuição da qualidade da prestação laboral que se traduza em alguma das situações referidas no artigo 374.º, n.º 1, do CT e que seja razoável prever que tenha carácter definitivo. 3.4. Segundo cremos, neste ponto, o tribunal não teve a razão do seu lado. A admissibilidade constitucional do anterior despedimento por inadaptação resulta de o mesmo se fundar na causa objectiva de o trabalhador não conseguir adaptar-se a uma alteração do seu posto de trabalho, mesmo depois de realizadas todas as diligências necessárias e adequadas a essa adaptação. Há aí uma incapacidade de se adaptar a uma situação nova, pressupondo-se uma modificação objectiva no posto de trabalho, à qual o trabalhador, após a verificação de toda uma série de requisitos tendentes à criação das condições para a sua adaptação a essas novas circunstâncias, não consiga adaptar-se. O novo tipo de despedimento é efectivamente um despedimento, não por inadaptação, mas por inaptidão, é um despedimento por falta de capacidade (característica meramente subjectiva) do trabalhador para a realização de determinada tarefa, a ser avaliada exclusivamente com base em critérios subjectivos e unicamente dependentes do juízo do empregador. Ao prever o despedimento por quebra da produtividade ou qualidade do trabalho prestado, a lei defere ao empregador a avaliação e a decisão sobre o cumprimento ou não dos objectivos que ele próprio determina, não tendo em conta que é o próprio empregador, detentor dos meios de produção, o principal responsável pela criação das condições de cumprimento ou não. Quando se dispensa a inovação ou alteração tecnológica do posto de trabalho, deixamos de estar perante uma causa objectiva e passamos a estar perante uma causa subjectiva (embora não culposa), um facto do próprio trabalhador que, sem que tivesse ocorrido qualquer causa externa relacionada com o posto de trabalho, passa a produzir menos ou com menos qualidade; acaba então por se deixar à entidade patronal uma larga margem de arbítrio. A consideração da inaptidão acaba por ficar dependente do juízo da entidade patronal acerca da redução da produtividade e da A CRISE, A REFORMA LABORAL E A JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL EM PORTUGAL 115 qualidade da prestação laboral. Com base nesta nova forma de despedimento, o empregador pode fazer cessar a relação assentando em critérios não sindicáveis pelos trabalhadores, pelas suas organizações representativas, pela ACT ou pelo tribunal. Não havendo essa verdadeira possibilidade de controlo dos critérios que podem conduzir ao despedimento, então está-se perante uma clara violação do art.º 53.º da CRP. Até porque a modificação substancial (não culposa) da prestação só ganha espaço, como justa causa objectiva de despedimento, se, paradoxalmente, for utilizado um termo subjectivo de comparação, que é a performance de que esse mesmo trabalhador anteriormente fora capaz. Ele é inadaptado, se for substancialmente menos produtivo do que no passado. Estamos, assim, face a uma solução que, como bem realçou o Conselheiro Sousa Ribeiro, na sua declaração de voto, citando, aliás, Monteiro Fernandes, abre caminho “à exclusão dos trabalhadores mais desgastados, de idade mais avançada ou com condições físicas e/ou psíquicas diminuídas”, dado que as pessoas perdem naturalmente capacidades à medida que envelhecem. Se assim é, então essa solução não é compatível com a garantia constitucional do art.º 53.º da CRP nem com exigências constitucionais de tratamento do trabalhador como pessoa e como cidadão, antes o encarando, numa óptica crassamente produtivista, exclusivamente como factor de produção. Não corresponde, de facto, aos critérios da Lei Fundamental que algo inelutavelmente preso à condição humana possa servir de justificação para o empregador despedir um trabalhador que anteriormente desempenhou bem as suas funções e que, de acordo com padrões médios, continua a desempenhá-las. Por isso, entendemos que o novo despedimento por inadaptação, sem alterações tecnológicas no posto de trabalho, se situa fora dos parâmetros constitucionais. 4. Síntese conclusiva 4.1. De facto, a visão economicista do legislador contraria claramente a concepção humanista da Constituição de 1976. Esta, um corolário da revolução democrática de Abril de 1974, constitui a Lei Fundamental do nosso ordenamento jurídico, limita e racionaliza o exercício do poder, fonte suprema (“tête de chapitre”) do direito público e também do próprio direito privado. É no reconhecimento da normatividade da Constituição que se encontra, aliás, o ponto de partida do sistema de controlo da constitucionalidade baseado na existência de um Tribunal Constitucional, órgão que assenta, precisamente, nessa ideia de superioridade hierárquica da Constituição, de que deve ser o guardião, devendo 116 JOSÉ JOÃO ABRANTES garantir que as normas legais e outros actos infraconstitucionais não ofendem as regras e os princípios constitucionais. Não fazem sentido acusações feitas, nos últimos tempos, a esse órgão. É espantoso que se venha dizer que o Tribunal deverá ter em conta, no seu juízo, a situação do país, nomeadamente o facto de nos encontrarmos submetidos a uma intervenção externa; desejariam os acusadores que o Tribunal Constitucional tivesse inventado uma teoria jurídica qualquer que colocasse acima da nossa Constituição outros instrumentos, nomeadamente o Memorando de Entendimento.21 O que é de estranhar é que alguns juristas, nomeadamente constitucionalistas, digam, por estas ou outras palavras semelhantes, que o (único?) princípio a ter em conta é hoje o da necessidade, perante o qual todos os outros devem ceder, ou que a situação em que estamos justifica uma adaptação das normas constitucionais que limite o seu alcance garantístico. É inadmissível, não é legítimo, que, em nome do combate ao défice das contas públicas, se permita que se instale o não-direito e se esqueça a Lei Fundamental e com ela o próprio Estado democrático de direito. Quem deve ter em conta os limites constitucionais é quem negoceia e quem aplica textos como aquele MoU, não podendo os direitos fundamentais e o Estado de Direito Democrático garantidos na Constituição ser subalternizados. 4.2. Fiel ao mercado, o neo-liberalismo defende o enfraquecimento do Estado na sua dimensão e nos seus fins, conduzindo, no plano laboral, ao abandono do proteccionismo e ao regresso à plena autonomia da vontade e liberdade contratual. Uma tal concepção da pessoa humana, da sociedade e do Estado ignora ao fim e ao cabo que as liberdades colectivas e o estatuto de protecção do trabalhador são parte integrante da democracia moderna e que, no mercado, a ausência de regras beneficia sempre os elos mais fortes da cadeia, maximizando as injustiças e o fosso entre os mais fortes e os menos favorecidos. A verdade é que estamos face a um ramo do direito que ainda hoje se mantém fiel aos pressupostos, que estiveram na sua génese, de promoção da igualdade material e de protecção do contraente débil, que há muito mais de um século tão bem traduzidos foram no aforismo de que “entre o fraco e o forte é a lei que liberta e a liberdade que oprime”. A aposta não deverá ser a do neo-liberalismo. O remédio mais eficaz para o desemprego é antes o crescimento económico, que pressupõe melhor educação e formação profissional, melhor gestão das empresas e políticas activas de emprego, de reconversão profissional e de protecção social. Não há, não pode haver, produtividade nem competitividade das empresas sem uma adequada organização e gestão das mesmas, sem progresso tecnológico, formação e valorização profissional, não 21 Que, na verdade, até tem sido levado em conta, em nosso entender, às vezes, de forma excessiva, pelo Tribunal – como facilmente se poderá verificar pela análise de alguns dos acórdãos referidos, maxime, deste último, o 602/13. A CRISE, A REFORMA LABORAL E A JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL EM PORTUGAL 117 podendo, obviamente, menosprezar-se a importância do factor humano, v.g. da motivação dos trabalhadores e do respeito pelos seus direitos, enquanto elemento essencial para o bem-estar e o dinamismo das empresas. Esses, sim, são os factores verdadeiramente decisivos para a produtividade. É preciso combater a ideia que sustenta que, em última análise, o melhor seria não haver direito do trabalho, a ideia que vê o trabalho como uma mera mercadoria e procura, por isso, reduzir este ramo do direito a um mero instrumento de gestão. Além disso, acresce que a receita neoliberal nem sequer tem dado os apregoados frutos. No nosso país, estamos hoje com uma situação económica e social, marcada por índices de desemprego e recessão nunca antes atingidos. O próprio défice das contas públicas é cada vez maior e assiste-se a uma colossal transferência de rendimentos e de poder daqueles que menos têm para aqueles que já mais têm; faz-se cair sobre os mais pobres o custo da crise e aumenta-se, assim, cada vez mais, o fosso entre ricos e pobres. A saída da crise passa, não pela austeridade e o empobrecimento das pessoas e das famílias, mas, sim, pelo crescimento económico e o consequente aumento do consumo e do investimento, o aumento das receitas fiscais, etc. A crise que assola a Europa coloca a necessidade de o Velho Continente conceber políticas concretas que previnam o empobrecimento e corrijam as desigualdades sociais. O grande desafio colocado ao direito do trabalho é hoje o de reencontrar aquela que sempre foi a sua questão fundamental: a justiça social. É isso que, hoje, como sempre, está em causa no direito do trabalho. Por isso, ele continua hoje a fazer sentido diria mesmo, hoje mais do que nunca. Porque, nestes tempos de ultraliberalismo, é preciso, de facto, afirmar que há valores cuja prossecução não pode ser confiada ao mercado e que o primeiro desses valores é a dignidade da pessoa humana – a dignidade que cada ser humano, pelo simples facto de o ser, possui. Num tempo em que a produtividade é muitas vezes convertida no único critério para aferir o valor-trabalho e o social tende por vezes a ser degradado em sub-produto do económico, o direito do trabalho é um espaço privilegiado para a actuação da directriz personalista, que aponta para uma cidadania plena – e designadamente na empresa. A luta pelo Direito, de que falava Ihering, afinal a luta, por um mundo “mais livre, mais justo e mais fraterno”, de que fala o preâmbulo da Constituição, tem hoje, num momento em que os imperativos económicos procuram questionar muitos dos dogmas tradicionais desta disciplina jurídica, um campo de eleição na área juslaboral – até porque a defesa dos mais fracos é, deve ser, uma das funções do Estado democrático de direito, em consonância, aliás, com os ideais humanistas, que proclamam a necessidade de 118 JOSÉ JOÃO ABRANTES cada ser humano realizar a solidariedade que deve aos seus semelhantes, particularmente àqueles que não têm voz nesta sociedade desigual e injusta em que vivemos. O governo dos fundos de compensação do trabalho e do fundo de garantia de compensação do trabalho VIRGÍLIO MACHADO * Sumário: I. Introdução. Os conceitos e o problema da investigação II. Metodologia de investigação III. A Natureza Jurídica dos Fundos de Compensação do Trabalho e de Garantia de Compensação do Trabalho IV. O Corporate Governance dos Fundos de Compensação do Trabalho e de Garantia de Compensação do Trabalho V. Conclusões Finais Resumo O sistema de governação de organizações carece de estudos e investigação na doutrina jurídica e científica nacional. Este sistema, designado internacionalmente como corporate governance, é um instrumento importante para a análise da robustez e eficiência das organizações. Neste artigo, é analisado o regime jurídico dos Fundos de Compensação do Trabalho e de Garantia de Compensação do Trabalho criados pelo legislador em 2013, na sequência de compromissos do Governo concluídos em sede de concertação social. Conclui-se que o legislador nacional está deficitário no cumprimento de princípios e boas práticas de corporate governance e distante de vinculações jurídicas constitucionais que impõem a eficiência, a racionalidade, a unidade e eficácia da Administração Pública. Palavras-chave: Sistema, Governação, Organização, Informação, Triangulação. JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 119-136. * Professor Adjunto, Universidade do Algarve. 120 VIRGÍLIO MACHADO I. Introdução. Os conceitos e o problema da investigação. Entende-se por governo (ou governação) das organizações, o sistema de normas jurídicas, de práticas e comportamentos relacionados com a estrutura de poderes decisórios-incluindo a administração, a direcção e demais órgãos directivos- e a sua fiscalização (Câmara, 2011). Este sistema de governação compreende matérias como a determinação do perfil funcional dos actores organizativos e titulares de órgãos e corpos organizativos e ainda as relações entre estes e ou os titulares do capital, os associados ou fundadores e todos os sujeitos considerados relevantes para a sustentabilidade das organizações, os denominados stakeholders, definidos como qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado para a concretização de objetivos organizacionais (Freeman,1984). Esta investigação insere-se, então na problemática do corporate governance, tal como fundada nos tempos modernos pelo Relatório Cadbury em 1992 que se dirigia a sociedades cotadas em bolsa (Câmara,2011), visando expandir critérios de bom governo e boas práticas das organizações tendentes a melhorar a sua optimização de desempenho, o reforço da capacidade competitiva, a maximização da capacidade de financiamento externo, a salvaguarda da reputação organizacional e a garantia de continuidade das organizações. As exigências de interesse público nesta matéria são reforçadas, seja porque a Constituição prevê a regulação da intervenção do Estado como fundador de organizações tão distintas como as associações públicas, as fundações públicas e as empresas públicas, através de leis de bases (respectivamente, art.os 165º nº 1 alínea s) e u) da CRP), seja porque existe uma obrigação constitucional de eficiência do sector público, enquanto incumbência prioritária do Estado no domínio económico e social (art.º 81º alínea c) da CRP). A análise jurídica de corporate governance aplicável a organizações de Direito do Trabalho levanta particulares dificuldades, dada a natureza híbrida deste ramo de Direito (Fernandes, 2012), em que confluem relações e interesses jurídicos de diversa ordem, individuais, dos trabalhadores e empregadores, de grupo ou coletivas, pelas respectivas associações e ainda de natureza pública, de ordem social ou económica e de interesse geral. O Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho adiante designados FCT e FGCT foram instituídos normativamente por acto legislativo solene da Assembleia da Republica (Lei 70/2013, de 30 de Agosto). São caracterizados como fundos autónomos com personalidade jurídica (art.º 3º nº 2). O GOVERNO DOS FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO 121 A vontade normativa publica é relevante na sua fundação e constituição, pelo que a investigação convocará necessariamente o enquadramento legal administrativo deste tipo de organização. O paradigma da organização jurídico-administrativa de prestação de serviços públicos personalizados, de carácter não empresarial, para além do Estado e como figura de referência é e tem sido em Portugal, desde há mais de um século, o Instituto Público, sendo que, no seu âmago, existiriam várias categorias, uma das quais, a Fundação Pública quando, no seu substrato, avultasse o elemento patrimonial (Caetano, 2001). A designação Instituto Publico fez caminho no Direito Administrativo português para designar uma nova pessoa coletiva que prosseguisse a actividade administrativa para além do Estado, mas sob a sua tutela e superintendência, incluindo serviços públicos personalizados ancorados em fundos ou patrimónios vinculados a fins específicos. Na verdade, a Lei-Quadro dos Institutos Públicos, aprovada pela Lei 3/2004, de 15 de Janeiro, faz inserir no seu regime jurídico os serviços e fundos, quando dotados de personalidade jurídica, que integram a Administração Indirecta do Estado, de carácter não empresarial (art.º 3º nº 1 e nº 3). Os fundos públicos personalizados, também se denominam fundações públicas, como tal se designando as universalidades compostas por pessoal, bens, direitos e obrigações e posições contratuais do instituto afectos em determinado local à produção de bens ou à prestação de serviços no quadro das atribuições da pessoa coletiva (art.º 3º nº 2 da Lei 3/2004). Os problemas da investigação são reforçados quando as Fundações são autonomizadas por uma nova Lei-Quadro em 2012, a saber a Lei 24/2012, de 9 de Julho que contempla regras específicas (art.os 48º a 56º) das fundações públicas, estas podendo ter por fim a promoção de quaisquer interesses públicos de natureza social (v.g. protecção laboral) (art.º 49º nº 2), quanto a princípios gerais de organização, criação e acto estatutário, órgãos e serviços, gestão económica e financeira e de acompanhamento, avaliação de desempenho e fiscalização. Na problemática do bom governo das organizações, Farinho (2011) destaca a tensão dilacerante entre os conceitos de Instituto Publico e Fundação Pública, que pode desvalorizar a autonomia deste conceito, implicando o seu regime no enquadramento legal previsto para os Institutos Públicos. 122 VIRGÍLIO MACHADO O problema da investigação está colocado. Para o bom governo da organização, sejam os Fundos de Compensação do Trabalho ou de Garantia de Compensação do Trabalho que princípios e regras jurídicas gerais serão aplicáveis? As dos institutos públicos? As das fundações públicas? Ou de um terceiro género, atendendo à natureza especial destas organizações e dos seus regimes jurídicos específicos? A resposta a estas questões é importante para a problemática e objetivos da investigação. II. Metodologia de investigação. A metodologia seguida primará pela utilização do método jurídico de interpretação das leis, segundo os elementos histórico, teleológico e sistemático (Pereira, 2007), utilizando uma perspectiva holística e integrada de uniformização de vinculações jurídicas às organizações instituídas por vontade normativa pública que tenham um forte substrato patrimonial na sua constituição e finalidade. Tal perspectiva permitirá identificar métodos estruturais e funcionalistas, próprios da Ciência do Direito (Gabardo,2003) que permitam descortinar o porquê e o para quê das organizações com identificação de tensões construtivas entre diversos titulares de interesses nessas organizações. Utilizando-se uma metodologia qualitativa de triangulação, própria das Ciências Sociais (Decrop, 2004) serão identificados três pólos de interesses específicos na organização, a saber: a) Os interesses dos contribuintes do Fundo (os empregadores). Estes contribuem financeiramente, por via de uma obrigação legal, para a sustentabilidade do Fundo; b) Os interesses dos beneficiários das contribuições (os trabalhadores) que, por via da ocorrência de um facto jurídico (a cessação do contrato de trabalho) têm direito a uma compensação pecuniária prevista na lei; c) Os interesses das entidades gestoras que realizam a actividade de gestão e administração do Fundo. Assim, a investigação constitui um exercício de optimização estrutural, de coerência entre objectivos externos e incentivos internos, de centralidade, à captura de valor, pelo Direito, para as organizações “Fundo de Compensação do Trabalho” e Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho” para, segundo a perspectiva triangular atrás assinalada, se detectarem alinhamentos de processos (Pavlovich, 2003), coerência de relações entre agentes, com a formulação de padrões, contrariando perdas ou excessos de aplicação de recursos (Clarke, 2004) e criação de padrões de interacção e troca de informação (Saixena, 2005), que induzam confiança e valor no compromisso de sustentabilidade e bom governo da organização. O GOVERNO DOS FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO 123 A procura de qualidade na regulação de organizações que têm um elemento patrimonial relevante no seu substrato é uma obrigação do Estado Português assumida no memorando de entendimento com o BCE/FMI/UE em 17.05.2011 (acessível em http://www.portugal.gov.pt/media/371372/mou_pt_20110517.pdf <consulta em 23.04.2014), que prevê no seu ponto 3.42. a regulação, por lei, da criação e funcionamento de fundações criadas pela Administração Central e Local, bem como a definição de mecanismos de monitorização e reporte e de avaliação e desempenho, pelo que se entende serem estas vinculações uniformes e padrões, numa perspectiva sistemática, das linhas de força da investigação. III. A Natureza Jurídica dos Fundos de Compensação do Trabalho e de Garantia de Compensação do Trabalho. O FCT e o FGCT foram instituídos normativamente pela Lei 70/2013, de 30 de Agosto, na sequência das alterações efectuadas ao art.º 366º do C. Trabalho, pela Lei 69/2013, da mesma data, que reduziram os montantes de compensação devidos aos trabalhadores por cessação do contrato de trabalho. A génese histórica destes Fundos teve origem no Acordo Tripartido de Competitividade e Emprego celebrado em 22 de Março de 2011 na Comissão Permanente de Concertação Social, que previa a criação de um mecanismo de financiamento, de base empresarial, destinado a garantir o pagamento parcial das compensações ao trabalhador por cessação do contrato de trabalho, compensações que iriam sofrer redução, tendo em vista garantir maior competitividade às empresas e criação líquida de emprego. No acordo, previa-se que o mecanismo seria dirigido para novos contratos de trabalho, garantindo de imediato 50% das compensações devidas em caso de encerramento ou falência da entidade empregadora e suportaria também 50% da compensação para todos os contratos com duração superior a 3 anos, com uma taxa de financiamento inferior a 1% das remunerações do trabalhador. Na Lei 70/2013, o legislador optou pela criação de dois fundos, os já referidos FCT e o FGCT, sendo apresentados como fundos destinados ao mesmo fim, ou seja, a assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento efetivo de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, calculada nos termos do artigo 366.º do Código do Trabalho (art.º 3º nº 1). O FCT é apresentado como um fundo de capitalização individual, que visa garantir o pagamento até metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho e que responde até ao limite dos montantes entregues pelo empregador e 124 VIRGÍLIO MACHADO eventual valorização positiva (art.º 3º nº 4). A natureza do seu regime de capitalização pressupõe, como veremos, um sistema de informação mais conexionado com o seu contribuinte (o empregador). Por sua vez, o FGCT é um fundo de natureza mutualista, que visa garantir o valor necessário à cobertura de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, subtraído do montante já pago pelo empregador ao trabalhador (art.º 3º nº 5). A sua natureza de garantia e cobertura, pressuporá, ao inverso do FCT, um sistema de informação mais conexionado com os interesses do trabalhador. O FCT e o FGCT estão regulamentados pela Portaria 294-A/2013, de 30 de Setembro. Os seus regulamentos de gestão estão, publicados na II série do Diário de Republica de 14.10.2013, respectivamente, através das Portarias n.os 390-B/2013 e 390A/2013. Estes mecanismos de garantia e de protecção do trabalhador não são novos no Direito do Trabalho. Já o D.L. nº 219/99, de 15 de Junho, que instituiu o Fundo de Garantia Salarial, adiante designado FGS, assegurava o pagamento de créditos emergentes de contrato de trabalho ou sua cessação, nos casos em que a entidade empregadora estivesse numa situação de insolvência ou em situação económica difícil. O Fundo de Garantia Salarial mantém-se previsto no art.º 336º do Código do Trabalho, destinado a assegurar créditos do trabalhador emergentes da violação ou cessação do contrato de trabalho, que não possam ser pagos pelo empregador por motivo de insolvência ou de situação económica difícil. A sua regulamentação consta dos art.os 317º a 326º da Lei 35/2004, de 29 de Julho, adiante designada LFGS. Numa perspectiva de corporate governance e de bom governo das organizações, pergunta-se se a natureza jurídica destas organizações é a mesma, de forma a permitir uma análise comparatística entre os respectivos institutos e se detectarem, ora homologias, ora diferenças estruturais, para se avaliar melhor, numa perspectiva sistémica, o seu sistema jurídico de governo e de práticas de governação. Em comum, existe um forte substrato patrimonial na natureza destes Fundos. Igualmente, a sua afectação a uma vinculação e fim específico, ou seja, o pagamento de créditos dos trabalhadores resultantes da cessação do contrato de trabalho. Em comum, ainda a sua instituição pelo Estado, através de uma vontade normativa, convocando interesses considerados de interesse público e ordem económica geral, assentes na estabilidade e confiança das relações laborais, através de mecanismos preventivos e tutelares de garantia de ressarcimento de créditos laborais após cessação do contrato de trabalho. O GOVERNO DOS FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO 125 Os Fundos inserem-se numa matriz própria e específica do Direito do Trabalho, ou seja, a de protecção do trabalhador individual subordinado face ao empregador, numa perspectiva de correcção da assimetria das relações de poder entre ambos e de compensar a debilidade contratual originária do trabalhador no plano individual (Fernandes, 2012). Numa perspectiva funcionalista, os Fundos destinam-se a garantir a tutela de direitos de crédito do trabalhador. Em que o Estado se assume, na sua qualidade de regulador da ordem económica laboral, como gestor dos mesmos, seja por via de financiamento público, destinado a pagar créditos reclamados em tribunal, num processo de insolvência, seja por via de financiamento patrimonial privado coercivamente e obrigatoriamente imposto por lei ao empregador. Em todo o caso, embora os Fundos não tenham “missões típicas de autoridade”, nem por isso deixam de convocar princípios e regras jurídicas próprias de Direito Público e de interesse público. Assim, conclui-se que a análise do sistema de corporate governance do FCT e do FGCT pode ser enriquecida, quer com a comparação com o sistema jurídico instituído para o FGS, quer pelo recurso às vinculações jurídico- públicas constantes, quer da Lei-Quadro dos Institutos Públicos, quer da Lei-Quadro das Fundações Públicas, atrás mencionadas e que se aplicam a estes Fundos Públicos, enquanto patrimónios autónomos vinculados a fins de interesse público e de ordem económica laboral. IV. O Corporate Governance dos Fundos de Compensação do Trabalho e de Garantia de Compensação do Trabalho. O corporate governance procura um tratamento jurídico e científico uniforme para os problemas da governação organizativa (Câmara, 2011). A governação pode ser desenvolvida através de múltiplas ferramentas (estatutos, códigos de conduta, normas jurídicas em sentido próprio), mas a sua funcionalidade é vista como uniforme (Lomba e Lino, 2011; Antunes, 2011; Oliveira,2011). O corporate governance tem como objetivos a procura de fórmulas organizativas robustas, eficientes e aptas a assegurar a profissionalização da gestão, maximização do desempenho e a fazer cumprir o interesse público na realização do objeto social. Princípios importantes como a prestação de informação anual sobre a governação, deveres de lealdade e cuidado na administração, dupla fiscalização, pública e privada, transparência de processos, incentivos e remuneração a um bom desempenho, 126 VIRGÍLIO MACHADO avaliação e controlo pelos titulares de interesses na organização, constituem referenciais da investigação em corporate governance. Em Direito do Trabalho, a perspectiva desenvolvida pelo corporate governance apresenta-se de particular utilidade. A natureza híbrida deste ramo de Direito, em que confluem interesses públicos e privados, prosseguidos, muitas vezes, em concertação e de modo paritário numa perspectiva organizacional (ex: concertação social, comissões paritárias, contratação coletiva) aconselha uma perspectiva transversal e homogeneizadora (público-privada) para o seu funcionamento. Quando organizações como os FCT ou FGCT são criadas por lei para protecção de interesses laborais, através de patrimónios, recursos partilhados ou afectos a fins vinculados comuns, sendo geridos por organizações em que a vontade é também codeterminada, ou pelo menos, fortemente condicionada por uma pluralidade de interesses público-privados, o corporate governance surge como ferramenta de extraordinário interesse e acuidade para análise de sua eficiência e robustez. Esta perspectiva é sustentada, também nas vinculações jurídico-publicas constantes da Constituição, em especial, da obrigação de zelo do Estado em assegurar a eficiência do sector público (art.º 81º alínea c) da CRP); a eficácia e unidade da acção administrativa e a racionalidade dos meios a utilizar pelos serviços (art.º 267º nº 2 e nº 5 da CRP) no que dir-se-ia, os mesmos princípios seriam perfeitamente aplicáveis a qualquer organização privada. A nossa análise, doravante, focalizar-se-á nas vinculações jurídico-públicas constantes de Leis-Quadro aplicáveis à Administração Indirecta do Estado e análise da sua eventual repercussão, se positiva, no sentido da sua homogeneização e transversalidade no regime dos FCT e FGCT, se negativa, pela inexistência de qualquer ligação. Uma primeira nota a registar é que a Lei 70/2013, já referida, e que institui os FCT e FGCT não prevê remissão subsidiária para Leis-Quadro da Administração Indirecta do Estado, equiparando-os, apenas, a Fundos de capitalização administrados pelas instituições de segurança social (art.º 57º nº 1), sendo geridos, respectivamente, pelo Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I. P. e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. (art.º18º nº 2). Esta nota constitui notável entorse às perspectivas de corporate governance, no que vai resultar, com grande probabilidade, a falta de uma perspectiva transversal e homogeneizadora dos regimes dos FCT e FGCT, em articulação com as referidas Leis-Quadro. O GOVERNO DOS FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO 127 Na verdade, na já referida Lei 3/2004, adiante designada LQIP (Lei-Quadro dos Institutos Públicos), o modelo de conselho directivo é o adoptado para o órgão de administração e gestão, dispondo ainda, obrigatoriamente, de um fiscal único, prevendo-se a possibilidade de outros órgãos, nomeadamente, de natureza consultiva ou de participação dos destinatários da respectiva actividade (art.º 17º nos 1 a 3). O método da triangulação, atrás referido no capítulo da metodologia, está aqui desenvolvido na LQIP pelo modelo adoptado em que se combinam órgãos administrativos, de fiscalização e consultivos, podendo esta combinação resultar numa dupla fiscalização ao órgão administrativo. Este modelo não tem sequência no regime dos FCT e FGCT. A CRP confere às associações sindicais o direito de participar na gestão das instituições de segurança social e de outras organizações que visem satisfazer os interesses dos trabalhadores (art.º 56º nº 2 alínea b). O modelo de representação de tais interesses enquadra-se num Conselho de Gestão (órgão superior de administração), composto pelo Presidente das instituições de segurança social gestoras e onze vogais, três indicados pelo Governo, quatro pelas confederações patronais e quatro pelas confederações sindicais (dois por cada), com assento na Comissão Permanente de Concertação Social (art. os 21º e 37º da Lei 70/2013). Neste modelo, o Governo, em combinação com os representantes dos empregadores ou dos trabalhadores, e, alternativamente, em cada contexto mais favorável, aliandose a uns interesses contra outros, pode assegurar as maiorias necessárias às deliberações do Conselho de Gestão. Assim, a dupla fiscalização, desejável, em termos de corporate governance, não tem aqui viabilidade e efectividade. Dir-se-ia que o imperativo constitucional de dar relevo à representação de interesses das associações sindicais na gestão de instituições de segurança social acaba por ser subvertido e vencido por um princípio jurídico material normativo, paradoxalmente instituído em lei ordinária, de paridade e de igualdade desses direitos com as das entidades empregadoras, não havendo, também, homogeneidade e uniformidade com o regime constante da LQIP. A previsão constitucional não seria posta em causa e poderia ser reforçada com a participação sindical maioritária num Conselho Consultivo com competência para emissão de pareceres favoráveis sobre, nomeadamente, planos de actividades, orçamentos e relatórios e contas dos Fundos, assim se reforçando mecanismos de transparência, rigor e princípios de democracia participativa que estão na base e génese do referido art.º 56º nº 2 alínea b) da CRP. 128 VIRGÍLIO MACHADO O modelo de Conselho Consultivo está também previsto na Lei-Quadro das Fundações (Lei 24/2012), adiante designada LQF, no seu art.º 13º e, em especial, no art.º 53º nº 1 que remete para a LQIP, um regime subsidiário de aplicação de normas organizacionais e de serviços. O modelo de Conselho Consultivo ou de um Conselho Geral numa perspectiva de corporate governance permitiria uma representação mais consistente dos interesses dos trabalhadores e empregadores num órgão distinto da administração, obrigando a concertações e consensos técnicos nos pareceres, nomeadamente, sobre relatórios de actividades e regulamentos internos (ver art.º 31º da LQIP). Instituir-se-ia, assim, um regime de dupla fiscalização (para além do fiscal único) da administração dos FCT e FGCT por quem efectivamente participa (como contribuinte ou como destinatário dos fundos) nos interesses fundamentais da gestão dos Fundos. Assim não o entendeu o legislador, em desvio de regimes gerais e vinculações constitucionais. Numa perspectiva organizacional, registe-se ainda que o modelo de governação dos FCT e FGCT é similar. Assente no já referido Conselho de Gestão quanto à superior administração do Fundo (maxime, com a aprovação do plano de atividades e do orçamento, relatório de atividades e de contas e balanço anuais – art.os 22º nº 1 alíneas a) e b) e 38º nº 1 alíneas a) e b); a administração executiva corrente é confiada ao Presidente do Conselho de Gestão (art.os 24 e 40º) com amplos poderes. O regime de fiscalização é entregue a um fiscal único, quer para o FCT (art.os 25º e 26), quer para o FGCT (art.os 41º e 42º). As competências são uniformes (ex: emitir parecer sobre o orçamento, o plano anual de atividades, o relatório de contas e o balanço anuais e fiscalizar a execução da contabilidade do FCT e o cumprimento dos normativos aplicáveis, informando o conselho de gestão de qualquer anomalia detetada). Existe um notável decalque entre o regime organizacional dos FCT e FGCT. Os art.os 21º, 22º,23º,25º,26,º27º da Lei 70/2013, quanto ao modelo organizacional do FCT são replicados nos art.os 37º,38º,39º,40º,41º,42º,43º no FGCT. O regime jurídico do FCT é subsidiariamente aplicável ao do FGCT (art.º 50º). Pergunta-se se esta duplicação de regimes normativos e de Fundos na gestão de contribuições destinada a um mesmo fim (o pagamento de créditos dos trabalhadores) provenientes do mesmo facto jurídico (a cessação do contrato de trabalho) é racional, se assegura a unidade e eficácia da Administração e o princípio de eficiência de que o Estado está obrigado a zelar na gestão do sector público, tudo imperativos constitucionais já anteriormente assinalados. O GOVERNO DOS FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO 129 A dúvida instala-se ainda mais, tendo em atenção que existe mais um Fundo (o FGS, já referido) que cobre a factualidade de insolvência ou de situação económica difícil do empregador (art.º 336º do C. Trabalho), como geradora da sua intervenção para pagamento de créditos ao trabalhador, onde não se excluem os advenientes do art.º 366º do Código do Trabalho (art.º 317º da LFGS). Toda esta duplicação/triplicação de Fundos vai obrigar a sistemas complexos de informação e comunicação entre os próprios para a tutela de um mesmo fim genérico (a tutela de direitos de crédito do trabalhador advenientes da cessação de contratos de trabalho), o que coloca especiais problemas no seu sistema de governação. A informação e seu tratamento em sistemas, relatórios e comunicações operacionais fundadas num regime jurídico uniforme, claro e acessível aos interessados na sustentabilidade da organização (stakeholders) é uma variável fundamental do corporate governance. Vamos analisá-la agora no regime dos FCT e FGCT e seu enquadramento comparatístico, quer com o regime da LFGS, quer com as Leis- Quadro da Administração Indirecta do Estado. O plano de actividades, o orçamento anual, o relatório anual de atividades e o relatório de contas e balanço de cada exercício submetidos à apreciação e aprovação do conselho de gestão são publicados no sítio da internet do FCT (art.º 24º nº 3). Não assim no FGCT, quanto às competências do Presidente do Conselho de Gestão (art.º 40º nº 3), em que na norma comparativa nada se estabelece. A aprovação destes documentos é publicada nos sítios da internet dos dois fundos (artº 12º nº 5 para o FGCT e o 22º nº 5 para o FCT, ambos da Portaria nº 390/A/2013 e 390/B/2013, já referidos). Por sua vez, na LQIP (art.º 44º) prevê-se que, na página eletrónica dos institutos públicos devam ser publicados os diplomas legislativos que os regulam, os estatutos e regulamentos internos; a composição dos corpos gerentes, e respectiva remuneração; os planos de actividades e os relatórios de actividades dos últimos três anos; os orçamentos e as contas dos últimos três anos, incluindo os respectivos balanços e o mapa de pessoal. Iguais preocupações constam no art.º 9º nº 1 alínea d) da LQF quanto aos relatórios de actividades, orçamentos e contas para os últimos três anos. Não existe similar norma, com esta abrangência, para o regime dos FCT e FGCT. Na verdade, ainda que o Presidente do Conselho de Gestão e os membros do Conselho de Gestão indicados pelo Governo não aufiram remuneração (art. os 21º nº 7 e 37º nº 7 da Lei 70/2013), a indicação de remuneração ou senhas de presença auferi- 130 VIRGÍLIO MACHADO das pelos outros membros do Conselho de Gestão ou indicação do mapa de pessoal deveriam constar de informação transparente e acessível no sítio da internet. A preocupação da contenção com despesas de funcionamento dos Fundos está prevista no art.º 20º da Lei 70/2013, em que as despesas de funcionamento do FCT e do FGCT apenas são cobertas por dedução aos rendimentos obtidos com a aplicação de capitais, não podendo essas deduções ultrapassar 25 % do rendimento gerado. Todavia, insiste-se, uma boa prática de corporate governance implicaria que, normativamente, o comprovativo do cumprimento deste limite estivesse acessível no sítio da internet sobre informação anual das contas dos Fundos. Só os regulamentos de gestão do FCT e FGCT são publicados no Diário da República (art.º 7º nº 4 da Lei 70/2013) pelas já referidas Portarias 390/B/ e 390/A/2013. E prevê-se que os regulamentos internos do conselho de gestão sejam publicados no sítio da internet (art.os 22º nº 1 alínea e) e 38º nº 1 alínea e) para o FCT e FCGT, respectivamente. Dir-se-ia que a informação de registo público e acessível electronicamente é muito menos exigente para os FCT e FGCT do que as referências genéricas exigíveis para a Administração Indirecta do Estado. O sistema de informação entre os Fundos assenta nalguns eixos fundamentais, quais sejam: a) Sujeição a um dever de cooperação entre os conselhos de gestão do FCT e FGCT, nomeadamente, com o estabelecimento de mecanismos de troca de informação, com vista a garantir o desempenho eficiente das suas atribuições (art.º 58º da Lei 70/2013); b) A centralidade do FGCT quanto às informações a solicitar ao FCT e ao empregador quando existe um pedido do trabalhador a solicitar o pagamento de metade da compensação prevista no art.º 366º do C.T. (art.º 46º nº 1, 4 e 5 da Lei 70/2013); c) Comunicação pelo FGCT ao Fundo de Garantia Salarial, quando este o requeira, sobre a decisão de atribuição ao trabalhador de qualquer pagamento pelo FGCT devendo ser -lhe notificada, com indicação dos valores eventualmente pagos pelo empregador (art.º 48º nº 2 da Lei 70/2013). d) Utilização, pelo FCT e FGCT dos dados declarados no sítio próprio da internet relativos ao empregador e aos trabalhadores para as comunicações legalmente previstas à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e para efeitos de interconexão de dados com o sistema de Segurança Social, com vista à obtenção dos dados necessários ao funcionamento dos fundos que permitam simplificação das obrigações declarativas da responsabilidade dos empregadores (art.º 2º nº 4 da Portaria nº 294/A/2013) ou ainda para comunicação de obrigações de fiscalização, quando não são entregues os O GOVERNO DOS FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO 131 montantes devidos pela entidade empregadora (art.º 53º nº 3 da Lei 70/2013). Por sua vez, atendendo à natureza do FCT, enquanto fundo de capitalização individual, a entidade gestora deve disponibilizar ao empregador, através de sítio na internet, informação atualizada sobre o montante das entregas feitas e a valorização da conta do empregador e respetivas contas de registo individualizado de cada trabalhador, relativamente aos 12 meses anteriores (art.º 32º da Lei 70/2013). Igualmente, a entidade gestora pública do FCT, publica com a periodicidade mensal, no sítio da internet, a composição discriminada dos valores que integram o fundo, o número de unidades de participação em circulação e o respetivo valor unitário (art.º 23º nº 3 da Portaria 390-B/2013, já referida).O mesmo já não se prevê para o FGCT. Esta descoincidência de regimes entre os Fundos, sucessivas trocas de informação desencadeadas por pedidos dirigidos a um dos Fundos e de dupla comunicação pelos Fundos (ao empregador e a outro Fundo, quando desencadeados por um pedido do trabalhador), não é sistemicamente eficiente em termos de governação. Preferível seria a existência de um só Fundo, cuja gestão, ainda que assegurada e de responsabilidade pelo Estado, pudesse ser atribuída a uma sociedade financeira, com cumprimento de regras prudenciais de investimento, normas da contratação pública e processos de transparência de informação financeira. Estas assimetrias sistémicas e de informação poderão revelar-se mais graves quando subvertem os princípios a que a organização está destinada (a tutela dos direitos de crédito do trabalhador). Vamos concluir esta análise de corporate governance, segundo o método da triangulação atrás referido, para aferir da eficiência sistémica da tutela daqueles direitos de crédito, segundo as opções seguidas pelo legislador dos FCT e FGCT. Um direito de crédito é um direito disponível. E renunciável. Mas baseado num sistema de informação credível, no que ao trabalhador diz respeito, quando são claras e acessíveis as datas de início e cessação da relação jurídica laboral, assim como o montante da remuneração base que serve de base de cálculo à compensação prevista no art.º 366º do C. Trabalho. A instituição de um Fundo (ou Fundos, segundo a opção do legislador), como atrás referido, teve como objetivo fundamental a criação de um sistema de informação e de obrigatoriedade coerciva, preventiva e tutelar de metade do direito de crédito a uma compensação advinda da cessação da relação laboral. 132 VIRGÍLIO MACHADO Na triangulação atrás referida, numa perspectiva de corporate governance, o Fundo deveria funcionar como um mecanismo arbitral e decisório (o terceiro elemento) de uma relação bilateral trabalhador-empregador, baseado num sistema de informação anual, confirmado sucessivamente por empregador e trabalhador, preventivo e fiscalizador quanto ao cumprimento das contribuições obrigatórias do empregador e de cálculo de direitos de crédito. O sistema prova bem, quando em caso de conflito, os mecanismos salvaguardam eficaz e efectivamente, as funcionalidades para que foram criados. Não é isso que acontece no sistema dual de organização FCT-FGCT. Em primeiro lugar, é previsto um sistema duplo de reembolso. O empregador pode pedir o reembolso das suas contribuições ao FCT (art.º 34º nº 1 e 11º da Portaria 294-A/2013) em caso de cessação de contrato de trabalho. Mas se a cessação não ocorrer, fica obrigado a devolver o dinheiro (art.º 34º nº 5). Se não o fizer, constitui contra-ordenação muito grave (art.º 34º nº 6) e se não entregar o dinheiro ao trabalhador incorre em crime de abuso de confiança (art.º 56º nº 1, todos da Lei 70/2013). O sistema de tutela preventiva laboral de um direito de crédito fica subvertido quando ele é substituído, afinal, por um sistema repressivo, sancionatório, contraordenacional e criminal. Pergunta-se, então, porque não se certifica previamente, a existência de cessação do contrato, por declaração mútua de empregador e trabalhador ou, em caso de conflito, através de comprovativo de apresentação de pedido de crédito em tribunal? Qual a utilidade, afinal, da racionalidade, da eficiência sistémica na existência dos Fundos de Garantia? Na verdade, e, a final, o art.º 33º nº 1 prevê que seja o empregador a entregar a totalidade do valor da compensação prevista no art.º 366º do C. Trabalho. Se o fizer pode pedir o reembolso das suas contribuições (art.º 34º nº 1). Se não o fizer, desencadeia-se o já referido mecanismo de dupla petição e informação de reembolso. O trabalhador pode accionar o FGCT para solicitar metade do valor da compensação a que tem direito por lei (art.º 33º nº 2, todos da Lei 70/2013). O procedimento desse reembolso está previsto no já referido art.º 46º da Lei 70/2013. O Fundo solicita informações ao FCT e ao empregador sobre os montantes pagos ao empregador e aos montantes disponíveis na conta de registo individualizado do trabalhador (nº 4). A informação deve ser prestada no prazo de 4 dias (nº 6). Se não o for, o empregador incorre em contra-ordenação grave (nº 9), sem prejuízo do FGCT solicitar os elementos necessários à ACT (art.º 15º nº 3 da Portaria 294A/2013; já referida). Esta não contém, ao contrário do regime previsto na LFGS (art.º 324º), qualquer pormenorização de documentos que o trabalhador deva instruir nesse procedimento. O GOVERNO DOS FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO 133 A decisão do FGCT deve ser proferida no prazo de 20 dias (art.º 47º nº 1), devendo, sempre que o FGS o requeira, a decisão deve ser -lhe notificada, com indicação dos valores eventualmente pagos pelo empregador (art.º 48º nº 2). Reiteram-se, aqui, as insuficiências sistémicas e de boa governação do modelo dual FCT-FGCT. A insistência em duplas informações prestadas ao mesmo tempo pelo empregador e FCT sobre montantes pagos por este àquele. A responsabilidade contra-ordenacional aplicada ao empregador por não prestação de informações que o FCT já deve dispor. A não regulamentação de documentos que o trabalhador deva instruir para accionar o FGCT. Quanto a este último aspecto seria preferível, à semelhança da LFGS (art.º 324º), detalhar a regulamentação instrutória que o trabalhador deveria apresentar; seja através de: a) Certidão judicial comprovativa de reclamação de créditos num processo de insolvência; b) Declaração da entidade empregadora ou do trabalhador, no caso deste ter recebido a compensação a que tem direito directamente do empregador; c) Informação da Autoridade das Condições de Trabalho, esta obrigatoriamente emitida quando a entidade empregadora estivesse numa situação de dívida para com os Fundos; e constituindo tal situação presunção de prova favorável do direito de crédito do trabalhador ao reembolso junto do FGCT; d) Certidão judicial com transito em julgado declarativa do direito de crédito do trabalhador em caso de litígio judicial entre trabalhador e empregador a propósito de uma acção judicial de impugnação de despedimento ilícito. Igualmente, de ponderar, a criação de mecanismos arbitrais no próprio FGCT e que visassem com uma representação triangular trabalhador-empregador-Estado, a decisão de reembolso parcial ou total da compensação a que o trabalhador tem direito. Em suma, considera-se criticável numa perspectiva de corporate governance, o modelo dual de governação FCT-FGCT. Entende-se, numa perspectiva sistémica, de unidade, eficácia e eficiência da Administração que o FCT deveria ser meramente um Fundo Financeiro de capitalização, instrumental e mediato dos interesses do FGCT, sem directa correspondência administrativa com empregadores ou trabalhadores. O FCT não deveria ter sistemas de reembolso directo de contribuições ao empregador. O reembolso deveria ser apenas tramitado junto do FGCT com detalhe instrutório e previsão de mecanismos arbitrais. A duplicação gera problemas, com recurso a mecanismos subsidiários contra-ordenacionais e criminais que envolvem mais despesa do Estado. 134 VIRGÍLIO MACHADO Acrescenta-se ainda, dentro das perspectivas atrás assinaladas, que o FGCT poderia ter sido instituído normativamente abrangendo as competências do FGS. Abrangendo os aspectos particulares em que os processos de insolvência e de declaração de empresa em situação económica difícil incorrem. Estamos, assim, em condições de apresentar as conclusões finais deste artigo. V. Conclusões Finais O regime dos FCT e FGCT, criado por força da Lei 70/2013, de 30 de Agosto e respectivas normas regulamentares e regimentos internos não constitui globalmente um bom sistema de governação e não acautela eficaz e efectivamente os fins e as funcionalidades para que foi criado. Apontam-se como suas insuficiências as seguintes: a) A não conformidade e parametrização com as vinculações jurídico-públicas (ex: modelos de dupla fiscalização, conselhos consultivos, informação electrónica sobre remunerações, relatórios de actividades e contas) constantes das Leis-Quadro que enformam a Administração Indirecta do Estado, seja a Lei-Quadro dos Institutos Públicos, seja a Lei- Quadro das Fundações Públicas, o que gera insuficiência de princípios e regras jurídicas aplicáveis; b) A instituição de um modelo dual de patrimónios (FCT e FGCT) vinculados, todavia, a um fim único (a tutela de direitos de crédito do trabalhador por via da cessação de um contrato de trabalho), o que contraria princípios constitucionais e legais de racionalidade, unidade, eficiência e eficácia da Administração Pública; c) A previsão de mecanismos de duplo reembolso (junto do FCT ao empregador; junto do FGCT ao trabalhador) duplas petições, duplos pedidos de informação, trocas de informação sucessivas, quando deveria haver uma única tramitação, clara e acessível (junto do FGCT, pois este é o fundo de garantia), o que gera disfuncionalidades à protecção efectiva dos direitos de crédito do trabalhador; d) O recurso pelo legislador a mecanismos de tutela repressiva sancionatória, contra-ordenacional e criminal, que geram duplicação de acções e despesa pública acrescida, manifestamente impróprios e desajustados em relação ao sistema de tutela preventiva que o sistema de Fundos visava instituir; O GOVERNO DOS FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO e) 135 A imprevisão de mecanismos arbitrais, regulamentares, instrutórios e documentais para os pedidos de satisfação dos direitos de crédito do trabalhador junto do FGCT pelo trabalhador, o que gera incerteza e insegurança jurídica à funcionalidade efectiva de tutela desses direitos. Pelo que se conclui que a análise de corporate governance é um instrumento útil e eficaz à análise da qualidade normativa dos sistemas de governação das organizações e dos seus princípios, incluindo, democráticos de sua organização e funcionamento, devendo ter sido aplicada previamente ao regime normativo instituído nos FCT e FGCT. Cumprindo assim, melhor, os objectivos do Estado de Direito Democrático previstos no art.º 2º da Constituição. 136 VIRGÍLIO MACHADO Referências Bibliográficas Antunes, A.F. (2011), “ O governo das associações civis”, O Governo das Organizações, pp.503-558, Coimbra, Almedina. Câmara, P. (2011), “Vocação e Influência Universal do Corporate Governance”, o Governo das Organizações, pp. 13-42, Coimbra, Almedina. Caetano, Marcello (2001), Manual de Direito Administrativo, vol. I, 10ª edição, Coimbra, Almedina. Clarke, J. (2004), “Trade Associations: An appropriate Channel for Developing Sustainable Practices in SME”, Journal of Sustainable Tourism, vol.12 (3), pp.195- 208. Decrop, J. (2004), “Trustworthiness in Qualitative Tourism Research”, Qualitative Research in Tourism, Londres, Routledge, pp.273-291. Farinho, D.S. (2011), “ Alguns problemas de governo fundacional de uma perspectiva normativa-orgânica”, o Governo das Organizações, pp.583-669, Coimbra, Almedina. Fernandes, A.M. (2012), Direito do Trabalho, 16 ª edição, Coimbra, Almedina. Freeman, R. (1984), Strategic management: a stakeholder approach, Massachusetts, Sage. Gabardo, E. (2003), Eficiência e Legitimidade do Estado, Uma Análise das Estruturas Simbólicas do Direito Político, Tamboré, Editora Manole, Ltda. Lomba, Pedro; Lino, Duarte (2011), “Democratizar o governo das empresas públicas: O problema do duplo grau de agência”, o Governo das Organizações, pp.683-719, Coimbra, Almedina. Oliveira, A.F. (2011), “O governo dos órgãos de soberania”, o Governo das Organizações, pp. 721-768, Coimbra, Almedina. Pavlovich, K. (2003), “The evolution and transformation of a tourism destination network: the Waitomo Caves, New Zealand”, Tourism Management, 24, pp.203-216. Pereira, M.N. (2007), Introdução ao Direito e às Obrigações, 3ª edição, Coimbra, Almedina. Saixena, G. (2005), “Relationships, networks and the learning regions: case evidence from the Peak District National Park”, Tourism Management, nº 26, pp.277-289. “Filosofia do Direito” de Pedro Soares Martínez1 GONÇALO SAMPAIO E MELLO * Conheceu já três tiragens editoriais (1991, 1995, 2003) e avizinha-se uma quarta (2015) o compêndio de Filosofia do Direito do Prof. Pedro Soares Martínez, Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa e da Universidade Católica, membro da Academia das Ciências e antigo Ministro de Estado. Num povo cujo escol não possui vocação especulativa – já o notou Cabral de Moncada –, trata-se de acontecimento literário que muito diz do valor intrínseco da obra, de resto distinguida com prémio de âmbito nacional. Não é o Prof. Soares Martínez nome desconhecido no panorama da cultura portuguesa. Jurista de mérito, economista, historiador e memorialista de vastos recursos, deitam para cima das três centenas os títulos que perfazem a sua bibliografia activa. Faltava-lhe contudo produzir trabalho de relevo no campo da Filosofia do Direito, mesmo porque ninguém antes o fizera ainda na Escola em cujo seio teve o privilégio de diplomar-se e cuja fundação remonta à I República. Eis afinal, como produto acabado, o volume que a Casa Almedina, de Coimbra, vem dando à estampa, com apuro técnico e gráfico dificilmente superáveis. Oito são os capítulos em que se reparte a obra em questão, a saber: o Homem, a Sociedade, a Ordem, o Poder, a Norma, a Construção Jurídica, a Ilicitude e a Reacção à Ilicitude. Seguem-se-lhes a literatura consultada pelo Autor, índices diversos JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 137-142. * Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 1 Texto editado on line pelo «Instituto de História do Direito e do Pensamento Político» da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 138 GONÇALO SAMPAIO E MELLO (onomástico, complementar e alfabético de matérias) e a reprodução iconográfica de vultos grandes do pensamento universal, a exemplo de Sto. Agostinho, S. Tomás de Aquino, Lutero, Espinosa, Montesquieu e Kant. A respectiva capa ostenta as figuras de Platão e Aristóteles segundo o fresco de Rafael existente na “stanza della segnatura” do Vaticano. Desde logo, e a título de vue d’ensemble, dir-se-á estarmos perante um jurista de apurada sensibilidade, inata e adquirida, vasta cultura humanística e grande capacidade de reflexão e inovação pessoais. Acresce a elegância literária do texto plasmado, a harmonia estética que se desprende das suas 700 laudas de retórica condensada, cujo intuito parece ser não apenas formar, mas persuadir e cativar quem as lê. Do ponto de vista substancial, afirma-se o A. fundamentalmente como essencialista, tradicionalista, institucionalista, personalista e legitimista. Nada contudo revela de dogmático in se: antes, mantém-se aberto ao debate, à razão especulativa, à contraposição dialéctica de argumentos válidos, sempre na busca da verdade, usando linguagem de índole prudencial, ou não fosse a prudência a rainha das virtudes conforme a lição dos moralistas mais doutos. No fundo, trata-se de um espírito clássico, possuído do culto da ordem, da proporção, da medida, defensor de posições intemporais e por isso mesmo sempre actuais. Pelo que respeita ao aspecto jurídico, adopta S. M. concepções ligadas à corrente jusnaturalista tradicional, cujas raízes mergulham longe no tempo e no espaço: desde o mundo greco-latino à escola luso-espanhola do direito natural, passando pela escritura sagrada, pela patrística e pelo tomismo. Desta feita, a visão que perfilha da realidade jurídica apresenta-se a um só tempo – segundo supomos – como uma visão ontológica, metafísica, axiológica, ordinalista, pluralista e teocêntrica. Ontológica por procurar saber aquilo que o direito é, por contemplar o estudo do ser do direito, da sua essência ou natureza, daquilo que o torna distinto das outras realidades normativas, mau grado a íntima conexão que manifesta relativamente às normas religiosas, éticas e cívicas que o enquadram. Metafísica porque, para além de procurar saber aquilo que o direito é, intenta discernir o porquê do direito, a sua causa primeira ou última, aquilo que superiormente o justifica e fundamenta. Axiológica por considerar os valores que dão sentido à ordem imposta pelo direito, nomeadamente a beleza, a bondade, a justiça: sendo a justiça, virtude cardeal, “a própria meta do direito”, ou seja, a meta sem a qual este deixa de o ser para se converter em negação de si próprio (ius iustum versus ius iussum). Ordinalista por ver naquela mesma ordem, e não na força coactiva, um elemento constitutivo da realidade jurídica. O direito é ordem, a ordem é intrínseca ao direito, enquanto a força da coercibilidade, apesar de necessária para garantir a eficácia exterior do direito, reveste carácter ancilar e até patológico. Pluralista por considerar que o poder político estatal não cria ou produz todo o direito. Direito existe acima do Estado (direito divino e “FILOSOFIA DO DIREITO” DE PEDRO SOARES MARTÍNEZ 139 direito natural) e fora dele (direito internacional, direito comunitário, direito canónico, v.g.) e mesmo no seio do respectivo território direito existe que é criado e aplicado pelos corpos sociais organizados de nível intermédio. Assim, a estatalidade não é da essência do direito, nem o direito é tão só aquilo que o poder político central determina. Enfim, teocêntrica por fazer derivar a validade e legitimidade da regra humana positiva, em última análise, da sua conformação com uma ordem jurídica superior, transcendente, supra-positiva – ordem essa criada por Deus, e que aquela mesma regra humana terá de procurar reflectir como se fora espelho ou imagem fiel. Sendo jusnaturalista à maneira clássica, Soares Martínez rejeita assim, ipso facto, todas as visões reducionistas, exclusivistas ou desintegradoras do jurídico, como sejam, nomeadamente, as perspectivas positivista, voluntarista, empirista, utilitarista, monista, legalista e outras, para o contemplar de maneira abrangente e unitária. Como corolário das concepções globais acabadas de enunciar, ainda que em traço breve e necessariamente tosco, e do espírito vincadamente filosófico como na obra são encarados os grandes problemas que em todas as épocas se colocam à consciência e à razão – os problemas do bem e do mal, do ser e do nada, da origem e do destino do homem, do poder e sua legitimidade, da liberdade e suas aporias, da violência e da ordem, da paz e da guerra, etc. – muitas são as teses nela contidas que poderiam ser hoje rotuladas de heterodoxas. Heterodoxas ou inactuais, no sentido que Nietzsche emprestou a este vocábulo, ou seja, pertinentes e válidas em si mesmas mas alheias ao favor do tempo em que se encontram formuladas. Não é comum efectivamente, nos dias que correm, ver esgrimir ideias que fizeram a chamada “prova do tempo” mas a certa altura caíram em estado de relativa obscuridade, letargia, obnubilação. Como não é comum tão pouco descortinar visões havidas por originais mas que resumem afinal séculos de reflexão, experiência e cultura. Tem interesse passar à fieira umas e outras, ou algumas delas apenas, pois mais não permite o âmbito desta crónica. Assim, após observar que o homem tem uma essência que lhe é própria, que o homem é, não se limitando a estar, e que o respeito pela pessoa humana envolve corpo e espírito, o A. faz notar que muitos dos direitos actualmente proclamados como fundamentais só conseguem encontrar realização mediante o sacrifício de outros tantos direitos que se lhes contrapõem e os invalidam. De facto, o direito de abortar revela-se oposto ao direito de viver, o direito à estabilidade da família colide com o direito ao divórcio, o direito à liberdade de expressão ofende o direito à privacidade de terceiros, o direito ao trabalho afecta o direito de propriedade e pode obliterá-lo quando o Estado, a fim de o garantir, priva o proprietário dos meios de produção, o direito à saúde tem conduzido à insolvência das instituições de segurança 140 GONÇALO SAMPAIO E MELLO social, o direito à habitação, tal como se encontra enunciado, é em si mesmo irrealizável, etc. Páginas volvidas anota o Autor a tendência que o homo medius revela para negar aquilo que desconhece, sublinha que a bondade e a justiça nem sempre acompanham a sabedoria, sobretudo quando meramente livresca (“há sábios maus, injustos e mesquinhos”), alerta para o fenómeno da acção corruptora do poder, porque exercido por seres naturalmente sujeitos a capitulações e debilidades de diversa índole, aponta como causas da expansão do crime o declínio da família, incapaz agora de educar moral e civicamente os seus membros, e a expectativa de impunidade que lavra no seio dos delinquentes, denuncia os criminosos «de colarinho branco», cujo património, porque subterrâneo, escapa à alçada da justiça penal, alerta para o colapso do sistema carcerário em vigor nos regimes de raiz europeia, enfim, equipara a droga e a prostituição dos nossos dias à servidão de outras eras, com a agravante de tais práticas recaírem sobre seres humanos que as leis presumem responsáveis e livres. Particularmente autorizadas são também as considerações que o A. desenvolve em torno do poder e sua legitimidade (quoad titulum e quoad dominium) e em torno dos labirintos da sociedade contemporânea. A páginas tantas faz notar, v.g., que o desrespeito generalizado das normas de civismo contribui mais acentuadamente para abalar o estado social do que a falta de observância das próprias normas éticas; e que, por seu turno, quando as normas éticas são esquecidas ou enjeitadas, não há regras jurídicas que consigam impor a justiça, a qual passa a ser definida pelos grupos mais fortes ao sabor de critérios de oportunidade. Noutro passo chama a atenção para os riscos da democracia de massas (“tirania de muitas cabeças”), cujo domínio cai debaixo do jugo dos aduladores, dos demagogos, de políticos profissionais não raro destituídos de escrúpulos, já que, tal como actualmente se pratica, o sufrágio popular reclama custos financeiros elevados, assenta em candidaturas urdidas segundo as melhores técnicas do mercado publicitário, agrava o fosso existente entre candidatos e eleitores. Remédios para quanto antecede aponta três, segundo a sua óptica, a saber: revitalização dos chamados «corpos intermédios», obstáculo efectivo ao abuso do poder e à tentação despótica dos governantes; preparação prévia e adequada dos mesmos governantes – “questão fulcral de todos os tempos”, acentua – por forma a prevenir o improviso e a venalidade que é comum encontrar entre os novos-ricos da soberania; outorga do governo aos melhores, aos aristocratas, àqueles cuja competência, espírito de serviço e culto da honra sem proveito – ou mesmo contra proveito – reputa inseparáveis do progresso de qualquer sociedade (alude a aristocratas verdadeiros, que não a oligarcas ou a plutocratas). Sem a consagração formal, efectiva, de tais providências, bem poderá o Estado moderno vir a cair de novo na perversão totalitária. “O Leviathan, cujo expansionismo já impressionou de tal modo Hobbes, no século XVII, que lhe serviu de epígrafe para o seu tratado sobre o Estado, não terá findado ainda o seu curso destruidor das liberdades”, adverte frontalmente o Autor. E nem mesmo valerá a esse Estado o rótulo de «Estado de “FILOSOFIA DO DIREITO” DE PEDRO SOARES MARTÍNEZ 141 Direito» – construção ilógica, aliás, vazia de conteúdo, apesar de constantemente brandida a nível político –, pois certo é que um Estado, qualquer ele seja, cuja comunidade despreze ou menospreze o culto dos valores ideais, estará condenado a resvalar para a involução cultural ou mesmo para a sua própria destruição. Muitas outras passagens do compêndio de Filosofia do Direito do Prof. Soares Martínez seriam dignas de glosa adequada. Assim, a denúncia que o A. faz da lei da concentração capitalista, superiormente prevista por Marx, e que o universo tecnológico hodierno parece tender a realizar; a análise que tece do fenómeno revolucionário, destruidor, por mutação brusca, de uma ordem político-social determinada; a afirmação de que a norma injusta não é direito, mas a norma incoerente ou incongruente também o não é; a crítica da figura do «juiz-pilatos», magistrado incapaz de assumir a responsabilidade das sentenças que profere porque permeável à pressão do poder, à exigência das massas, à liquidez da opinião pública; o repúdio da inflação legislativa, perturbadora do equilíbrio da ordem jurídica, demolidora da presunção ou ficção do conhecimento do direito; a defesa do costume como fons manifestandi, enraízado que está na experiência histórica dos povos; a constatação de que, seja qual for o problema em análise, não é a utilidade que dita a bondade da sua solução mas, ao invés, a respectiva bondade que a torna útil; o esclarecimento que introduz no rumoroso processo de Galileu, alegada vítima do Santo Ofício (protegido do cardeal e depois papa Barberini), bem como na “lenda negra” da fortaleza da Bastilha, onde em 1789 se encontravam sete prisioneiros (quatro falsários, dois loucos e um aristocrata); enfim, a apologia que tece do património familiar e da premência de alargar o direito de propriedade aos mais pobres, aos mais carenciados, aos excluídos da terra. Neste ponto é o Autor acutilante: só a titularidade de bens exteriores permite que o homem se mantenha digno, livre e independente perante os demais. Recortem-se as palavras que escreve: “Todo o homem que não possui, permanentemente na dependência dos outros para satisfação de necessidades imediatas de subsistência, encontra a sua capacidade de opção fortemente limitada pela vontade alheia, pelas imposições de outros homens, que tenderão a dominá-lo, no plano físico, material, e mesmo ao nível da consciência e do espírito. Por isso se tem qualificado de «injustiça imerecida» a absoluta carência de bens dos pobres, dos proletários, aos quais deveria ser assegurado o acesso à propriedade, a fim de os tornar realmente livres. É sabido que, relativamente a alguns homens, pela sua índole, a propriedade não contribui para os tornar livres. Outros porém quereriam ser livres, teriam condições para sê-lo, e não conquistam a sua liberdade, não preservam a sua personalidade, a sua consciência, por inteira penúria de bens, que os torna dependentes de todos quantos, abusivamente, lhes exigem atitudes incompatíveis com essa consciência, com essa personalidade. Consequentemente, a defesa das liberdades humanas postula o acesso à propriedade, com a possível amplitude e generalização.” Homem de Letras, digno de figurar numa galeria de heterodoxos à maneira de Menéndez y Pelayo, clássico pela elegância da forma e pela substância da doutrina 142 GONÇALO SAMPAIO E MELLO que subscreve, vulto que se vem norteando pelo doutrinarismo e pelo prudencialismo mas nunca resvalou para o oportunismo ou a subserviência, mestre cuja serenidade deriva da reflexão em torno da natureza humana, professor que nunca deixou de o ser a despeito da dureza dos tempos e dos lugares – é Pedro Soares Martínez figura maior do pensamento filosófico-jurídico português. Não admira, assim, o triunfo editorial do compêndio que vimos analisando. É que, conforme revela a sabedoria bíblica, o vento do espírito sopra onde quer. Spiritus flat ubi vult. Libertar o Direito. Do Problema Metodológico-Jurídico no Nosso Tempo PAULO FERREIRA DA CUNHA * Sumário: Não há apenas uma sagrada e intocável metodologia jurídica. Há várias. No nosso tempo, têm florido mil flores de pluralismo jurídico. Mas é óbvio que claramente se enfrentam as metodologias isolacionistas, conformistas, dogmáticas, positivistas e normativistas com as interdisciplinares, críticas, problemáticas ou tópicas, pluralistas ou junaturalistas lato sensu e prudenciais ou judicialistas. O presente artigo considera que os tempos presentes são um momento kairológico de afirmação do último grupo de perspetivas, a caminho de um Direito Humanista e Fraterno. E que portanto as demais, além de ao menos potencialmente injustas e por isso “erradas”, se encontram historicamente ultrapassadas. Palavras-Chave: metodologia do direito, filosofia do direito, positivismo, dogmatismo, normativismo, isolacionismo, tópica, judicialismo, interdisciplinaridade, pluralismo, jusnaturalismo. Abstract: We shouldn't think that there is only a sacred and untouchable legal methodology. There are numerous. In our time, thousand flowers of legal pluralism has flowered. But it is obvious that different ideas are fighting: on one side, isolationist, conformist, dogmatic, positivist and normative methodologies; and on another side interdisciplinary, critical, problematic or topical, pluralistic or junaturalistic lato sensu, and prudential or judicialist ways. This paper considers that the present time is a JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 143-155. * Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. E-mail: [email protected] 144 PAULO FERREIRA DA CUNHA kairological moment of affirmation for the last group of ideas, converging towards a future Humanist and Fraternal Law. And also thinks that therefore the other group represents, at least potentially, the unfair and so the “wrong” answer, and it is historically outmoded. Key words: Methodology of law, philosophy of law, positivism, dogma, normativism, isolationism, topic, judicialism, interdisciplinarity, pluralism, natural law. Não imiteis, adolescentes, estes homens ociosos, inúteis e áridos, que, se na verdade são jurisperitos, não são certamente jurisprudentes e jurisconsultos. De facto, que coisa mais feia que um Doutor de Direito que ignorar o uso e praxe das leis cuja ciência professa? [...] Realmente míseros os jurisconsultos que se não podem defender a si e aos outros. Mello Freire1 1.º que não ha plano algum doutrinal de Direito Publico ecclesiastico, ou civil, que se não possa criticar com razões sólidas, ou especiosas, o que é fácil, pois para isso basta abrir um, ou outro livro, em que venha outro differente, e arguil-o e notal-o por elle: 2.º que cada auctor tem, e teve sempre a liberdade de formar o seu plano como entender, sem se embaraçar com o dos outros: 3.º que o methodo. além das leis geraes proprias do genero de escriptura, poucas mais recebe: 4.º que o Rei não está obrigado a seguil-as, e basta que na sua legislação entre alguma tal ou qual ordem: 5.º que não ha Codigo no mundo ordenado segundo as leis dos methodistas: 6.º que as faltas methodicas em materia politica, não sendo notaveis, são vistas pelos homens publicos e negociosos com a mesma indifferença, com que vêm os defeitos grammaticaes, e outros similhantes, arguidos ás grandes obras: 7.º que já acabou o gosto dos allemães sobre a exactidão de planos e prolixidade de divisões e sobdivisões: 8.º e ultimamente, que elle não é optimista do tempo, que nunca se defendeo com esta seita, que reputa por uma verdadeira hypocrisia literaria: 9.º que é de outra eschola, e que se contenta, que a cosa seja boa, decente e capaz de apparecer, e, sobre tudo, que satisfaça ao fim. Melo Freire2 1 2 Paschoal José de Mello FREIRE — História do Direito Civil Português, trad. do latim do Dr. Miguel Pinto de Meneses, in “Boletim do Ministério da Justiça“, n.º 173, Lisboa, Fev. 1968, p. 53. Idem, Resposta á segunda censura, Lisboa, pp. 106-107. LIBERTAR O DIREITO. DO PROBLEMA METODOLÓGICO-JURÍDICO NO N OSSO TEMPO 145 I. Encruzilhada Doutrinal O tempo presente é, talvez mais até que qualquer outro, de encruzilhada entre metodologias, e, por detrás delas, conflito de cosmovisões filosóficas e ideológicas. Os juristas do futuro aspiram a um novo Direito em novas sociedades, mais abertas, mais livres, mais justas, mais solidárias; os juristas do passado conformam-se com tudo o que vai estando (e eventualmente aplaudindo até o que vai recuando, e não tem sido pouco); no máximo, admitirão alguma caridade e um punhado de mezinhas caseiras de "justiça" particular. Assim descreve o eminente e emérito constitucionalista Paulo Bonavides os juristas do Estado Social: (…) são passionais fervorosos da justiça; trazem o princípio da proporcionalidade na consciência, o princípio igualitário no coração e o princípio libertário na alma; querem a Constituição viva, a Constituição aberta, a Constituição real.3 Em contrapartida, e do mesmo modo que há políticos a tentar desmantelar o Estado Social4 (embora ele seja objeto de um vastíssimo consenso social, seja ao mesmo tempo constituição formal, material e real na perspetiva das aspirações constitucionais5), existem juristas a remar contra a maré da evolução (dir-se-ia "natural", mas talvez não o seja) do Direito. Para eles, o Direito é uma técnica apenas, embora por vezes se adornem com loas e parangonas à sua cientificidade. Mas não se tratando de um saber crítico, é, na verdade, apenas técnico, e como aspira (e em muitos casos detém) poder, uma tecnocracia se produz. O Direito seria uma grande tabela taxonómica de definições e uma máquina de uma velha lógica de rodas dentadas, com mecanismos silogísticos muito simples, e não raro com inversão dos mesmos. Muito teriam a ganhar esses juristas olhando-se ao espelho. Talvez o Direito seja, para eles, afinal um imenso catálogo, uma lista interminável6 de conceitos, requisitos... Em sociedades hipercomplexificadas como a nossas, o Direito, que deveria ser malha larga de liberdade e malha apertada de proteção (mas proteção livre), sob o 3 4 5 6 BONAVIDES, Paulo — Do Estado Liberal ao Estado Social, 7.ª ed., 2.ª tiragem, São Paulo, Malheiros Editores, 2004, p. 19. Cf., v.g., ARNAUT, António — O Étimo Perdido. O SNS, o Estado Social e Outras Intervenções, Coimbra, Coimbra Editora, 2012. Cf. FERREIRA DA CUNHA, Paulo — Constituição & Política, Lisboa, Quid Juris, 2012. Cf. Umberto ECO — La Vertigine della Lista, Bompiani, 2009, trad. port. de Virgílio Tenreiro Viseu, A Vertigem das Listas, Lisboa, Difel, 2009. 146 PAULO FERREIRA DA CUNHA impacto do dogmatismo, do legalismo, do autoritarismo, etc., acaba por pouco proteger e por infernizar a vida do pacato e cumpridor cidadão, que é antes de mais funcionalizado (ainda que não seja funcionário, e se o for mais ainda), contribuinte (forçado, como é óbvio), e cada vez mais súbdito e vassalo. Ou seja, deixa de ser cidadão. O Direito deixa de ser uma realidade a que se recorre in extremis e em caso de mala fortuna, patológica, para erguer mil barreiras, peias, corveias (num feudalismo reinventado) à vida quotidiana. E não bastaria ao comum paisano ser jurista. Mesmo os juristas, se não tiverem um conhecimento muito agudo e atualizado de todas as legislações, regulamentações e decisões de todas as áreas com que acaba por confinar a sua vida, não conseguirão saber em que lei se vive. Ora esta burocratização total da vida, esta confusão do Direito com uma rede apertadíssima de interditos e obrigações, faz às pessoas não só aborrecerem o Direito, como temerem-no. E tem consequências metodológicas no campo jurídico verdadeiramente terríveis. Quando outrora grandes professores universitários estigmatizavam e até justamente ironizavam com o "direito minúsculo" dos burocratas, chega-se hoje à conclusão triste de que o diabo está nos pormenores, e são os burocratas que nos perdem... Ou nos poderão salvar, circunstancialmente. O que é sempre muito mau.7 Metaforicamente (e quiçá não só) se poderá afirmar também que – por exemplo – haverá ainda juristas que ainda julgam serem os contratos apenas privados. Ou que talvez no limite admitam, além desses, os de adesão, que tantas vezes pouco têm da autonomia da vontade, contudo tão sagrado dogma liberal... Isto quando, para por exemplo citar apenas Francisco Puy (insuspeito, desde logo porque filósofo do Direito), só o direito administrativo já é mais de meio direito... E mais que tudo ignorando a centralidade e preponderância (primazia ou primado, vinculatividade geral, etc.) do direito constitucional, que contém as têtes de chapitre de todos os ramos do direito. E possui a centralidade, prevalência, primado, ou hegemonia vinculante, expressão fortíssima do mesmo Paulo Bonavides, como veremos. Este mesmo jurista contrapõe aos juristas do Estado Social os do neoliberalismo sem freio, ainda que aqui possam confluir outros, autoritários ou totalitários, de qualquer modo desafetos ao Estado Constitucional, que em si contém o Estado Social: Às avessas, pois, os juristas do Estado liberal, cuja preocupação suprema é a norma, a juridicidade, a forma, a pureza do mandamento legal com indiferença aos valores e portanto à legitimidade do ordenamento, do qual, não obstante, são também órgãos interpretativos.8 O direito, para eles, teria que ser puro, forense, prático, ou depurado e sistemático (leia-se: dogmático, abstrato e decisionista, no fundo). 7 8 Cf. FERREIRA DA CUNHA, Paulo — Poder, Força e Burocracia, em preparação. Paulo BONAVIDES — Op. loc. cit. LIBERTAR O DIREITO. DO PROBLEMA METODOLÓGICO-JURÍDICO NO N OSSO TEMPO 147 Em 1894, segundo conta Michel Villey, o reitor da Universidade de Paris, Liard, explanava a conceção fria e “geométrica” hoc sensu em que se refugiam tanto os que lavam as mãos do sangue dos justos (como Pilatos9), como os que, sabendo o que está por detrás e ao que serve o legalismo, nas nossas sociedades, mistificam o Direito invocando a sacralidade do rigor, ciência, técnica, “dogmática” (pomposamente), e atacando como impuros e – oh anátema! – até “políticos” os demais: Le droit c'est la loi écrite; partant, la tâche des facultés de droit est d'apprendre à interpréter la loi, et il résulte que leur méthode est déductive: les articles du code sont autant de théorèmes dont il s'agit de démontrer la liaison et de montrer les conséquences: le juriste est un géomètre. Será pois o jurista um geómetra, mas um geómetra dogmático, não ensinando essa geometria de abertura de espírito que propugnava, por exemplo, um Alain. Não esqueçamos as palavras de Morton J. Horwitz: A principal condição social necessária ao florescimento do formalismo jurídico em uma sociedade é que os grupos de poder dessa sociedade tenham grande interesse em disfarçar e abolir a inevitável função política e distributiva do direito.10 Um jurista agelasta (petrificado, sisudo, dogmático, congelado, embalsamado11) pensará que tem que cumprir ordens e aplicar o que as ordens escritas dizem, e fazer com que os outros cumpram ordens. Em relação à contextualização económica, este jurista, que não quer nada com interdisciplinaridade, fechará os olhos e fará o que lhe disserem os economistas e financeiros no poder. Acreditará piamente no dogma ultraliberal "there is no alternative" (TINA). Mas, ao contrário deste jurista, haveria que ler os Economistas que fazem a diferença. A começar pelos “Prémios Nobel” Gunnar Myrdal, Joseph Stiglitz e Daniel Kahneman, e os que anunciam ou desenvolvem já uma Economia nova, não como castigo e até praga (prisão de onde não se sairia: nunca haveria alternativa), mas, pelo contrário, uma Economia da Felicidade, solidária, naturalmente, do direito 9 10 11 Mt. XXVII, 24 J. Morton HORWITZ — The Transformation of American Law, reed., 1992, p. 266, apud POSNER, Richard A. — Overcomig Law, Cambridge, Harvard University Press, 1995, trad. port. de Evandro Ferreira e Silva, Para Além do Direito, São Paulo, wmf Martins Fontes, 2009. RABELAIS — La Vie de Gargantua et de Pantagruel, V, 25; RORTY, Richard — Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, citando logo de início Milán Kundera, A Arte do Romance, que remete para Rabelais. 148 PAULO FERREIRA DA CUNHA constitucional global à Felicidade, um dos elementos fundantes de um novo paradigma jurídico, o Direito Humanista e Fraterno. Nomes como os de Richard Easterlin, Tibor Scitovsky, Yew-Kwang Ng, Richard Layard, Andrew Osswald, Bruno Frey, Robert Frank, Alois Stutzer e o português Gabriel Leite Mota, são para muitos e muitos desconhecidos e por isso nem sequer ilustres. O que é uma pena e uma perda. Com eles teríamos muito a aprender e a ganhar. Lá está: o Direito não pode acriticamente acreditar no garrote financeiro que lhe querem impor, e decidir com base num unilateralismo financeiro. Há outras teorias, há outras soluções. E por isso o jurista tem também que aprender Economia e Finanças. Desde logo para não ter como dados o que são interpretações... Já Bertrand Russell se apercebera de como é um perigo não saber finanças e outras coisas... Os juristas têm grandes responsabilidades. Um jurista deve ser, não um "burocrata da coação" ou um ideólogo disfarçado de cientista, mais ou menos subtil, mais ou menos dogmático, criando nuvens de fumo com as suas construções insípidas e abstrusas e raciocínios especiosos, mistificando como sendo Direito e Justiça as soluções ditadas pelos interesses a que, direta ou indiretamente, serve. Pelo contrário, o Jurista deve ter compromisso com a busca da Verdade e da Justiça, com as vozes dos injustiçados que clamam no deserto e na floresta de aço e betão. Deve ser cavaleiro andante da Justiça. E como tal não pode ter uma prática, nem sequer uma prática teórica, velha, poeirenta e ensimesmada, numa hoje claramente ridícula e antiquada conceção de Direito como afinal nada mais nada menos que “aquilo que os juristas fazem”. Leia-se: juristas seriam apenas as gentes do foro – que não são todos os juristas, e mesmo assim, entendidas com preconceito sobre quem sejam e como atuem os práticos forenses. Recordando, assim, a definição, já apodada de cínica, de Jacob Viener para a Economia. Não, o Direito não é apenas a prática (sem teoria, sem pensamento, sem enquadramento, sem contexto, nem sempre justa, nem sempre sequer legal, nem sempre ética, nem sempre informada...) de um pretenso e idealizado jurista comum, naturalmente pressuposto como razoável e ponderado (num certo sentido), porque de “boas famílias” e obviamente conservador. O Direito é mais, é melhor. É constante e perpétua vontade de atingir o justo. Tudo o resto são tiques e preconceitos. E dogmas. Em alguns casos, o seguir um modelo na mira estulta da fama. E como é vã a fama, e mil vezes vã a fama de um jurista, trabalhando no seio de uma episteme que (quase parece que de caso pensado) oculta – ou pelo menos torna muito discretos – até os nomes dos autores das suas grandes, de muitas das suas maiores teorias, para que pareçam óbvias e "naturais", e por isso o seu discurso legitimador LIBERTAR O DIREITO. DO PROBLEMA METODOLÓGICO-JURÍDICO NO N OSSO TEMPO 149 (como anda esquecido Baptista Machado!12) seja retoricamente mais eficaz. Canseiras tormentosas, pois. Vigílias vãs... Mas a vaidade a tanto obriga (e como está esquecido Matias Aires!13). Não se pode pretender ser grande jurista e esquecer a principal função do Direito, sofismá-la em especiosismos e rodriguinhos: o jurista tem de “atribuir a cada um o que é seu”, mas numa “constante e perpétua” sede de Justiça, e não como mero polícia ou guarda-noturno protegendo os que muito têm dos que não possuem nada. Não se trata, portando do seu que a roda da fortuna (nada justa) ou mesmo o esbulho e o crime (leia-se Addison14) vieram colocar nas mãos deste ou daquele. Mas o que é de cada um antes de mais pelo mérito (e o mérito social, a aportação social do seu labor e engenho), e ainda, no limite, o que é de cada um pelo simples facto de se ser Pessoa (e todos têm direito a um mínimo para uma existência digna). Há quem queira um Direito dogmático, teoricista ao máximo (charadístico: e como sofrem os estudantes com essas adivinhas!), embora coberto pelo álibi e guardachuva da experiência da burocracia e do foro. Se a prática fosse essa teoria, a Administração e os Tribunais seriam ainda mais imobilistas do que se critica. Mas para os seus advogados seria esse o pseudodireito “puro” (embora, não gostando normalmente de Kelsen, em geral sem o terem lido, não usem normalmente esta expressão). Ora sabemos que Direito “puro” nunca existirá, é uma contradição nos próprios termos. E por isso sempre será uma vã miragem o solipsismo jurídico de torre de marfim. Mas compreende-se porque esses teóricos, que por vezes se desdobram em prática (e vivem uma dupla existência), não aguentam o vasto mundo dos saberes não jurídicos, melhor, do que não seja a hiperespecialidade que cultivam. Isso os deixa sem pé. E isso atenta contra com o enorme complexo de superioridade que têm, não apenas relativamente aos oficiais de outros ofícios (eles são dos que dizem, por exemplo, que “Letras são tretas”, que os artistas são marginais, os psicólogos “malucos”, etc.), como face aos colegas de outros ramos jurídicos. A esses consideram cultivarem saberes sempre inferiores aos seus. E face aos juristas humanistas e interdisciplinares – felizmente, pelo Mundo fora, cada vez mais e melhores –, nem sequer lhes reconhecerão a qualidade de juristas, tratando-os com desprezo, que tributam aos puros diletantes (na melhor das hipóteses). 12 13 14 João BATISTA MACHADO — Introdução ao Direito e ao discurso legitimador, reimp., Coimbra, Almedina, 1985. Matias AIRES — Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, ed. eletrónica: http://www.iphi.org.br/sites/filosofia_brasil/Matias_Aires_Reflexões_sobre_a_vaidade_dos_ho mens.pdf Joseph ADDISON — A Vision of Justice, in A Book of English Essays, selected by Sir W. E. WillIams, reprint., Londres, Penguin, 1987, pp. 30-36. 150 PAULO FERREIRA DA CUNHA Este Direito ultrapassado, enclausurado, que ainda pensa na Hermenêutica como regras de mera “interpretação e aplicação da lei”, que ignora sobranceiramente os princípios constitucionais e a Constituição principiológica, só para dar um par de exemplos, acha-se com legitimidade para julgar a vida (e como julga as inovações, condenando-as severamente do alto do seu dogmatismo!), mas na verdade encontrase fora do nosso tempo e alheio a ela. Este Direito, por muito que, contra os cultores das Ciências Sociais, da Filosofia, das Artes e da Interdisciplinaridade, se reivindique do real e do que se passa, não passa de um jogo de salão, de uma charada, no seio da casta ou a classe dos juristas (il ceto dei giuristi), desprezando no fundo o Povo (esse que incomodamente vota e em quem reside, em última instância, o poder de fazer o Contrato Constitucional) e, como dissemos, tudo o que, nos saberes, ultrapasse a porta do seu salão. Pobre saber esse, parca técnica essa, triste dogmática, e desgraçado de quem caísse nas malhas de uma tal Justiça levada ao cúmulo das suas consequências lógicas. Justiça de classe, e de limitação epistemológica, além de justiça fora do tempo, arcaica. Esse mundo a preto e branco, felizmente, nunca foi o de todos os juristas. Sempre houve juristas cultos (e não apenas de uma cultura de flor na botoeira), sempre houve juristas socialmente empenhados e atentos ao clamor dos que sofrem e clamam por Justiça. E se esse mundo nunca foi, mesmo entre os juristas, completamente uniforme, hoje pode dizer-se que globalmente está a morrer, sendo algumas investidas e bravatas um mero canto do cisne. II. Metodologia Jurídica: Caminho para onde? O Direito não pode ser considerado como um jogo abstrato, e a sua metodologia (caminho para alguma coisa) só pode ser encarada como caminho para a Justiça. Que outro caminho poderia ser? Embora haja quem, de forma assética, lave as mãos da sorte (da mala fortuna) dos demais, e considere, afinal, o Direito uma charada, ou, pior ainda, um logro para que os choros e os risos, como dizia Agostinho da Silva, permaneçam separados por sebes bem altas.15 Tudo tem de entender-se no seu contexto, desde logo histórico e social. A situação dos mais fracos está a tornar-se hoje insustentável. Não podemos deixar de nos lembrar deste passo de Brecht: Ontem voltaram a baixar o salário de repente E hoje está outra vez afixado o cartaz 15 AGOSTINHO DA SILVA — “A Justiça”, in Diário de Alcestes, nova ed., Lisboa, Ulmeiro, 1990, pp. 23-24. LIBERTAR O DIREITO. DO PROBLEMA METODOLÓGICO-JURÍDICO NO N OSSO TEMPO 151 Que reza: ‘Quem não estiver contente Com o salário pode ir-se embora’ (...).16 A ideia de que o jurista (como o religioso, também) devem ser alheios aos gritos e às misérias de uma sociedade injusta, e cada vez mais trituradora das pessoas tem muito curso em alguns meios. Contudo, a mudança de ventos chegou mesmo à Igreja, que retoma hoje e aprofunda a sua doutrina social. Não podemos ignorar!, como diz Sophia de Melo Breyner. Ou , como diz o Papa Franscisco (...) seria uma paz falsa a que servisse como desculpa para justificar uma organização social que silencie ou tranquilize os mais pobres, de modo que aqueles que gozam dos maiores benefícios possam manter o seu estilo de vida sem sobressaltos, enquanto os outros sobrevivem como podem. As reivindicações sociais, que têm a ver com a distribuição dos rendimentos, a inclusão social dos pobres e os direitos humanos não podem ser sufocados com o pretexto de construir um consenso de gabinete ou uma paz efémera para uma minoria feliz. A dignidade da pessoa humana e o bem comum estão acima da tranquilidade de alguns que não querem renunciar aos seus privilégios.17 E no mesmo documento dissera antes o Sumo Pontífice Os planos de assistência, que acorrem a determinadas emergências, deveriam considerar-se apenas como respostas provisórias. Enquanto não forem radicalmente solucionados os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira e atacando as causas estruturais da desigualdade social (...), não se resolverão os problemas do mundo nem, definitivamente, problema algum. A desigualdade é a raiz dos males sociais.18 Há também, inclusivamente em meio jurídico, quem pense que mesmo a ação pela solidariedade social deve incumbir não tanto ao Estado (ou nada a ele, no limite). Mais ou menos como álibi, muitos endossam essa responsabilidade para uma vaga obrigação (sem sanção) da sociedade, desobrigando o Estado. Ora o Papa Francisco contraria essa demissão, indicando quem é o sujeito passivo do contrato: 16 17 18 Bertolt BRECHT — Santa Joana dos Matadouros, 2, in Teatro 3, p. 205. PAPA FRANCISCO — Evangelii Gaudium, 218 (trad. das ed. Paulinas, com muito ligeiras adaptações estilísticas). Ibidem — 202 (ed. cit., com adapt. estilística muito ligeira). 152 PAULO FERREIRA DA CUNHA O cuidado e a promoção do bem comum da sociedade compete ao Estado (...) Este, com base nos princípios de subsidiariedade e solidariedade, e com um grande esforço de diálogo político e criação de consensos, desempenha um papel fundamental – que não pode ser delegado – na busca do desenvolvimento integral de todos.19 Há portanto que pensar o Estado como promotor do bem comum. Mas para isso é necessário desmitificá-lo, porquanto à sua volta pairam também muitos mitos, e, de mãos dadas com o Direito (um certo Direito), pode ser um poderoso instrumento não de libertação e bem estar, mas de opressão. A radiografia de Luís Sá não andará muito longe da verdade, quando o Estado e o Direito são encarados numa perspetiva agelástica e passadista: (...) transformam o Estado num mito, apresentando-o socialmente desenraizado ou planando acima da sociedade, como árbitro ou viabilizador da sua existência, também exaltam o Direito e a lei como o reino da Justiça, da convivência social pacífica da harmonização dos conflitos por entidades colocadas acima deles; ou então (...) estudam as leis e o Direito como sistema de normas, abstraindo completamente dos fins que essas normas prosseguem, dos interesses que defendem, do papel social que desempenham, do modo como são realizadas na prática as suas prescrições. 20 III. Juristas: Antes de Técnicos, Verdadeiros Filósofos A preparação dos juristas é jurídica, naturalmente, mas ela tem que ser ainda interdisciplinar, e antes de mais hermenêutica e ética. Logo, filosófica. Não há metodologia sem hermenêutica. Não há metodologia sem filosofia. Os que pretendem opor uma a outra, e sobretudo sofismar, esquecer ou apoucar a filosofia elevando (ou pretensamente exaltando) uma pseudo-metodologia na verdade nem metodologia estão a fazer, mas simples dogmatismo. Não é com meia dúzia de verdades feitas, ou uns tantos chavões, ainda que doirados de nomes sonantes e línguas mais ou menos esotéricas eventualmente, que se supre a verdadeira metodologia de raiz filosófica. Aliás, são áreas complexas, e que exigem grandes labores e sempre a vigilância do espírito crítico. 19 20 Ibidem — 240. Luís SÁ — Introdução à Teoria do Estado, Lisboa, Caminho, 1986, p. 68. LIBERTAR O DIREITO. DO PROBLEMA METODOLÓGICO-JURÍDICO NO N OSSO TEMPO 153 Quem se preocupa com os valores no Direito, num plano ético problematizador (não dogmático, e muito menos inquisitorial) tem à sua frente um longo e árduo caminho. Quem dos valores apenas tem uma visão oratória, empolada, oca afinal, demagógica e cristalizada em dogmas ao serviço de verdades-feitas não precisa (nem quer) sair do lugar. Aí está e aí permanecerá, ainda que tudo em volta mude. Mas essas questões são questões éticas. E a ética é Filosofia. Os juristas são, ou deveriam ser – pasme-se! – filósofos todos, em certa medida. Mesmo os Romanos já o diziam. Como vai um conservador ou um tradicionalista em Direito contrariar os Romanos? Pois eles diziam o que alguém traduziu já assim: "professamos (nós, juristas) uma vera e não falsa filosofia, e não o seu mero simulacro verbal (ou verbalista)". Ou seja, “[…] veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes.”21 E não deixa de ser paradoxal, e entrar pelo olhos dentro (salvo se estivermos tolhidos pelo interesse, a mira da benesse, o temor reverencial ou o dogmatismo psitacista), que muitos dos que pregam a expurgação filosófica, científico-social e interdisciplinar do Direito, e até do Direito pensado no seu ser e no seu agir, dão largas à ideologia e à verbosidade empolada (totalmente não científica nem jurídica) quando lhes toca pronunciarem-se sobre temas que lhes são caros ou que consideram pedras de toque, e / ou glosados pelos autores (que têm por auctoritates) da sua devoção. Dois pesos e duas medidas,22 pois. Já o sabíamos: “Orthodoxy is my doxy – heterodoxy is another man's doxy”, como afirmou com toda a propriedade William Warburton. Não queremos ser ortodoxo. Guardem por isso os dogmáticos tranquilamente as suas certezas, que lhas não cobiçamos. IV. Novos Desafios São de Humanismo e de Fraternidade, com hermenêutica, tópica e interdisciplinaridade a suportar teoricamente tais novos rasgos político-jurídicos (todo o Direito é político...) os novos ventos do Direito. Claro que vivemos um ataque brutal ao juridico-politicamente (constitucionalmente) alcançado. Mas no plano histórico e do progresso civilizacional qualquer recuo será alvo de severa condenação, e virá a ser retomado mais tarde o fio perdido, na espiral do Tempo. O interregno dos fascismos e nazismos também foi superado, triunfantemente, pelas forças democráticas. Alguns redutos de direitos de outros tempos estão a recuar, porquanto a constitucionalização “invade” todo o mundo do jurídico. O caráter principiológico do Direito, a começar pelo Direito Constitucional, implica aquilo a que Paulo Bonavides chama 21 22 ULPIANUS — lib. 1 Institutionum = D. 1, 1, 1, 1. Prov. XX, 10. 154 PAULO FERREIRA DA CUNHA uma hegemonia vinculante, de ordem constitucional, sobre todos os institutos de Direito Privado, os quais acabam reduzidos a mera província do direito público de primeiro grau que é o Direito Constitucional.23 E não é só o Direito Privado, é todo o Direito, que tem de respeitar a Constituição. Como é óbvio, e por definição. As constituições hodiernas são irradiantes no conjunto da ordem jurídica, não sendo apenas meras “constituições políticas”, vinculando todos, entidades públicas e privadas, e todos os cidadãos de cada Estado. Ora tal ganha corpo e dimensão com o legítimo e necessário processo de constitucionalização de todo o Direito (a que alguns, com mil subterfúgios, ainda que alguns deles formalmente inteligentes, tentam fugir, designadamente com a reivindicação de exceções ou especificidades ontológicas ou metodológicas para os seus próprios ramos de Direito). Por isso, não mais há um escuso recanto ou caverna recôndita a salvo da luz da Liberdade, da Igualdade, da Fraternidade que, com estas ou similares palavras, pulsam nas hodiernas constituições. Não pode haver Direito hoje digno desse nome, hoje, contra Liberdade, Igualdade e Fraternidade. O Direito foi, sem dúvida, no passado, oscilante balança entre o desejo mais ou menos idealista de encontrar Justiça (apesar do contexto geral a ela desfavorável) e a crua realidade de ser instrumento objetivo de injustiça (aparelho ideológico e fundamento da força pública, muitas vezes ao serviço de interesses privados). Com a constitucionalização do Direito, ele não mais pode viver essa esquizofrenia senão como um resíduo do passado. O seu telos é a Justiça, e compreendida em todas as suas dimensões, incluindo a social. Nada mais. Nada menos. E por isso é que os inimigos da Justiça (que, insistimos, também é social, e hoje mais que nunca o tem de ser) não gostam das constituições cidadãs, que são um contrato pelo progresso, a liberdade e a justiça para todos os cidadãos, e não apenas para alguns. Não gostarem delas é um direito seu, claro, mas os defensores das constituições em vigor têm, ao contrário deles, a Lei do seu lado (lei de que aqueles tanto dizem gostar, em abstrato): a lei vigente e mesmo a lei natural, ou, em linguagem atual, os Direitos do Homem. Por outro lado, as Constituições não mais se encontram desarmadas. Elas têm a darlhes força e efetividade órgãos jurisdicionais, Tribunais Constitucionais e Supremos Tribunais. Isso faz toda a diferença: 23 Paulo BONAVIDES — Do Estado Liberal ao Estado Social, pp. 18-19. LIBERTAR O DIREITO. DO PROBLEMA METODOLÓGICO-JURÍDICO NO N OSSO TEMPO 155 The theory of the law of the state plays theoretical and practical orientations, methods, and themes in different keys, when faced (or not) with a constitutional court and court practice.24 O novo paradigma jurídico que se sente despontar, para desespero dos passadistas, é de fraternidade e humanismo. Valores que já estão nas constituições cidadãs. Os novos ventos que da nova prática jurídica (que é jurídica e social, como tantos movimentos como “direito no cárcere”, “direito achado na rua”, mesmo direito e música e literatura... para não falar na ação social e jurídica de entidades públicas interventivas como as Defensorias Públicas e afins) se levantam e sopram precisamente em consonância com um estudo do Direito crítico, interdisciplinar e pensado, e são solidários do programa jurídico-político das Constituições que, como a nossa, não pretendem apenas regular a dança das cadeiras parlamentares e ministeriais, mas criar efetivamente mais Justiça neste Mundo. Evidentemente que sabemos que há quem considere que tudo o que aqui dissemos não é senão a “retórica” ou até impasse da ideologia, da política, ou – mais educadamente – da Filosofia. Como diz Gomes Canotilho, a quem obviamente seguimos: Muitos juristas julgam estas questões como mera filosofia. A nosso ver, se o direito constitucional não recuperar o impulso dialógico e crítico que hoje é fornecido pelas teorias políticas da justiça e pelas teorias críticas da sociedade ficará definitivamente prisioneiro da sua aridez formal e do seu conformismo político.25 Por isso, é preciso libertar o Direito: da aridez formal e do conformismo político a que uma metodologia ensimesmada sob pretexto de rigor e purificação necessariamente conduz. 24 25 Arthur JACOBSON / Bernhard SCHLINK — Weimar: a Jurisprudence of Crisis, University of California Press, 2002, p. 3. J. J. Gomes CANOTILHO — Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª ed., Coimbra, Almedina, 2003, p. 21. El Corpus Iuris Civilis y su Paradójica Influencia sobre la Tradición Jurídica Occidental JUAN PABLO PAMPILLO BALIÑO * Sumario: I. Denominación, II. Influencia de la tradición romanista, III. Descripción de los libros que lo integran, IV. Polivalencia de la tradición romanista. Resumen: El presente artículo ofrece un panorama general sobre el Corpus Iuris Civilis, destacando la importancia del derecho romano tanto el ámbito del civil law como dentro del common law, observando su influencia en la configuración del Derecho de la Unión Europea, su valor formativo para los juristas y su utilidad para la configuración de un derecho común americano. Abstract: This article provides an overview of the Corpus Juris Civilis, highlighting the importance of Roman law both in the area of civil law and within the common law, noting its influence in shaping the law of the European Union, its educational value for lawyers and its utility for configuring a new ius commune in the American Continent. Palabras clave: Derecho Romano, Compilación Justinianea, relaciones entre civil law y common law, Derecho Europeo y Derecho Romano. Key words: Roman Law, History of Roman Law, relations in between common law and civil law, European Law. JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 157-168. * Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, Presidente de la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana e Investigador Nacional. E-mail: [email protected] 158 JUAN PABLO PAMPILLO BALIÑO I. Denominación Corpus Iuris Civilis, significa literalmente en latín compendio o cuerpo del derecho civil. Es el nombre tradicional con el que hacia los albores de la Edad Moderna (1583), se intitularon y fueron editadas conjuntamente, en Ginebra, bajo la dirección del humanista Dionisio Godofredo, las cuatro obras (Instituciones, Código, Digesto y Novelas) que conformaban la compilación del derecho civil romano mandada hacer por el Emperador Romano de Oriente, Justiniano I, hacia el primer tercio del siglo VI.1 1 Entre las muchas obras generales sobre el derecho romano, la historia del derecho romano y la compilación justinianea que seguimos, hemos tomado especialmente en cuenta las siguientes: Jorge Adame Goddard. “Descripción sumaria del Corpus Iuris” en Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho. (Número 10. México. Edita la Escuela Libre de Derecho. 1986), Beatriz Bernal y José de Jesús Ledesma. Historia del derecho romano y de los derechos neoromanistas. (4ª edición. México. Editorial Porrúa. 1989), María Jesús Casado Candelas. Primae Luces. Una introducción al estudio del origen de la jurisprudencia romana. (Valladolid. Edita El Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid. 1994), Juan de Churruca. Introducción Histórica al Derecho Romano. (Con la colaboración de Rosa Mentxaka Octava edición. Bilbao. Universidad de Deusto. 1997), Álvaro D’Ors. Derecho Privado Romano. (Quinta edición. Pamplona. Edita la Universidad de Navarra. 1983), Juan Iglesias. Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado. (Barcelona. Editorial Ariel. 1989), Herbert Felix Jolowicz and Barry Nicholas. Historical Introduction to the Study of Roman Law. (3rd edition. London. Cambridge University Press. 1972), Wolfang Kunkel. Historia del Derecho Romano. Traducción por Juan Miquel. Barcelona. Editorial Ariel. 1982, Riccardo Orestano. Introducción al Estudio del Derecho Romano. (Traducción de Manuel Abellán Velasco. Madrid. Editan Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del Estado. 1997), Fritz Shulz Principios del Derecho Romano. (Traducción por Manuel Abelán Velasco. Segunda edición. Madrid. Editorial Civitas. 2000). Entre las diversas obras de historia del derecho que más han puesto de relieve la importancia del derecho romano, seguimos especialmente a Harold J. Berman. Law and Revolution. The formation of the Western Legal Trad ition. (Massachusetts. Harvard University Press. 1983), Carlo Augusto Cannata. Historia de la Ciencia Jurídica Europea. (Traducción Laura Gutiérrez-Masson. Madrid. Editorial Tecnos. 1996), Paul Koschaker. Europa y el Derecho Romano. (Traducción de José Santa Cruz Teijeiro. Madrid. Editorial Revista de Derecho Privado. 1955), Guillermo F. Margadant. La Segunda Vida del Derecho Romano. (México. Miguel Ángel Porrúa. 1986), Raoul G. Van Caenegem. Pasado y Futuro del Derecho Europeo. (Traducción de Luis Díez Picazo. Madrid. Editorial Civitas. 2003) y Franz Wieacker. Historia del Derecho Privado de la Edad Moderna. (Traducción de Francisco Fernández Jardón. Granada. Editorial Comares. 2000). Pueden consultarse las semblanzas biográficas de los juristas a los que nos referiremos dentro del presente trabajo en los diversos volúmenes de la obra de Rafael Domingo (editor). Juristas Universales. (Madrid. Editorial Marcial Pons. 2004). Personalmente me he ocupado de este tema en diversas ocasiones, particularmente en Juan Pablo Pampillo Baliño. Historia General del Derecho. (México. Oxford University Press. 2008) y en el artículo “¿Qué es el Corpus Iuris? en Iuris Tantum. Revista de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Anáhuac. Número 17. Edita la Universidad Anáhuac. 2006, consultable en la siguiente página web:http://works.bepress.com/juan_pablo_pam pillo/ EL CORPUS IURIS CIVILIS Y SU PARADÓJICA INFLUENCIA 159 Dicha denominación obedeció a la necesidad de distinguir el acervo jurídico civil (en el sentido de derecho secular y en contraposición al derecho de la Iglesia Católica) del conjunto de las obras del derecho canónico clásico, que fue publicado primeramente en el año de 1503, por Jean Chappuis en París bajo el título de Corpus Iuris Canonici y posteriormente, en una edición oficial de 1582, aprobada por el papa Gregorio XIII. La influencia del derecho romano, dentro del ámbito de la familia jurídica del civil como en el common law, su importancia en la configuración actual del derecho de la Unión Europea y su valor para la formación de los juristas actuales y la configuración de un derecho común americano, son algunos de los temas de los que trata el presente artículo.2 II. Influencia de la tradición romanista El Corpus Iuris Civilis constituye una de las obras fundamentales de la cultura occidental, pudiéndose afirmar que su importancia jurídica y civilizatoria es comparable a la de la literatura filosófica de los griegos y religiosa de extracción hebreo-cristiana. Su poderosa influencia a lo largo de nuestra tradición jurídica, que llegó a considerarlo como la razón escrita (ratio scripta), como ley sagrada (sacratissimae leges) y como don divino (donum Dei), permite con toda propiedad considerar al derecho romano como el origen y la fuente de constante inspiración de todas las familias jurídicas de extracción europea, incluso de las pertenecientes al common law, más allá de sus rasgos propios y diferenciales. Como ha observado la corriente historiográfico-jurídica de la ‘Historia del Derecho Privado de la Edad Moderna’, a la que pertenecen historiadores del derecho y romanistas de la talla de Kunkel, Bonfante, Calasso, Orestano, Bretone y Wieacker, entre muchos otros, el derecho y el pensamiento jurídico occidental tienen como su hilo conductor a la tradición romanista, cuyas transformaciones, aprovechamientos y desarrollos, han sido y son una de las principales claves para entender el desenvolvimiento histórico de nuestra ciencia jurídica. Incluso en el caso del common law, muchas de sus particularidades no podrían entenderse sino a partir de la oposición de la clase jurídica y judicial a la recepción del derecho romano durante la Edad Media. 2 Me he ocupado más extensamente de los anteriores temas en Historia General del Derecho…, op. cit. y en Juan Pablo Pampillo Baliño. La Integración Americana. Expresión de un Nuevo Derecho Global. México. Editorial Porrúa. 2012. También en The Legal Integration of the American Continent. An invitation to legal science to build a new ius commune" (Miami. ILSA Journal of International and Comparative Law. 17. 2011. 160 JUAN PABLO PAMPILLO BALIÑO Lo cierto es que resulta imposible entender la conformación jurisprudencial del derecho bajomedieval común (ius commune europeo), o el conceptualismo de los Pandectistas alemanes (siglo XIX), si no es precisamente a partir de su referencia a la tradición romanista. Conviene distinguir sin embargo entre el derecho material romano y la tradición formal romanista. El derecho romano, en sus soluciones materiales concretas e instituciones jurídicas propias, constituye un ordenamiento jurídico pretérito, delimitado históricamente y definitivamente concluso, que ofrece un interés más bien propedéutico, pero principalmente anecdótico, para los estudiantes de derecho.3 Efectivamente, las peculiaridades de la manus maritalis, la rigidez del procedimiento de las legis actionis, las solemnidades de la mancipatio y las fórmulas para la manumissio de los esclavos, entre otros muchos ejemplos, son parte de un conjunto de instituciones materiales pertenecientes a un derecho de la antigüedad, completamente superado, que en nuestro tiempo no le brindan al jurista mayores ventajas, que las que aporta un saber erudito como mera prenda de lucimiento y ornato cultural. Sin embargo, es posible distinguir frente a las instituciones materiales del derecho romano histórico, un perfil formal perdurable, que ha ejercido una favorable influencia en el desarrollo de la filosofía, la ciencia y la práctica del derecho occidental y que todavía goza de un extraordinario valor formativo para los abogados de nuestra época. Dicho perfil formal comprende una serie de ideas jurídicas fundamentales, métodos idóneos para el hallazgo de soluciones jurídicas concretas y reglas tópicas extraordinariamente útiles para la articulación de la argumentación jurídica. Dentro de las ideas jurídicas fundamentales, se encuentran, por ejemplo: 3 Sobre la distinción entre la ‘tradición romanista’ (perfil formal y formativo) y el ‘derecho romano histórico’ (material e informativo) a que me referí anteriormente, que ha sido propuesta por la romanística contemporánea para replantear la utilidad actual del derecho romano en la formación de los juristas de nuestros días y que claramente reivindica la importancia formativa de sus ideas, métodos y conceptos, así como el valor meramente anecdótico de sus instituciones y soluciones materiales, véase a Orestano. Introducción..., op. cit., pp. 489 y ss., Bretone. Derecho..., op. cit., pp. 192 y ss., Villey. Compendio..., op. cit., pp. 101 y ss., Wieacker. Historia..., op. cit., pp. 114 y ss. Me ocupo del tema en Historia General del Derecho…, op. cit. y también en “En torno al concepto romano de ius en Juvencio Celso hijo, o brevísima vindicación de la importancia de los estudios romanísticos para el jurista actual” en Revista de Estudios Jurídicos de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Libre de Derecho. 2005. EL CORPUS IURIS CIVILIS Y SU PARADÓJICA INFLUENCIA 161 a) el concepto de ciencia jurídica como jurisprudencia (iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia o sea, el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto, que consiste en un aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, es decir, en la separación material de lo equitativo y lo inequitativo y en la distinción formal entre los tipos de lo lícito y de lo ilícito),4 b) la noción de justicia (constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, o sea, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde) de Domicio Ulpiano5 y c) la aproximación a la técnica jurídica de Juvencio Celso hijo, según quien (ius est ars boni et aequi, es decir, el derecho es el arte – técnica constructiva a partir de principios – de lo bueno y de lo justo).6 Por su parte, dentro de los métodos jurídicos romanistas, puede destacarse entre todos el propuesto por Marco Antisión Labeón, de naturaleza tópico-aporéticadialéctico-prudencial, que sugiere partir de la observación y análisis de los problemas sociales, proseguir con la consulta y comprensión cultural de las opiniones precedentes, cuyo valor es meramente instrumental, para concluir mediante la elaboración de una regla a-jus-tada al caso concreto. Dicho método se encuentra en realidad compendiado en su famosa máxima – atribuida a Paulo, pero en realidad tomada de Labeón – según la cual “el derecho no consiste en reglas, sino más bien las reglas se extraen del derecho” (non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat).7 4 5 6 7 D. 1, 1, 10. El valor de estas ideas fundamentales ha sido puesto en evidencia por muchos autores, entre los cuales vale la pena destacar la exposición clásica de Shulz, en su obra anteriormente citada y la de Ángel Sánchez de la Torre. Los Principios Clásicos del Derecho. (Madrid. Edita Unión Editorial, S.A. 1975). Como es sabido, la máxima de Ulpiano en realidad es una síntesis de la teoría de la justicia expuesta por Aristóteles en el Libro V de su Ética. Sobre las relaciones entre iustitia y ius en el mundo romano y medieval, puede verse la obra de Javier Hervada. Historia de la Ciencia del Derecho Natural. (Tercera edición. Pamplona. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 1996) así como la de Francisco Carpintero Benítez. Historia del Derecho Natural. Un ensayo. México. Edita el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1999. El valor de este concepto es fundamental; sobre su importancia Ortolán ha observado, con razón, que se trata de un “dogma constituyente” del derecho romano. José Luis Ortolan. Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano, precedida de La Historia de la Legislación Romana y de una Generalización del Derecho Romano. (Traducción de Francisco Perez de Anaya y Melquíades Perez Rivas. Madrid. Librería de D. Leocadio Lopez. 1887) D. 50, 17, 1. Esta concepción labeoniana, fue originariamente recogida en el proemio de su libro Pithanà (del griego ‘to pithanon’ que significa ‘lo probable’), mismo que lamentablemente no conservamos Sobre esta obra de Labeón y la pervivencia de algunas de sus ideas a través de los libri ad Plautium de Paulo y del mismo Digesto, veáse a Cannata. Historia...op. 162 JUAN PABLO PAMPILLO BALIÑO Igualmente, vale la pena recordar el método propuesto por Marco Tulio Cicerón, según el cual, hay que dividir los problemas en sus partes elementales (rem universam tribuere in partes), pasando a delimitarlas y a definirlas (latentem explicare definiendo), aclarando las obscuridades mediante la interpretación (obscuram explanare interpretando) y distinguiendo las ambigüedades (ambiguam primus videre, deinde distinguere), identificando el problema central o nuclear, de cuya solución se sigue el sentido de la solución de los demás problemas y, finalmente, proponer la regla para la solución del caso concreto (postremo, habere regulam).8 Finalmente, por lo que hace a las regulae iuris, ampliamente difundidas y usadas a lo largo de nuestra tradición jurídica, pueden distinguirse en diversos tipos. En primer lugar, encontramos un importante grupo de ‘fórmulas iusfilosóficas’, que van desde el reconocimiento de la naturaleza inestimable de la libertad,9 o la posible contraposición entre la licitud de las leyes y la moralidad de las costumbres,10 hasta la afirmación de la imposibilidad de que la ley humana, sancione lo que es contrario a la naturaleza de las cosas.11 Igualmente hallamos ‘principios jurídicos generalísimos’, tales como el que niega todo efecto jurídico a los actos contrarios a derecho,12 el que establece que las estipulaciones particulares no pueden sustraerse de las disposiciones de orden público,13 el que dispone que el que puede lo más puede lo menos,14 el que reconoce que nadie está obligado a lo imposible,15 o aquél otro que recoge el dogma de la plenitud de la jurisdicción.16 También tenemos ‘principios técnico jurídicos’ más bien específicos, tal como el que atribuye los beneficios precisamente a quien sobrelleva las cargas,17 el que reconoce que el matrimonio se funda más bien en la voluntad que en la cohabitación18, el que establece la verdad formal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 cit., donde también desarrolla la evolución del método de los juristas romanos. En muchos otros pasajes del Digesto (p. ej, en D. 1, 3 14 y 50, 17, 90) encontramos la misma opinión, en el sentido de declarar la inaplicabilidad de la regla positiva cuando está desa-jus-tada de la realidad social a ser reconducida. Rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam. Marco Tulio Cicerón. De la Invención Retórica. (Traducción y edición bilingüe a cargo de Bulmaro Reyes Coria. México. Coordinación de Humanidades de la UNAM. 1997). Libertas inaestimabilis res est. D. 50, 17, 106. Non omne quod licet honestum est. D. 50, 17, 144. Quae rerum natura prohibentur, nulla lege confirmata sunt. D. 50, 17, 188. Quod contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentia. D. 50, 17, 141. Privatorum conventio iuri publico non derogat. D. 50, 17, 45. Non debet, cui plus liceo, quod minus est, non licere. D. 50, 17, 21. Imposibilia nulla est obligatio. D. 50, 17, 185. Nemo, qui condemnare potest, absolvere non potest. D. 50, 17, 37. Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda. D. 50, 17, 10. Nuptias non concubitus, sed consensus facit. D. 50, 17, 30. EL CORPUS IURIS CIVILIS Y SU PARADÓJICA INFLUENCIA 163 de la cosa juzgada,19 o en fin, el que sanciona la necesidad de acto expreso para la transmisión de los derechos.20 Por último, pueden mencionarse los ‘principios interpretativos’, como aquel que establece la benignidad en caso de duda,21 el modo de interpretar el silencio en juicio22 y la necesidad de regla expresa en materia de castigos.23 En resumen, la influencia de la tradición romanista y por ende la importancia formativa del Corpus Iuris Civilis, radica precisamente en su perfil formal, que comprende sus ideas jurídicas, sus métodos y sus reglas tópicas. Adicionalmente, cabe destacar que en los países pertenecientes a la familia jurídica del civil law, particularmente en aquéllos en los que todavía no se han superado las estrecheces del positivismo legalista formalista, el conocimiento del derecho romano y de su estructura jurisprudencial, que reivindica al jurista frente al legislador, los contenidos sobre las formas y la formación de un criterio jurídico independiente de las leyes y de la ideología, ha tenido un importante papel formativo que debe seguir jugando como la mejor vacuna frente a la politización y la formalización del derecho.24 III. Descripción de los libros que lo integran La compilación jurídica justinianea, fue una parte fundamental del proyecto político de restauración romanista emprendida por el Emperador Justiniano. Supuso un esfuerzo monumental de recopilación del derecho romano, tanto para su mitad oriental que gobernaba desde Bizancio, cuanto para la parte occidental que había caído en manos de los bárbaros germánicos y que pretendió reconquistar destacando en occidente sus fuerzas al mando del General Belisario. En ese sentido, el Corpus Iuris Civilis no estuvo motivado por un afán cultural clasicista, sino más bien por un interés político de unificación jurídica. Por eso mismo, Justiniano ordenó a) compilar, b) poner al día y c) abstenerse de comentar su recopilación. 19 20 21 22 23 24 Res iudicata pro veritate accipitur. D. 50, 17, 207. Id quod nostrum est sine facto nostro ad alium transferri non potest. D. 50, 17, 11. Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt. D. 50, 17, 56. Qui tacet, non utique fatetur: sed tamen verum est eum non negare. D. 50, 17, 142. Expressa nocent, non expressa non nocent. D. 50, 17, 195. En ese sentido Jorge Adame Goddard. “El Derecho Romano como Jurisprudencia” en Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho. (Número 15. México. Edita la Escuela Libre de Derecho. 1991), cuyos planteamientos retomo en Historia General del Derecho…, op. cit. 164 JUAN PABLO PAMPILLO BALIÑO Pero compilar (del latín compilare), significa reunir por cualquier medio – incluido el saqueo y el robo –, mientras que poner al día suponía retocar estilísticamente e inclusive modificar sustancialmente los textos compilados, de acuerdo con las necesidades e intereses del Imperio. Dichas alteraciones textuales, conocidas como interpolaciones o emblemata Triboniani, dificultan el conocimiento del derecho romano clásico, por cuanto que sus principales obras se han perdido y han debido reconstruirse mediante el empleo de sofisticados métodos de crítica textual, a partir de sus fragmentos incluidos dentro del Corpus Iuris. Por último, por lo que hace a la prohibición de comentar, tendiente a preservar la integridad de su obra compiladora, vista desde nuestra perspectiva histórica resultaba, además de impracticable y contraproducente, ingenua. Acaso por ello, los mismos compiladores fueron los primeros en comentar la magna recopilación y su destino en el Imperio Bizantino fue precisamente el de helenizarse a través de los comentarios o escolios. Ahora bien, por lo que hace propiamente a los libros que integran el Corpus Iuris Civilis, estos son – como se dijo – cuatro, cuyos nombres originales fueron: Institutiones seu elementa, Codex repetitae praelectionis, los Digesta y las Novellae constitutiones post Codicem. A) Las Instituciones, cuya elaboración fue encomendada a Triboniano, así como a los profesores de derecho de Constantinopla y de Berito, Teófilo y Doroteo, constituyen una enchridia, es decir, un libro de texto destinado para la enseñanza, que siguió en lo fundamental el orden tradicional de personas, cosas y acciones (personae, res, actiones), establecido a partir de la célebre Instituta de Gayo. En su elaboración, se aprovecharon también otros textos pedagógicos y especialmente los de Ulpiano y Marciano. Fue promulgada en el año de 533 y desde un punto de vista formal se estructura en cuatro libros, divididos a su vez en leyes. B) El Código, como su denominación original sugiere, es un segundo codex, pues el primero – denominado Novus Justinianus Codex y conocido como Codex vetus –, confiado en su elaboración a una comisión redactora presidida por Juan de Capadocia en el año 528 y promulgado el año siguiente, fue mostrando muy pronto sus limitaciones y desfasamiento durante la labor compiladora. Este primer codex se ha perdido y no lo conocemos. Ahora bien, por lo que hace al segundo Código, que es el que forma parte del Corpus Iuris, fue el resultado de los trabajos realizados por una comisión presidida por Triboniano, que se ocupó de la recopilación de las principales constituciones imperiales (leges) desde el emperador Adriano hasta el propio Justiniano en un número EL CORPUS IURIS CIVILIS Y SU PARADÓJICA INFLUENCIA 165 mayor a las cuatro mil seiscientas. Los trabajos de la comisión partieron de las anteriores compilaciones de leges (Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano) y reunieron en doce libros, divididos en capítulos y leyes, diversas materias, incluyendo el derecho eclesiástico, las fuentes del derecho, el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho privado. Fue promulgado por la Constitución Cordi del año 534. C) Las Digesta – denominadas a partir de la Edad Media en singular como el Digesto – (del latín digerere que significa disponer ordenadamente), también conocidas por su nombre griego Pandectas (de pandectae que quiere decir que lo abarca todo) son una compilación o antología de fragmentos de opiniones y dictámenes jurisprudenciales – iura – elaboradas por los principales juristas romanos. La confección del Digesto fue encomendada por la Constitución Deo auctore de 530, a una Comisión de dieciséis miembros, entre los que destacaron los profesores Teófilo, Doroteo, Cretino e Isidoro y presidida nuevamente por Triboniano. El Digesto fue promulgado por la Constitución Tanta de 533. La magnitud de la obra, aunada a la extraordinaria celeridad con la que la comisión concluyó sus trabajos, dio lugar a una dilatada discusión sobre los medios de que pudo servirse para culminar un trabajo titánico de reunión y reelaboración de más de doscientas obras, de entre un universo de más de dos mil que fueron tenidas en cuenta, en el arco de menos de tres años. Entre las principales hipótesis que se han elaborado para explicar semejante logro, destacan la teoría de las masas de Federico Bluhme y la de los predigestos de Hans Peters. De acuerdo al primero, la comisión se dividió de acuerdo a cuatro bloques o masas temáticas: la sabinianea, la edictal, la papinianea y la del apéndice, basándose Bluhme para esta conjetura en la cercanía de los extractos de pasajes por grupos de escritos. Por su parte, Peters afirmó que ante la monumentalidad de la obra y la diligencia de los trabajos, éstos solamente podrían explicarse a partir de la existencia de antologías o compilaciones previas, a los que denominó pre-digestos. Más allá de las anteriores hipótesis, el Digesto se estructura en cincuenta libros, divididos a su vez en títulos que a su vez se subdividen en leyes y parágrafos. Cabe apuntar que de entre los textos reunidos dentro del Corpus Iuris Civilis, el Digesto es, sin lugar a dudas, el más importante, ofreciendo especial interés para la formación del jurista, la lectura de su primer título, relativo a la Justicia y el Derecho y el último libro que contiene diversas reglas del derecho romano. D) Por último se encuentran las Novelas, así denominadas por contener las nuevas constituciones posteriores a la promulgación del Código, son un conjunto de recopilaciones posteriores a Justiniano, de las leges posteriores al Codex, destacando entre 166 JUAN PABLO PAMPILLO BALIÑO ellas fundamentalmente tres: el Epítome Iuliani (compilación privada de 124 constituciones en latín debida a Juliano, profesor de Constantinopla), el Authenticum (colección privada de 134 novelas originalmente escritas en griego aunque preservadas en un latín poco fiable) y las de Tiberio II (168 novelas en griegas hechas con carácter oficial). IV. Polivalencia de la tradición romanista Aunque se trata de una sola obra, el Corpus Iuris Civilis recoge una enorme diversidad de tradiciones filosóficas, científicas, culturales y jurídicas. En efecto, dentro del Corpus Iuris se recogen, materialmente hablando, tanto opiniones propuestas por los juristas clásicos, cuanto constituciones impuestas por los emperadores, lo mismo que lecciones elaboradas con un objetivo pedagógico para la enseñanza del derecho, pasando por fragmentos del edicto del pretor. Más aún, históricamente recoge fragmentos arcaicos de las XII Tablas, opiniones tanto de los veteres, o juristas antiguos cuanto de los juristas clásicos y postclásicos, lo mismo que constituciones imperiales posteriores al siglo IV, que reconocen y promueven la religión católica. Todavía más, dichas opiniones jurisprudenciales (iura) y constituciones imperiales (leges), pertenecientes a diversas épocas, se encuentran bajo el influjo de diversas – y muchas veces antagónicas – corrientes de pensamiento filosófico, moral o jurídico. Peor aún, como se dijo, a lo largo del proceso de compilación ordenado por el Justiniano, muchos pasajes fueron retocados e inclusive modificados, por donde el Corpus Iuris Civilis recoge en realidad un acervo de opiniones, enseñanzas y leyes, de naturaleza heterogénea – tanto en lo material, cuanto en lo histórico e ideológicocontrastante y muchas veces contradictorio. Así las cosas, desde un punto de vista filosófico, se advierte tanto la influencia del pensamiento moralista de los estoicos, de naturaleza eminentemente legalista, con su distinción entre la ley divina (logós theiós), la ley natural (physis), la ley de justicia (dike) y la ley humano-positiva (nomós), cuanto la impronta de la Ética aristotélica y su concepción de la justicia (dikayusine) como virtud y su noción del derecho (tò dikaión), como una medida (metrón) de igualdad (isón). Igualmente y como telón de fondo, subyace el debate propuesto los sofistas entre el derecho como artificio humano (nomós) y el derecho como un orden preexistente en EL CORPUS IURIS CIVILIS Y SU PARADÓJICA INFLUENCIA 167 la naturaleza de las cosas (physis / dike), que constituye el sedimento del debate multisecular entre iuspositivistas y iusnaturalistas.25 Finalmente, puede decirse que el Corpus Iuris recoge igualmente: a) la tradición tópico-problemática, científico-sapiencial y equitativa de la jurisprudencia clásica (el derecho como ius y iura, o sea, como lo justo descubierto por el jurista),26 b) la tradición sistemático-legalista y política-potestataria del derecho postclásico (el derecho como directum y leges es decir, como la orientación y mandato coactivo impuesta por el estado) y c) la tradición cristiana, que ve en el derecho un instrumento al servicio de la caridad que es la plenitud de la ley (charitas est plenitudo legis).27 Precisamente por virtud de esta polivalencia filosófica de la tradición romanista, el Corpus Iuris, ha ejercido a lo largo de la historia del derecho occidental una influencia muy variada, contribuyendo igualmente a la conformación del ius commune europeo medieval, como un conjunto abierto y flexible de opiniones doctrinales, lo mismo que al desarrollo de la jurisprudencia de conceptos propuesta por pandectista alemana, con sus principios axiomáticos, geométricamente estructurados según un orden piramidal de jerarquías. Ahora bien, su polivalencia – que es también y sobre todo riqueza y flexibilidad –, nos explica también su valor formativo y su aprovechamiento actual como “origen” de “las tradiciones comunes” de los “Estados miembros” de la Unión Europea, que sirven para encontrar “las reglas generales del derecho privado”, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo.28 25 26 27 28 Entre las muchas obras que dan cuenta de la influencia de la filosofía griega sobre la jurisprudencia romana, puede referirse la de María Jesús Casado, anteriormente citada y la de Miguel Villoro Toranzo. “Aparición del Iusnaturalismo en el Pensamiento Jurídico Romano” en Del Derecho Hebreo al Derecho Soviético. Ensayos de Filosofía de Historia del Derecho. (México. Edita el Fondo para la Difusión del Derecho de la Escuela Libre de Derecho. 1989) Sobre este aspecto de la tradición romanística, además de las obras anteriormente citadas, puede consultarse también con provecho a Theodor Viehweg. Tópica y Jurisprudencia. (Traducción de Luis Díez-Picazo. Madrid. Editorial Taurus. 1986) Respecto a la influencia del cristianismo sobre el derecho romano pueden verse las obras clásicas de Biondo Biondi. Il diritto romano cristiano. (Milano. Giuffré. 1954), Raimundo Teodoro Troplong. La Influencia del Cristianismo en el Derecho Civil Romano. (Versión de Santiago Cunchillos. Buenos Aires: Editorial Desclée de Brouwer. 1947). Sobre la influencia del cristianismo en la filosofía del derecho puede consultarse la sucinta monografía de Daniel Kuri Br eña. La Filosofía del Derecho en la Antigüedad Cristiana. (3ª ed. México. Edita la Facultad de Derecho de la UNAM. 1975). Sobre el particular puede verse las obras clásicas de Helmut Coing. Derecho Privado Europeo. (Traducción de Antonio Pérez Martín. Madrid. Edita la Fundación Cultural del Notariado. 1996), Van Caenegem. Pasado y Futuro del Derecho Europeo…, op. cit. y Reinhard Zimmer- 168 JUAN PABLO PAMPILLO BALIÑO Igualmente encontramos su profunda huella en el ámbito del common law, donde a pesar de que frecuentemente se ha escatimado su influencia, esta puede encontrarse con toda claridad desde la primera literatura jurídica (Glanvill y Bracton), hasta la misma configuración de los ámbitos del derecho mercantil y marítimo, pasando por la jurisdicción del equity law desarrollado por la Court of Chancery.29 De hecho, en un amplio y exhaustivo análisis realizado por Zimmermann, el distinguido comparatista alemán ha demostrado que las instituciones, procedimientos, valores, conceptos y reglas jurídicas del common law son – en razón de la influencia romanista- más cercanas a los ordenamientos de la familia del civil law de lo que habíamos pensado, destacando que contrariamente a lo que podríamos pensar, es mayor la distancia que existe entre los dos códigos paradigmáticos del siglo XIX: el Code Francés de 1804 y el BGB Alemán de 1900.30 La anterior cercanía nos sirve para explicar la armonización jurídica que ha venido produciéndose en Europa, confirmando la tesis expuesta, años atrás, por Josef Esser sobre los posibles encuentros entre el civil law y el common law a través de los principios jurídicos.31 En una palabra: el Corpus Iuris Civilis es una obra unitaria, de contenido heterogéneo y polivalente, que ha ejercido y seguirá ejerciendo una poderosa, aunque variada – e incluso ambigua – influencia, sobre nuestra tradición jurídica. 29 30 31 mann. Derecho romano, derecho contemporáneo, derecho europeo. (Trad. Javier M. Rodríguez. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2010). Cfr. John H. Langbein, Renée Lettow and Bruce P. Smith. History of the Common Law. The Development of Anglo-American Legal Institutions. (New York. Wolters Kluwer. 2009). Zimmermann. Derecho romano…, op. cit. Josef Esser. Principio y Norma en la Elaboración Jurisprudencial del Derecho Privado. (Traducción por Eduardo Valentí Fiol. Barcelona. Editorial Bosch. 1961) Laïcité et Etat Civil, quel rapport? MERYEM MEHREZ * L’expression « Etat civil » – qui n’a pas de signification propre en sciences politique – est de plus en plus utilisée dans les débats politiques surtout avec l’accession des mouvements islamistes au pouvoir dans certains pays arabes. A travers ces débat, l’Etat civil serait l’Etat qui n’est ni religieux ni laïque, il se définit donc par rapport à son opposé laïque ou théocratique. Certes, la notion d’Etat théocratique a évolué avec l’évolution des idées et des situations politique mais nous allons nous contenter de dire que c’est la forme de gouvernement dans lequel le pouvoir, considéré comme émanant de Dieu, est exercé par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse ou par un souverain considéré comme le représentant de Dieu sur la terre. L’Iran est l’exemple type de ce régime dans le monde musulman si non l’unique. Ce pays offre d’ailleurs l’exemple unique dans l’Histoire, celui d’une république théocratique.1 Mais les autres pays islamiques utilisent aussi la religion, à des degrés variables, soit pour assoir leur légitimité ou la préserver.2 Mais qu’en est-il de la laïcité ? Quelles sont les principales caractéristiques de l’Etat laïque qui le rapprochent ou qui l’éloignent de cet ‘Etat civil’ recherché, revendiqué? JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 169-178. * Professeure Chercheure à la Faculté de Droit, Université IBN ZOHR Agadir et membre associé au LRCID (Laboratoire de recherche sur la coopération internationale et développement), Université Cadi Ayyad, Marrakech (Marrocos). 1 Sélim Jahel : « La Laïcité dans les pays musulmans», in La Laïcité, Archives de Philosophie de Droit, N° 48, Dalloz 2004, p.148. Idem, p149/152 ; voir aussi ; Tozy (Med) « Monarchie et Islam politique au Maroc», Presses de Sciences Po, Paris 1999. 2 170 MERYEM MEHREZ Il est donc primordial d’élucider le concept de laïcité et son essence (I) afin de pouvoir découvrir quel rapport peut-il avoir avec l’Etat civil promis et discerner ainsi le principal enjeu de ce dernier (II). I. La laïcité : un concept, des pratiques. L’étymologie de « laïcité » provient du nom grec « laos », le peuple distinct des clercs qui sont les serviteurs de l’Eglise. Le Larousse la définit par un « système qui exclut les Églises de l’exercice du pouvoir politique ou administratif, et en particulier de l’organisation de l’enseignement ».3 De par son histoire et ses fondements, la laïcité est un concept issu de la culture de l’Europe chrétienne4 (A) Mais elle dépasse désormais cette réalité pour désigner la séparation de l'État et de la religion comme principe d’organisation étatique, principe qui connaît d’ailleurs diverses mises en œuvre (B). A – Fondements théoriques de la laïcité : Les fondements théoriques de la laïcité sont à rechercher dans la philosophie des Lumières qui a beaucoup imprégné l’histoire d’Europe mais aussi du monde entier. Certaines idées véhiculées par des penseurs; comme Locke, Voltaire, Rousseau, et autres ont été la source de la revendication de la laïcité par plusieurs pays du monde. L’idée de la séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel a été évoquée à la fin du 17ème siècle par le philosophe anglais Jean Locke. Dans sa lettre sur la tolérance (1686- 1689),5 il insiste sur la nécessité absolue de distinguer ce qui concerne le gouvernement civil de ce qui appartient à la religion et de tracer les bornes qui séparent les droits de l’un et ceux de l’autre. Pour lui, l’État est une société d’Hommes qui ont pour objectif d’établir, de conserver et d’avancer leurs intérêts civils. Par intérêts civils, Locke entend la vie, la liberté, la santé du corps ; la possession des biens extérieurs…6 L’Église est par contre une société d’Hommes qui se réunissent volontairement pour servir Dieu en public et lui rendre le culte qu'ils jugent lui être agréable, et propre à leur faire obtenir le salut.7 Locke considère l’Eglise – et par delà la religion – comme une association à laquelle on adhère et non pas comme une institution dont on naît membre. Et bien qu’il soit prôneur de 3 4 5 6 7 www.larousse.fr/dictionnaires/francais . Thiery Rambaud « Le principe de séparation des cultes et de l’Etat en droit public comparé» Paris, LGDJ, 2004. Edition électronique le cadre dans le cadre de la collection « Les classiques des sciences sociales ». http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.loj.let Idem, p.10. Idem, p.12. LAÏCITÉ ET ETAT CIVIL, QUEL RAPPORT? 171 l’idée qui consiste à dire que la religion est une affaire individuelle et qui doit donc être libre,8 il n’accepte pas l’athéisme. Pour sa part, (1762), Rousseau consacre le dernier chapitre de son « Du contrat social9 » à ce qu’il nomme : la religion civile. Il précise d’abord que les pouvoirs du souverain ne peuvent s’étendre à la conscience des sujets puisque « le droit que le pacte social donne au souverain sur les sujets ne passe point, les bornes de l'utilité publique ».10 Or, puisqu’il faut bien que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs, il faut que cette religion soit encadrée par les exigences de la vie en société. Par religion civil, Rousseau désigne les « maximes ou dogmes sociales » auxquelles chacun devrait se référer. Rousseau considère que dans chaque État il doit y avoir un code moral, ou une espèce de profession de foi civile, qui contînt les maximes sociales que chacun serait tenu d’admettre, et les maximes fanatiques qu’on serait tenu de rejeter, non comme impies, mais comme séditieuses et émeutières.11 Ainsi tout dogme religieux qui pourrait s’accorder avec le Code serait admis, tout dogme ou principe religieux qui ne s’y accorderait pas serait proscrit : « Quant aux dogmes négatifs, je les borne à un seul, c'est l'intolérance. En effet, là où l'intolérance théologique est admise, il est impossible qu'elle n'ait pas d’effet civil12 ». La société politique issue du Contrat social devient ainsi sacralisée au moment où elle pourra imposer des croyances auxquelles toute religion doit se conformer pour qu’elle soit acceptée. Bien que le terme de laïcité n’apparaisse explicitement chez aucun de ces penseurs, les différentes laïcités du monde s’inspirent de ces idées et de ces fondements. Deux idées exprimées différemment par chacun de ses penseurs constituent le noyau dur de la laïcité : la première c’est la séparation /neutralité entre les institutions religieuses et étatiques, alors que la deuxième n’est autre que la liberté religieuse. D’ailleurs, si la Révolution française et notamment la Déclaration des Droit de l’Homme et du citoyen est considérée comme « premier seuil de laïcisation » pour emprunter les termes de Jean Baubérot,13 c’est parce qu’elle annonce ces deux principes. Elle opère dans l’article 3 un renversement complet du fondement du pouvoir en affirmant que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ». En plus l’article 10 énonce le principe de liberté d’opinion dont la liberté 8 9 10 11 12 13 Idem, p.10-11 et 12. Edition électronique dans le cadre de la collection « Les classiques des sciences sociales » : http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.roj.duc Du Contrat social, livres V chapitre 8, p.98. Idem, p.99. Idem, op.cit, p.99. Jean Baubérot : « histoire de la Laïcité en France » Collection: Que sais-je? Ed : PUF, 2005, p.6/8 172 MERYEM MEHREZ religieuse : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Or, puisque elle est l'articulation de principes qui, en outre, peuvent recevoir des interprétations différentes, la laïcité constitue toujours un enjeu politique et social entre plusieurs manières de s'y référer. B – La laïcité en pratique : En pratique, le principe de laïcité renvoie à deux grands modèles distincts, les modèles français et américain. En France, où la laïcité s’est bâtie contre l’obscurantisme oppressant de l’Église, elle repose sur le choix délibéré de suspension de la foi comme base de l’association politique. Le modèle américain, qui a officiellement vu le jour en 1791 avec le premier amendement de la constitution, visait non à protéger l’État de l’emprise des religions, mais plutôt à protéger la religion de toute interférence de l’État. Inspiré de la culture anglaise,14 la laïcité américaine repose plus sur la neutralité absolue de l’Etat à l’égard des différentes composantes confessionnelles de la société et consacre donc plus de garanties aux libertés religieuses. La pratique internationale se situe entre ces deux extrémités et donne lieu à plusieurs types de laïcité.15 La laïcité séparatiste consiste en une façon de concevoir l'aménagement des principes laïques en mettant l'accent sur une division presque "tangible" entre l'espace de la vie privée et la sphère publique qui concerne l'Etat et les institutions relevant de sa gouvernance. La différence entre laïcité séparatiste et laïcité antireligieuse est à peine perceptible. Les tenants de cette dernière confondent sphère publique et espace public et se font les défenseurs d'un espace public aseptisé de tout signe religieux. Comparé à la séparation établie en France, le système allemand présente l’avantage de ne pas être hostile envers la religion. Se système de coopération amicale ou de laïcité coopérative met l’accent plus sur la liberté religieuse et l’égalité des religions.16 La laïcité française tend par contre vers une laïcité antireligieuse donc vers un déni de la religion. La laïcité de foi civique repose sur la sacralisation des valeurs citoyennes qui transcendent la liberté religieuse et l'abdication de cette dernière deviendrait le critère d'intégration du bon citoyen. De principe politique 14 15 16 La GB n’est pas un Etat laïc dans la mesure où il y’a une religion d’Etat mais il est peut être plus laïc que d’autres. Le régime anglais découle d’une conception pragmatique de l’État qui détermine ce qu’il peut tolérer dans le cadre de sa responsabilité d’assurer l’ordre et la paix civile, notamment en veillant à harmoniser les différentes composantes majoritaires et minor itaires de la nation. Micheline Milot « La Laïcité » éditions Novalis, 2008. Christien Walter : « Droit constitutionnel allemand et liberté religieuse» in Etat de droit et liberté religieuse en Méditerranée, REMALD, Thèmes Actuels 54/2006 ; voir aussi : « Etrange laïcité à l’Allemande » par Frédéric Lemaître, Le Monde, fr. 3/12/2012 à 14h 42. LAÏCITÉ ET ETAT CIVIL, QUEL RAPPORT? 173 d’aménagement des institutions publiques, la laïcité devient une doctrine qui a le même effet que le fanatisme religieux : l’exclusion. Or, la laïcité qui affaiblie la liberté de conscience et de religion ne peut qu’être qualifié de mutilée, falsifiée17 puisqu’elle méconnait la finalité même de la séparation entre Etat et religion à savoir l’égalité des porteurs de convictions différentes et la liberté de conscience. C’est aussi le cas de la laïcité autoritaire, celle de l’Etat qui s'affranchit soudainement et radicalement des pouvoirs religieux qu'il considère comme des forces sociales menaçantes pour la stabilité de la gouvernance politique. L'Etat domine et commande alors la ou les confessions en leur imposant des limitations au nom de valeurs supérieures, une sorte de "raison d'Etat". La laïcité turque, fruit d’un processus aussi court qu’autoritaire a toujours été en déphasage avec la société très imprégnée, elle par la religion.18 La laïcité de reconnaissance s’inscrit dans le sillage du modèle anglo-saxon et se caractérise par la reconnaissance des différentes convictions des citoyens. Il s’en suit que toutes les religions reconnues méritent la même protection de la part de l'Etat. C’est donc une laïcité au service des libertés de conscience et de religions mais elle est certainement la plus exigeante socialement et politiquement. En effet la seule reconnaissance ne garantie pas l’égale protection c’est pourquoi elle se trouve parfois appuyée par des accommodements à même de rendre effective l’égalité dans l’exercice de la liberté de religion. Au Canada plus particulièrement, la notion d'"accomodement raisonnable"19 est une obligation juridique20 qui s'inscrit dans le prolongement logique du droit à l'égalité. La laïcité n’est donc pas une fin en soi, elle n’est qu’un moyen qui vise à gérer la diversité religieuse de la société en garantissant l’égalité et la liberté des porteurs de convictions différentes. Il s’en suit que le principal enjeu de l’Etat civil – dans des pays qui s’identifient à travers la religion islamique – n’est pas sa rupture avec la religion mais plutôt sa capacité à garantir la liberté religieuse, essentiellement des minorités religieuses. 17 18 19 20 Jean Baubérot : « La Laïcité falsifiée » ed : La Découverte 2012. Abdelmalek El Ouazzani : « La Cour européenne des droits de l’Homme et la laïcité turque», in Etat de droit et liberté religieuse en Méditerranée, op.cit, p.50 ; voir aussi : Sélim Jahel « La Laïcité dans les pays musulmans», in, Arch.phil.droit, op.cit, p.152/153. François Gauthier « Paul Eid, Pierre Bosset, Micheline Milot, Sébastien Lebel-Grenier (éd.), Appartenances religieuses, appartenance citoyenne. Un équilibre en tension », Archives de sciences sociales des religions 4/2011 (n° 156), p. 161-162. www.cairn.info/revue-archives-desciences-sociales-des-religions-2011-4-page-161.htm C’est une notion issue de la jurisprudence canadienne associée au monde du travail qui désigne l'assouplissement d'une norme afin de contrer la discrimination qu’elle peut créer au dépend d’un citoyen dans le but de respecter son droit à l'égalité. 174 MERYEM MEHREZ II. L’Etat civil et l’enjeu des libertés religieuses : La liberté religieuse peut être définit comme étant un aspect particulier de la liberté d’opinion qui consiste pour la personne d’adhérer librement à une religion. Or, la religion ne s’épuise point dans la foi intérieure, elle donne naissance à une pratique qui est l’un de ses éléments fondamentaux. Il ne s’agit donc pas seulement de la liberté de conscience, mais d’un ensemble de droits qui en découlent. Quel est donc le seuil de liberté religieuse reconnue par le droit international ?(A) et quel seuil peut- elle atteindre dans l’Etat civil « islamique» ?(B). A – Les libertés religieuses dans le droit international : La liberté de religion, complément de la liberté de pensée et de conscience, a été progressivement consacrée par le droit international comme liberté fondamental. Au cours du XX siècle, un ensemble de textes internationaux ont universalisé la liberté de conscience et de religion en en faisant un droit fondamental de l’Homme. Le premier texte est la Déclaration universelle des droits de l’Homme21, dont l’article 18 dispose que « Toute personne a droit à la liberté de pensé, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites». Au regard de ce texte, aucun Etat n’est à l’abri des critiques concernant la liberté religieuse. La Déclaration n’a certes qu’une valeur morale, mais elle reste le texte le plus important dans le dispositif juridique international, vue la définition large qu’elle donne à cette liberté. En 1966, le Pacte International des Droits Civile et Politique évoque la religion dans l’article 2 dans lequel les Etats s’engagent à garantir les droits reconnus par le Pacte sans distinction aucune, notamment de religion. Mais c’est l’article 18 qui précise le contenu du droit à la liberté de religion. Son premier alinéa stipule : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé…». Dans le 3 alinéa, il est précisé que : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui». Il est clair que le désaccord des Etats sur le contenu des libertés religieuses a plutôt infléchit cette dernière, et au lieu de connaitre une évolution positive, elle s’est vue 21 Résolution de l’Assemblée générale, 10 décembre 1948, UN-Doc.A/810. LAÏCITÉ ET ETAT CIVIL, QUEL RAPPORT? 175 imposée des restrictions dans le seul texte contraignant en la matière. Déjà dans le premier alinéa, suites aux exigences de plusieurs pays y compris les pays islamiques, « la liberté de changer de religion ou de conviction » n’est plus reconnue comme élément de la liberté de conscience et de religion.22 Lors des discussions de l’article 18 du PIDCP, l’Arabie Saoudite et l’Egypte avaient proposé la suppression de la mention de la liberté de changer de religion. Mais cette dernière fut remplacée par « la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix » sur proposition du Brésil et des Philippines.23 En réalité, cette modification aussi significative qu’elle soit, elle n’opère aucune atténuation des obligations des Etats signataires. Ainsi, le Comité des droits de l’Homme dans son Observation Générale relative à l’article 18 précise que la liberté « d’avoir ou d’adopter » une religion ou une conviction implique « la liberté de choisir une religion ou une conviction, y compris le droit de substituer à sa religion ou sa conviction actuelle une autre religion ou conviction ou d'adopter une position athée, ainsi que le droit de conserver sa religion ou sa conviction ».24 En plus, l’alinéa 2 de cet article 18 du PIDCP précise que : « Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix ». Par ailleurs, la liberté religieuse se trouve encadrée par la clause générale qui s’applique à tous les droits protégés par le Pacte et qui est annoncée à l’article 29 §2,25 mais aussi limitée par des restrictions prévues par la loi pour des raisons de sécurité publique, d’ordre et de santé publique… selon l’alinéa 3. Les Etats se sont donc donné le droit de s’ingérer dans l’exercice des libertés religieuses pour des raisons aussi vagues que diverses. Si certains droits protégés par le Pacte ont réussi à transcender ce dernier grâce au consensus international à leurs sujets, ce n’est certainement pas le cas des libertés religieuses qui suscitent toujours le désaccord international en raison de la complexité politique et sociale de leurs mises en œuvre. Dans une tentative de renforcer la protection internationale des libertés religieuses, l’AG des NU a adopté la Déclaration de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction en 1981.26 Certes, cet instrument 22 23 24 25 26 Il est remarquable qu’aucun Etat islamique n’ait émis de réserves sur cet article. Voir Sami A.Aldeeb-abu-Sahlieh, « Les Musulmans face aux droits de l’homme, religion et Droit et Politique » Etude et Document, 1994, cité par : Fatiha Sahli : « Droit international et la liberté religieuse de croyance et de conscience », in : Etat de droit et liberté religieuse, Op.cit, p.153. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, Observation Générale N° 22/ 1993, §5. L’article 29 §2 : « Dans l’exercice e ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien être général dans une société démocratique». Résolution AG, 25 novembre 1981, UN Doc. A/RES/36/55 (1981). 176 MERYEM MEHREZ constitue un idéal qui vise à empêcher toutes discrimination fondée sur la religion ou la conviction et préconise la tolérance. Mais, ne comportant pas de mécanismes de mise en œuvre et reconnaissant le droit de la puissance publique de restreindre la manifestation des convictions, la Déclaration a plutôt dilué le droit aux libertés religieuses.27 Alors, si telle est la situation des libertés religieuses dans le droit international, quel place peuvent- elles ou doivent- elles avoir dans les pays de culture musulmane ? B – Quelles libertés religieuses dans l’Etat civil en terre d’Islam : En réalité, le désaccord entre droit musulman et la liberté religieuse telle que consacrée par le droit international public se concentre à mon sens autour de deux points essentiels à savoir le changement de religion et la notion de minorité religieuse. Toutefois, la gestion de ce désaccord remet en surface la question de l’importance de manifester sa conviction comme élément principale de la liberté religieuse. Cette dernière est en effet le défit le plus important à l’Etat contemporain en général28 et non seulement à l’Etat « islamique » puisqu’il s’agit toujours de réaliser l’équilibre juste et raisonnable entre les exigences de la liberté religieuse et celles de l’ordre public. Ainsi, par exemple, le droit de changer de religion est interdit dans le droit musulman. Cette interdiction trouve ces origines dans les événements historiques d’après l’émigration du Prophète et ses compagnons de la Mecque à Médine. Certains non croyants s’étaient convertis à l’Islam en projetant d’abjurer après afin de semer le doute chez les musulmans. Il fallait donc empêcher l’affaiblissement prémédité de cette communauté en construction. Les docteurs musulmans contemporains distinguent deux types d’apostat ; celui pour qui le changement est une affaire personnelle et privée et qui ne proclame pas ce changement ou essaye d’influencer les autres. Dans ce cas, aucune intervention n’est justifiée. Le deuxième est celui qui cherche à semer le doute chez les musulmans, à attaquer leur religion ou à troubler l’ordre public et qui doit donc être sanctionné parce qu’aucune autorité dans n’importe quel pays ne tolère les troubles. 29 Il est remarquable d’ailleurs que la plupart des Etats musulmans ne punissent pas l’apostasie 27 28 29 Sahli Fatiha, Op.Cit, p.155. Salsabil Klibi : « La laïcité : Etat de droit ou déni de la religion ?», in Etat de droit et liberté religieuse en Méditerranée ; op.cit, p.34/35 et 36. M.F.Othman : « Les Droits de l’homme entre le droit musulman et la pensée juridique occidentale »,éd. Dar alchuruk, Beyrouth 1982, p. 130 (en arabe), voir aussi, M.A.Al-Midani : « La Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit musulman», in Lectures contemporaines du droit islamique, Europe et monde arabe, Presses Universitaire de Strasbourg, 2004, p. 154 et s. LAÏCITÉ ET ETAT CIVIL, QUEL RAPPORT? 177 bien qu’elle ait des conséquences en droit civil qui se justifient par le respect des droits d’autrui, alors qu’ils incriminent le prosélytisme.30 Ainsi, la déclaration de l’abdication de la religion musulmane est considérée comme un acte de prosélytisme et la manifestation d’une conviction autre que celle de la majorité est assimilée à la diffusion de cette conviction31 et constitue donc un acte menaçant la cohésion de la Umma. Or, s’il s’agissait pendant l’ère du Prophète et des Khalifs de préserver l’unité de la Umma islamique ; il faut reconnaitre que cette dernière n’est plus une unité réelle puisqu’elle est partagée entre des Etats fondés sur différentes conceptions de l’Islam.32 En effet, les enjeux de la liberté de manifester sa religion ou sa conviction sont plus politiques que religieux. Il s’agit désormais de protéger la cohésion de l’Etat dont le pouvoir est fondé sur l’islamité de la majorité. Miner cette majorité revient à miner le pouvoir en place, c’est pourquoi le principal défi pour l’Etat civil est d’établir un nouveau contrat sociopolitique qui prend en considération la spécificité religieuse de la population mais n’en fait pas son pilier. Les Etats à majorité musulmane seraient des Etats civils lorsqu’ils cesseraient d’assoir leur pouvoir politique sur la donne religieuse qui n’est d’ailleurs pas figée. Un Etat qui n’a pas besoin de s’identifier à travers la religion de la majorité ne peut qu’être tolérant. Certes, il est difficilement concevable que le droit d’un Etat à majorité musulmane soit insensible aux principes du droit musulman, puisque le droit n’est qu’une production sociale déterminée par les données sociétales de la communauté qu’il régit et par les valeurs qui animent cette dernière. Mais un Etat tolérant est un Etat qui reconnait et qui garantie aussi les droits des minorités même religieuses afin justement de maintenir sa cohésion. Et si le respect des libertés religieuses ne doit pas verser dans l’anarchie, les exigences de l’ordre public -même dans un Etat qui s’identifie à travers une religion majoritaire - ne doivent pas basculer vers le despotisme de la majorité et verser dans un uniformisme trompeur et hypocrite. 30 31 32 Articles 220 et 221 du code pénal marocain. Le droit de diffuser ou de répandre sa conviction n’est reconnu par aucun instrument international, exception faite de la Convention américaine des Droits de l’Homme qui le mentionne dans le premier alinéa de l’article 12. Deux grandes conceptions : Sunnite et Chiite, subdivisées elles mêmes en plusieurs sectes. 178 MERYEM MEHREZ Bibliographie : Abdelmalek El Ouazzani : « La Cour européenne des droits de l’Homme et la laïcité turque», in : Etat de droit et liberté religieuse en Méditerranée, REMALD, Thèmes Actuels 54/2006. Christien Walter : « Droit constitutionnel allemand et liberté religieuse» in Etat de droit et liberté religieuse en Méditerranée, REMALD, Thèmes Actuels 54/2006. Fatiha Sahli : « Droit international et la liberté religieuse de croyance et de conscience », in : Etat de droit et liberté religieuse en Méditerranée, REMALD, Thèmes Actuels 54/2006. François Gauthier, Paul Eid, Pierre Bosset, Micheline Milot, Sébastien Lebel-Grenier (éd.) : « Appartenances religieuses, appartenance citoyenne. Un équilibre en tension », Archives de sciences sociales des religions 4/2011 (n° 156), p. 161-162. www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2011-4-page161.htm Frédéric Lemaître : « Etrange laïcité à l’Allemande », Le Monde .fr, 3/12/2012 à 14h 42. Jean Lock : Lettre sur la tolérance (1689). Edition électronique dans le cadre de la collection « Les classiques des sciences sociales ». http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.loj.let Jean Jacques Rousseau : Du Contrat social, ou Principes du droit politique (1762).Edition électronique dans le cadre de la collection « Les classiques des sciences sociales » : http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.roj.duc Jean Baubérot : « histoire de la Laïcité en France » Collection: Que sais-je? Ed : PUF, 2005, Jean Baubérot : « La Laïcité falsifiée » ed : La Découverte 2012. M.A.Al-Midani : « La Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit musulman», in Lectures contemporaines du droit islamique, Europe et monde arabe, Presses Universitaire de Strasbourg, 2004. M.F.Othman : « Les Droits de l’homme entre le droit musulman et la pensée juridique occidentale »,éd. Dar alchuruk, Beyrouth 1982 (en arabe). Mohammed Tozy : « Monarchie et Islam politique au Maroc», Presses de Sciences Po, Paris 1999. Micheline Milot : « La Laïcité »éditions Novalis, 2008. Sami Aldeeb-abu-Sahlieh, « Les Musulmans face aux droits de l’homme, religion et Droit et Politique » Etude et Document, 1994. Sélim Jahel : « La Laïcité dans les pays musulmans», in : La Laïcité, Archives de Philosophie de Droit, N° 48, Dalloz 2004. Salsabil Klibi : « La laïcité : Etat de droit ou déni de la religion ?», in Etat de droit et liberté religieuse en Méditerranée. Thiery Rambaud : « Le principe de séparation des cultes et de l’Etat en droit public comparé» Paris, LGDJ, 2004. O acto administrativo confirmativo; noção e regime jurídico LUIZ CABRAL DE MONCADA * Índice: 1 Introdução 2 O acto administrativo confirmativo, uma figura processual 3 O acto confirmativo e figuras afins 4 A noção material de acto confirmativo no projecto de revisão do CPTA 5 A identidade dos fundamentos do acto confirmativo 6 O regime processual do acto confirmativo; acto confirmativo e impugnabilidade 7 O acto confirmativo é um acto jurídico 8 Uma noção adequada de acto confirmativo 9 Conclusões 1 Introdução O acto administrativo confirmativo é aquele que nada acrescenta a um acto administrativo anterior, dito acto confirmado. Não produz efeitos jurídicos novos. Os efeitos já foram gerados pelo acto confirmado. Ora, se assim é, logo é preciso saber qual o critério que distingue os efeitos jurídicos novos dos velhos e que consequências procedimentais e processuais daí resultam. Com efeito, importa saber o principal ou seja, como é que se tem a certeza se o acto administrativo em causa confirma ou não um acto anterior. Olhamos apenas para a respectiva fundamentação a cargo da Administração comparando-a com a do acto anterior ou preferimos uma solução que sonde mais profundamente o conteúdo dos JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 179-199. * Professor da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e do ISMAT. Advogado (Abreu & Marques e Associados). 180 LUIZ CABRAL DE MONCADA dois actos? É que, não esqueçamos, a fundamentação é um requisito de forma que se analisa na sucinta exposição das rationes decidendi de direito e de facto da Administração pelo que é perfeitamente possível que a uma idêntica fundamentação correspondam duas distintas decisões corporizando dois diferentes actos rectius, dois actos versando sobre uma realidade diversa. Com efeito, o requerimento mediante o qual o interessado pretende levar a Administração a rever uma decisão já tomada pode ir instruído de modo diferente reportando-se a factos novos e, não obstante, a Administração mantém a sua primeira decisão com base na mesma fundamentação porque entendeu que as modificações introduzidas não eram de molde a justificar outra decisão. Não existem, portanto, razões para alterar a fundamentação e, no entanto, a realidade de facto sobre a qual o interessado pretende que a Administração se pronuncie novamente é ou pode ser diferente. Importa assim, ao que nos parece, ir ao fundo da questão. Se o requerimento do interessado vai estribado em novas realidades a Administração fica constituída no dever de decidir e, no entanto, apresenta um acto com a mesma fundamentação de acto anterior. Será que este se limita a confirmar o primeiro? Ou será um acto novo? É esta a questão. O nosso ponto de partida é o seguinte; sob a aparência de um acto confirmativo dada pela identidade da fundamentação pode existir algo de novo a corporizar um verdadeiro acto administrativo autonomamente definidor de direitos e deveres dos particulares corporizando uma autêntica decisão administrativa e susceptível de tutela judicial. Nem todos os actos ditos confirmativos o são deveras. O regime jurídico do acto confirmativo é procedimental reflectindo-se no dever de decidir da Administração e é também processual com consequências na inimpugnabilidade do acto. Como se verá, os dois não coincidem. É a partir do regime processual do acto confirmativo que a doutrina tem tomado posições para a construção da figura do acto confirmativo. Mas, como se verá, são indispensáveis outras considerações. 2 O acto confirmativo; uma figura processual A noção de acto confirmativo tem sido predominantemente encarada de um ponto de vista processual. O interesse da figura cinge-se sobretudo ao plano da sua (i) relevância contenciosa.1 1 Assim, M. Esteves de Oliveira, Pedro Costa Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, Código do Procedimento Administrativo, 2ª ed., actualizada, revista e aumentada, Coimbra, 1997, p. 715. O ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATIVO; NOÇÃO E REGIME JURÍDICO 181 De um ponto de vista processual, o objectivo do regime do acto confirmativo é justificar a sua não impugnabilidade garantindo a estabilidade do acto confirmado por ser este que devia ter sido impugnado e não foi. Um acto administrativo idêntico entretanto praticado não pode ser impugnado. Assim se obtém um efeito de estabilidade do primeiro acto administrativo. Se assim não fosse, este último estaria sempre a tempo de ser impugnado na veste de um acto administrativo novo mas idêntico posteriormente praticado pelo que não se consolidaria a regulação jurídica pelo acto confirmado introduzida com todos os inconvenientes daí resultantes. A situação da instabilidade do primeiro acto administrativo ficaria eternizada e ao dispor da vontade do particular que, mediante meios graciosos, suscitaria a prática de actos administrativos posteriores ao acto confirmado muito embora dotados do mesmo conteúdo com o único propósito de os poder impugnar contenciosamente. A consequência seria contornar a inobservância dos prazos legais para a impugnação do acto confirmado. Por esta razão, o acto confirmativo não pode ser aproveitado para reabrir um litígio.2 O regime processual do acto confirmativo é apenas isso; um regime processual. Não fornece uma noção de acto confirmativo; subentende-a. E esta é obviamente material. Ora, é importante saber se o actual regime do acto confirmativo é construído apenas na perspectiva da sua (in) impugnabilidade contenciosa ou se tem presente outros quesitos. O actual Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) apresenta-nos no art. 53º a noção processual de acto meramente confirmativo. Este não é impugnável porque o foi o acto anterior, porque o acto anterior foi notificado ao autor ou porque foi publicado sem que tivesse de ser notificado ao autor. Daqui extrai o CPTA as devidas consequências pelo que toca à respectiva (in)impugnabilidade contenciosa. O projecto de revisão do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) não rompe a tradição, se assim lhe podemos chamar, de construir o regime do acto confirmativo na perspectiva processual. Tanto assim é que a noção de acto confirmativo continua a constar da lei processual e também serve o propósito de demarcação da (in) impugnabilidade dos actos. Qual então a diferença entre o actual regime do art. 53º e o do projecto da sua revisão? É que o projecto de revisão do CPTA continuando seguramente a considerar que o acto confirmativo é uma figura com relevância processual a que associa a respectiva inimpugnabilidade contenciosa, como se disse, fornece-nos uma sua noção material. Começa por esclarecer no nº 1 do art. 53º o que se entende por acto 2 Nas palavras (it. nosso) de M. Aroso de Almeida, Manual de Processo Administrativo, Coimbra, 2010, p. 272. 182 LUIZ CABRAL DE MONCADA confirmativo; é tal o acto que reitera com os mesmos fundamentos decisões anteriores. A noção é material e assenta agora na identidade dos fundamentos do acto pelo que esta não é apenas subentendida. Mas o objectivo continua a ser o mesmo; os actos confirmativos não são impugnáveis, de acordo com o nº 1 do art. 53º. Resta saber se daquela noção material de acto confirmativo podemos retirar conclusões mais favoráveis à impugnabilidade do acto. O assunto fica para mais tarde, mas ainda assim diremos que a noção ampla de acto confirmativo que aqui defendemos tem implicações contenciosas na medida em que visa favorecer a tutela contenciosa de actos administrativos que, de outra maneira, seriam considerados confirmativos e, portanto, não impugnáveis. É esta a posição mais conforme com o princípio constitucional da tutela jurisdicional efectiva constante do nº 4 do art. 268º da CRP e desenvolvida pelo legislador. 3 O acto confirmativo e figuras afins 3.1 O acto confirmativo distingue-se de outros actos como a ratificação confirmativa. Esta última pressupõe que o órgão normalmente competente para a prática de determinado acto administrativo exprime a sua concordância com o acto que foi praticado por um órgão que apenas excepcionalmente era competente para a respectiva prática. 3 O acto confirmado é válido e eficaz pelo que a concordância da entidade normalmente competente não visa sanar qualquer ilegalidade, assim se distinguindo a ratificação confirmativa da ratificação-sanação, nem dar-lhe eficácia, assim se distinguindo da aprovação. A concordância da entidade normalmente competente para a prática do acto apenas confere definitividade ao acto confirmado. Na ratificação confirmativa, portanto, o acto confirmado foi praticado ao abrigo de determinada competência excepcional, o que se não verifica com o acto confirmativo porque neste caso o acto confirmado foi praticado pelo órgão normalmente competente apenas sucedendo que foi posteriormente confirmado pelo próprio autor do acto ou pelo seu superior hierárquico. De comum à ratificação confirmativa e ao acto confirmativo é a legalidade do acto confirmado pelo que toca à competência do titular do órgão, funcionário ou agente que o praticou. 3.2 O acto confirmativo também se distingue do acto de execução. Este último concretiza essa pronúncia que é o acto exequendo e pode consistir em actos jurídicos ou em meras operações materiais. Se o acto de execução consistir em operações materiais distingue-se do acto confirmativo porque este é sempre um acto jurídico, como veremos. Mas se o acto de execução for um acto jurídico ele é sempre, ao menos em 3 Sobre o tema, D. Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, 2ª ed., Coimbra, 2011, p. 298. O ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATIVO; NOÇÃO E REGIME JURÍDICO 183 parte, confirmativo do acto exequendo apenas deixando de o ser na medida em que lhe acrescente qualquer coisa de inovador assim gerando efeitos jurídicos novos. 4 O regime processual do acto de execução consta hoje dos nsº s 3 e 4 do art. 151º do Código do Procedimento Administrativo (CPA). Permite-se a impugnação dos actos de execução que excedam os limites do acto exequendo ou que apresentem vício que não seja consequência da ilegalidade do acto exequendo. É precisamente na medida da inovação ou seja, na medida em que não é confirmativo que o acto de execução é susceptível de impugnação contenciosa autónoma e, assim sendo, obviamente que por vícios próprios. No projecto de revisão do CPTA está também prevista a impugnação de actos de execução. A norma é agora processual e não procedimental o que parece perfeitamente correcto. De acordo com a nova versão do nº 3 do art. 53º, os atos jurídicos de execução de atos administrativos só são impugnáveis por vícios próprios na medida em que tenham um conteúdo decisório de carácter inovador. O regime concorda com o já referido do CPA. Do regime do acto de execução resulta que este acto apenas é impugnável na medida dos efeitos inovatórios que gere, solução a que nada obsta do ponto de vista da desejada impugnabilidade dos actos administrativos. Pode assim dizer-se que a disciplina jurídica processual do acto (jurídico) de execução confirma a do acto confirmativo pois que ele não é contenciosamente impugnável só o sendo precisamente na medida em que deixar de ser meramente executivo que é como quem diz, e para os efeitos aqui relevantes, confirmativo. 5 Mas o acto de 4 5 Sobre o tema, M. Aroso de Almeida e C. A. Fernandes Cadilha, Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 3ª ed., revista, Coimbra, 2010, p. 363. Supomos ser a este propósito que M. Esteves de Oliveira e R. Esteves de Oliveira, Código cit., p. 357 nos falam em acto parcialmente (it. nosso) confirmativo. D. Freitas do Amaral, Direito Administrativo, III, Lisboa, 1989, p. 230 e ss. distingue entre acto meramente confirmativo e acto confirmativo. O primeiro mantém acto definitivo anterior porque este já era contenciosamente impugnável e o segundo mantém acto não definitivo anterior que ainda não era contenciosamente impugnável. O primeiro caso corporiza o acto praticado no seguimento de um recurso hierárquico facultativo tratando-se de acto posterior à prática de acto definitivo e o segundo o do acto praticado no seguimento de um recurso hierárquico necessário. É por isso que, como indica F. do Amaral, a confirmação de acto definitivo gera acto não definitivo e a confirmação de acto não definitivo gera ou pode gerar acto definitivo. Ora, se o acto é confirmativo (e não meramente confirmativo) ele é contenciosamente impugnável. É assim porque o superior confirmou o acto do subalterno ou indeferiu o recurso hierárquico (necessário) interposto deste. O acto confirmativo tem força própria pelo que é impugnável. Tb. assim, V. Pereira da Silva, Em Busca do Acto Administrativo Perdido, Coimbra, 1996, p. 683. Mas se o acto for meramente confirmativo verifica-se o contrário. Alexandra Leitão, Da Impugnabilidade de Actos Administrativos de Execução, cit. p. 35, adianta casos em que os actos de execução podem ser impugnados em situações diferentes das previstas no art. 53º do CPTA quais sejam os actos contidos em diploma regulamentar, os que não individualizem os seus destinatários nos termos dos nºs 2 e 3 do art. 52º do CPTA, quando 184 LUIZ CABRAL DE MONCADA execução distingue-se materialmente do acto confirmativo porque visa dar execução ao acto decisório anterior e não apenas dar-lhe estabilidade jurídica. 3.3 A noção de acto confirmativo que o projecto adopta distingue-se também da de acto de execução de outro ponto de vista; a primeira reporta-se à identidade dos fundamentos dos actos opção que o referido projecto faz sua, como se disse, e a outra reporta-se aos efeitos não inovadores que o acto (jurídico) confirmativo de execução gera relativamente ao acto exequendo que executando confirma. Ora, é bom de ver que as duas noções não coincidem. Uma coisa é a identidade dos fundamentos de um acto administrativo relativamente aos que constam do acto que o confirma outra a identidade do acto jurídico de execução relativamente ao acto exequendo. Os fundamentos do acto e o próprio acto não coincidem. O contrário seria uma hipóstase ou seja, tomar o abstracto pelo concreto. Claro está que a diferença não é tão vasta quanto poderia parecer à primeira vista porque a fundamentação integra contextualmente o próprio acto. Faz parte material e formal dele, de acordo com a alínea d) do nº 1 do art. 123º do CPA. A fundamentação não pode constar de documento alheio ao acto administrativo, muito embora seja admissível a fundamentação por remissão. Mas, seja como for, não esgota o acto administrativo enquanto estatuição autoritária da Administração destinada a gerar efeitos de direito individuais e concretos. Os fundamentos de direito e de facto são um elemento essencial do acto mas não se confundem com ele. Nem são executados. Executado é o acto em si. Cabe, porém, aos dois tipos de actos confirmativo e de execução um regime processual idêntico e que se analisa na insusceptibilidade da respectiva impugnação contenciosa. De maneira que a insusceptibilidade da impugnação contenciosa tem, a final, mais do que uma origem; a natureza confirmativa do acto medida pelos respectivos fundamentos e a sua natureza executiva medida pela ausência de efeitos inovatórios. A primeira atende apenas aos fundamentos do acto administrativo confirmativo e a segunda ao todo dos efeitos dos actos exequendo e de execução por aí medindo a inovação gerada por este último. A insusceptibilidade da impugnação contenciosa destes actos coroa um regime processual idêntico muito embora aplicável a dois tipos de actos diversos, o confirmativo propriamente dito (ou meramente confirmativo) e o acto de execução. Daqui podemos já concluir que o regime processual da insusceptibilidade de impugnação contenciosa é uma simples consequência não a causa da natureza de certos actos, sejam eles (meramente) confirmativos ou de simples execução. Aquela insusos actos exequendos sejam ineficazes, quando a execução for para além dos limites do acto exequendo, se houve violação do procedimento de execução e se o acto de execução padecer de outros vícios próprios. O ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATIVO; NOÇÃO E REGIME JURÍDICO 185 ceptibilidade não entra assim na definição de acto confirmativo nem é elemento interno da respectiva natureza e a prova está em que ela é comum a outro tipo de actos. A noção de acto confirmativo é, portanto, material. Tem consequências processuais mas que não são exclusivas dela. E serve não apenas o propósito processual da impugnabilidade do acto, mas também o propósito material da respectiva estabilidade. 4 A noção material de acto confirmativo no projecto de revisão do CPTA 4.1 O regime processual do acto confirmativo constante do art. 53º do CPTA é alterado no recente projecto de revisão do CPTA, como se disse. A redação projectada do art. 53º começa por apresentar uma noção material de acto confirmativo que do CPTA não constava baseada na identidade dos fundamentos do acto confirmativo relativamente aos do confirmado. Mas o fim da norma processual continua a ser justificar a inimpugnabilidade contenciosa do acto confirmativo. É preciso saber de que fundamentos do acto se trata. Obviamente que os fundamentos a que na norma projectada se alude são aqueles, como da lei resulta claramente, que a Administração está obrigada a apresentar e sobre os quais o tribunal se deve pronunciar pois que aquela identidade consta de uma decisão que cabe ao tribunal apreciar. São os constantes de decisões contidas em actos administrativos anteriores, como reza o nº 1 do mesmo art. 53º. Não são os invocados pelo particular ao requerer à Administração. A noção de acto confirmativo dada pelo projecto de revisão do CPTA apresenta agora, portanto, características materiais. O ponto fulcral da natureza confirmativa ou confirmatividade do acto reporta-se aos fundamentos do mesmo. Se estes são os mesmos do acto confirmado estamos perante um acto confirmativo de acto anterior aplicando-se-lhe o correspondente regime processual da respectiva inimpugnabilidade. O critério da identidade dos fundamentos do segundo acto relativamente ao primeiro para delimitar a natureza confirmativa daquele era já largamente adoptado pela jurisprudência portuguesa.6 6 Cfr., entre muitos outros, o Ac. do STA nº 01605/02, de 3 de Julho de 2003 e o Ac. do TCA Norte nº 00386/07, de 4/5/2012, falando-nos na identidade dos pressupostos de facto e de direito, o Ac. do TCA Norte nº 01163/04, de 25/6/2009, referindo-se à idêntica fundamentação, os Acs. do STA nº 039889, de 16/1/2002 e do TCA Sul nº 01344/O6, de 27/4/2006, falando-nos de modo mais abrangente na identidade de pretensão do interessado, do conteúdo do acto e da fundamentação da decisão. 186 LUIZ CABRAL DE MONCADA 4.2 Mas para que a natureza confirmativa de um acto possa ser avaliada em função desse requisito formal que é a respectiva fundamentação é indispensável que os actos em causa estejam sujeitos ao regime substancial da fundamentação expressa do acto pela Administração constante do art. 124º e ss. do CPA. Os actos que não carecem de fundamentação não são confirmáveis nem confirmativos. Se os actos não estiverem sujeitos ao regime da fundamentação expressa escapam ao regime processual do acto confirmativo. O alcance da figura do acto confirmativo e, portanto, do respectivo regime da inimpugnabilidade contenciosa depende da noção material (de acto sujeito à) de fundamentação. Ora, como é sabido, os actos sujeitos a fundamentação compreendem quase todos os actos administrativos relevantes do ponto de vista dos particulares. A circunstância de a alínea a) do nº 1 do mesmo art. 124º exigir a fundamentação para todos os actos que neguem, extingam, restrinjam ou afectem por qualquer modo direitos ou interesses legalmente protegidos ou imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, permite abarcar actos que favorecem o respectivo destinatário mas que tenham efeitos desvantajosos sobre a esfera jurídica de terceiros ou de «contrainteressados».7 A largueza da previsão normativa também permite abarcar actos cujos destinatários estão inseridos em relações interadministrativas e até interorgânicas pois que são titulares de interesses legalmente protegidos no exercício pontual e adequado das competências diferenciadas que a lei lhes outorga, muito embora este aliciante tema não possa ser aqui desenvolvido.8 A delimitação do acto confirmativo pela identidade dos fundamentos relativamente ao acto confirmado, opção do projecto, como se viu, abrange larga quantidade de actos administrativos. 5 A identidade dos fundamentos do acto confirmativo 5.1 Importa agora saber se medir a natureza confirmativa do acto pela identidade dos fundamentos do acto confirmativo praticado pela Administração e levado ao tribunal 7 8 Note-se, contudo, que os Acs. do TCA Norte nº O1113/06, de 26/6/2008 e o nº 02350/04, de 1/3/2010 extrai a identidade relevante para qualificar um acto como confirmativo da mesma causa de pedir (it. nosso), o que vai de encontro às nossas posições adiante referidas. M. Esteves de Oliveira e outros, ob. cit., p. 593 e ss. Note-se que no recente projecto de revisão do CPA se admite no nº 2 do art. 150º a fundamentação das ordens dadas pelos superiores hierárquicos aos seus subalternos em matéria de serviço e com a forma legal, na medida em que tais actos deixam de estar incluídos no elenco dos que não carecem de fundamentação, salvo lei em contrário. Mais um importante passo no sentido do reconhecimento da natureza jurídica dos actos internos. O tema não pode ser aqui abordado. O ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATIVO; NOÇÃO E REGIME JURÍDICO 187 relativamente aos do acto confirmado é suficiente e adequado para justificar a referida inimpugnabilidade do acto confirmativo. Não podemos avançar aqui na caracterização da fundamentação do acto administrativo. Para os efeitos que nos interessam da fundamentação deve constar a sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, de acordo com o nº 1 do art. 125º do CPA. O que importa, portanto, saber é se da fundamentação com o mesmo conteúdo, de acordo com as exigências legais, de dois actos administrativos se pode concluir que o segundo é apenas confirmativo do primeiro. A resposta não pode ser dada em termos abstractos. Não podemos esquecer-nos que o acto administrativo é uma estatuição de conteúdo individual e concreto e que é a partir daqui que a natureza inovadora ou apenas confirmativa do acto deve ser compreendida. A questão de saber se um determinado acto administrativo se limita a confirmar um acto anterior só pode ser resolvida em concreto e não em abstracto. Outra coisa não seria possível tendo em conta o conteúdo dos mesmos actos administrativos. Ora, não é demais convir em que a simples sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito (nº 1 do art. 124º do CPA) da decisão é insuficiente para ajuizar da natureza inovadora ou não do acto em causa. A riqueza do conteúdo deste pode ir para além do que se depreende da fundamentação exposta. Esta é ainda demasiado abstracta para permitir um juízo sobre a questão de saber se o acto que a corporiza tem ou não natureza inovadora. A consequência prática a retirar daqui é esta; se o requerente trouxe novos elementos ao requerimento que apresentou à Administração a decisão desta, apenas porque se pode limitar a repetir os fundamentos do indeferimento do acto anterior, é confirmativa e o (novo) acto não será impugnável. Mas se olharmos para os fundamentos do requerente e não para os da Administração concluiremos que não são idênticos porque é o requerente que os apresenta e este tem interesse em precisamente invocar razões novas e quanto mais novas melhor. 9 Mas se for o tribunal a apreciar a identi9 Tb. assim M. Esteves de Oliveira e outros, ob. cit., p. 129. Um exemplo será ilustrativo. Suponhamos que o acto de outorga de um subsídio europeu a determinada empresa por certo instituto público foi revogado com fundamento na violação das condições legais exigíveis em resultado de uma acção de inspecção. A empresa alterou, todavia, o destino material dado ao subsídio mediante a criação de novas condições e pediu a reapreciação da decisão. O instituto manteve, porém, a decisão com os mesmos fundamentos considerando que a situação de incumprimento se mantinha apesar das modificações materiais introduzidas. O particular impugnou este segundo acto. A jurisprudência considerou, mal a nosso ver, que o segundo acto era confirmativo e não aceitou a sua impugnação absolvendo o réu na instância por já ter passado o prazo para a impugnação do primeiro acto que considerou confirmado. Note-se que aqueles AA. consideram (ibidem), se bem os entendemos, que naquelas condições a Administração está obrigada a decidir e o segundo acto é impugnável por não ser confirma tivo mesmo que o pedido tenha sido formulado menos de dois anos depois do primeiro, o que subscrevemos inteiramente. 188 LUIZ CABRAL DE MONCADA dade dos fundamentos que a Administração exarou (formalmente porque de um requisito de forma estamos tratando) nos actos a conclusão pode ser outra. 5.2 A insuficiência da projectada solução legal fica mais clarificada se a compararmos com os pressupostos do dever de decidir da Administração tal como estão expostos nos nºs 1 e 2 do art. 9º do CPA.10 De acordo com aquela norma, o dever de decidir é caracterizado pela positiva e pela negativa sendo este último aspecto aquele que interessa mais para a questão. Segundo a lei, a Administração não tem o dever de decidir uma pretensão formulada há menos de dois anos pelo mesmo requerente, com o mesmo pedido e com os mesmos fundamentos. E isto porquê? Porque o acto gerado pela Administração, se assim não fosse, seria com toda a probabilidade meramente confirmativo de um primeiro acto administrativo e, portanto, contenciosamente inimpugnável. A Administração não está consequentemente vinculada naquelas condições ao dever de decidir porque daí resultaria um acto imprestável do ponto de vista do particular por ter precisamente aquela consequência processual. A isto acresce um compreensível motivo de descarga da Administração de pedidos inúteis que apenas atrapalhariam o serviço. Não existe dever de decidir se o requerente foi o mesmo, o mesmo o pedido deduzido no referido prazo de dois anos e idênticos os fundamentos, como se disse. Claro está que, do ponto de vista que para aqui nos interessa, os que aqui relevam são os apresentados pelo requerente em apoio da sua pretensão. Note-se que tais razões que a Administração deve apreciar para saber se está ou não constituída no dever de decidir são as apresentadas pelo requerente ou seja, são fundamentos concretos. Não se confundem com aqueles que o tribunal deve apreciar para saber se o acto em causa é ou não confirmativo de acto anterior absolvendo o réu na instância se for o caso por entender que o acto por ser confirmativo é inimpugnável sendo consequentemente o acto confirmado que devia ter sido impugnado.11 Deparamos assim com um regime procedimental do dever de decisão que tem em mente a figura do acto confirmativo com as inerentes consequências processuais, muito embora construído de modo diferente do que se apresenta no respectivo regime processual agora vazado no referido art. 53º do projecto do CPTA. A diferença, quanto ao que nos interessa, está à vista; os fundamentos que importa contabilizar para saber se o acto apenas confirma o anterior não são os mesmos. Num caso con10 11 Pressupostos estes que continuam nos nºs 1 e 2 do art. 13º do projecto de revisão do CPA descontadas certas pequenas diferenças de sintaxe e arrumação. Com a consequência eventual de o acto confirmado se ter consolidado entretanto na ordem jurídica por ter passado o prazo legal para a respectiva impugnação. O ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATIVO; NOÇÃO E REGIME JURÍDICO 189 tabilizam-se os apresentados pelo requerente à Administração e no outro os da decisão administrativa tal como expostos no próprio acto administrativo apresentado ao tribunal. Ora, tais fundamentos podem ser diferentes. O respectivo grau de pormenorização pode ser muito diverso. Se, dentro do prazo legal que vem agora ao caso, os fundamentos da pretensão apresentada no mesmo pedido pelo mesmo requerente são idênticos aos de uma pretensão anterior a Administração não tem de decidir porque o acto novo seria confirmativo e se os fundamentos da nova decisão administrativa são também idênticos aos de anterior o acto em causa não é impugnável precisamente e também por ser apenas confirmativo. Mas os fundamentos em causa não têm de ser idênticos rectius, não tem de ser a mesma a respectiva densidade. 5.3 A questão é algo complexa. Estamos perante duas noções de acto confirmativo uma servindo um propósito procedimental (embora com consequências processuais) e outra um fim apenas processual. No primeiro caso os fundamentos do acto são apresentados pelo requerente à Administração e mesmo que esta tenha o dever de decidir podem não ser de molde a que o acto não seja confirmativo. No segundo caso são apresentados pela Administração ao requerente e ao tribunal, se for caso disso, que absolverá o réu na instância se entender que são os mesmos pelo que o acto é apenas confirmativo nada acrescentando ou retirando ao conteúdo de acto anterior. Parece-nos que aqui a solução insuficiente quanto à caracterização do acto confirmativo é a processual e não a procedimental. Quanto a esta nada há a dizer; não há dever de decidir por o acto ser confirmativo se forem os mesmos o requerente, o pedido apresentado há menos de dois anos e os fundamentos alegados em sua defesa, como se disse. 12 Já quanto à solução processual temos algumas e sérias reservas; porque razão há-de o tribunal satisfazer-se com menos do que a Administração para considerar determinado acto administrativo como meramente confirmativo? Não é o tribunal o centro das garantias dos cidadãos e de quem se espera a tutela efectiva destes? Não seria, portanto, despiciendo que ao tribunal fosse exigível olhar para o conteúdo dos requerimentos dos dois actos em causa. A orientação jurisprudencial devia ser, a bem da tutela efectiva dos particulares, mais exigente quanto aos pressupostos a observar para que determinado acto pudesse ser havido como confirmativo assim 12 D. Freitas do Amaral, Direito Administrativo, III, cit., p. 233 e 234 trata a confirmatividade do acto numa perspectiva procedimental e não processual. Acto confirmativo será aquele que traduz não apenas uma decisão idêntica à do acto confirmado mas também uma idêntica fundamentação e iguais circunstâncias ou pressupostos da decisão (it. nosso). Subscrevemos inteiramente. 190 LUIZ CABRAL DE MONCADA inviabilizando a respectiva impugnação contenciosa mormente se o prazo para a impugnação do acto confirmado já passou. Com efeito, a querermos manter as coisas como elas estão é evidente um certo desequilíbrio. As coisas ficam facilitadas para o tribunal. Este tem sempre largas possibilidades de absolver o réu Administração na instância evitando uma pronúncia sobre o fundo da questão. Ora, se queremos fazer alguma coisa pelo particular devemos partir do princípio que o CPTA acolhe segundo o qual o objecto do processo não é o acto mas sim a pretensão do autor da acção. Nesta perspectiva subjectivista o juiz deve olhar também para o requerimento do autor em vez de apenas para o acto tal como este sai das mãos da Administração. E é em função daquele que o juiz deve ponderar a identidade do acto em causa. A identidade deve medir-se a final pela substância dos fundamentos do requerimento do ora autor da acção em vez de apenas pela forma externa do acto dada pelos respectivos fundamentos (de direito e) de facto. A identidade deve medirse pelos dados disponíveis no início do procedimento e não no seu final ou seja, pelos fundamentos do requerimento e não pelos da decisão administrativa. Se não fizermos assim confundimos forma com substância e abrimos a porta a sentenças baseadas em razões apenas formais sem pronúncia sobre o fundo das questões. Só daquela maneira viabilizamos a impugnabilidade dos actos (pseudo) confirmativos no quadro do alargamento do contencioso proporcionado pelo actual CPTA. 5.4 Recapitulando e concluindo, os fundamentos que o tribunal deve apreciar para saber se o acto é ou não confirmativo são os apresentados pela Administração, como se disse, de acordo com o referido projecto. Identificam-se com os fundamentos do acto administrativo com que a Administração cumpriu a formalidade da respectiva fundamentação e que apresentou ao particular. Não se confundem com os fundamentos com que o particular instruiu o requerimento que fez à Administração nem com os fundamentos de direito e de facto com que o particular deve instruir o pedido judicial, de acordo com a alínea g) do nº 2 do art. 78º do CPTA. Segue-se daqui que a indicação dos fundamentos com base na qual o tribunal considera se o acto é ou não confirmativo é a mais sucinta de todas as indicações relevantes. Reporta-se àquilo que é uma simples formalidade que a Administração deve respeitar. Nada tem a ver com as razões do requerimento apresentado à Administração e do pedido apresentado ao tribunal, em ambos os casos indicados pelo particular. Resta saber se aqueles fundamentos são os suficientes para concluir pela natureza confirmativa do acto e consequente absolvição na instância. Ora, do exposto estamos convictos que não. Da simples formalidade da fundamentação administrativa pouco de relevante se retirará para concluir pela natureza confirmativa ou não do acto em causa. Seria preciso ir mais fundo e olhar para as razões O ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATIVO; NOÇÃO E REGIME JURÍDICO 191 indicadas no requerimento e expostas também no pedido. Sé estes têm a densidade suficiente para permitir aquela conclusão. O contrário será viabilizar decisões judiciais ancoradas em meras razões de forma em detrimento da tutela judicial efectiva do particular. E isto porque a mesma fundamentação administrativa pode perfeitamente servir para dar cobertura formal a decisões diversas na medida em que respondem a distintos requerimentos apresentados pelos interessados à Administração. A identidade dos fundamentos do acto administrativo, como referido, não dá grande abertura para a consideração da lesão efectivamente sofrida pelo particular. Melhor seria assim levar em conta os fundamentos apresentados nos requerimentos estes sim mais próximos da relação material controvertida que o particular quer tutelada.13 A nova redacção do nº 1 do art. 53º do projecto não dá, porém, abertura para este entendimento das coisas. A identidade dos fundamentos é, como se referiu, a constante das decisões contidas em atos administrativos anteriores. Vingou um entendimento formalista dos fundamentos. 6 O regime processual do acto confirmativo; acto confirmativo e impugnabilidade 6.1 Resta saber agora se o regime processual do acto confirmativo muito embora subentenda uma sua noção pouco adequada porque insuficiente, como vimos, proporciona, apesar de tudo, uma tutela adequada do particular. A questão está em saber se apesar da identidade de conteúdo entre o primeiro e o segundo acto a ordem jurídica permite a impugnação deste em determinadas circunstâncias. Recordemos que o regime processual do acto confirmativo consta do CPTA e também do CPA. O primeiro diploma versa sobre a noção de acto confirmativo, como se viu (art. 53º), e sobre a questão da impugnabilidade dos actos administrativos em geral (art. 51º). O segundo, como também se viu, sobre a questão da impugnabilidade dos actos de execução (nºs 3 e 4 do art. 151º). 13 Parece assim ir no bom caminho o Ac. do STA de 21/11/1996, Rec. 40.437, ao dizer-nos que o acto confirmativo é aquele que nada acrescenta ao conteúdo do acto confirmado mas apenas sem que entretanto tenha ocorrido alteração dos pressupostos de facto e de direito (it. nosso) e verificando-se ainda (it. nosso) identidade de sujeito, de objecto e dos respectivos fundamentos. A leitura alargada dos requisitos da confirmatividade do acto parece ser perfeitamente correcta. Tb. Ac. TCA Sul de 27/4/2006, pr. 01344/06 e Ac. do TCA de 177/2004, pr. 36-04. Os lógicos (G. Frege, Über Sinn und Bedeutung, 1892) também sabem que a mesma referência ao real (Bedeutung) pode conter vários significados diferentes (Sinn) e vice-versa. 192 LUIZ CABRAL DE MONCADA Da classificação legal do acto como meramente confirmativo decorre a consequência prática da inimpugnabilidade contenciosa do acto em causa. É o que se depreende do art. 53º do CPTA. Mas quando é que a lei classifica o acto como meramente conformativo? Note-se desde já que da letra da lei ressalta uma posição favorável, apesar de tudo, à impugnação de actos confirmativos pois que lá se diz que a impugnação destes actos só pode ser rejeitada com fundamento no carácter meramente confirmativo do acto impugnado em determinadas condições apresentadas nas três alíneas do artigo. Quais essas condições? Se o acto anterior foi impugnado pelo autor da impugnação do segundo acto, se lhe foi notificado ou se foi publicado sem que tivesse de ser notificado ao autor da impugnação do segundo acto a impugnação deste é de rejeitar por se tratar de acto meramente confirmativo.14 Se assim não for e nos dois últimos casos o acto posterior é impugnável porque como o acto anterior é inoponível ao destinatário do acto /autor da acção perante quem é ineficaz, este não conhecia tal acto e tem de impugnar o acto confirmativo sob pena de ficar sem tutela judicial.15 Atendeu-se aqui à posição do particular destinatário do segundo acto. Pela mesma razão o nº 2 do art. 59º do CPTA permite a impugnação de actos não notificados se a respectiva execução for desencadeada. A ideia do legislador é inviabilizar a impugnação do acto apenas se este for efectivamente confirmativo de acto anterior e dadas aquelas circunstâncias. O referido princípio constitucional da tutela judicial efectiva impediria outra solução. Dentro de uma orientação em tudo semelhante, o n. 2 do art. 53º do projecto de revisão do CPTA confirma a possibilidade de impugnação dos actos confirmativos se o destinatário do acto/autor da acção não tenha tido o ónus de impugnar o ato confirmado porque este não lhe foi notificado ou se não foi publicado se não tivesse de ser notificado. 14 15 M. Esteves de Oliveira e R. Esteves de Oliveira, Código de Processo nos Tribunais Administrativos vol. I e Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, anotados, Coimbra, 2006, p. 359, notam e com toda a razão que o preceito legal está invertido devendo ser lido do avesso ou seja; o acto pode ser impugnado por não ser confirmativo desde que não tenha sido impugnado o acto confirmado ou este não tenha sido notificado ao interessado ou publicado, desde que não tivesse de ser notificado. Se o destinatário do acto/autor da acção vier a conhecer posteriormente o acto anterior nada obsta a que a instância possa ser ampliada ao conhecimento deste acto ao abrigo de uma aplicação por analogia do nº 1 do art. 63º do CPTA. Sobre o tema, Alexandra Leitão, Da Impugnabilidade de Actos Administrativos de Execução, anot. ao Ac. do TCA Sul de 29/9/2011, p. 7413/11, Cadernos de Justiça Administrativa (CJA), 103, Jan./Fev. 2014, o. 36. Se entretanto passou o prazo para a impugnação do acto primeiro exequendo pode sempre impugnar-se o acto de execução. O ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATIVO; NOÇÃO E REGIME JURÍDICO 193 A redacção projectada do art. 53º é, todavia, mais clara do que a da actual norma do CPTA. Diz-se, em geral, o que são os actos confirmativos de acordo com uma definição material, como se viu, atribui-se-lhes a consequência da respectiva inimpugnabilidade contenciosa e definem-se excepções ou seja, admitem-se actos posteriores impugnáveis. Mas é diferente a justificação para a impugnabilidade do acto confirmativo de anterior; esta é possível se o interessado não teve o ónus de impugnar o acto confirmado. E quando é que o interessado não o tem? Pois é quando o acto confirmado não lhe foi notificado ou publicado, se não tinha de lhe ser notificado, de acordo com os ns. 2 e 3 do art. 59º ou ainda se tal resulta de lei especial. Note-se que de acordo com a redacção do art. 53º do projecto, a circunstância de o interessado ter impugnado acto anterior não impede que possa impugnar o acto confirmativo posterior. São, portanto, menores as excepções à regra da inimpugnabilidade dos actos confirmativos. Enquanto que na actual redacção da alínea a) do art. 53º do CPTA o acto anterior impugnado pelo interessado inviabiliza a impugnação de acto posterior, havido por meramente confirmativo, na nova redacção tal não sucede pois que da norma projectada não consta que a impugnação de acto anterior inviabilize a de acto posterior. A inovação é de aplaudir porque amiga do critério processual da lesão.16 Podemos assim concluir que apesar de no texto vigente não se avançar com uma definição material de acto confirmativo a intenção do legislador decorrente do referido termo só é a de restringir o âmbito dos actos confirmativos. No projecto de revisão não há razões para crer que a preocupação não seja a mesma mas a consagração de um critério material, mesmo que restritivo, embaraça a tutela contenciosa. O regime processual do acto confirmativo deve corrigir as deficiências inerentes a qualquer definição material. 6. 2 A concepção do acto confirmativo adoptada tem ainda consequências directas no regime da impugnabilidade do acto administrativo em geral constante do art. 51º do CPTA. A inimpugnabilidade de certos actos administrativos que daí decorre resulta a final de uma certa concepção do acto confirmativo que deixa a desejar. De acordo com o nº 3 do art. 51º do CPTA, a circunstância de o particular não ter impugnado qualquer acto procedimental não o impede de impugnar o acto final com fundamento em ilegalidades cometidas ao longo do procedimento. O preceito quer que o particular não fique impossibilitado de impugnar o acto final se não impugnou um acto preparatório capaz de o lesar. Mas a lei prevê duas excepções à regra no nº 3 do art. 51º. De acordo com a primeira, a impugnação do acto final do procedimento não é possível se o particular não impugnou o acto que o excluiu do procedimento. 16 Sobre o tema e em tom crítico da solução da não impugnabilidade do acto de nomeação se a lista anterior não foi impugnada, V. Pereira da Silva, Em Busca, cit., p. 708. 194 LUIZ CABRAL DE MONCADA Quando o acto preparatório se analisou numa decisão destacável do procedimento ou seja, tratando-se de um acto de exclusão do interessado do procedimento este tem o ónus de o impugnar. É o que se verifica nos procedimentos concursais na função pública. Se o lesado não impugnou dentro do prazo legal para o efeito a lista provisória de classificações que o colocava em determinada posição ou o excluía, a lista é havida como definitiva e não é impugnável o posterior acto final praticado com base nela. E isto porquê? Porque aquele acto procedimental é o que lesa o particular e daí o seu ónus de o impugnar. A excepção mantém-se na nova versão do nº 3 do art. 51º. Ora, esta excepção é justificável. Se o particular não impugnou a lista provisória de mérito ou de antiguidade dos funcionários que o arredou do concurso não pode impugnar posteriormente o acto de nomeação praticado com base nela. Na verdade, é aquele primeiro acto que o lesou. O segundo só confirma a lesão.17 A solução legal resulta da consideração segundo a qual a nomeação apenas confirma a lista de antiguidade ou de mérito e, portanto, se esta não foi impugnada dentro do prazo não pode aquela sê-lo posteriormente. É por se entender que tal acto de nomeação confirma o acto anterior que aquele primeiro não é impugnável. Só é de afastar a tutela contenciosa do acto confirmativo se entre este e o acto confirmado existir identidade de lesão 18 ou seja, se o acto confirmativo nada acrescenta de novo que releve para o particular ao acto confirmado. Mas se o particular não ficou classificado na lista em lugar que o satisfaça, pode impugnar o acto final. A segunda excepção à inimpugnabilidade do acto confirmativo prevista no CPTA e que se mantém também no projecto é a que decorre de lei especial que crie para o interessado o ónus de impugnar autonomamente o acto destacável.19 Nada a objectar. 7 O acto confirmativo é um acto jurídico 7. 1 De acordo com autorizada doutrina nacional o acto confirmativo porque nada acrescenta ou tira ao conteúdo de acto anterior não é sequer um acto jurídico.20 Daí 17 18 19 20 Subscrevemos assim inteiramente a opinião de M. Aroso de Almeida e C. A. Fernandes Cadilha, Comentário, cit., p. 353, segundo a qual se justifica o ónus da impugnação do acto proce dimental naquele caso por ser o único (it. no original) acto lesivo relativamente ao interessado que pode ser produzido naquele procedimento. Conforme indica V. Pereira da Silva, Em Busca, cit., p. 736 (it. nosso). Acto que lei especial submeta a ónus de impugnação autónoma, de acordo com a redacção projectada do nº 3 do art. 51º. É o caso de J. M. Sérvulo Correia, Noções de Direito Administrativo, I, Lisboa, 1982, p. 347. O ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATIVO; NOÇÃO E REGIME JURÍDICO 195 que não seja impugnável. A jurisprudência arrima-se logo a esta construção. O que a motiva é a ideia segundo a qual o acto de confirmação não é uma decisão mas uma simples declaração através da qual a Administração reconhece uma decisão que já foi tomada ou se recusa, na sequência de um recurso hierárquico voluntário, a decidir. Ora, com a devida vénia, não nos parece que colha. Para nós, o acto confirmativo é um acto jurídico apenas sucedendo que não é contenciosamente impugnável. E tanto é um acto jurídico que, repare-se, a Administração fica obrigada a praticá-lo não obstante ser o mesmo o pedido formulado pelo mesmo requerente e com idênticos fundamentos. Basta que tenham passado dois anos sobre o primeiro pedido, como se viu. Quer dizer; o acto continua a ser confirmativo mas a Administração está obrigada a praticá-lo desde que o referido prazo tenha passado. Será que nestas condições o acto, por ser confirmativo, não é jurídico? Mas como, se ele é contenciosamente impugnável sendo expresso ou não? O dever de decidir obriga a Administração a abrir um procedimento decisório marcado por determinadas formalidades conducentes a uma decisão final. Dizer, depois disto, que o acto praticado por se limitar a confirmar um acto anterior não é um acto jurídico não satisfaz. É que estão eventualmente presentes todos os elementos essenciais do acto pelo que este existe enquanto acto jurídico. Que o acto confirmativo é um acto jurídico prova-se assim pela positiva em consequência do regime jurídico do dever de decidir da Administração; passados dois anos sobre a prática do primeiro acto deve a Administração decidir mesmo que o requerente, o pedido e os fundamentos sejam os mesmos. É o que se retira do art. 9º do CPA.21 21 É para nós líquido que passados aqueles dois anos previstos no nº 2 do art. 9º do CPA existe um dever de decisão da Administração muito embora possa ser o mesmo o requerente, o pedido e os fundamentos. Não importa saber aqui se o acto gerado pela nova decisão é ou não confirmativo. Mesmo que o seja, de um ponto de vista substancial, tem de ser praticado pela Administração que incorre no facto jurídico do silêncio se o não pratica dentro do prazo legal e o respectivo indeferimento é contenciosamente impugnável. Também assim, se bem o interpretamos, J. C. Vieira de Andrade, O Controle Jurisdicional do Dever de Reapreciação de Actos Administrativos Negativos, CJA, 1, p. 35 e ss. e o Parecer nº 122/2001 do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, de 12/6/2002. Fica assim arredada a bondade da jurispru dência constante do Acórdão do STA de 2/7/1996, de 14/1/1997 e de 12/4/2000, referidos por M. Aroso de Almeida e C. A. Fernandes Cadilha, Comentário, ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, cit., (anot. 2 ao art. 67º), cujo conteúdo útil era manter o acto confir mativo na decisão que a Administração proferiu mesmo passados os dois anos do prazo lega l assim evitando a sua impugnação contenciosa e inviabilizando mesmo o indeferimento tácito para efeitos contenciosos no caso do silêncio. Diferentemente M. Esteves de Oliveira e outros, ob. cit., p. 129 defendem que o acto praticado passados dois anos se for igual ao anterior e em resposta a idêntica pretensão será confirmativo e, portanto, inimpugnável, louvando-se em jurisprudência lá referida. 196 LUIZ CABRAL DE MONCADA 7. 2 Que o acto confirmativo é um acto jurídico retira-se também do regime das alíneas b) e c) do art. 53 º do CPTA, adiante referido. Se o acto confirmado foi notificado ao interessado ou publicado, sem que, neste caso, lhe tivesse de ser notificado, é oponível ao interessado pelo que é o acto confirmado que deve ser impugnado e não o confirmativo. Mas isto não significa necessariamente que o acto confirmativo não seja jurídico. Apenas não é oponível aos interessados e daí que não seja impugnável. É como se não fosse eficaz. O mesmo se verifica se o interessado apesar de não notificado e apesar de não ter havido lugar a publicação impugnou o acto confirmado demonstrando assim que dele teve conhecimento.22 Daqui se retira que se o acto confirmado não foi notificado ou publicado o acto confirmativo é impugnável e é-o não por qualquer razão processual mas porque corporiza um verdadeiro acto administrativo. E, bem vistas as coisas, os nrs. 2 e 3 do art. 52º do CPTA também reforçam a natureza jurídica do acto confirmativo. Na verdade, se o interessado não impugnou um acto contido em lei ou regulamento pode impugnar os respectivos actos de execução ou aplicação. Ora, estes na parte em que nada de novo acrescentem ao acto normativo são confirmativos e, mesmo assim, são impugnáveis, o que só prova que de actos jurídicos se trata. Se algo de novo acrescentarem à norma legal ou regulamentar também são impugnáveis, claro está, desta feita ao abrigo dos nrs. 3 e 4 do art. 151º do CPA mas aí nem se levanta a questão da sua natureza confirmativa pois que são inovadores. 7. 3 De acordo com Marcello Caetano o acto administrativo confirmativo não era executório nem consequentemente recorrível. Limitando-se a mandar executar o acto anterior ou a prosseguir a respectiva execução nada de novo lhe acrescentava. Executório era o acto anterior assim confirmado porque dele e apenas dele era a força jurídica característica da Administração. Como a executoriedade era característica do acto administrativo de acordo com aquele ilustre professor, qualquer acto que dela não beneficiasse não era acto administrativo. Estavam assim colocadas as baterias para recusar carácter jurídico ao acto confirmativo. Não sendo executório nem recorrível o pobre do acto confirmativo não podia aspirar a nada. Era um fantasma. Esta orientação continua no CPA embora mais moderadamente. Na verdade, de acordo com a alínea d) do nº 1 do art. 159º do CPA não são executórios os actos confirmativos de actos executórios. De acordo com as posições que já noutro lugar assumimos, mas que aqui não podem ser expostas, esta norma só pode ser interpretada no sentido de negar ao acto confirmativo força executória própria, o que está 22 Assim, M. Aroso de Almeida e C. A. Fernandes Cadilha, Comentário, cit., p. 362. O ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATIVO; NOÇÃO E REGIME JURÍDICO 197 perfeitamente correcto pois que tal força é do acto confirmado, mas não no sentido de lhe negar natureza jurídica. Pelas mesmas razões não somos partidários da opinião jurisprudencial segundo a qual o acto confirmativo não tem eficácia externa pois que esta seria exclusiva do acto confirmado.23 Ora, já vimos que o acto confirmativo pode ser contenciosamente impugnado depois de passado o prazo legal dentro do qual a Administração não tem o dever de decidir. E se pode ser impugnado é porque é eficaz. E se o é tem eficácia externa. Na ânsia de justificar a inimpugnabilidade do acto confirmativo a jurisprudência nega-lhe até eficácia. Mas esta posição parece exagerada. O acto confirmativo só não seria eficaz se fosse nulo24 ou se incorresse em qualquer uma das causas de suspensão da eficácia. Mas fora deste caso defender a ineficácia do acto confirmativo é desconhecer a substância do acto praticado pela Administração que logo gera os efeitos próprios do seu tipo legal até ser revogado, anulado ou suspenso. Mais uma vez a jurisprudência retira da inimpugnabilidade do acto administrativo mais do que aquilo que dele se pode retirar. A inimpugnabilidade é uma consequência apenas processual do acto em causa. É um efeito processual e não substantivo do acto. Este pode confirmar acto anterior e, no entanto, ser perfeitamente eficaz e até impugnável. Em nossa opinião e concluindo, o acto confirmativo é um acto administrativo como os outros com plena natureza jurídica que apenas não é contenciosamente impugnável não em consequência de qualquer défice de natureza jurídica mas simplesmente porque não gerando efeitos novos não lesa os particulares. Mas esta consequência é processual e não substantiva. O acto não lesa mas é uma decisão para efeitos do art. 120º do CPA. Deste último ponto de vista nada distingue o acto confirmativo do acto administrativo comum.25 8 Uma noção adequada de acto confirmativo Se o critério da impugnação é agora a eficácia externa dos actos administrativos designadamente dos que lesam os particulares, em vez da respectiva executoriedade 23 24 25 Cfr. Ac. do TCA Norte nº 01172/09, de 8/3/2012. Não podemos entrar aqui na análise dos efeitos jurídicos e de facto dos actos nulos sobre os quais já nos pronunciámos; A Nulidade do Acto Administrativo, sep. de Jurismat, 2, Portimão, 2013, p. 134 e ss. Tb. assim, V. Pereira da Silva, Em Busca do Acto Administrativo Perdido, Coimbra, 1996, p. 734 e 735. Para o ilustre A. (it. nosso) os actos confirmativos não se distinguem substancialmente dos demais. 198 LUIZ CABRAL DE MONCADA e definitividade, de acordo com o nº 1 do art. 51º do CPTA, a impugnação do acto confirmativo depende daquela sua eficácia e em especial da sua virtualidade lesiva dos particulares.26 O acto confirmativo só não será impugnável se não tiver efeitos externos lesivos. Sucede que, de acordo com o princípio do favor actionis, consequência do direito constitucional à tutela judicial efectiva, o juiz deve fazer uma interpretação cuidadosa do alcance externo lesivo do acto confirmativo apenas recusando o respectivo controlo se ficar convencido de que tal acto nada efectivamente acrescenta a um acto anterior que meramente confirma e que, portanto, não lesa por si próprio. Não por ser confirmativo, coisa que nada deve interessar ao juiz, mas por não ter efeitos externos lesivos. Para tanto necessário é que ele seja uma simples reprodução daquele, o que só sucederá se for o mesmo o autor, o objecto, o conteúdo do acto, os fundamentos respectivos, com o alcance não meramente formal de que se falou, e a eficácia dele própria. O que deve preocupar o juiz não é saber se o acto judicando cabe dentro de qualquer construção dogmática da confirmatividade para daí retirar obrigatórias conclusões favoráveis ou não à respectiva impugnabilidade mas simplesmente saber se in casu do acto resultam ou não efeitos externos nomeadamente lesivos para os particulares, como se disse. A eficácia externa e a lesão prestam-se pouco a um tratamento abstracto. Só perante o caso concreto se vê. A noção de acto confirmativo deve obedecer ao propósito de facilitar e não de dificultar a de acto impugnável. É uma noção certamente independente desta última mas que a deve funcionalmente servir. Fundamental é vermos as coisas não apenas do ponto de vista da Administração mas também do ponto de vista do cidadão que com ela entrou numa relação jurídica. Esta visão complementar é a única hoje defensável no quadro da concepção, que noutro lugar defendemos, da relação jurídica administrativa. Se nos bastarmos para a natureza confirmativa do acto com a identidade dos fundamentos aduzidos pela Administração estamos a ignorar que com tal forma pode exteriorizar-se actos cobrindo realidades diversas e interesses distintos tal como resultam dos requerimentos que os cidadãos fizeram. Por muito compreensível que seja o desejo de impedir a reabertura do prazo contencioso para tornear os efeitos decorrentes da passagem do mesmo não será isso que nos fará esquecer que com um novo requerimento o cidadão pode estar a invocar uma realidade de facto totalmente diversa daquela que outrora invocou com um primeiro requerimento que mereceu uma decisão final negativa a qual não impugnou a tempo porque precisamente estava já a pensar em alterar os pressupos26 Note-se que o acto lesivo não esgota a tutela contenciosa porque esta compreende todos os actos com efeitos externos o que compreende a acção para o reconhecimento de direitos. O acto impugnável coincide quase sempre com o acto lesivo embora casos existam em que não é assim mas a questão não pode ser aqui abordada. O ACTO ADMINISTRATIVO CONFIRMATIVO; NOÇÃO E REGIME JURÍDICO 199 tos de facto em que se louvou. Surpreendê-lo com a qualificação do acto administrativo com que a Administração expressamente indeferiu o segundo requerimento como meramente confirmativo do primeiro e, portanto, inimpugnável pode significar a desconsideração da sua posição perante a Administração como titular de interesses atendíveis e verdadeiramente trata-lo não como um cidadão mas como um súbdito. 9 Conclusões A noção de acto confirmativo continua a ter relevância processual. Mas deve, como se disse, servir o propósito de facilitar o contencioso e não de o dificultar. Não deve assim sobrepor-se à noção de acto lesivo ou seja, impedir que um acto lesivo seja contenciosamente impugnável. Ao mesmo tempo, o critério da confirmatividade do acto deve ser exigente. Não basta para que o acto seja considerado confirmativo a identidade da mera fundamentação da decisão jurídica que a Administração tomou. É necessário algo mais. Assim sendo, a identidade que gera a natureza meramente confirmativa do acto deve aferir-se também pelos fundamentos expostos no requerimento do interessado e não apenas pelos constantes da decisão final da Administração. Este entendimento restritivo da confirmatividade do acto facilita também o desígnio constitucional e legislativo da tutela efectiva do particular e serve a concepção da relação jurídica administrativa. Responsabilidade Civil por Violação do Direito de Autor1 ADELAIDE MENEZES LEITÃO * Sumario: 1.Coordenadas da evolução do Direito de Autor. 2. O Direito Europeu de Autor 3. A Responsabilidade civil por violação de direito de autor no Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (CDADC). 4. Conclusões. 1. Coordenadas da evolução do Direito de Autor O Direito de Autor tem, recentemente, sido abordado no contexto das indústrias criativas, afastando-se, por essa razão, do seu enquadramento como um direito de protecção do autor e da obra intelectual, para se apresentar cada vez mais como um direito de ordenação do mercado.2 Nas indústrias criativas incluem-se as artes visuais, como a pintura, a escultura, o artesanato, o design e a arquitectura, as artes performativas, como a música, o teatro, o cinema, a televisão e a rádio, e ainda as artes literárias. Estas diferentes indústrias são distintas entre si e no modo como dependem da criação intelectual. Apesar das diferenças existentes, deparam-se três vectores de identidade nestes três campos artísticos: i) pluralidade de criadores inteJURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 201-214. * Professora Auxiliar da Faculdade de Direito de Lisboa. 1 O presente estudo corresponde à conferência proferida no XII Curso Intensivo de Verão em Direito da Sociedade de Informação e Direito de Autor, organizado pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual em 11 de Julho de 2013. Consigna-se uma palavra de agradecimento aos Professores Doutores Oliveira Ascensão e Dário Moura Vicente pelo convite que nos foi dirigido. Michael Spence, Intellectual Property, Oxford University Press, 2007, 74 e ss. 2 202 ADELAIDE MENEZES LEITÃO lectuais; ii) reduzido número de produtores, de distribuidores e de sociedades de gestão colectiva de direitos; e iii) crescente digitalização dos meios de distribuição.3 Este padrão estrutural das indústrias criativas coloca novos desafios aos regimes jurídicos da propriedade intelectual. i) Pluralidade de criadores intelectuais É necessário encontrar um equilíbrio entre os representantes dos autores, normalmente menos poderosos, e os representantes dos produtores, em geral mais poderosos. A este respeito, tem sido afirmado que o Direito de Autor da common law tende a preferir os produtores em detrimento dos autores, por contraste com o Direito de Autor continental que tende a privilegiar os interesses dos autores. Em rigor, em muitas situações há coincidência entre os direitos dos produtores e os dos autores, sendo os direitos conexos uma forma de suportar a produção e a distribuição do trabalho dos autores. No entanto, o Direito de Autor de matriz angloamericana tem contaminado os sistemas jurídicos europeus, tendo-se acentuado a tendência para privilegiar os produtores em relação aos autores. ii) Reduzido número de produtores, distribuidores e de sociedades de gestão colectiva de direitos Actualmente, verifica-se alguma concentração empresarial ao nível da produção e distribuição e uma diminuição do papel das sociedades de gestão colectiva de direitos de autor. No entanto, no Reino Unido, as licenças de cópias para a educação, de trabalhos musicais e da reprodução pública da música continuam a ser geridas por sociedades de gestão colectiva de direitos de autor.4 Apesar da situação referida, tem-se admitido que, no Reino Unido, o poder crescente das associações de produtores levou à dominação por estas das sociedades de gestão colectiva. Em Portugal, assiste-se a este mesmo fenómeno, que se revela num maior peso das associações de produtores na entidade de gestão colectiva da cópia privada e nas indústrias cinematográfica e musical em detrimento das áreas da produção intelectual científica, da escrita, do teatro e, em geral, das artes performativas.5 3 4 5 Michael Spence, Intellectual Property cit., 74 e ss. As licenças de cópias para a educação são geridas pela Copyright Licensing Agency, o direito de cópia de trabalhos musicais pela Mechanical Copyright Protection Society e o direito de reprodução pública da música pela Performing Right Society. No domínio da gestão colectiva dos direitos de autor e dos direitos conexos de referir a recente Directiva 2014726/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Fevereiro de 2014. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR 203 iii) Crescente digitalização dos meios de distribuição A crescente digitalização da distribuição nas indústrias criativas desafia a continuidade da capacidade dos produtores de dominar esta distribuição. Nos primeiros anos da Internet, chegou-se a defender que a disponibilidade on-line iria tornar desnecessários os serviços dos produtores. Porém, o combate que os produtores e os distribuidores têm levado a cabo, alargando o conceito de “pirataria”, levou a que essa evolução não se tivesse completamente verificado. Neste contexto, Goldstein defendeu que a Internet poderia dar um lugar mais central aos autores na criação e distribuição do seu trabalho intelectual.6 No entanto, a evolução da Internet sugere que os produtores e os distribuidores continuarão a ter um papel significativo na medida em que filtram a grande massa de material disponível. Todavia, a indústria da música e do cinema alega que a Internet, através da pirataria, lhe faz perder 2 biliões de dólares por ano. Esta situação está na origem de alguns casos jurisdicionais emblemáticos, como o A & M Records Inc v Napster Inc e MGM Studios Inc v Grokster Ltd.7 Por outro lado, surgiram novas medidas tecnológicas para controlar a pirataria digital, medidas que foram ainda reforçadas pelo estabelecimento de regras sobre responsabilidade civil dos que realizam a neutralização das medidas tecnológicas de combate à pirataria ou para os que facilitam essa neutralização. Tem-se também admitido que a própria digitalização seria um factor que fomentaria a concentração da criação intelectual nos produtores, através de medidas tecnológicas que criariam barreiras de acesso. Mesmo que se considere que a digitalização não representa nem a morte dos produtores, nem a morte do domínio público, parece já ser incontornável que molda a forma como a criação intelectual é distribuída no mercado e que origina novos padrões de relacionamento entre os autores, os produtores, as sociedades de gestão colectiva e o público. Gilles Lipovetsky, filósofo francês, considera que a sociedade de consumo transformou a noção de cultura, que é actualmente constituída por cinco grandes lógicas: o mercado, a ciência, a informação, a indústria cultural e as novas tecnologias de comunicação. A cultura deixou de ser algo nobre para passar a ser algo que obedece 6 7 Apud Michael Spence, Intellectual Property cit., 77. Nesta matéria reveste-se de interesse o Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 27 de Março de 2014, «Reenvio prejudicial – Aproximação das legislações – Direito de autor e direitos conexos – Sociedade da informação – Directiva 2001/29/CE – Sítio Internet que coloca obras cinematográficas à disposição do público, sem o consentimento dos titulares de um direito conexo com o direito de autor – Artigo 8.°, n.° 3 – Conceito de ‘intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar um direito de autor ou direitos conexos’ – Fornecedor de acesso à Internet – Despacho judicial, proferido contra um fornecedor de acesso à Internet, que o proíbe de facultar aos seus clientes o acesso a um sítio Internet – Ponderação dos direitos fundamentais». 204 ADELAIDE MENEZES LEITÃO aos mesmos princípios da economia, com o duplo fenómeno da mercantilização da cultura e da culturalização do consumo e da mercadoria.8 2. O Direito Europeu de Autor Ora, é no contexto das anteriormente referidas coordenadas da sociedade de informação e do que alguns apelidam da “crise do Direito de Autor” – consequência da revolução digital – que se insere o Direito Europeu de Autor. O Direito de Autor, como outras áreas jurídicas, tem sido fortemente marcado pela harmonização europeia. Existe já um conjunto significativo de Directivas com implicações no Direito autoral. A questão nuclear do Direito de Autor centra-se no seu âmbito de protecção: a obra intelectual. Sabemos que protege obras originais, mas que outro tipo de material mais banal acaba por receber igualmente tutela. Há casos em que a recusa de protecção assenta no carácter não original da obra ou no facto de não haver uma obra propriamente dita. O conceito de obra intelectual deve implicar uma certa qualidade do material. Fora de circunstâncias excepcionais, a obra intelectual não se reconduz a uma palavra ou a uma frase. Uma palavra pode, porém, ser considerada como parte substancial da obra, designadamente num poema de uma só palavra.9 Acresce que a obra pressupõe uma consciente ordenação do material. Por exemplo, se uma mosca intoxicada e pintada faz aleatoriamente uma impressão numa folha de papel em branco pode haver um resultado estético, mas não haverá certamente uma obra. No caso Karostep Trade Mark defendeu-se que uma pintura pode ser tão simples que não merece a protecção jusautoral, como será o caso, por exemplo, de uma linha ou de um círculo.Tem sido igualmente muito discutido se a peça de John Caige 4’33, que é uma peça com a gravação de 4 minutos e trinta e três segundos de silêncio, merece ser considerada uma obra ou se a gravação de entrevistas ou até de conversas espontâneas devem ser consideradas obras.10 O direito europeu, seguindo o norte-americano, tem optado por se situar na linha do reforço da tutela da propriedade intelectual, defendendo a ideia de que a propriedade intelectual pode ser utilizada como um instrumento de políticas públicas, dos governos e das organizações internacionais, destinada a favorecer a capacidade competitiva das empresas, como produtoras e utilizadoras da informação, promovendo a protecção dos seus investimentos e lucros. Por outro lado, as instituições europeias têm procurado legislar nesta matéria no contexto de uma política geral sobre a 8 9 10 Gilles Lipovetsky, L'esthétisation du monde. Vivre à l'âge du capitalisme artiste, Gallimard, 2013. Michael Spence, Intellectual Property cit, 83. Michael Spence, Intellectual Property cit, 74 e ss. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR 205 sociedade de informação. Surgiu, assim, o Livro Verde da Comissão Europeia, de 27 de Julho, de 1995, sobre direitos de autor e direitos conexos na sociedade de informação.11 Neste domínio, é de salientar a Directiva 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e Conselho, de 22 de Maio, na qual se fixa o quadro sancionatório relativo às violações dos direitos de autor que os Estados-Membros deverão adoptar. Com efeito, o artigo 8.º/1 da referida Directiva estabelece que os Estados-membros devem prever as sanções e as vias de recurso adequadas para as violações dos direitos e obrigações nela previstas e tomar todas as medidas necessárias para assegurar a aplicação efectiva de tais sanções e vias de recurso, devendo as sanções previstas ser efectivas, proporcionais e dissuasoras. E acrescenta ainda no art. 8.º/2 que os Estadosmembros devem estabelecer acções de responsabilidade civil e medidas cautelares para garantir que os autores prejudicados por acções ilícitas sejam indemnizados, bem como medidas cautelares contra intermediários que colaborem na violação de direitos de autor (art. 8.º/3). A referida Directiva centra-se essencialmente no direito de reprodução (art. 2.º), no direito de comunicação de obras ao público (art. 3.º) e no direito de distribuição (art. 4.º). Os considerandos da Directiva revelam de forma expressiva o papel decisivo atribuído à propriedade intelectual nas trocas internacionais e na própria concorrência. De facto, foi sobretudo este carácter instrumental atribuído à propriedade intelectual, em relação à concorrência no mercado interno, que justificou a elaboração da Directiva 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação e, posteriormente, o reforço do respeito dos direitos de propriedade intelectual pela Directiva 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Abril de 2004.12 Não é, porém, unanimemente admitido que a Internet justifique este reforço de meios de defesa, uma vez que muitos autores e produtores preferem disponibilizar livremente as suas obras na Internet. Neste domínio, não há consensos, pois enquanto uns defendem que a revolução tecnológica, incorporada na Internet, representa a morte do direito de autor,13 outros preferem salientar que, desde a descoberta da imprensa por Guttenberg, o Direito de Autor tem incorporado todas as inovações tecnológicas por possuir uma enorme capacidade de adaptação a novas realidades. 11 12 13 Adelaide Menezes Leitão, O Reforço da Tutela da Propriedade Intelectual na Economia Digital através de acções de responsabilidade civil, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Sérvulo Correia, Coimbra Editora, 2010, 13. Adelaide Menezes Leitão, O Reforço da Tutela da Propriedade Intelectual cit, 12-13. Oliveira Ascensão, Novas tecnologias e transformação do direito de autor, Estudo sobre Direito da Internet e Sociedade da Informação, Almedina, Coimbra, 2001, 136, considera exagerada a notícia da morte do direito de autor, defendo que este só necessita de se adaptar. 206 ADELAIDE MENEZES LEITÃO De qualquer modo, não é possível negar a encruzilhada em que se encontram actualmente os direitos de propriedade intelectual.14 A Directiva 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Abril de 2004, procura, essencialmente, uma harmonização dos aspectos processuais, de modo a que nos diferentes Estados-Membros se registe um reforço dos meios de reacção contra as violações de direitos intelectuais, uma vez que os avanços tecnológicos em matéria de armazenamento de informação e de cópia transformaram a “pirataria” e a contrafacção num comércio à escala mundial, colocando novos desafios à propriedade intelectual, designadamente no que respeita aos meios civis de resposta e à criminalização das condutas.15 Esta Directiva, ainda que situada sobretudo no plano processual, não deixa de interferir com aspectos de direito material, designadamente promovendo um alargamento das respostas civis e permitindo um recurso mais amplo à responsabilidade civil. Não pode, por consequência, deixar de ter uma leitura conjuntamente com a Directiva n.º 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001.16 A Directiva 2004/48/CE estabelece no art. 13.º/1 o quadro relativo às indemnizações por perdas e danos no sentido de que os Estados-Membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infractor que, sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma actividade ilícita pague ao titular uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efectivamente sofrido devido à violação. Relativamente ao art. 13.º/1 da Directiva levantam-se questões em torno das referências a “sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber tenha desenvolvido uma actividade ilícita” e “prejuízo efectivamente sofrido”. Estas locuções parecem abrir novas latitudes na responsabilidade delitual por violação de direitos de autor e direitos conexos. 1) Com efeito, a culpa é normalmente aferida em relação ao resultado da conduta – ilicitude do resultado. Neste caso verifica-se que a culpa é aferida pelo carácter ilícito da conduta, um pouco em termos paralelos à culpa no domínio da violação de normas de protecção. Com efeito, nas normas de protecção a culpa é aferida face à violação ilícita conforme aos elementos constitutivos da norma de protecção e não a eventuais consequências resultantes da violação, não sendo necessária a violação de bem jurídico. 14 15 16 O nosso O Reforço da Tutela dos Direitos de Propriedade Intelectual, 13. W. R. Cornish, Intellectual Property, 3.ª, Sweet & Maxwell, London, 1998, 41. Adelaide Menezes Leitão, O Reforço da Tutela da Propriedade Intelectual cit, 13. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR 207 No direito alemão delitual, o § 823 II BGB, relativo às normas de protecção exige culpa, mesmo que a norma de protecção não contenha esse elemento subjectivo. Dolo e negligência têm que relacionar-se com a violação da norma de protecção. Em contrapartida, com respeito aos danos que resultam da realização de tipo legal, a culpa não é necessária. O dano não tem que ser abrangido pela culpa (Verschulden), uma vez que ele não pertence à causalidade que provoca a responsabilidade, mas à que preenche a responsabilidade, pressupondo só uma imputabilidade objectiva.17 Este aspecto parece resultar da existência na common law de uma responsabilidade por innocent passing off and infringement of copyright. Por outro lado, quer a responsabilidade civil quer outras medidas de reacção são concebidas na common law no sentido de o direito de autor se aproximar de um direito de propriedade e não apenas de um exclusivo sobre os lucros.18 2) A segunda questão refere-se ao prejuízo efectivamente sofrido que parece abrir espaço para novas fórmulas de cômputo do dano indemnizável, abrangendo novas latitudes de prejuízo em relação aos critérios tradicionais do cálculo da indemnização.19 Com efeito, acrescenta-se no artigo 13.º/1/a) da citada Directiva que ao estabelecerem o montante das indemnizações por perdas e danos as autoridades judiciais devem ter em conta todos os aspectos relevantes como as consequências económicas negativas, nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infractor e, se for caso disso, outros elementos para além dos factores económicos, como os danos morais causados pela violação ao titular do direito. Esta fórmula ultrapassa os critérios típicos da responsabilidade delitual no cálculo da indemnização, abrangendo os lucros cessantes, os lucros obtidos pelo infractor e consagrando uma indemnizabilidade alargada, que ultrapassa os requisitos apertados em matéria de danos morais, cobrindo-se, assim, danos e lucros consequenciais. Mas há mais: o artigo 13.º/1/b) fornece uma fórmula de cálculo para o estabelecimento do montante em alternativa ao anteriormente referido que se centra na indemnização por perdas e danos em alternativa à definida na alínea a) que se centra numa quantia fixa determinada com base em elementos como, no mínimo, o montante das remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infractor 17 18 19 O nosso Normas de Protecção de Danos Puramente Patrimoniais, Almedina, Coimbra, 2009, 672. Michael Spence, Intellectual Property cit., 30. Adelaide Menezes Leitão, A Tutela dos Direitos de Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Marcello Caetano no Centenàrio do Seu Nascimento, Coimbra Editora, 2006, 41 e ss. 208 ADELAIDE MENEZES LEITÃO tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em questão. Por sua vez, n.º 2 do art. 13.º da Directiva acrescenta que mesmo que, mesmo quando o infractor desconheça o carácter ilícito da sua conduta poderá ser ordenada a recuperação de lucros ou a indemnização por perdas e danos que podem ser preestabelecidos, parecendo admitir uma responsabilidade por factos ilícitos independente de culpa. Neste ponto, configura-se um encurtamento da culpa no sentido que há algum espaço para equacionar uma responsabilidade de tipo objectivo e estabelecese um modelo de responsabilidade civil próximo do ilícito contra-ordenacional, sendo que as penas civis preestabelecidas revertem agora para os lesados e não para entidades públicas. Esta linha europeia e a forma como a mesma foi transposta para os ordenamentos europeus gera perplexidades e dificuldades de articulação com os sistemas de responsabilidade delitual e de cálculo indemnizatório. Em 16 de Julho de 2008 surge o Livro Verde da Comissão sobre os direitos de autor na economia do conhecimento que respeita às excepções e limitações aos direitos de exclusivo, resultantes da Directiva 2001/29/CE, que afectam a difusão do conhecimento. O Livro Verde questiona se estas excepções continuam a permitir manter o justo equilíbrio dos direitos e interesses entre as diferentes categorias de de titulares de direitos e de utilizadores em face à evolução da difusão digital. Em 11 de Setembro de 2009, a Comissão adoptou uma comunicação na área da tutela efectiva da propriedade intelectual na sociedade de informação defendendo a criação de um Observatório Europeu em Matéria de Contrafacção e Pirataria. Em 27 de Abril de 2010, surge o Livro Verde – Realizar o potencial das industrias culturais e criativas, que chama a atenção para o enorme potenciais destas industrias para gerar crescimento e emprego. 3. A Responsabilidade civil por violação de direito de autor no Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (CDADC) A responsabilidade civil por violação do direito de autor pode surgir no quadro dos ilícitos penais ou no quadro de ilícitos civis. No que concerne aos primeiros, a matéria da violação e defesa dos direitos de autor encontra-se regulada no título IV do Código de Direitos de Autor e de Direitos Conexos, que tipifica quatro ilícitos criminais do âmbito da violação de direitos de autor: a usurpação (art. 195.º), a contrafacção (art. 196.º), a violação do direito moral de autor (art. 198.º) e o aproveitamento de obra contrafeita ou usurpada (art. 199.º). RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR 209 Comete o crime de usurpação quem, sem autorização do autor ou do artista, do produtor de fonograma e videograma ou do organismo de radiodifusão, utilizar uma obra ou prestação por qualquer das formas previstas neste Código (art. 195.º/1). Comete o crime de contrafacção quem utilizar, como sendo criação ou prestação sua, obra, prestação de artista, fonograma, videograma ou emissão de radiodifusão que seja mera reprodução total ou parcial de obra ou prestação alheia, divulgada ou não divulgada, ou por tal modo semelhante que não tenha individualidade própria (art. 196.º). O terceiro ilícito penal corresponde à violação do direito moral de autor que se verifica quando alguém se arroga fraudulentamente da paternidade de uma obra ou de prestação que sabe não lhe pertencer; e quando alguém atentar contra a genuinidade ou integridade da obra ou prestação, praticando acto que a desvirtue e possa afectar a honra ou reputação do autor ou do artista (art. 198.º). Por fim, há o ilícito criminal praticado por quem se aproveita da obra contrafeita ou da obra usurpada, designadamente aplicável a quem vender, puser à venda, importar, exportar ou por qualquer modo distribuir ao público obra usurpada ou contrafeita ou cópia não autorizada de fonograma ou videograma, quer os respectivos exemplares tenham sido produzidos no País quer no estrangeiro (art. 199.º). Os crimes de usurpação, contrafacção, violação de direito moral de autor e aproveitamento de obra usurpada ou contrafeita são punidos com pena de prisão até três anos e multa de 150 a 250 dias, de acordo com a gravidade da infracção, agravadas uma e outra para o dobro em caso de reincidência, se o facto constitutivo da infracção não tipificar crime punível com pena mais grave. Nos crimes referidos a negligência é punível com multa de 50 a 150 dias, excepcionado o caso do aproveitamento da obra usurpada ou contrafeita em que a negligência é punida com multa de 50 dias. Em caso de reincidência não há suspensão da pena (art. 197.º). O procedimento criminal relativo aos crimes autorais não depende de queixa do ofendido, excepto quando a infracção diga exclusivamente respeito à violação de direitos morais (200.º/1). O ilícito penal implica simultaneamente um ilícito civil de Direito de Autor, o qual havendo danos justifica responsabilidade civil. Neste caso, por força do art. 203.º do CDADC, as acções de responsabilidade civil podem ser autónomas ou apensadas ao processo criminal. 210 ADELAIDE MENEZES LEITÃO Existem situações em que, independentemente da prática de qualquer ilícito criminal, surge uma violação de direito de autor ou dos direitos conexos que, conjugados com a produção de danos, pode implicar responsabilidade civil. Nestes casos, a responsabilidade civil é autónoma da responsabilidade criminal. Ora, como vimos anteriormente, a Directiva 2004/48/CE atendendo à crescente vulnerabilidade dos direitos autoriais na sociedade digital procurou fomentar um maior recurso às acções de responsabilidade civil com algum aligeiramento dos respectivos pressupostos. Para o efeito procurou sobretudo utilizar este sistema como uma resposta mais eficaz à lesão de direitos de autor e dos direitos conexos, o que passou pela implementação de fórmulas de cálculo indemnizatório mais atractivas para os lesados e mais sancionadoras para os lesantes. A transposição da directiva no domínio do CDADC foi realizada através de uma tentativa de aproximação ao sistema de responsabilidade delitual consagrado no art. 483.º/1 do Código Civil. Ora, este sistema assenta em pressupostos que justificam a imputação de danos, a saber, a acção, a ilicitude, a culpa, o nexo de causalidade e o dano. Estes pressupostos encontram-se no art. 211.º/1. Com efeito, nesta disposição estabelece-se que “Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de autor ou os direitos conexos de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelas perdas e danos resultantes da violação”. A ilicitude reconduz-se à violação de direitos de autor e direitos conexos. A culpa opera na referência ao dolo e à mera culpa. Os danos nas perdas e danos. O nexo de causalidade pode ser compreendido na expressão “resultantes da violação”. Pode-se, assim, afirmar existir alguma redundância no art. 211.º do CDADC em relação ao artigo 483.º do CC. Não obstante esta redundância pode ser enaltecida na medida em que se pretende que o sistema de responsabilidade delitual por violação de direitos de autor e direitos conexos não quebre completamente a harmonia do direito delitual como resultaria de uma transposição literal da Directiva. Assim, no contexto nacional, o incentivo do recurso às acções de responsabilidade civil não é feito à custa de um aligeiramento dos pressupostos da responsabilidade delitual, designadamente recorrendo a um encurtamento da culpa, mas sobretudo através das novas fórmulas de cômputo dos danos. Efectivamente, neste âmbito, são de referir os n.º 2 a n.º 5 do art. 211.º, cujos vectores fundamentais são os seguintes: i) Princípio de indemnizabilidade dos danos patrimoniais e não patrimoniais. O paradigma delitual assenta no carácter excepcional da indemnizabilidade dos danos morais, só sendo indemnizáveis aqueles que pela sua gravidade mereçam a tutela do RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR 211 direito (art. 496.º/1 do CC), reconduzindo os danos morais não graves a bagatelas insusceptíveis de indemnização. Ao não se exigir a gravidade e o merecimento da tutela jurídica nos danos morais resultantes de violação de direitos de autor e dos direitos conexos inaugura-se um modelo de maior abertura à indemnização de danos não patrimonais; ii) Relevância de dimensões exteriores ao danos no cômputo deste, designadamente dos lucros, custos de protecção de direitos de autor e dos direitos conexos e de investigação e cessação de condutas ilícitas. O princípio da correspondência da indemnização ao dano abre, neste ponto, na linha da Directiva 2004/48/CE, uma brecha, permitindo-se através da incorporação de lucros e custos uma indemnização superior ao dano. Relativamente ao dano existe, assim, uma evolução.20 O dano ocupa o lugar central na responsabilidade civil. Trata-se do dano patrimonial que corresponde à diferença para menos no património do lesado, que resulta da diferença entre a situação em que presentemente se encontra (situação real) e aquela que se encontraria se o facto constitutivo da obrigação de indemnizar não se tivesse verificado (situação hipotética), diferentemente do dano real, que corresponde ao valor objectivo do prejuízo sofrido. O lucro cessante só tem lugar numa concepção patrimonial do dano e só configura um dano em relação à situação hipotética do património do lesado.21 A doutrina obrigacionista moderna tem defendido que o dano tem que ser enquadrado em termos jurídicos,22 enquanto supressão de uma vantagem tutelada pelo direito.23 Da primazia metodológica do dano, a evolução aponta para margens de aplicação da responsabilidade delitual a zonas em que só se está perante danos atípicos, realidades abstractas e hipotéticas, que não traduzem uma supressão efectiva de vantagens juridicamente tuteladas, mas que redundam em actos ilícitos perante direitos de monopólio por desvio de utilidades hipotéticas, que deveriam permanecer no seu titular. Assim, verifica-se actualmente uma polaridade que passa pelos danos emergentes, os lucros cessantes e os lucros indevidamente obtidos pelo infractor. iii) Relevância do valor da receita obtida pelo infractor no cálculo do dano. Com efeito o art. 211.º/3 estabelece-se que “para o cálculo da indemnização devida à 20 21 22 23 Para mais desenvolvimentos, o nosso Normas de Protecção e Danos Puramente Patrimoniais, 32 e ss. Pereira Coelho, O enriquecimento e o dano, Almedina, Coimbra, 1999, 24-25 e 35 e ss. Sobre a necessidade de adoptar um conceito normativo de dano, CARNEIRO DA FRADA, Direito Civil. Responsabilidade Civil, – O método do caso, Almedina, Coimbra, 2006, 89-90, alicerçando-o em critérios normativos e numa ponderação da ordem jurídica, sendo que entre esses critérios normativos se encontra a ilicitude. Menezes Cordeiro, Direito das Obrigações, 2.º vol, reimpressão, AAFDL, Lisboa, 1994, 284. 212 ADELAIDE MENEZES LEITÃO parte lesada, deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infractor, designadamente do espectáculo ou espectáculos ilicitamente realizados”. Neste caso, o dano abrange o próprio benefício ou enriquecimento do infractor, o que permite enquadrar na responsabilidade delitual um campo tradicionalmente ocupado pelo instituto do enriquecimento sem causa.24 iv) O legislador manda ainda atender às circunstâncias da infracção, à gravidade da lesão sofrida e ao grau de difusão ilícita da obra ou da prestação. Os critérios referidos anteriormente devem ser conjugados de modo a encontrar um montante indemnizatório. Atendendo à multiplicidade de critérios – alguns dificilmente conjugáveis entre si – defendemos que esta fórmula acentua a dimensão preventiva e punitiva da responsabilidade delitual. Com efeito, assiste-se à erosão do paradigma reconstitutivo da responsabilidade delitual, sendo a matriz da responsabilidade civil por violação de direitos de autor e direitos conexos marcadamente punitiva. Parece-nos, pois, que o legislador entende que toda esta variedade de critérios se impõe para encontrar o “prejuízo efectivamente sofrido” por violação de direitos de autor e dos direitos conexos à escala comercial. v) No art. 211.º/5 do CDADC estabelece-se ainda um sistema subsidiário – apenas utilizável em caso de impossibilidade de se fixar o montante indemnizatório de acordo com a primeira fórmula - por contraposição com a alternativa que resulta da Directiva – desde que a este sistema não se oponha a parte lesada. Trata-se da fixação judicial de uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos em questão e os encargos suportados com a protecção do direito de autor ou direitos conexos, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva. Verifica-se porventura alguma incongruência nesta fórmula porque os critérios de determinação do montante indemnizatório nela referidos já se encontram em grande parte tidos em conta no n.º 2 do art. 211.º, pelo que esta solução terá à partida pouco espaço de aplicação prática. O mesmo é de referir em relação à reicidência em que o legislador manda combinar todos os critérios já utilizáveis nas fórmulas anteriores. Com efeito, o art. 211.º/6 estabelece que “quando, em relação à parte lesada, a conduta do infractor constitua prática reiterada ou se revele especialmente gravosa, pode o tribunal determinar a indemnização que lhe é devida com recurso à cumulação de todos ou de alguns dos critérios previstos nos n.os 2 a 5.” 24 Luís Menezes Leitão, Direito de Autor, Almedina, Coimbra, 2011, 297 e ss. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR 213 Note-se que os n.os 5 e 6 do artigo 211.º afiguram-se-nos especialmente criticáveis, por representarem uma transposição defeituosa da Directiva 2004/48/CE, na medida em que procedem à substituição de uma opção alternativa do sistema de cálculo indemnizatório por uma solução subsidiária.25 Em nosso entender, o sistema de responsabilidade delitual especial por violação de direito de autor não é isento de dificuldades práticas de aplicação e comporta uma difícil harmonização com o sistema de cômputo do dano estabelecido no Código Civil, tendo sido aprofundada uma dimensão punitiva sem paralelo no nosso direito. A jurisprudência nacional tem feito pouca aplicação da Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril. Alguns litígios que chegaram às instâncias judiciais superiores são anteriores à entrada em vigor desta lei.26 Porém, em algumas decisões relativas à aplicação de medidas cautelares já é possível constatar uma aplicação generosa da referida legislação.27 4. Conclusões A Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril, que altera o CDADC transpõe de forma deficiente e incompleta algumas soluções da Directiva 2004/48/CE. Não obstante, as alterações introduzidas vão no sentido de uma tutela mais efectiva da propriedade intelectual, valorizando as acções de responsabilidade civil. No sistema português este incentivo às acções de responsabilidade civil por violação dos direitos de autor e dos direitos conexos não é feito, porém, à custa do aligeiramento dos respectivos pressupostos, mas antes através de novas fórmulas do cálculo da indemnização. A responsabilidade especial por violação de direitos de autor e dos direitos conexos inaugura, assim, novas orientações no domínio do cômputo do dano e do respectivo cálculo indemnizatório. Todavia, as fórmulas de cálculo da indemnização cumulam critérios múltiplos, alguns dificilmente conjugáveis entre si, parecendo a fórmula subsidiária de difícil aplicação. O conjunto de critérios estabelecidos no artigo 211.º do CDADC apontam para uma dimensão punitiva da responsabilidade por violação dos direitos de autor e dos direi25 26 27 Luís Menezes Leitão, Direito de Autor cit., 297. Acórdão do STJ 13-Jan.-2010 (Henriques Gaspar) e Acórdão do STJ 29-Nov.-2012 (Serra Baptista) Cfr. Ac. Rel. Lx 10-Fev.-2009 (Abrantes Geraldes), Ac. Rel. Cbr 17-Nov.-2009 (Judite Pires).e Ac. Rel. Lx 28-Fev.-2013 (Pedro Martins), Ac. Rel. Lx 6-Jun.-2013 (Catarina Arêlo Manso) 214 ADELAIDE MENEZES LEITÃO tos conexos que permite reflectir sobre as constantes metamorfoses das funções da responsabilidade delitual, nas quais o lastro anglo-americano nos direitos continentais, por via da legislação europeia, parece ser incontornável. Por tudo o que se deixou explicitado, afigura-se-nos que o papel fundamental na reacção aos ilícitos autorais através da responsabilidade civil caberá essencialmente aos tribunais, mediante uma aplicação equilibrada dos critérios legais. Esse equilíbrio postulará, em certas situações, alguma parcimónia na aplicação dos critérios adoptados com a transposição da Directiva 2004/48/CE; noutras, atendendo ao carácter incompleto da referida transposição, impor-se-à um interpretação do direito nacional em conformidade com a Directiva. Bibliografia Ascensão, José de Oliveira - Novas tecnologias e transformação do direito de autor, Estudo sobre Direito da Internet e Sociedade da Informação, Almedina, Coimbra, 2001 Coelho, Pereira - O enriquecimento e o dano, Almedina, Coimbra, 1999 Cordeiro, António de Menezes - Direito das Obrigações, 2.º vol, reimpressão, AAFDL, Lisboa, 1994 Cornish, W. R. - Intellectual Property, 3.ª, Sweet & Maxwell, London, 1998 Frada, António Carneiro da - Direito Civil. Responsabilidade Civil, – O método do caso, Almedina, Coimbra, 2006 Leitão, Adelaide Menezes - A Tutela dos Direitos de Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Marcello Caetano no Centenàrio do Seu Nascimento, Coimbra Editora, 2006 Leitão, Adelaide Menezes - Normas de Protecção de Danos Puramente Patrimoniais, Almedina, Coimbra, 2009 Leitão, Luís Menezes - Direito de Autor, Almedina, Coimbra, 2011 Lipovetsky, Gilles -L'esthétisation du monde. Vivre à l'âge du capitalisme artiste, Gallimard, 2013 Spence, Michael - Intellectual Property, Oxford University Press, 2007 Propriété intellectuelle, Commerce international et Droits de l’Homme MERYEM MEHREZ * Depuis le lancement du cycle d’Uruguay en 1986, la propriété intellectuelle a fait partie intégrante des travaux du GATT en raison de l’ampleur économique que prenaient les pratiques de violation des droits de propriété intellectuelle durant les décennies 70 et 80. L’Accord Général sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle liés au commerce (ADPIC)1 fait désormais partie intégrante des textes juridiques de l’OMC, et est donc soumis au mécanisme de règlement des différends de cette organisation. Les objectifs de cet accord consistent essentiellement à harmoniser la protection de la propriété intellectuelle à l’échelle mondiale. L’ADPIC couvre aussi bien la propriété intellectuelle littéraire et artistique (droits d’auteur et droits voisins) que celle liée à l’industrie (marques, brevets, dénominations géographiques, dessins et modèles industriels etc., ainsi que savoir faire non breveté). Les Etats membres de l’OMC se sont ainsi engagés à adopter et à faire respecter un certain nombre de standards minimums en matière de propriété intellectuelle. La protection minimale consiste dans les dispositions fondamentales des principales conventions internatio- JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 215-224. * Professeure Chercheure à la Faculté de Droit, Université IBN ZOHR Agadir et membre associé au LRCID (Laboratoire de recherche sur la coopération internationale et développement), Université Cadi Ayyad, Marrakech (Marrocos). 1 Le texte intégral de l’accord est disponible sue le site web de l’OMC : www.wto.org, pour une analyse de l’accord voir: B.Boval, « L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC ou TRIPS)», in: La réorganisation mondiale des échanges, colloque de Nice, SFDI, Paris, Pedone, 1996, p.131-152. 216 MERYEM MEHREZ nales en vigueur2 avec lesquelles l'ADPIC coexistera sans s'y substituer. Dans tous les domaines qu'il couvre, l'accord prévoit l'application du principe du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée. Toutefois dans un monde où la technologie joue un rôle de plus en plus crucial, le niveau de protection fourni par les règles de la propriété intellectuelle affecte plus que jamais les droits humains et les politiques de développement. Les réticences et les craintes qui ont précédés l’inclusion de la propriété intellectuelle dans les négociations du commerce international n’ont pas tardé à se manifester (I). Pourtant, la protection de la PI ne cesse de se renforcer à travers la négociation forcée d’accords bilatéraux ou régionaux qui court-circuitent le cycle de négociation de DOHA (II). I. Les répercussions de l’accord ADPIC sur les droits de l’Homme Les effets du renforcement des droits relatifs à la propriété intellectuelle demeurent controversés tant sur le plan conceptuel que pratique essentiellement lorsqu’il s’agit de secteurs étroitement liés aux droits humains tels que les secteurs pharmaceutique : l’accès aux médicaments (A) et agroalimentaire : l’accès aux aliments(B). A-L’accès aux médicaments L’application des normes de propriété intellectuelle aux produits pharmaceutiques est très critiquée.3 Les produits pharmaceutiques ne peuvent être considérés comme des biens ou des produits ordinaires essentiellement parce que les médicaments sont en étroite relation avec les droits fondamentaux de l'homme : le droit à la vie, et le droit à la santé.4 Les médicaments sont donc classés dans la catégorie des biens essentiels, qui doivent être accessibles. L’accessibilité signifie disponibilité pour quiconque le désire, à une qualité et un prix abordables. Pour garantir l'accessibilité, il faudra garantir l'offre la plus élevée possible de médicaments, ou alors rejeter ou modérer toute mesure qui pourrait limiter cette offre. Or, au cœur du système de protection de la PI se trouvent les brevets, qui accordent des droits exclusifs à l’inventeur pour une durée de 20 ans, pendant lesquels ces 2 3 4 Il s’agit principalement de la convention de Paris signée 1883 et qui est l’un des premiers traités sur les brevets et le droit des marques, dernière modification 1979, compte 174 membres. La 2ème est la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques signée en 1886, 166 membres. L’ONG « Médecins sans frontières » s’est – par exemple – engagée dans la Campagne « Accès aux Médicaments Essentiels » depuis l’adoption de l’accord sur les ADPIC. Le droit à la vie est consacré par l’article 3 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948, et par l’article 25 du PIDESC ; le droit à la santé est reconnu par l’art 12 du PIDESC. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, COMMERCE INTERNATIONAL ET DROITS DE L’HOMME 217 droits exclusifs se traduisent en un monopole au profit de l’inventeur sur son produit breveté. Selon l’article 28 de l’Accord sur les ADPIC, le brevet empêche que l’on fabrique, utilise, offre à la vente, vende ou importe, sans le consentement de l’inventeur, le produit breveté. Avec l'accord sur les APDIC, toute imitation de médicament breveté devenait interdite sous peine de sanctions commerciales imposées par l'Organe de règlement des différends de l’OMC. Le système des brevets et l’exclusivité des droits qu’il confère ne peuvent donc qu’affaiblir l’accessibilité financière des médicaments,5 un déterminant important de l’accessibilité en général.6 Certes, les législations nationales peuvent – lorsque la protection de la santé publique le nécessite – prévoir l'octroi de licences obligatoires dans les techniques et les produits qui touchent la santé. En réalité, l’article 31 qui prévoit cette éventualité consacre la mainmise des multinationales du secteur sur la production et la commercialisation des médicaments face aux exigences de la santé publique. Il restreint considérablement le champ d’application des licences obligatoires par 14 conditions et reconnaît en revanche la liberté d’action absolue aux firmes pharmaceutiques.7 La déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique8 – qui ne prévoit aucune modification de la lettre de l’Accord sur les ADPIC – a aussi réaffirmé le droit des (PED) et des (PMA) – de recourir pleinement aux dispositions de l'accord, qui ménagent certaines flexibilités. Toutefois ces flexibilités demeurent sous-utilisées faute de capacités techniques, mais également en raison des pressions extérieures ayant menacé de représailles les États qui ont tenté de s’en prévaloir. Citons par exemple le cas du Brésil qui était en 2005 techniquement en mesure de produire des versions « bon marché » du traitement du VIH de 2ème génération breveté. Les pressions politiques et menaces de représailles de la part des EUA ont obligé cet Etat à abandonner la décision d’émettre une licence obligatoire et à se contenter de négocier le prix du médicament breveté. C’est le cas aussi du Thaïlande9 qui est devenu la cible des pressions d’Etats occidentaux à la suite de sa décision d’octroyer des licences obligatoires pour la production de médicaments contre le VIH, contre les cancers de poumons et du sein. 5 6 7 8 9 Mondialisation et accès aux médicaments - Série "Economie de la santé et médicaments", No. 007/1999, disponible sur le ste web de l’OMS ; Catherine Pelletier « L’accès aux médicaments : le coût de la propriété intellectuelle », le 1/1/2007 sur : www.lepanoptique.com/section /politique-économie Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans son Observation générale 14, U.N. Doc. C.12/2000/4 (2000), point 12 (b) définit l’accessibilité et ses composantes relatives au droit à la santé. Boval.B, op.cit, p.144. WT/MIN(01)/DEC/2, 20 novembre 2001 : Déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la sante publique. Francesca De ANTONI « Santé, Médicaments et Gouvernance », www.ronged.org/IMG/pdf/ cahiers-médicaments 218 MERYEM MEHREZ B- L’accès aux aliments D’un autre coté, l’accord sur les ADPIC menace aussi la sécurité alimentaire10 des PED à travers le brevetage des produits agricoles et des produits chimiques pour l’agriculture. Les questions agricoles renvoient d'abord à l'Accord sur l'agriculture et spécialement à l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires.11 Mais l’agriculture relève aussi de l’accord sur les ADPIC dans la mesure où elle constitue de plus en plus une activité industrielle et qu'elle a développé une politique de signes de qualité appuyée sur des appellations d'origine ou des indications géographiques qui peuvent entrer en concurrence avec le droit des marques. L'agriculture est insérée dans le secteur agroindustriel, en amont, comme marché pour les producteurs d'intrants, de semences ou de machines et, en aval, comme fournisseur des industries agro-alimentaires. Les enjeux agricoles de l’accord sur les ADPIC découlent des systèmes agricoles des PD qui sont fondés sur un modèle productivistes. L’augmentation sans précédent de la productivité favorisée par un contexte de concentration des industries agroalimentaires repose désormais sur le recours aux droits de propriété intellectuelle.12 Grace aux brevets, les multinationales bénéficient d’un monopole sur la confection des intrants et des semences que les PED doivent acheter à des prix élevés .Et la concentration de ses industries fini par mettre en place une dépendance croissante des producteurs agricoles des PED vis-à-vis de quelques fournisseurs internationaux. Si l’insécurité alimentaire est un problème fondamental et ancien pour les pays en développement, elle se trouve aggravée et accentuée par la mise en œuvre d’un accord qui n’en tient pas compte. D’ailleurs, la mise en œuvre des ADPIC n’est pas susceptible de favoriser ou de faciliter le transfert des technologies qui pourraient limiter la dépendance des PED. Ces derniers considèrent avoir des obligations, mais 10 11 12 La Déclaration de Rome a précisé que « la sécurité alimentaire existe lorsque, tous les êtres humains, ont à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, salubre et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active » Sommet mondial sur l’alimentation organisée par la FAO du 13/17 novembre 1996. C’est l’un des nombreux accords qui constituent la charte de l’OMC. Il concerne l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, en d'autres termes les réglementations relatives à l'innocuité des produits alimentaires, à la santé des animaux et à la préservation des végétaux. S’il reconnaît le droit des Etats d’adopter de telles réglementations, celles-ci ne devraient pas créer une discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Membres où des conditions identiques ou similaires existent. Maroc – OMC : Enjeux des négociations, évaluation de la mise en œuvre, les nouveaux thèmes des négociations. Conseil national du commerce extérieur, Juin 2002. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, COMMERCE INTERNATIONAL ET DROITS DE L’HOMME 219 pas les bénéfices d’un accord qui s’impose à leur politique nationale et qui est difficile et coûteux à mettre en œuvre.13 Par ailleurs, l’accord sur les ADPIC appel les Etats membres de l’OMC à protéger les variétés végétales par des brevets, ou un système sui generis efficace, ou encore une combinaison des deux. Par système sui generis, on entend un système quelconque de protection des variétés végétales, ou une formule de protection des variétés végétales développée par le pays lui-même et qui tient compte de ses particularités nationales. Toutefois, l’évolution des relations économiques internationales méconnaît ces particularités nationales puisqu’elles s’orientent vers la généralisation du système adopté par les pays industrialisés. II. L’évolution outrée du droit de la PI En dépit des inquiétudes émises au niveau international à propos des répercussions de l’accord sur les ADPIC sur les droits de l’Homme et sur le développement, les normes en matière de propriété intellectuelle ne cessent de se durcir dans le monde entier. Ces normes opaques et strictes, dites « ADPIC-Plus », reflètent la réalité des rapports de force dans les relations économiques internationales (A). En parallèle, certaines firmes internationales exploitent les ressources propres aux PED contre la logique même de la propriété intellectuelle (B). A-Des obligations au-delà des ADPIC Au moment où le Conseil des ADPIC est appelé par la conférence Ministérielle de DOHA à réétudier l’octroi de licences obligatoires afin de prendre en considération les besoins des PED et des PMA, les clauses ADPIC plus participent à restreindre encore plus l’accès des populations vulnérables aux médicaments et aux aliments. Ces clauses sont apparues dans des accords d’investissement, des accords commerciaux et des traités de l’OMPI. Elles sont qualifiées d’ADPIC plus parce qu’elles dépassent le seuil d’obligations prévues par l’Accord de l’OMC. Ainsi, les accords bilatéraux de libre-échange contiennent des dispositions qui allongent la durée des brevets sur les produits pharmaceutiques au-delà du délai normal de 20 ans,14 qui interdisent la transmission à des tiers des données transmises pour l'enregistrement 13 14 Ibid. Article 3 de l’annexe V de l’Accord de libre échange entre les pays de l’AELE et la Macédoine prévoit une protection additionnelle de 5 ans pour les produits pharmaceutiques et les variétés végétales. 220 MERYEM MEHREZ d'un médicament ou qui limitent les conditions d’octroi de licences obligatoires.15 Toutes ses mesures ne peuvent qu’entraver encore plus l’accès aux médicaments. Par ailleurs, plusieurs accords bilatéraux et régionaux restreignent la flexibilité de l’Accord sur les ADPIC en matière de protection des variétés végétales en imposant aux partenaires d’adhérer à la Convention UPOV de 1991 16 qui ne constituent pas nécessairement la protection sui generis la plus adaptée au contexte des pays en développement. En signant la Convention de l’UPOV, tout pays s’engage à introduire une méthode de protection des variétés végétales qui restreint le droit des paysans à réutiliser les semences. Selon la révision de la Convention de l’UPOV de 1991 – qui est la seule encore ouverte à ratification – l’échange entre agriculteurs de semences protégées est interdit. La réutilisation est autorisée dans la mesure où les intérêts de l’obtenteur ne sont pas lésés, ce qui veut dire qu'à partir d’une certaine quantité, une taxe doit être versée à l’obtenteur. Ces règles vont donc renforcer le flux de capital des agriculteurs des pays en développement vers les agro-industries du monde développé. D'autres dispositions de la Convention de l’UPOV favorisent la concentration de l’industrie des semences et augmentent encore la dépendance par rapport à quelques semenciers internationaux. Ainsi, tous les efforts17 pour mettre sur pied un système adapté aux pays en développement sont anéantis par l’obligation d’adhérer à la Convention de l’UPOV. La recherche de gains à court terme de l'agroindustrie des pays industrialisés a écarté l'idée d'une politique de développement durable. Par les voies bilatérales et régionales, les frontières du droit international de la propriété intellectuelle sont repoussées à la fois sur le plan juridique et institutionnel toujours au détriment des PED, en voici quelques exemples. L’Accord entre les Etats-Unis et le Cambodge sur le commerce et la propriété intellectuelle ne prévoit pas d’exclusion explicite pour l’ordre public et la moralité, des méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales et les formes de vies supérieures. L’article 8 de l’annexe I de l’Accord de Bangui n’autorise les importations parallèles qu’entre les membres de la région. D’ailleurs, la force ou l’étendu des obligations négociées dépendent de la capacité du PED à défendre ses intérêts et à valoriser ses atouts. Il y’a par exemple une très grande marge entre l’obligation d’assurer la protection des droits de PI conformément aux plus hauts standards internationaux et celle de faire 15 16 17 Article 2(c)(vi) de la lettre annexée à l’Accord entre les Etats-Unis et la Roumanie sur les relations commerciales. C’est le cas par exemple de l’accord de libre échange liant le Maroc et les EU, qui prévoit cette adhésion à la Convention de l’Union pour la Protection des Obtention Végétales dans ses dispositions générales. En juillet 2002, la FAO a publié une étude qui explore les diverses possibilités pour un pays d'adapter au mieux sa législation nationale en matière de ressources génétiques à ses propres besoins : Voir http://www.fao.org/Legal/Prs-OL/lpo31.pdf . PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, COMMERCE INTERNATIONAL ET DROITS DE L’HOMME 221 de son mieux pour adhérer aux conventions auxquelles les États membres de la Communauté européenne sont parties.18 Ainsi, la voie bilatérale modifie les rapports de force en faveur des pays exportateurs de technologie et permet des avancées qui seraient autrement rejetées si elles étaient proposées au Conseil des ADPIC. Mêmes les pressions extérieures et les menaces de représailles qui empêchaient les États de recourir aux flexibilités des ADPIC ne sont pas susceptibles de s’atténuer dans le cadre bilatéral. Le nombre réduit de signataires exacerbe le déséquilibre de pouvoir de négociation, les alliances entre PED pour contrebalancer le pouvoir économique et politique des pays développés n’étant plus possibles. Par exemple, durant les négociations du CAFTA, le gouvernement guatémaltèque a été forcé de renforcer sa loi de protection de la propriété intellectuelle afin d’être retiré de la « Watch list »19 américaine qui permet aux États-Unis d’imposer des sanctions commerciales aux pays qui y sont inscrits. Sur le plan institutionnel, certains accords neutralisent l’organe de règlement des différends en prévoyant une procédure d’arbitrage entre État et investisseurs,20 ou qu’en cas de difficulté, des consultations urgentes auront lieu.21 En réalité, cette évolution compromet non seulement les revendications des ONG militant en faveur des droits de l’Homme et du droit au développement, mais aussi les efforts de certains PED pour réorienter la politique de l’OMPI en faveur du droit international du développement.22 Le cycle actuel de négociations multilatérales appelé Programme de Doha pour le Développement est donc court-circuité par des accords régionaux et bilatéraux qui consacrent la vision et la logique commerciale des pays exportateurs de technologie. 18 19 20 21 22 La première obligation est prévue par Article 39(1) de l’Accord établissant une association entre la Communauté européenne et le Maroc, et la deuxième par Article 2 de l’annexe 7 de l’Accord établissant une association entre la Communauté européenne et la Tunisie. Cette liste est l’une des applications controversée du fameux article 301 de la loi amér icaine sur le commerce extérieur ; en vertu de cette loi les EU se permettent d’imposer des sanctions unilatérales aux Etats qui nuisent à leurs intérêts dépassant ainsi l’ORD de l’OMC, voir : JeanMarc SIROËN « L’UNILATÉRALISME DES ÉTATS-UNIS», www.afri-ct.org/IMG/pdf/siro en2000-2.pdf D’ailleurs plusieurs action ont été menées auprès de cet organe contre cette pratique, exp. DS152 ; UE / Etats-Unis 25 nov. 1958. Article 12 de l’Accord entre le Canada et le Liban pour l’encouragement et la protection des investissements. Article 39(2) de l’Accord établissant une association entre les Communautés européennes et le Maroc. L’Assemblée Générale de l’OMPI à adopter en octobre 2007, 45 recommandations destinées à mieux prendre en considération la dimension développement dans les activités de l’organisation. Ces recommandations, les propositions et l’évolution de ce plan depuis 2004 sont disponible sur le site web de l’OMPI. Voir notamment les propositions du groupe « Amis du développement »wo/ga/31/11, 27 août 2004. 222 MERYEM MEHREZ B- Le « piratage » au nom de la propriété intellectuelle Le principe de la protection de la propriété intellectuelle est certes juste et logique. Mais les moyens de mise en œuvre de cette protection doivent prendre en considération les besoins spécifiques des PED et des PMA sans les dépouiller de leurs ressources naturelles. D’ailleurs, l’application des droits de propriété intellectuelle la plus controversée est celle relative à la protection des espèces végétales et animales à travers le «brevetage du vivant ». Elle consiste à faire reconnaître par l’Office des Brevets qu’un composant du « vivant » appartient à une personne ou une entreprise. Ainsi, à l’instar des brevets déposés sur des inventions de type industriel, des entreprises ont réussi par extension à breveter un gène qu’elles ont décodé ou modifié, le principe actif d’une plante qu’elles ont pu isoler et caractériser. En effet, le brevetage du vivant consiste à faire breveter le principe actif d’une plante et le faire reconnaître comme une « innovation » alors même que cette substance est parfois connue et utilisée depuis des millénaires. Des pharmacopées traditionnelles et des variétés végétales développées par des générations d’agriculteurs locaux ont effectivement été utilisées par des entreprises de biotechnologie pour développer leurs inventions. Ces communautés se considèrent donc lésées lorsqu’elles ne sont pas rétribuées pour leur contribution et plus encore lorsque les brevets restreignent leur accès aux inventions fondées sur leur propre patrimoine.23 Ces pratiques sont dénoncées par ceux qui visent à défendre les cultures et savoirs traditionnels ayant mis en évidence les propriétés de ces plantes comme du "biopiratage" industriel. En 1972 l’UNESCO déclarait les ressources génétiques végétales comme faisant parties du « patrimoine commun de l’humanité ». Pour sa part, la convention sur la diversité biologique adoptée lors du Sommet de la terre de Rio en 1992 a conféré le statut de « patrimoine local » aux ressources génétiques de la nature, ce qui permet de réaffirmer la « souveraineté biologique de l’Etat » sur les trésors que renferme son environnement. Cependant, avec l’évolution du commerce international et des techniques de manipulation génétique, les grands laboratoires ont été en mesure de faire breveter leurs nouveaux gènes hybrides comme des inventions. Ainsi, un brevet a été déposé aux Etats-Unis sur le quinoa, une plante originaire des Andes et à forte teneur protéique : il est devenu impossible aux paysans boliviens de l’exporter vers les Etats-Unis sans avoir à verser de royalties. Le 2ème exemple est très significatif car en relation avec l’industrie pharmaceutique : celui de la Rose Periwinkle de Madagascar : la multinationale EliLilly en a tiré un médicament contre la leucémie, dont les bénéfices d'exploitation ne reviennent qu'à elle. 23 Selon une étude du PNUD, les PED devraient recevoir 5,3 milliards de dollars s’ils étaient compensés à hauteur de 2% sur les ventes globales de l’industrie semencière et de 20% pour les produits pharmaceutiques dérivés des plantes et des savoirs indigènes, voir rapport d’information n°2750 du 23/11/2000. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, COMMERCE INTERNATIONAL ET DROITS DE L’HOMME 223 Les PED sont parfois confronté à des pressions politiques et à des difficultés techniques qui les empêchent de défendre leurs causes. Ainsi, L’organisme en charge de contrôler l’accès aux ressources génétiques et biologiques sur le territoire indien « Le Biodiversity Board avait intenté une action contre Monsanto (Firmes de semences) pour dénoncer un acte de biopiraterie: La commercialisation d’aubergine OGM produite à partir des six variétés connues et conservées depuis des centaines d’années par les communautés locales. L’action visait à faire reconnaître que les efforts de conservation des communautés locales avaient largement contribué aux travaux du semencier et à la production de cette variété brevetée. La procédure contentieuse a pourtant été brusquement abandonnée fin janvier 2012 en raison selon le Biodiversity Board de l’insuffisance de personnel et d’expertises techniques pour mener à bien cette accusation.24 Un mois après l’Inde décide de reprendre le procès. Le biopiratage est donc une pratique qui s’exerce par les outils même de la protection de la propriété intellectuelle mais contre la logique de celle-ci. Il s’avère donc que la prise en compte des facteurs économiques dans le droit des brevets devient prioritaire au regard des autres objectifs éthiques, moraux25 et de développement. Les PED sont donc appelés à protéger et à valoriser leurs ressources naturelles et culturelles (savoirs et métiers traditionnels) tout en encourageant la créativité, l’innovation et la recherche afin qu’ils puissent se tailler une part des marchés internationaux. En attendant, ils gagneraient beaucoup à prendre en considération les besoins élémentaires de leurs populations, les recommandations26 des organes de surveillance des traités des droits de l’Homme en la matière et gagneraient certainement plus dans le cadre multilatérale – qui reconnaît du moins leurs spécificités que dans le cadre bilatérale. 24 25 26 Collectif pour une alternative à la biopiraterie : www.biopiratrie.org, Combat Monsato : www.combat-monsato.org. Le système des brevets soulève aussi des problèmes éthiques et surtout avec la brevetabilité et la marchandisation des gènes humaines. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au Salvador en 2004 de « prendre en considération systématiquement l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’il négocie sur les droits de PI liés au commerce et les transpose dans le droit interne » CRC, Observations finales : El Salvador, CRC/C/15/Add.232,30juin 2004. 224 MERYEM MEHREZ Bibliographie B. Boval «L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC ou TRIPS)», in: La réorganisation mondiale des échanges, colloque de Nice, SFDI, Paris, Pedone, 1996. Jean-Marc SIROËN « L’UNILATÉRALISME DES ÉTATS-UNIS», www.afri-ct. org/IMG/pdf/siroen2000-2.pdf Maroc – OMC : Enjeux des négociations, évaluation de la mise en œuvre, les nou-veaux thèmes des négociations. Conseil national du commerce extérieur, Juin 2002. Catherine Pelletier « L’accès aux médicaments : le coût de la propriété intel-lectuelle », le 1/1/2007 sur : www.lepanoptique.com/section/politique-économie Francesca De ANTONI « Santé, Médicaments et Gouvernance », www.ronged.org/IMG/pdf/ cahiers-médicament Mondialisation et accès aux médicaments – Série "Economie de la santé et médicaments", No. 007/1999, disponible sur le ste web de l’OMS. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation Générale 14, U.N. Doc. C.12/2000/4 (2000). PNUD, rapport d’information n°2750 du 23/11/2000. Plan D’action de l’OMPI pour le Développement/2007 : http://www.wipo.int/ip-development /fr/agenda/recommendations FAO 2002 : Voir http://www.fao.org/Legal/Prs-OL/lpo31.pdf . Déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la sante publique : WT/MIN(01)/DEC/2, 20 novembre 2001 Collectif pour une alternative à la biopiraterie : www.biopiratrie.org, La documentation officielle sur : www.diplomatie.ma; www.diplomatie.ma, www. wto.org/ indexfr.htm; www.wipo.int/portal/index.html.fr; www.who.int/fr/; www.assemblee-na tionale.fr/ Caraterísticas e Princípios Gerais da Política e Direito do Planeamento Territorial em Portugal RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO E FERNANDO CONDESSO * Temas: I.Conceitos, fundamentos, objetivos e características.-II.Macroprincípios jurídicos do planeamento físico.-A)-Supremacia do planeamento sobre a gestão urbanística.-a)-Princípio da gestão urbanística de conformidade com o planeamento.b)-Princípio da demolição de uma edificação contra-plano como última ratio.-B)Garantias de tipicidade, procedimentalização e segurança jurídica.-a)-Princípio da tipicidade dos planos.-b)-Princípio da procedimentalização ordenamental.-c)-Princípio da segurança jurídica.-d)-Princípio da participação.-e)-Princípio da transparência.-C)-Ampla margem de conformação administrativa e suas limitações.-a)-Princípio da discricionariedade de planificação.-b)-Sobre a aplicação especial ao planeamento dos princípios da igualdade e da interdição de excesso.-α)-Aplicação do princípio da igualdade.-β)-Sobre o princípio da interdição de excesso.-c)- Princípio da prevalência dos planos supra-ordenados sobre os PMOT.-d)-Princípio da integração de todas as regras sobre o uso do solo.- e)-Sobre a imposição de padrões urbanísticos.-f)- Sobre a imparcialidade implicando a justa ponderação dos interesses relevantes envolvidos.-g)- Princípio da sujeição do conteúdo futuro dos instrumentos de planeamento à sua prévia avaliação.-D)-Pluralização das intervenções os poderes públicos.-a)-Princípio da interação coordenada dos instrumentos de gestão territorial.-Bibliografia. JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 225-269. * RAAC: Doutor em Administração Pública e DEA em Economia e Gestão Regionais. FC: Doutor em Direito e em Planeamento Territorial. 226 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO I. Conceitos, fundamentos, objetivos e características A problemática do ordenamento físico visando pré-configurar uma perspetiva global do território (como quadro geral de referência, essencialmente estratégico, para os municípios) e a do urbanismo, a ele subordinado e mais diretamente vocacionada a estabelecer a ordem concreta no espaço urbano e na edificação em geral, tem sofrido um tratamento de complexificação crescente, face à hiperbolização da factualidade que lhe subjaz. Assistimos a uma irreversível lógica de concentração da radicação da população nos espaços físicos plurifuncionais1 e a integração das preocupações ambientais, o que vai transformando as políticas e normações territoriais em áreas fundamentais de ação pública, nacional e europeia, para garantir a sanidade e qualidade de vida do homem. O ordenamento do território é um tema clássico, pois nasce ligado ao urbanismo, tendo como inspiração e precedente a planificação económica2 e de desenvolvimento regional.3 Mas, só recentemente assumido constitucionalmente, foi ganhando dimensão prática e fortemente jurídica,4 especialmente através do planeamento físico5e mesmo no plano unionista europeu como função pública (lugar de encontro e atuação coordenada de todos os poderes públicos com jurisdição territorializada, designadamente a União Europeia,6 face à repercussão das suas políticas setoriais e à Estratégia Territorial Europeia ou “Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário”, enquanto estratégia pan-europeia de desenvolvimento do seu Espaço7). Tal 1 2 3 4 5 6 7 Já em 1964, o artigo de ALARCÃO, Alberto –“Êxodo rural e atração urbana”. Análise Social, n.º7-8, Vol.II, 1964, Pp.538-563. AUSLAND, Patrick Mc –The ideologies of Planning law. Pergamon Press, 1980. SOTELO NAVALPOTRO, J.A. –Regional development models. Madrid, 2000; PÉREZ MORENO, A. –“Urbanismo y desarrollo regional: contenido del nuevo regionalismo”. Revista Espanhola de Direito Administrativo, n.º8, 1976, Pp.47 e ss.; GOMEZ ORTEGA, D. –Ordenación Territorial. Madrid, 2002, Pp.29 e ss.; Meilán Gil, J. L. –El território: protagonista del desarrollo. Madrid, 1971; Vide, ainda, Seminar on Regional Planning of Tokyo, de 28 julho a 8 de agosto de 1958, United Nations, Dept. of Economic and Social Affairs, 1959; e III Conferência de Conselheiros Económicos da comissão para a Europa da ONU de 1964 (v.g., em ONU, Comissão Económica para a Europa -Three decades of the United Nations Economic Commission for Europe, 1978), World Comissiom on Environment and Development, 1987. GUIDO, D’Angelo –Urbanística e Diritto. Nápoles: Morano, 1969. MALCOM, Grant -Urban planning law.Londres: Sweet-Maxwell, 1982, Pp.1-64. SCHEID, Hildebrand A. –“Nuevas iniciativas de la Unión Europea en material de Ordenación del Territorio. Revista da las Instituciones Europeas, 1996; MARINERO PERAL, A.M. –“La ordenación del Territorio en la Unión Europea. In Noticias de la Unión Europea, 190, 2000; AUBY, Jean-Bernard -Droit de lÚrbanisme et droit europén: Doctrine. AJDA, L’Actualité Juridique, Droit Administratif, Actualité de l’Urbanisme, n.º10, oct.1995, Pp.667 e ss. A nível europeu, importa destacar pelo menos três pilares de atuação: cooperação transfronteiriça, programas de ordenamento territorial (CONDESSO, F. -El desarrollo armónico de la Península Ibérica: El problema de la ordenación territorial. Barcelona: Erasmus Ediciones, Jan 2010); competências setorais da uniao europeia e os novos objetivos territoriais do Tratado de Lisboa (CONDESSO, F. -«Medio ambiente y territorio en Europa: Propuestas para una POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 227 evolução levou à ultrapassagem da mera abordagem municipal tradicional do território como solo.8 Obtendo-se mesmo avanços parahiperbólicos na Administração do território, para efeito da correta prossecução de um desenvolvimento económicosocial, ambientalmente resiliente. Indo para além das políticas nacionais mais ou menos liberalizantes, prosseguidas a partir da União Europeia e das novas Escolas de Economia mainstream,9 assim permitindo potenciar a nível da União Europeia,10 a luta contra as assimetrias de desenvolvimento, de dotação de equipamentos, de enquadramento de investimentos e de coordenação das novas problemáticas campocidade11 (integração da vertente da coesão territorial no atual Tratado de Lisboa). O ordenamento do território e o planeamento, como seu instrumento fundamental, são a política, a técnica e a arte de situar adequadamente as populações e as atividades económicas nos diferentes territórios, numa perspetiva racional de conciliação entre o desenvolvimento económico-social, a defesa de uma ambiente urbano e rural promotor da qualidade de vida (ou seja, naturalmente resiliente) e atento aos interesses coletivos essenciais, tais como a beleza das paisagens, a estética dos aglomerados de vivência humana12 e o património arqueológico, histórico, cultural ou paisagístico, natural ou edificado.13 8 9 10 11 12 13 política de ordenación espacial en la Península Ibérica». Revista Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial, Madrid, Volume 67, 2004, Pp.95-124; -Políticas urbanas y territoriales en la Península Ibérica. Tomo I, GIT, Mérida, Serie Estudios Portugueses, n.º28, 2005; Direito do ambiente. Coimbra: Almedina, 2001; -Direito do Urbanismo: Noções Fundamentais. Em colaboração com Catarina Condesso. Lisboa. Quid Juris?, 1999.AUBY, J.B. –“Droit de l’urbanisme et droit européen”.L’Actulalité juridique: Droit administratif, 1995; Bouyssou, F. –“Droit de l’’urbanisme et Droit international”.Melanges Pierre Vella. Paris, 1995. LARA CARVAJAL, J.M.DE –“La actividade urbanizadora”. In PEREZ HERRERO, J.M. (Dir.) –La carestia de suelo y soluciones.Madrid, 2000, Pp.87 e ss. Vide, CONDESSO, F. -Europa em Crise: (…). Lisboa: Caleidoscópio, 2012; e, para publicação em 2014, Economia, Política e Direito (economia política, economia situada e direito económico). Vide, desenvolvidamente, UE, COMISSÃO -COM(2008) 616 final, Livro Verde sobre a Coesão Territorial Europeia: Tirar Partido da Diversidade Territorial. SEC(2008) 2550, Bruxelas, 6.10.2008. Sobre os seus objetivos, ver desenvolvidamente CONDESSO, F. –Ordenamento do Território: Administração e Políticas Públicas, Direito Administrativo e Desenvolvimento Regional.Lisboa: ISCSP, 2005; GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, Santiago –Urbanismo y Ordenación del Territorio. Madrid: Thomson-Aranzadi, 2004, p.25 Sobre o valor da estética e a possível valorização negativa de uma envolvente urbana, vide NEUMAN, M. –“La imagen y la ciudad. Ciudad y Territorio, n.º104, 1995, p.377. Em geral, CONDESSO, F. -“Sobre a estética urbana”. Coimbra: Almedina, p.259 e ss.; -“Questão da degradação estético-cultural do ambiente urbano por demissão dos poderes administrativo e jurisdicional. Problema da estética urbana”, “Direito do Ambiente em Portugal”.In Eugenio Soriano, José (coord.), Derecho Ambiental Iberoamericano (no prelo). BIELZA DE ORY, V.; MIGUEL GONZÁLEZ, R. de –“El patrimonio cultural: Componente de ordenación del territorio”. Revista Aragoneza de Administración Pública, n.º10, 1997. 228 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO Face à supremacia do direito territorial, construído à base de vinculações segundo escalões dos vários poderes de intervenção no território, importa que vigore globalmente entre estes uma distribuição de funções regida pelo princípio do equilíbrio de todo o sistema na articulação desses poderes, de modo que os municípios, local das decisões concretas, não fiquem competencialmente esvaziados de todo o conteúdo conformador do desenvolvimento futuro dos territórios concretos que administram.14 Ou seja, há limites à vinculação do plano. A limitação tem de processar-se de acordo com o concreto carácter do escalão em que é criada, de diretriz ou com fins locais específicos, com sujeição estrita dos planos de ordenamento do território a uma concreta definição normativa e balizas substantivas e procedimentais, o que impede o uso do planeamento físico para “legislar” ou confiscar livremente poderes decisórios. Tal como impede regulamentações de natureza territorial sem seguir procedimentos especiais, em qualquer escalão do poder territorial, para fugir à específica lógica exigencial da regulamentação de planificação. A legislação nacional disciplina em termos amplos os instrumentos de administração territorial (IGT), essencialmente no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, objeto contínuo de alterações, pretendendo dar-lhe conteúdos mais precisos e articulados, numa lógica de hierarquização, conforme se vai descendo na sua escala territorial e se vai substituindo orientações mais gerais por imposições face à colocação de questões mais concretas. No que concerne aos elementos essenciais, referentes ao conteúdo do planeamento, eles devem desempenhar três tarefas condicionantes do seu êxito: a identificação dos recursos e valores territoriais, a determinação do destino básico dos terrenos, através da definição do uso do solo (pelos planos municipais de ordenamento), por meio da sua classificação e a determinação da definição do perímetro urbano, através da qualificação do solo urbano (terreno para o qual é reconhecida vocação para o processo de urbanização e de edificação: solos urbanizados ou cuja urbanização seja possível programar e afetos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do sistema urbano) e da classificação dos solos (segundo o princípio de que, nesta fase de revisão geral do planeamento municipal, deve já ser apenas excecionalmente admitida a transição de solos rurais para solo urbano).15 A nova Lei de Bases da Política de Solos, do Ordenamento do Território e de Urbanismo16 pretende propiciar uma nova reforma dos diplomas que regulam todo o 14 15 16 LORA-TAMAYO VALLVÉ, M. -Urbanismo de obra pública y derecho a urbanizar. Madrid, 1992. CONDESSO, F. -“O ordenamento do território e o seu enquadramento legal em Portugal”. In A efetividade do direito ambiental e a gestão do meio ambiente na américa ibérica: Balanço de Resultados das Quatro décadas da Conferência de Estocolmo. Santos: Unisantos, 2012, Pp.157-170. Não aplicável ao ordenamento e à gestão do espaço marítimo nacional, que conta com legislação específica, mas sem prejuízo da coerência, articulação e compatibilização da política de solos e de ordenamento do território com a política do ordenamento e da gestão do espaço marítimo nacional. POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 229 planeamento do território, urbanismo e edificação, ou seja, essencialmente os Decretos-leis n.º380/99, de 22.9 e n.º555/99, de 16.12. Esta lei de bases tem como novidade integrar num só diploma as matérias respeitantes a todas as políticas nestas áreas, lançando assim as bases para uma “nova fase” da afirmação destas. Está em causa, na justificação governamental, assumir o solo como “fator decisivo de competitividade, associando positivamente a conservação e o aproveitamento eficiente dos recursos, a qualidade ambiental e a criação de boas condições para o desenvolvimento económico e social”. Isto, reforçando a integração de políticas no território, a eficácia dos mecanismos de execução dos planos; a sustentabilidade económica e financeira dos processos de desenvolvimento urbano, simplificando as condições de realização das operações urbanísticas e promovendo uma maior equidade e coesão social e territorial. A nova Lei de Bases da Política de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo vem consagrar um direito geral “ao ordenamento do território”, numa postura semelhante ao texto constitucional em relação ao ambiente (“a um ordenamento do território racional, proporcional e equilibrado), através de um intervencionismo público em matéria de solos, ordenamento do território e urbanismo com respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos (art.º5.º). Os fins da LBPSOTU são: a)- no domínio dos solos em geral: o aproveitamento racional e eficiente do solo, com a devida valorização das suas potencialidades, quer em relação às áreas agrícolas, florestais e silvo-pastoris quer à orla costeira, margens dos rios e albufeiras, quer ao património natural, cultural e paisagístico (garantindo adequadamente as suas funções ambientais, económicas, sociais e culturais); b)- no âmbito da economia situada: o desenvolvimento sustentável (compatível com a economia territorial) e avanço para a correção das assimetrias regionais;17 c)- No plano do ordenamento físico e urbanístico: a reabilitação dos centros urbanos e dos aglomerados rurais, a requalificação de áreas degradadas e a reconversão de áreas urbanas de génese ilegal; a limitação da expansão urbana e da edificação dispersa; d)- no campo específico do ambiente: a potenciação da resiliência do território e o combate à contaminação dos solos (face aos fatores agressivos do ambiente e da saúde humana).18 17 18 c)-“Economia e eficiência, assegurando a utilização racional e eficiente dos recursos naturais e culturais, bem como a sustentabilidade ambiental e financeira das opções adotadas pelos programas e planos territoriais”. Subordinadas aos seguintes princípios ambientais: “a)-Do desenvolvimento sustentável, que obriga à satisfação das necessidades do presente sem comprometer as das gerações futuras, para o que concorrem a preservação de recursos naturais e a herança cultural, a capacidade de pr odução dos ecossistemas a longo prazo, o ordenamento racional e equilibrado do território com vista ao combate às assimetrias regionais, a promoção da coesão territorial, a produção e o consumo sustentáveis de energia, a salvaguarda da biodiversidade, do equilíbrio biológico, do clima e da estabilidade geológica, harmonizando a vida humana e o ambiente; b)-Da prevenção e 230 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO Quanto às características atuais do direito do ordenamento do território,19 podemos referi-lo como um direito estratégico, porque exige cada vez mais (pelo menos em parte para atingir eficazmente os seus objetivos) intervenções planificadoras e programadoras. Umas, visando diretamente a problemática ambiental, ligada à proteção de zonas naturais ou altamente sensíveis num plano ambiental. Outras, visando objetivos ordenamentais físicos autónomas, mas que não podem deixar de considerar as perspetivas de defesa ambiental. E é também um direito prospetivo, no sentido de que se concebe tendo presente que há que impor o dever dos viventes de hoje não prejudicarem os direitos ambientais dos homens de amanhã. Estamos face a um direito com uma componente territorial geral. Mas, mesmo assim, um direito cada vez mais preocupado com o homem sedentário e concentracionário, que tudo complica, ao tender a viver polarizado em aglomerados urbanos.20 Ou seja, um direito em que a urbe aparece enquadrada como um ecossistema. E, portanto, como um bem globalmente considerado. Exigindo uma polarização normativa adequada. Como direito de intervenção pública hiperbólica, implica legislação panterritorial enquanto direito de interesse global, no sentido que supõe, em geral, uma interdependência dos homens e das regiões. O que pressupõe o desenvolvimento de uma visão global dos problemas. É, por isso, um direito de nomogénese global, integrando desde normas de direito internacional, nível de intervenção onde começaram por singrar as primeiras normas significativas modernas, até normas regulamentares autárquicas. Portanto, é um direito de atribuição de intervenções concorrentes aos vários escalões dos poderes públicos estabelecidos, internacionais ou nacionais, e dentro destes.21 19 20 21 da precaução, que obrigam à adoção de medidas antecipatórias com o objetivo de obviar ou minorar os impactes adversos no ambiente; c)-Da transversalidade e da integração de políticas ambientais nas políticas de ordenamento do território e urbanismo, nomeadamente mediante a realização de avaliação ambiental que identifique e monitorize efeitos significativos no ambiente que resultem de um programa ou plano territorial; d)-Do poluidor-pagador e do utilizadorpagador, que obriga o responsável pela poluição ou o utente de serviços públicos a assumir os custos da atividade poluente ou os custos da utilização dos recursos; e)-Da responsabilidade, que obriga à responsabilização de todos os que direta ou indiretamente, com dolo ou negligência, provoquem ameaças ou danos ao ambiente; f)-Da recuperação, que obriga o causador do dano ambiental à restauração do estado do ambiente tal como se encontrava anterior mente à ocorrência do facto danoso. CONDESSO, F –“Definição e caraterísticas do direito do urbanismo”. In CONDESSO, Fernando e Catarina -Direito do urbanismo. Pp.53 e ss.. De facto, conjuntos de edificações e sua área envolvente, possuindo vias públicas. Em geral, hoje, já áreas delimitadas com tal designação nos planos municipais de ordenamento do território, que fixam os perímetros urbanos. CONDESSO, F. –Ordenamento do Território: Administração e Políticas Públicas, Direito Administrativo e Desenvolvimento Regional. Lisboa: ISCSP, 2005. POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 231 II. Macroprincípios jurídicos do planeamento físico São muitas as questões fundamentais que o atual sistema de planeamento físico suscita, designadamente relacionadas com a aplicabilidade direta ou não dos regulamentos dos planos, a compatibilidade e conformidade das normas dos diferentes planos e a sua função integradora, a leitura doutrinal do princípio da discricionariedade do plano, o significado e operatividade do princípio da justa ponderação dos interesses relevantes, os standard (padrões urbanísticos) de operatividade imediata e de operatividade diferida, a relação do direito geral dos solos com o planeamento e entre eles e o direito de construir.22 O que implica a questão da natureza do direito de propriedade, do planeamento e dos instrumentos jurídicos de gestão urbanística. E são muitos os princípios a que obedece o planeamento territorial, todos eles, desde os substantivos, operativos, aos orgânico-procedimentais, de importância axiliar para que esta função pública possa atingir os seus objetivos globais em termos de adequada administração do território.23 Importa começar por referir que o planeamento, enquanto atividade regulamentar pública de natureza especial, está sujeito aos princípios constitucionais da atividade administrativa, com realce para o da proibição de excesso, e ainda aos princípios específicos ou que, nele, assumem um especial enfoque. Da vasta gama de princípios do planeamento destacarei os basilares, muitos deles mera modulação específica da aplicação a este campo de estudo de princípios gerais da atividade administrativa, agregando-os em quatro grandes tópicos caracterizadores do direito do planeamento territorial: supremacia do planeamento face à administração urbanística, tipicidade e procedimentalização do planeamento, ampla margem de conformação administrativa e hiperbolicidade da intervenção administrativa.24 A)-Supremacia do planeamento sobre a gestão urbanística a)-Princípio da gestão urbanística de conformidade com o planeamento A natural supremacia dos planos, face à administração urbanística e seus corolários, é conatural ao princípio da inderrogabilidade singular das normas. A gestão ou Administração individual e concreta dos solos fica condicionada à partida pelos regulamentos planificantes, sendo certo que estes ao nível do território municipal são obrigatórios. Não exclusivamente. Também fica sujeita ao direito do urbanismo, 22 23 24 RUEDA PÉREZ, M. A. (dir.) –Perspectivas del régimen del suelo, urbanismo y vivienda. Madrid, 2003. CONDESSO, Ricardo -Las estructuras de gobernación en Portugal ante las asimetrías de desarrollo territorial: ¿Qué modelo seguir? Tese doutoral. Biblioteca FFLUNEX, Espanha, 2012. Em geral, CONDESSO, F. –“Os Princípios do Planeamento Territorial”. In Direito do urbanismo, o.c., Pp.228-258. 232 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO especialmente ao seu regime geral, o RJUE. Mas este ou normas especiais do DU podem permitir ou mesmo legitimar o afastamento do regulamento planificante, que assim perde o caráter absoluto, com a possibilidade de ultrapassagem em situações excecionais devidamente justificadas, tendo presente o art.º 65.º (direito à habitação, as normas referentes às AUGI, RJRU, art.º 60.º sobre a conservação do existente e os corolários sobre alterações futuras, ou a possibilidade de licenciamentos especiais contra-plano do 88.º do mesmo RJUE, etc. O princípio geral da precedência e vinculação pelo planeamento da gestão territorial concreta visa executar a política de solos, de ordenamento do território e de urbanismo,25 de acordo com os planos em vigor. E, na linha lógica desta exigência, desde logo, temos o princípio da obrigatoriedade de planeamento no âmbito municipal, consequência do princípio da precedência do planeamento para a gestão territorial. Com efeito, é, hoje, inquestionável a necessidade de imposição da gestão urbanística de conformidade com os planos. Este princípio da gestão urbanística impede um desenvolvimento urbanístico espontâneo (impondo a vigência e execução de um sistema legal de planificação), segundo meras decisões privadas ou públicas casuísticas, sem ordenação e disciplina. O que, portanto, implica um dever de planificação. Perdidas, na generalidade dos municípios do país, mesmo onde era obrigatório e não foram elaboradas, as oportunidades legislativas ligadas aos regimes dos planos designados como “áreas de desenvolvimento prioritário” e “áreas de construção prioritária”, hoje, quanto aos planos gerais de todo o território de cada município, PDM, existe uma obrigação de os elaborar por parte dos municípios. E a lei impõe procedimentos estritos para a elaboração destes planos, no chamado RJIGT, não só para garantir a necessária ponderação e cooperação interadministrativa em face de todos os interesses relevantes envolvidos, como para propiciar a concertação e contratualização entre os interesses públicos e privados implicados, incentivando uma vinculação recíproca entre a iniciativa pública e a privada na concretização dos programas e planos territoriais (art.º 3.º, 1, al. h LBPSOTU; art.º47.º sobre a contratualização do planeamento26). b)- Principio da demolição de uma edificação contra-planum como última ratio 25 26 Sistema de gestão territorial (título III), CAPÍTULO I Gestão territorial, Artigo 37.º Objet ivos da gestão territorial. “3 -Os particulares interessados na elaboração, alteração ou revisão de um plano de urbanização ou de plano de pormenor podem apresentar propostas de contratos para planeamento aos municípios”. POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 233 Sobre esta magna questão da “regularização” de operações urbanísticas, especialmente quando implicam o direito fundamental à habitação, a nova Lei de Bases da Política de Solos, do Ordenamento do Território e de Urbanismo refere um “procedimento excecional para a regularização de operações urbanísticas ilegais, no sentido geral de obras realizadas sem o devido controlo prévio, quando exigido, e ainda para a “finalização de operações urbanísticas inacabadas ou abandonadas pelos seus promotores”, matéria que hoje deve ter-se por enquadrada já no art.º 88.º do RJUE e outros.27 Trata-se expressamente de obras inacabadas por caducidade de existentes licenciamentos ou de admissões, expressas ou tácitas, de comunicações prévias; ou, por maioria de razão, de obras prosseguidas ou acabadas depois da caducidade ou mesmo com génese, substantiva ou procedimental, ilegal. Embora, essa regularização não prejudique a aplicação de sanções e de medidas de tutela da legalidade urbanística (diferentes da demolição), v.g. embargo ou imposição de alterações, ou mesmo, fora das situações previstas designadamente no n.º 3 do referido artigo, o cumprimento de planos intermunicipais e municipais e outras normas legais e regulamentares vigentes “à data em que tenham lugar”. Podendo sempre a lei “dispensar o cumprimento de requisitos de legalidade relativos a construções”, cuja aplicação se tenha “tornado impossível ou que não seja razoável exigir”, desde que fique pelo 27 Sobre o tema, vide CONDESSO, Fernando -"Legalização de situações irregulares", in Direito do Ambiente (Direito do Ambiente: Normas, Doutrina, Jurisprudência, Questões Atuais). Coimbra: Almedina, 2014, Pp.182-185 e nota 208; e, ainda, "Sobre a Defesa do Ambiente no Regime Jurídico de Reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal", Pp.186-190. Esperemos (contrariamente ao que, por vezes, ocorre com o legislador) que a adaptação a fazer, por força da nova Lei de Base Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio), através de novas alterações aos diplomas referentes ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 380/99, de 22.9) e Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (Decreto-Lei n.º 555/99, de 16.12), e que deveriam começar pelo primeiro regime, tenham realmente em conta a realidade da edificação existente no país e do direito à habitação e, portanto, se abram, agora em termos expressos, à previsão da legalização dos imensos casos (pelo menos, em áreas rurais, embora em geral camuflados), de situações de construções isoladas, efetivadas posteriormente à legislação nacional impositiva ou mesmo a anteriores regulamentações municipais exigentes de licenciamentos, pelo menos nos casos de habitações de génese ilegal servindo de residência habitual, tal como facilite, sem metas nacionalmente fixadas e sem irrealistas e desnecessárias sucessivas prorrogações, tendo não só a objetiva dificuldade regularizadora como até a própria inércias histórica da grande maioria dos municípios numa ativa e apoiada promoção dessa regularização. Que, seguramente, ou passa pelas soluções apontadas neste texto (numa interpretação extensiva do atual articulado, face ao princípio que vai sendo jurisdicionalizado da demolição como última ratio; ou será sempre, em grande número de situações, um problemas por resolver para a maioria dos proprietários e, com ofensa ao princípio da igualdade de tratamento, algo que vai sendo, em certos casos isolados, decidido jurisdicionalmente apenas contra alguns deles, através de demolição, aliás após anos de sofrimento por incertezas. 234 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO menos assegurado o cumprimento dos “requisitos atinentes à saúde pública e à segurança de pessoas e bens” (requisito de “habitabilidade” em sentido amplo).28 No fundo, tudo deve ser tendencialmente regularizável, em solos urbanos ou rurais, mesmo que, com imposição de alterações por razões de salubridade e segurança (ou seja, por falta de condições mínimas de habitabilidade). Embora possam ocorrer dificuldades acrescidas em zonas de comprovado risco de instabilidade geotécnica ou incontornável perturbação da lógica ínsita a áreas protegidas. Regularizável, quer estejam em causa desconformidades com normas procedimentais de controlo prévio quer normas que, na altura da edificação, já inviabilizavam a construção ou que passaram a inviabilizá-la no momento da regularização. E o critério auxiliar da regularização do edificado pode ser algo mais captável, face ao estatuído sobre o seu critério de “utilização e conservação” (art.º 60.º): a existência ou não de condições de segurança, salubridade e estéticas, necessárias ao fim a que se destinam (n.º1), é o critério direto da aceitabilidade da utilização das edificações e, portanto, indiretamente a orientação para a sua subsistência, e, por isso, na linha do macro-princípio essencial quanto ao edificado de que os proprietários devam “manter as edificações existentes em boas condições de utilização, realizando as obras de conservação ou de outra natureza que, nos termos legalmente definidos, se revelem indispensáveis a essa finalidade. ***** Já face ao atual RJUE, à partida sem possibilidade jurídica de contestação (por interpretação extensiva), devia ter-se como resolvida a questão prévia de saber se a preservação do existente contra-plano, a regularizar ou demolir, face ao art.º 106.º, e tendo presente os termos constantes do licenciamento especial previsto no art.º88.º do mesmo RJUE, expressamente preocupado em responder a situações de obras inacabadas, também se aplica àquelas entretanto ou em geral já acabadas. A responder positivamente. Em causa podem estar obras inacabadas, sem possibilidade de serem terminadas face à caducidade da licença ou da admissão de comunicação prévia, mesmo que com construções pós-caducidade e mesmo que contra-plano (alterações desconformes com normas atualmente em vigor; artigo 88.º, n.1 e 2). Ou mesmo obras efetivadas sem qualquer controlo prévio, partindo erradamente do pressuposto de isenção legal para tal. Serão ilegalizáveis apenas as situadas dentro de áreas ambientalmente protegidas, constantes de normas com aplicabilidade plurisubjetiva (PEOT, PMOT; em geral, planeamento ambiental para áreas naturais, albufeiras de águas públicas, estuários, orla marítima, águas, restrições e servidões administrativas e normas ambientais integrantes de planos locais de aplicabilidade 28 A ele também se referem, a propósito de imposições administrativas de conservação, várias leis de solos de regiões autónomas espanholas, vide, v.g., GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, Santiago –Urbanismo y Ordenación del Territorio. Madrid: Aranzdi, 2004, P.274. POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 235 direta); a menos que haja normas excecionatórias que o permitam. Como positiva será a resposta acerca de obras já acabadas, efetivadas sem controlo prévio na altura legalmente exigido, e já antes ou atualmente em desconformidade com normação atualmente em vigor (artigo 88.º, n.º3). Pois, se se pretende preservar as quase acabadas (em estado avançado de construção), por igual ou mesmo maioria de razão, ele deve ter-se como aplicável, no mínimo, se outro mais favorável ainda não existir, o regime aplicável às já acabadas, em situação ilegal, quer tenham partido de situações com título designadamente de admissão de comunicação prévia já caducad0 (n.os 1 e 2), quer não tenha havido qualquer título de controlo prévio legal (n.º3). Podemos, pois, com propriedade, face à normação atual, falar em preservação do existente não só face ao artigo 60.º referente a construções feitas antes da existência de legislação de controlo prévio (RGEU de 1951, para áreas urbanas, e legislação de 1991, para áreas rurais, se não existiam anteriormente regulamentos municipais exigindo licenciamento), em que não há qualquer anomalia da construção original, efetivada à base da legislação então vigente, como para além do disposto nele, com controlo administrativo ou sem ele, com garantia de não afetação dessa construção existente, nem (em princípio) de obras futuras nela a efetivar (preservação relativa a partir do existente, de possibilidades edificatórias, segundo a legislação original), apesar de desconformidade com normação superveniente, designadamente planificadora; e quer a construção esteja ainda totalmente erigida (em caso de pretendidas alterações ou mesmo reconstrução), quer já em ruínas (ou melhor, em situações de existência de anterior construção não ilegal: para as situações em que se pretenda a reconstrução); e também (aqui, já apenas um princípio do primado da preservação do construído), embora com disciplinas reguladoras distintas daquela e mesmo entre si, àquelas em que, face a construções ilegais ou que entretanto se tornaram ilegais, o legislador cria soluções próprias de regularização, seja o artigo 106.º, “secundum legem geral”, sejam as distintas normas do artigo 88.º do RJUE (contra legem geral, e cujo n.º 2 remete para o artigo 60.º), assim como os artigos 84.º e 85.º, ambos em casos inacabados de urbanização e o 84.º ainda também em situações de edificação (obras inacabadas, passíveis de serem terminadas pela Câmara Municipal ou por terceiros). Com efeito, o artigo 106.º, em si e juntamente com os artigos 84.º, 85.º, 88.1, o regime das AUGI, o artigo 59.º, 60.º e 61.º da LBPSOTU, o artigo 65.º da Constituição, tal com a mais recente jurisprudência do STA e dos TCAN-S, consagram claramente o princípio da demolição como última ratio. Ou seja, só se, de todo em todo, não houver solução: ou porque o proprietário não está disposto a regularizar a situação, com pedido de licenciamento especial ou alterações propostas pela Câmara Municipal, ou porque, mesmo que esteja ou passe a estar o construído não tenha por onde se pegue, por razoes insupríveis de segurança da habitação ou de incapacidade de lhe introduzir modificações que resolvam problemas de insalubridade. Ou seja, estando o proprietário ou passando a estar interessado na sua “salvação” no termos 236 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO do ordenamento jurídico, no plano material, a Câmara Municipal demonstre que não é possível aproveitar a obra ilegal, acabada ou inacabada, ou mesmo com título construtivo válido mas caducado (inacabada mas em estado avançado de conclusão, ou, por maioria de razão, se já acabada, mesmo que fosse recente, mas muito mais se pelo tempo decorrido se tiver sedimentado no património do respetivo proprietário, e desde logo com elementos de oficialidade, registos para efeitos fiscais ou prediais, numa situação de isotonia exigindo tratamento igual à de uma situação de construção sem licença, por esta ser nula e portanto de nenhum efeito, mas ter decorrido tempo largo (10 anos, na tese de Marcelo Caetano, em seu Manual de Direito Administrativo, tudo hoje com cobertura expressa ou por analogia, dado não se verem argumentos que possam justificar tratamento distinto, com base mesmo em lei escrita: o artigo 134, n.º 3 (efeitos putativos de ato nulo; o ato é ilegal mas a Administração deve fazer de conta que é legal e tratar como se o fosse, em nome de princípios basilares do direito, como o da segurança jurídica e o da boa fé, da proporcionalidade, etc.). E, casos há em que este princípio do aproveitamento do existente total ou do existente parcial, quando seja o facto, pode mesmo ser, se não diretamente baseado, pelo menos apoiado, em razões relacionadas com a existência anterior a legislação impositiva de controlo prévio (zonas urbanas e envolventes, 1951; zonas rurais, inexistindo regulamento municipal de extensão do RGEU, 1991); neste caso, factos passíveis de constatação por inspeção local e análise física ao solo e subsolo de terrenos com vestígios de ruínas referentes a casario de família ou de apoio agrícola, até documentos de acesso oficial, e mesmo um amplo conhecimento de cidadãos da zona, ainda vivos. Portanto, de facto, temos hoje vigente este princípio da demolição apenas quando nada em termos regularizadores o proprietário queira fazer ou, mesmo que o queira, nada seja possível fazer para dar ao edificado condições de legalização. O artigo 106.º do RJUE pressupõe um licenciamento de regularização edificatória normal, em situações que caibam na normação vigente no momento em que se pretende regularizar a ilegalidade, mas não pode deixar de se invocar extensivamente o artigo 88, n.º 3, para o licenciamento especial aí previsto (situações quase acabadas, em que seria desperdício demolir, e por maioria de razão, situações de construção já acabadas, em que o desperdício seria maior). Concluindo este ponto, face ao ordenamento jurídico português, são absolutamente residuais os casos em que, por incapacidade total de dotar o imóvel de condições de salubridade e segurança, a sua salvação (mesmo que com imposição eventual de condições para o efeito), se revele, em apreciação casuística, completamente e na totalidade impossível. Mesmo que um proprietário não tenha apresentado em dado momento, pretendido pelo município, um pedido de licenciamento com projeto de regularizaçãolegalização, pode sempre fazê-lo e o pedido de licenciamento deve ser deferido, mesmo que possa haver norma de PDM aplicável (então face ao artigo 88.º, n.º3, seja obra acabada, seja obra inacabada, em ordem a evitar uma demolição, cabendo ao município atentar nos artigos 87.º e 88.º, n.º1 do Código do Procedimento Administrativo, e ter presente que também é tarefa sua tentar por sua iniciativa enquadrar situações construtivas anómalas, sob pena de um eventual assumir de responsabili- POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 237 dades e de obrigação de indemnizar por uma demolição que poderia ser evitada, por lhe caber em primeira linha aplicar devidamente o direito aos factos, que portanto também lhe cabe diligenciar apurar (Decreto-Lei n.ºn.º67/2007, de 31 de Dezembro, em concretização do artigo 22.º da Constituição). Decidir mandar demolir e executar tal ordem sem diligenciar a efetivação do preceituado no artigo 106, n.º1 e 2, ou sem ter presente o artigo 60.º, caso seja aplicável, ou desprezando a possibilidade de licenciamento especial do artigo 88.º, a justificar adequadamente, quer nas situações de poder vinculado, quer nas de “poder discricionário”, é algo inadmissível e responsabilizante. Face às normas citadas, pode referir-se que o art.º 65.º da Constituição tem também de ser chamado à colação em matéria de regularização de edificações ocupadas ou aptas para habitação, pois nele o urbanismo está intimamente, teleologicamente, imbricado no direito fundamental à habitação, com a natureza dos “direitos económicos, sociais e culturais”, que integra e consagra. Pelo que, independentemente da sua possibilidade concreta de maior ou menor concretização pelo legislador, pelo menos há que considerar as situações urbanísticas referentes a edificações (e, nesta linha protetiva de loteamentos e edificações ilegais, com a regularização a todo o custo, temos as leis das AUGI) ou edifícios isolados aptos a habitação, e por maioria de razão se já habitados, especialmente se não for uma habitação secundária ou, em geral, os proprietários não tiverem outra habitação para viverem e, em princípio, se a regularização não ofender regras ambientais ordenamentais diretamente aplicáveis aos cidadãos em função da localização (PEOT e PMOT), em que só casuisticamente poderá haver alguma justificação excecionatória face à, cumulativamente, dimensão e estilo da construção e meios económicos do proprietário. Explicitando algo mais sobre o regime do artigo 88.º do RJUE, ele refere-se expressamente a obras muito adiantadas embora ainda não acabadas, ou seja quase acabadas, inacabadas portanto mas que estão tão adiantadas que é como se já estivessem acabadas. Tendo presente a boa interpretação, aliás acolhida no direito comparado, é obra em “estado avançado” de construção mas ainda inacabada, v.g., aquela a que falte colocar na totalidade ou em parte o telhado, rebocar paredes em tijolo, não pintada exteriormente, com incompletudes várias visíveis a um simples olhar… Embora, face à ratio legis, seja tanto mais aplicável esta norma do artigo 88.º quanto mais acabada estiver a obra, porque obviamente maior seria o desaproveitamento da construção quanto mais se tivesse de destruir, para voltar depois a construir. Refere-se, pois, as situações em que os seus proprietários, face a à aplicação de novas normas (por exemplo, normas de um PDM, etc.), posteriores à caducidade do título construtivo, não conseguiriam vir a ter uma licença normal segundo o artigo 106.º, para serem terminadas como estava previsto anteriormente, face à necessidade normal de novo procedimento de licenciamento segundo as novas regras. Estando sem possibilidade disso, a construção já quase acabada (ou acabada, por maioria de 238 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO razão) teria de seguir a nova legislação, e portanto teria de ser demolida e reconstruída em termos diferentes com nova licença como se nada tivesse acontecido antes. Se chegou a haver antes um título licenciador ou admissão de comunicação prévia, aplica-se o n.º1 e 2 e as regras do artigo 60.º, que deve ser lido como um poder vinculado: o município é obrigado a legalizar o resto da construção com uma licença especial não obrigando a aplicar as novas normas, embora também não possa aproveitar-se para agravar o desrespeito delas (fazer como estava no título caducado). Se, como é entendimento da doutrina,29 em qualquer outra situação, ou seja, se não houve nunca tal título (isto é, se estamos face a uma construção isolada de génese ilegal; se fossem várias, uma área delas, aplicar-se-ia também normação semelhante, a AUGI, que aliás pode servir de orientação analógica quanto ao construído passível de ser salvo), que na totalidade ou em parte, não está conforme às novas regras, temos o seu n.º3: “Podem ser concedidas as licenças (…) quando a câmara municipal reconheça o interesse na conclusão da obra e não se mostre aconselhável a demolição da mesma, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas”. Ou seja, a Câmara Municipal mesmo em construções ilegais que vão contra normas atuais e portanto não suscetíveis de legalizar nos termos do artigo 106.º (mesmo que fossem concluídas ontem e não acabadas ou estivessem inacabadas) pode permitir acabar ou manter o já construído, desde que declare e fundamente que se reconhece “o interesse em não a demolir”, não existindo razões urbanísticas, económicas, etc. para as demolir. Ora, se este poder discricionário existe qual o interesse da Câmara em as demolir – em certas aldeias não seria demolir metade do edificado? Ou então ofender o princípio constitucional de tratamento igual de todos os cidadãos, mandando demolir umas e não outras? Razões urbanísticas podem existir para se defender tal interesse. Voltando, ainda, à Constituição, havendo ocupação habitacional, não é verdade que o artigo 65.º da Constituição (“Constituição do Urbanismo”), intitulado “Habitação e Urbanismo”, consagra o direito à habitação como um direito económico, social e cultural. Artigo constitucional fundador portanto de um direito fundamental do cidadão, que – embora não obrigue a dar casa gratuita num país que não é rico de meios públicos para o efeito –, pelo menos impede em princípio a sua demolição, quando seja uma obra (para ou) já ocupada para habitação de uma família, e ainda mais se não tem outra para o efeito. Portanto, independentemente da densidade, maior ou menor, com que o legislador ordinário o tenha ou venha a concretizar, pelo menos, integra e exige a ponderação regularizadora pelo município, aberta-permitida pelo legislador, para levar – neste caso de habitação, impor mesmo o reconhecimento do “interesse”, referido no normativo em apreço (n.º3 do art.º88.º RGUE), na manutenção e mesmo na conclusão (situação expressada, por que seria aquela em 29 V.g., OLIVEIRA, Fernanda Paula de; NEVES, Maria José Castanheira; LOPES, Dulce; MAÇAS, Fernanda -Regime Jurídico da Urbanização e Edificação: Comentado. Coimbra: Almedina, 2012. POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 239 que as dúvidas legitimadoras da emissão de uma licença especial poderiam ocorrer: se o que ainda não está concluído deve ser defendido, muito mais o já concluído, sem necessidade de o expressar e a resultar portanto da incontornável metodologia científica de interpretação jurídica). Basta fundar a concessão da licença numa das razões, mas naturalmente que razões técnicas e ambientais (ambiente rural ou urbano) podem existir também, v.g., se não se vislumbrar a vantagem de transformar um pequeno terreno, sem unidade mínima legal de cultura, em terreno agrícola, quando não serve a mais do que a construção e horta de subsistência familiar: inútil para a atividade agrícola a não ser de apoio à casa, ficaria abandonado, numa zona de casario, irracionalmente, sem se ver qual o interesse público a criar à custa do desinteresse privado!? Tecnicamente e economicamente, poderíamos estar face a uma demolição que só poderia ser utilmente seguida de uma reconstrução sensivelmente idêntica, ofendendo o princípio da proporcionalidade se tudo fosse deitado abaixo e não só algo disforme, em grande desproporção face à relação custo económico e também como se referiu custo de agressão ao direito fundamental à habitação, valor superior a qualquer norma regulamentar de duvidosa legalidade, porque valor constitucional em comparação com o benefício municipal concreto, que em geral não se enxergaria. O macro-princípio do direito urbanístico, mesmo colocando em causa a normação de planeamento geral em vigor, hoje claramente previsto no ordenamento jurídico vigente, é o da preservação do edificado ilegal, mesmo que tenha de haver “dispensa” do cumprimento de “requisitos de legalidade relativos à construção, cuja aplicação se tenha tornado impossível ou que não seja razoável exigir”, desde que se assegure o mínimo, que é o cumprimento dos “requisitos atinentes à saúde pública e à segurança de pessoas e bens” (art.º 59.º, n.º3, LBPSOTU). A demolição é, pois, a ultima ratio, reservada apenas para os casos em que, por sua iniciativa ou, na inércia do proprietário, por iniciativa a efetivar pelo Câmara Municipal, os proprietários não tenham querido diligenciar a sua regularização, no todo ou em parte. E, isto, aliás, se o município não entender haver interesses públicos que permitam mesmo impor-lhe a “salvação” do edificado ou do já edificado, designadamente face às razões relacionadas com os condicionalismos do art.º 88.º e outros, que justifiquem não a demolição mas um procedimento expropriativo para-regularizador (art.º 34, 35.º LPSOTU, etc.). B)- Garantias de tipicidade, procedimentalização e segurança jurídica O princípio da tipicidade, para além da densificação do princípio da legalidade em termos meramente atributivos, legitimador de tarefas públicas e de sujeição a um sistema de vinculações, é fundamental para impor o cumprimento de regras substantivas e procedimentais conaturais à lógica e objetivos ínsitos ao planeamento. 240 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO a)- Princípio da tipicidade dos planos O princípio da tipicidade dos planos é um corolário do princípio da legalidade da Administração, que justifica e implica uma especial procedimentalização. Tais como as especialidades sobre prazos de elaboração, regras estritas sobre participação e acesso permanente à informação ativa da Administração, designadamente publicitação de Relatórios periódicos com os resultados dos processos de acompanhamento de execução, sobre segurança jurídica face ao plano, intervenções hiperbólicas articuladas e harmonizadoras de todas as entidades territoriais implicadas, com possíveis pareceres bloqueantes-vinculativos do poder discricionário. A lei indica a designação, define os objetivos e determina o conteúdo técnico de cada plano. Este princípio da tipicidade dos planos resulta da definição por lei das figuras e dos procedimentos de formação dos planos físicos. Impõe e permite apenas as figuras de planos legalmente criadas e procedimentalizadas, impedindo a Administração Pública de elaborar os planos que quiser, o que lhe iria permitir fugir ao procedimento legalmente previsto para os diferentes objetivos planificadores. Ela só pode criar as espécies de planos que o legislador regula. Só podem elaborar-se os previstos na lei, embora a sua elaboração técnica possa ser atribuída por concurso ou contratação a particulares, a sua aprovação cabe às entidades territoriais competentes na matéria, Parlamento (PNPOT), Governo (todos os planos não municipais, fora das Regiões Autónomas) e assembleias municipais (PMOT). Isto sem prejuízo da determinação em lei especial de regimes particulares para certos tipos de bens. b)- Princípio da procedimentalização ordenamental Em geral, o direito do ordenamento do território é um direito procedimentalizador especial dos condicionamentos e operações das entidades públicas e dos particulares relacionadas com a ocupação, o uso e a transformação do solo. A intervenção administrativa no domínio do planeamento e urbanismo encontra-se sujeita a normas de procedimento, quer no domínio da planificação, quer no da viabilização de construções. Quanto aos diferentes procedimentos administrativos de elaboração dos planos, podemos defini-los, dizendo que o procedimento de ordenamento territorial, e portanto o urbanístico, é a sucessão ordenada de atos e formalidades integrando designadamente a audição dos particulares, a colaboração e concertação de várias entidades públicas e a ponderação dos diferentes interesses relevantes envolvidos, tendentes à manifestação de vontade das Administrações competentes para a formulação racional das opções ordenamentais em geral e das de urbanização, sobretudo no domínio da ocupação, uso e transformação dos solos, através de um plano. E quais POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 241 são estes procedimentos de formulação dos planos territoriais? Os procedimentos são variados, de acordo com a diferente tipologia planificante.30 c)-Princípio da segurança jurídica No atual ordenamento jurídico vigora uma clara limitação do direito de propriedade pelo planeamento. Princípio que convive em geral também com um regime planificador respeitador dos princípios da estabilidade e da flexibilidade. Quanto à aquisição das faculdades urbanísticas, que integram o conteúdo do aproveitamento do solo, como refere a artigo 15.º da atual LPSOTU, ela “é efetuada de forma sucessiva e gradual”, ficando sujeita ao cumprimento dos ónus e deveres jusurbanísticos, leis e planos territoriais de âmbito intermunicipal ou municipais aplicáveis. Mas a inexistência das faculdades urbanísticas pode implicar legalmente uma “indemnização por expropriação”. Com efeito, hoje, os proprietários do solo têm apenas o direito a “utilizar o solo de acordo com a sua natureza”, observando o previsto em programas e planos territoriais. E, sendo solos rústicos, o direito de explorar a sua aptidão produtiva, mas preservando e valorizando os bens culturais, naturais, ambientais e paisagísticos e a biodiversidade (art.º13.º). Este uso legal do solo deve respeitar os limites constantes dos planos intermunicipais e municipais, face à classificação e qualificação aí efetivada, cabendo ao regime de uso do solo definir a disciplina relativa à sua ocupação, utilização e transformação (art.º 9.º LPSOTU). Com efeito, o uso concreto do solo é definido exclusivamente pelos planos territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal, ao indicarem as áreas de construção ou, na impossibilidade dessa definição, ao preverem parâmetros e índices legais quantitativos e qualitativos de aproveitamento 30 CONDESSO, F.; MORA ALISEDA, J., SÂO PEDRO, B. (Dir.) -Infraestructuras, Competitividad y Cooperación Territorial. Madrid. Ministerio de Educación y Ciência; -Planeamiento y Pespectivas del Territorio. Madrid. EMinisterio de Educación y Ciencia, 2001; CONDESSO, F. -Desarrollo y cohesión en la Península Ibérica: El problema de la ordenación territorial. Barcelona: Erasmus Ediciones, 254 pág.s.; -Ordenamento do Terrritório: Administração e Políticas Públicas, Direito Administrativo e Desenvolvimento Regional, Lisboa: ISCSP, 2005, p. 964;Desenvolvimento rural, património e turismo”. Cuadernos de desarrollo rural, International Journal of Rural Development, 8, (66), p.197-222, Código SICI: 0122-1450 (201106)8:66 <195:drpt>2.0.TX;2-U. Bogotá: Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Instituto de Estudios Rurales, Departamento de Desarrollo Rural y Regional, Pontificia Universidad Javeriana, enero-junio 2011.Revista indexada en ISI, SCopus, Publindex A1, Redalyc, Scielo; ISSN: 2215-7727; -O Ordenamento do Território da Península Ibérica e o novo contexto da Estratégia Territorial Europeia (tese interdisciplinar sobre temas de Administração Pública, Políticas Públicas e Direito do Planeamento Territorial;-“O ordenamento do território e o seu enquadramento legal em Portugal”. In A efetividade do direito ambiental e a gestão do meio ambiente na américa ibérica: Balanço de Resultados das Quatro décadas da Conferência de Estocolmo. Santos: Unisantos, 2012, p.157-170 242 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO ou de edificabilidade (art.º20.º). No entanto, segundo a nova LBPSOTU (art.º2.º, al. i), garante-se a “segurança jurídica” e a “proteção da confiança”, através da estabilidade dos regimes legais e do respeito pelos direitos preexistentes e juridicamente consolidados. Em causa, não estará em geral a estabilidade dos regimes legais, face à garantia do adequado desenvolvimento dos direitos dos cidadãos pelo reconhecimento das situações jurídicas validamente constituídas e dos direitos a tal ligados. Há a garantia da existência de um período de vigência mínima dos planos vinculativos, embora seja uma garantia de natureza relativa, na medida em que existe também a admissão legal de um princípio da adaptação em face da evolução das perspetivas de desenvolvimento económico e social. O que permite que também os instrumentos de aplicabilidade direta (vinculativos dos particulares) fiquem sujeitos quer ao princípio da revisão obrigatória (segundo prazos ou condições a prever legalmente), quer da revisão excecional fora desse prazo. Serve, ainda, à ideia de segurança e de confiança o princípio geral da não retroatividade, sem prejuízo de esta poder ocorrer quanto a certas normas jurídicas (instrumentos supervenientes com que colidam ou se criarem servidões ou restrições de utilidade pública, afetando as suas disposições). E não pode ainda esquecer-se o princípio da suspensabilidade dos planos em casos excecionais, de relevante interesse público, ou de normas de planos vinculativos dos particulares, no caso dessas normas não terem sofrido a devida alteração no prazo fixado por planos não vinculativos sobre-ordenadores (nova LBPDOTU). Por fim, refira-se que esta garantia não impede o direito planificador físico de admitir o sacrifício de direitos preexistentes e juridicamente consolidados, quer nos casos legalmente previstos, quer através de planos territoriais aplicáveis, mas, como expropriação do plano, implicando adequadas ou o pagamento de indemnização. Esta, aliás, tem de ser prevista obrigatoriamente e de forma expressa no plano territorial de âmbito intermunicipal ou municipal, que fundamenta a imposição do sacrifício, onde nomeadamente pode passar pela definição dos seus mecanismos de perequação. No entanto, é inquestionável que serão indemnizáveis todos os sacrifícios impostos aos proprietários do solo que tenham efeito equivalente a uma expropriação (art.º 17.º LBPSOTU). Além disso, a reserva de solo para infraestruturas urbanísticas, equipamentos, espaços verdes ou outros espaços de utilização coletiva, incidindo sobre solos privados, implica a obrigatoriedade da aquisição pela Administração Pública, em prazo que deve ficar consignado no plano territorial ou instrumento de programação, sob pena de caducidade (a menos que o atraso seja imputável à falta de iniciativa do proprietário ou ao incumprimento dos respetivos ónus ou deveres urbanísticos). No caso de não fixação de prazo, essa reserva do solo caduca no prazo de cinco anos, contados a partir da data da entrada em vigor do plano territorial que a prevê (artigo 18.º), sendo as “associações” de municípios, institucionali- POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 243 zadas (ou formadas ad hoc apenas para a elaboração de planos intermunicipais de ordenamento do território) e os municípios obrigadas a declarar a caducidade dessa reserva de solo, e a efetivar uma redefinição do uso do solo, no caso de o plano territorial vigente não haver previsto um regime supletivo para tal. d)- Princípio da participação Este princípio vive de várias vertentes, umas condicionantes do conhecimento para a vigência das normas, outras favorecentes do conhecimento para o devido controlo da legalidade e do mérito das decisões públicas.31 Uma dessas vertentes é o princípio da publicidade (diário da república e outros meios de divulgação adequada), as outras estão ligadas aos princípios da transparência e da informação cidadã. No que concerne à publicidade, ela é condição de produção de eficácia destes instrumentos de ordenamento territorial, que depende da sua publicação em Diário da República, onde têm de ser publicitados todos os planos acompanhados do esquema respetivo (o programa nacional de política de ordenamento do território, os planos regionais de ordenamento do território, os planos especiais de ordenamento do território, os planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território e os planos e programas de ação sectorial com incidência na organização do território). Quanto à participação dos cidadãos (desde a de iniciativa particular até à ligada à discussão pública das versões dos planos), a al. g) fala nessa participação como condição do reforço do acesso à informação e à intervenção nos procedimentos de elaboração, execução, avaliação e revisão dos programas e planos territoriais. E a al. e), ao falar na subsidiariedade, na simplificação e coordenação dos procedimentos dos diversos níveis da Administração Pública, mostra ter em vista “aproximar o nível decisório ao cidadão”. Este princípio da participação das populações e a salvaguarda dos direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares, que também propicia, são uma peça axilar de um planeamento não autocrático. Ele tem hoje assento, desde logo, no art.º6.º, n.º1 da LBPSOTU, que estabelece que “todos gozam dos direitos de intervir e participar nos procedimentos administrativos relativos ao solo, ordenamento do território e urbanismo”, nomeadamente do direito de participação efetiva nos procedimentos com incidência na ocupação, uso e transformação 31 CONDESSO, F. -Derecho a la Información. Crisis del Sistema Político. Transparencia de los Poderes Públicos. Madrid: Dykinson, 2011; -Derecho de acceso de los ciudadanos a la documentación e información. Cuestiones y fundamentos politológicos, económico-financieros, comunicacionales y ambientales. Tomo I, EUA, RU, Tubinguen: Lambert Academic Publishing Gmbh & Co, KG, março de 2012; -Derecho de acceso de los ciudadanos a la documentación y información: Regímenes jurídicos Unión Europea y Península Ibérica. Tomo II, Saarsbruck, Lambert Academic Publishing Gmbh & Co, KG, EAE, 2012. 244 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO dos solos, através da apresentação de propostas, sugestões e reclamações, do direito a obter uma “resposta fundamentada da administração” e do direito de acesso à informação de que as entidades públicas disponham e aos documentos que integram os procedimentos. Expressamente, o art.º8.º, 2, al.b), refere-se à igualdade e à transparência no exercício dos direitos e no cumprimento dos deveres relacionados com o solo, designadamente, através do direito de participação e do direito à informação dos cidadãos. Em causa, um direito à intervenção dos particulares nos processos de elaboração, execução, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão territorial, designadamente na fase prévia à aprovação. Todos os instrumentos de gestão territorial estão sujeitos ao conhecimento e à discussão pública. Os diferentes interessados no planeamento, titulares de direitos subjetivos, como os proprietários dos terrenos ou de direitos reais sobre eles, ou portadores de interesses legítimos ou difusos (relacionados com um âmbito especial) podem participar na elaboração do plano, designadamente na fase do inquérito público e da sua aplicação. E podem fazê-lo mesmo os cidadãos em geral [v.g. art.º 6.º, n.º2, al.b) e art.º 5.º, n.º 1 da Lei n.º46/2007, de 24 de Agosto de 2007, que, na esteira da Lei n.º 83/95, de 31.8], enquanto interessados e preocupados com a evolução territorial, macro-urbanística. É, desde logo, o art.º 53.º, n.º3 do Código do Procedimento Administrativo, que o permite também, ao referir-se à legitimidade dos interessados e contrainteressados, associações de residentes e de cidadãos envolvidos na atuação de Administração que possa provocar prejuízos (art.º 53.º, n.º 2). Hoje, a legislação do planeamento só prevê explicitamente a participação na fase sucessiva à elaboração do projeto, através da participação na consulta ou inquérito público. Para os cidadãos apresentarem propostas e comentários sobre documentos expostos formalmente para o efeito. Os próprios loteamentos e até certos licenciamentos de grande significado podem ser processados com inquérito público. Embora tenha sido eliminado do texto legal anterior a referência expressa à participação preventiva dos cidadãos nos próprios planos de pormenor, no entanto, essa participação continua a ser possível pelas regras procedimentais gerais e face ao direito constitucional de petição. Portanto, até previamente a qualquer iniciativa pública, para solicitar a criação, extinção ou alteração de um plano. Ou seja, esta participação traduz-se mesmo na possibilidade de os cidadãos solicitarem a elaboração dos planos pertinentes, em requerimento devidamente fundamentado. E, ainda, na possibilidade de os cidadãos fazerem as observações e sugestões que entenderem, preventivamente a quando da manifestação de tal intenção pelos poderes públicos. No início da elaboração do plano, mas também durante o procedimento ou antes. Pelo menos, na fase oficialmente prevista e regulada, do inquérito público e da formulação do projeto final, embora aqui se esteja já no momento em que as opções dos responsáveis pela criação do plano começam a ficar muito sedimentadas em face das posições de múltiplas entidades estaduais e, portanto, possa haver maior resistência à alteração. Ou POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 245 seja, os cidadãos podem não se reservar apenas para a fase da divulgação pública do projeto já elaborado. Isto é, além da participação na fase de inquérito público, os interessados podem também participar na fase anterior e até apresentar petições fundamentadas, integrando ou não projetos, e solicitar a elaboração, a alteração, a revisão ou revogação de um regulamento ordenamental ou urbanístico ou parte do mesmo, nos termos do art.º 115.º do Código do Procedimento Administrativo. Aliás, nada impede que os cidadãos se pronunciem sobre os próprios objetivos e fins gerais da planificação, embora sem impor apreciações e motivações à Administração pública. O princípio da participação procedimental vem realizar um princípio constitucional, previsto no art.º 267.º, n.º 1 e 4 da CRP, aparecendo, além do mais, na Administração planificadora, como um instrumento de apoio à realização do princípio da justa ponderação dos interesses relevantes envolvidos no planeamento, na medida em que é um meio de recolha dos interesses privados e até públicos. Assim sendo, podemos dizer que o princípio da participação tem uma finalidade subjetiva (tutela procedimental dos direitos e interesses legalmente protegidos) e objetiva (dar a conhecer à Administração Pública todos os interesses que possam vir a revelar-se relevantes para as opções do plano, sem cujo levantamento e pesagem o plano será inválido). No que diz respeito à legitimidade de intervenção dos particulares, podem participar no debate planificador quaisquer pessoas singulares ou coletivas, não apenas nas situações em que possam ser atingidas com as disposições de um plano, mas mesmo, simplesmente, como interessados nas suas opções (enquanto cidadãos), efetivando um controlo individual ou em grupo da atividade administrativa. Aliás, a participação coletiva, através de associações de defesa dos portadores de interesses públicos, é frequente nos domínios do ordenamento do território, ambiente e urbanismo. Quer na participação-audição (pareceres, observações, sugestões, representação de interesses sociais e profissionais, muitas vezes em órgãos consultivos ou de gestão da Administração), quer na participação-negociação, numa linha de Administração concertada (troca de pontos de vista, informação e negociação, para acertar uma linha convergente de soluções no plano sobre os meios e os objetivos e, muitas vezes, executar as decisões administrativas), estamos perante mecanismos ínsitos ao moderno direito administrativo e naturalmente ordenamental físico. E as relações participativas com os diretamente interessados na orientação do plano podem terminar por um contrato administrativo ou desembocar na solução de tomada de decisão unilateral da Administração Pública. Os cidadãos afirmam a democracia administrativa também (independentemente dos resultados ou do vencimento do conteúdo das suas posições, forma ou efeitos), pela participação no processo de formulação das soluções. A participação tem que ver com o “agree” do procedimento e não com o ato ou decisão concreta ou a forma que ela assuma, sendo certo que a Administração mantém os seus poderes públicos, podendo impor a sua vontade na equação dos interesses referentes aos solos que entenda deverem prevalecer. As observações da 246 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO população têm de constar de um relatório da Câmara Municipal, que acompanha cada proposta de plano, dirigida à Assembleia Municipal, aquando da sua aprovação. E, no final, no caso de, sobre as várias soluções, haver uma divergência profunda das entidades que se pronunciaram, designadamente dos munícipes, não sanáveis na altura da aprovação, a Câmara Municipal deve alterar as suas opções no projeto final do plano. As formas de participação no procedimento planificador devem ser adequadas a compensar o enorme poder discricionário da Administração planificadora e a conciliar os diferentes interesses envolvidos na planificação, que acabam por configurar, embora com limitações normativas, a programação contida em cada plano. A lei programa finalisticamente, quase sem possibilidade de condicionar o conteúdo concreto dos planos. Os fins ou objetivos, resultantes da lei de planificação ou de outras leis, são diretivas («richt punkten» da planificação), que referem os meios e os momentos adequados a atingi-los, mas sem poder tocar na natureza criadora da planificação, inconciliável com uma mera atividade executiva de normas legais. Mesmo que os interesses superiores levem o Estado a formular padrões urbanísticos, estes são limitações de mínimos à discricionariedade, que traduzem preocupações de equilíbrio, o que não impede que, designadamente por solicitação dos cidadãos, o planificador possa dar uma concretização mais exigente. O que importa reter é que o direito de participação, com a formulação de críticas, queixas, reclamações, observações e sugestões, obriga a Administração Pública a considerá-las, aceitando-as ou contraditando-as com razoabilidade e lógica, pois se exige que as decisões tenham uma fundamentação suficientemente pormenorizada, precisa, coerente, assim condicionando ou limitando as opções finais e permitindo o devido controlo público e jurisdicional. e)- Princípio da transparência Quanto ao direito à informação, hoje, vigoram em Portugal algumas componentes importantes da efetivação do princípio da transparência em relação à atividade administrativa, quer por imposições ativas à própria entidade pública, quer pela criação de um regime concretizador de direitos fundamentais, quer pelos diretamente interessados nas fases endoprocedimentais (acesso pelos interessados, contrainteressados e terceiros com interesse legítimo), quer pelos meros administrados em geral após as tomadas de decisão, mas por vezes também, embora em muitas matérias, que não a do planeamento, condicionadamente na fase endoprocedimental. Ou seja, este princípio aplica-se a esta matéria, mesmo na fase de preparação e elaboração do plano. Como estabelece a art.º49.º da LPSOTU, o procedimento de elaboração, alteração ou revisão dos programas e planos territoriais assegura aos particulares as garantias gerais que a lei lhes confere, nomeadamente, a informação e os meios de POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 247 participação pública efetiva”, e o “direito de apresentação de observações e sugestões à entidade responsável pela sua elaboração e de consulta do respetivo processo, o que a legislação sobre os Instrumentos de Gestão Territorial concretiza nos termos mais amplos. Com efeito, existe o livre acesso à informação administrativa sobre o planeamento, quer na fase do procedimento, quer após a sua aprovação e publicação, através de exame direto, de emissão de fotocópia e de certidão. Portanto, consagra-se um direito geral de acesso, em qualquer fase do procedimento. Neste aspeto, ultrapassando os atuais direitos instrumentais referentes aos interessados na fase endoprocedimental, assim amplificando o direito geral de acesso previsto na LADA e na Convenção Europeia sobre o acesso à informação oficial assinada sob a égide do Conselho da Europa, em princípio nas matérias em geral, restrito ao momento posterior às tomadas de decisão administrativa, sem prejuízo de regras mais abertas constantes da Lei de aceso à informação ambiental, tal como impõe a diretiva europeia e a Convenção de Aärhus. O legislador atribui carácter público a todos os instrumentos de gestão territorial e estipula os meios de acesso à informação ordenamental. As Câmaras Municipais, aliás, para além das declarações vinculativas sobre viabilidade loteadora e construtiva, no domínio do controle prévio das operações urbanísticas (pedido procedimentalizado de informação prévia, com deliberação formal válida por um ano ou mesmo depois enquanto não ocorrerem alterações normativas supervenientes), deveriam, em face de pedido de informação concreta de qualquer interessado que pretendesse efetivar uma intervenção no solo, ter de emitir uma informação escrita sobre o possível aproveitamento do solo, a qual fizesse menção expressa dos instrumentos de gestão territorial cujo teor fundamente a resposta, assim como uma informação completa e atualizada relativamente à disciplina de ordenamento do território aplicável à área em causa. C)- Ampla margem de conformação administrativa e suas limitações a)- Princípio da discricionariedade de planificação Sobre a discricionariedade planificadora, imporá referir que a discricionariedade do conteúdo do plano32 é limitada em geral por princípios constitucionais da atividade administrativa e também por normas legais que se referem a alguns planos e mesmo a alguns tipos de imóveis que ficam sujeitos a um regime jurídico particular. São limitações de preservação, de índole real (impostas em face das características das próprias coisas imóveis; como acontece com os solos da reserva agrícola nacional: interdição de ações, em especial operações urbanísticas, que ponham em causa a sua 32 Vide, sobre um certo entendimento coordenador do conceito, PONCE SOLÉ, J. –Discrecionalidad urbanística y autonomía municipal. Madrid, 1996, especialmente Pp.59 e 109 e ss. 248 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO utilização para a agricultura; ou em áreas da reserva ecológica nacional: interdição de edificação, aterros, escavações, destruição do coberto vegetal e da vida animal e de construção de vias de comunicação e outros acessos; em áreas incluídas em parques e reservas naturais e em áreas de paisagem protegida condicionamento rigoroso de obras de modificação ou transformação; servidões non aedificandi junto de estradas e terrenos adjacentes a vias ferroviárias,33 em geral restrições referentes ao regime de bens do domínio público34) ou funcional (tendo que ver com o destino que os bens por razões de interesse público recebem por determinação legal).35 A atividade de planificação territorial, de natureza provisional, assente na situação local e em juízos de prognose, exige o exercício daquilo a que a doutrina tem chamado “discricionariedade de planeamento”. Esta assume especial relevo no domínio da conformação do conteúdo do plano, ou seja, das opções a adotar no domínio do regime de ocupação, uso e transformação dos solos, desde logo na determinação dos destinos funcionais das diferentes parcelas do território, através da técnica do zonamento. Tudo dentro dos princípios básicos da política ordenamental, e sobretudo do macroprincípio da preservação e defesa dos solos com aptidão natural ou aproveitados para atividades agrícolas, pecuárias ou florestais (restringindo-se a sua afetação a outras utilizações aos casos em que tal for comprovadamente necessário), do princípio do estabelecimento do regime de uso dos solos de modo que a sua qualificação regule, com respeito pela sua classificação básica, o aproveitamento dos terrenos em função da atividade dominante que neles possa ser efetuada ou desenvolvida, do princípio da salvaguarda dos valores naturais essenciais, integrando as edificações na paisagem, preservando os recursos hídricos, as zonas ribeirinhas, a orla costeira, as florestas e outros locais com interesse particular para a conservação da natureza, e as paisagens resultantes da atuação humana (caracterizadas pela diversidade, pela harmonia e pelos sistemas socioculturais que suportam) e do princípio da adequação dos níveis de densificação urbana (impedindo a degradação da qualidade de vida, bem como o desequilíbrio da organização económica e social), do princípio da rentabilização das infraestruturas (evitando a extensão desnecessária das redes e dos perímetros urbanos e racionalizando o aproveitamento das áreas intersticiais). De qualquer maneira, em relação à chamada “discricionariedade de planificação”, importa referir que os poderes de planificação são atribuídos com liberdade criadora, que traduz uma forma de atuação específica em face da discricionariedade administrativa tradicional (na medida em que se entenda que esta é a faculdade resultante da 33 34 35 Decreto-Lei n.º276/2003, de 4 de novembro de 2003: Diário da República n.º255, de 4.11.2003. Vide MONIZ, Ana Raquel Gonçalves -O Domínio Público: O Critério e o Regime Jurídico da Dominialidade. Coimbra: Almedina, 2005. Em geral, CONDESSO, F. –“As restrições urbanísticas”. In Direito do urbanismo. Lisboa: Quid Juris?, 1999, Pp.353468; “Restrições administrativas”. In Direito do ambiente.Pp.12261272. POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 249 lei) de, dentro de certos pressupostos, a Administração poder escolher entre várias soluções, consideradas igualmente justas, corretas. No entanto, a liberdade de decisão no domínio da planificação releva da natureza programática das suas normas, orientadas para situações futuras. Trata-se de uma liberdade para criar normas e executá-las ao longo do tempo, implicando a ponderação e a prognose. A decisão planificadora, entrando na política da Administração, pauta-se essencialmente por critérios jurídicos, resultando, aliás, em geral do preenchimento de conceitos jurídicos indeterminados, e nessa medida vinculada, embora não passível de total controlo jurisdicional, integral, dado que assenta essencialmente nessa ponderação de interesses e na prognose. O tribunal fica limitado no seu controlo devido à liberdade de inovação existente nas mãos da Administração. Ou seja, o controlo jurisdicional não sofre limitações no preenchimento dos conceitos imprecisos, dos trâmites processuais, da forma e da fundamentação, do tratamento das informações e da fundamentação da ponderação. Mas, fora destes domínios, fica limitado aos seus contornos externos: existiu ou não uma ponderação de interesses? O tribunal poderá saber se todos os interesses a integrar na ponderação foram ou não tomados em consideração, se o princípio da proporcionalidade foi ou não violado num exercício em que os vários interesses deviam ser objeto de adequada ponderação, se os diferentes interesses foram ponderados com o devido significado. Isto é, no fundo, o tribunal limita-se a verificar a exatidão dos dados objetivos (desde logo, o material a ser ponderado), e a coerência da fundamentação aduzida, tendo presente os padrões gerais de atuação e com “uma representável apreciação de prognoses”. Embora seja uma margem de liberdade limitada. Limitada mesmo pelo princípio da sujeição às diretivas gerais e setoriais de planeamento e pelos padrões urbanísticos (critérios materiais de planeamento, impostos por normas jurídicas; limites antepostos à planificação e gestão, de garantia mínima inderrogável de certas soluções, fixando a proporção de espaços públicos e equipamentos coletivos, limite máximo de densidades urbanas, etc.). E pelas diretivas sectoriais e gerais do planeamento, entre as quais a que obriga à justa ponderação dos interesses públicos e privados dignos de relevo. Mas a discricionariedade está limitada também em geral pelos princípios do planeamento urbanístico. E desde logo pelos importantes princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade em sentido amplo ou princípio da proibição de excesso (que engloba os princípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito), o princípio da igualdade,36 o da justiça e o da imparcialidade. Portanto, a planificação dos aglomerados urbanos do território é naturalmente uma atividade “discricionária”, embora sempre norteada pelo interesse urbanístico, que é o desenvolvimento racional (isto é, mais correto e adequado) da urbe ou em geral do território abrangido. E juridicamente obrigada ao respeito de 36 Vide JOUANJAN, Olivier –Le principe d’égalité devant la loi en droit allemand. Paris, 1992. 250 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO certos princípios fundamentais da atividade administrativa. Em geral, quanto às limitações; umas impõem-se à priori e outras, durante o procedimento. As limitações à priori são de ordem material, derivadas da obrigação de integrar as orientações resultantes de interesses públicos com assento legal, que funcionam como diretrizes condicionadoras, não são interesses públicos a ponderar pela Administração planificante, mas valorados como uma primeira prioridade. Trata-se de interesses enquadradores do plano, estruturantes do plano, e não a estruturar pelo plano. São interesses dirigentes do plano e não dirigidos pelo plano. E portanto constitutivos do plano e não apenas recolhidos e selecionados, privilegiados, ou preteridos e que portanto poderão ser esquecidos pelo plano. As limitações setoriais são derivadas de normas de proteção específica dos solos, ou de regimes jurídicos próprios para certos tipos de bens imóveis, obrigando a compatibilizar com eles os planos. Estas limitações resultam das características e qualidades dos solos ou do destino que as normas lhes atribuem. Ou seja, resultam dos atributos dos imóveis e das atribuições dadas aos imóveis. E logicamente visam a manutenção deles como estão, na medida em que a modificação da sua estrutura ou da sua função iria contra interesses públicos específicos que a legislação específica visa salvaguardar. Em causa está o princípio da preservação de bens de interesse público nacional, que deve prevalecer sobre o interesse do desenvolvimento urbanístico e portanto não admite derrogações urbanísticas. Em regra, é definido pelo legislador estadual, pelo Direito Comunitário Europeu ou pelo Direito Internacional Público, sem admitir juízos de comparação com outros interesses públicos ou privados, que irão ser medidos apenas no procedimento, ao ficar sujeitos ao jogo de avaliação, que apenas exige que sejam tomados no seu devido significado, porque assumem uma relevância relativa ou necessariamente relativizada pela natureza ôntica do ordenamento territorial. São um limite absoluto à atividade planificadora. Temos aqui o regime dos solos incluídos na RAN, REN, terrenos florestais incendiados, terrenos da faixa costeira, de áreas protegidas e de albufeiras públicas. E há limitações de ordem procedimental com influência na conformação do conteúdo do plano, visando o levantamento e o arrolamento dos interesses implicados, a audição dos particulares e de entidades públicas sectoriais sobre eles, a consensualização de posições destas, a ponderação e a priorização dos interesses relevantes a considerar para viabilizar o plano e a motivação das soluções adotadas e das rejeitadas quando explicitadas pelos diferentes implicados. Tudo isto exige a aplicação não só dos princípios constitucionais referentes à atividade administrativa já referidos, como dos princípios da cooperação entre Administrações, da participação dos particulares, da harmonização dos planos, vertical (com- POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 251 patibilização ou conformação) e horizontal (articulação) e da justa ponderação dos interesses. b)-Sobre a aplicação especial ao planeamento dos princípios da igualdade e da interdição de excesso α)- Aplicação do princípio da igualdade No que concerne ao da igualdade, este princípio exige que a desigualdade natural à natureza discriminatória do planeamento não traduza uma desigualdade de tratamento. Ou seja, implica que haja uma repartição dos benefícios e encargos decorrentes do plano, através de adequadas técnicas perequativas a favor dos proprietários dos terrenos abrangidos pelo plano e suas medidas expropriativas. Este princípio da atividade administrativa resulta de um imperativo constitucional, expresso no n.º 1 do art.º 13.º e n.º 2 do art.º 266.º da lei fundamental. A CRP impõe o respeito pela Administração Urbanística da igualdade de tratamento dos vários proprietários. Acontece que a planificação territorial concretiza, em termos diferentes, os usos futuros do solo. E portanto, o plano urbanístico é por natureza revelador da realização de oportunidades desiguais entre os proprietários dos terrenos abrangidos, dado que ele cria, prescreve, diferentes tipos e níveis de intensidade na utilização das parcelas sujeitas a planificação. Isto significa que o princípio da igualdade exige a reconstrução a nível extraterritorial desse tratamento igual. Para além das situações em que a igualdade não possa ser efetivada por si, com afetações niveladas pelas intervenções que mais favorecem os proprietários locais, há princípios da aproximação igualizadora a respeitar: o princípio da racionalidade do plano, o princípio da compensação dos sacrifícios especiais e o princípio da correção da desigualdade de destinos dos terrenos. Em face do princípio da igualdade de tratamento dos cidadãos por parte da Administração Urbanística, impõe-se a criação de técnicas corretoras dos efeitos discriminatórios da planificação territorial. O princípio da racionalidade ou da igualdade imanente ao plano exige sempre, desde logo, que o plano, para diferenciar o tratamento dos destinatários, tenha de fazê-lo com disposições objetivamente fundadas na razoabilidade das coisas em função dos objetivos impostos. O princípio da compensação ou da igualdade em face dos encargos públicos implica que as disposições do plano respeitem a igualdade perante os encargos, o que em si transcende a dinâmica do plano, mas equilibra as medidas expropriativas geradas por ele, ao repor ou restabelecer no plano jurídico a igualdade entre todos, pela indemnização dos especialmente sacrificados no contexto dos tocados pelas soluções do plano. O princípio da correção da desigualdade de oportunidades implica uma igualização de tratamento no domínio das oportunidades urbanísticas, em face das medidas que definem 252 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO formas e intensidades de utilização das diferentes parcelas de solo. Dado que não conferem direito a indemnização, implicam técnicas perequativas adjacentes ao plano, corretora das desigualdades resultantes do plano para os vários proprietários. Quanto às técnicas realizadoras da igualdade da planificação em face das medidas não expropriavas, existem várias soluções: a socialização do solo urbanizável; a desprivatização do ius aedificandi,37 separando a dominialidade sobre o solo da referente ao espaço aéreo supra-ordenado; a associação da Administração Pública e dos proprietários (abrangidos por uma zona, plano ou por todos os planos); a tributação das mais-valias dos proprietários beneficiados, com identificação dos sacrificados e a criação de um plafond legal de densidade de edificação (publicização do espaço supra-telúrico, para além de um certo volume de construção). Estas várias soluções agrupam-se em dois tipos de técnicas, de diferente densificação igualizadora. Há técnicas que visam realizar a igualdade de tratamento em termos territoriais supra-plano, ou seja, não dentro do mesmo plano, mas dentro de todos os planos urbanísticos: a publicização dos solos urbanizáveis, dos espaços de edificação (ius aedificandi ou para além do Plafond Legal de Construção) e da totalidade das mais-valias geradas pela urbanização. Há outras técnicas que se contentam com a igualdade dos vizinhos sujeitos a uma dada planificação, os integrados no mesmo plano ou até só na mesma zona de um plano: técnicas de transparência de coeficientes de ocupação do solo, do aproveitamento médio e as de perequação através da constituição de associações de execução dos planos, englobando a Administração e os proprietários implicados pelo plano. Este objetivo da igualização restrita é, de qualquer modo, mais eficaz, ou porque permite critérios de comparação entre os diferentes proprietários, ou porque dispensa critérios, ao emparcelar, dividir custos e dividir em termos proporcionais os diferentes lotes. De qualquer modo, nenhuma técnica é eficaz sozinha, exigindo-se, em termos de igualdade geral, o recurso a várias técnicas, que os municípios, dado que não ofendem princípios fundamentais do direito dos solos e do direito de propriedade, podem e devem consagrar nos planos, no cumprimento da obrigação, dirigida a toda a Administração Pública, de realizar o princípio da igualdade consagrado na CRP, em termos de norma de aplicabilidade direta. O princípio da igualdade pode ser referido como “perequação compensatória”, a qual visa realmente trazer equidade ao planeamento, em face da sua natureza fisicamente discriminatória. O anteprojeto de lei que veio regular a matéria exigia apenas uma “justa repartição” dos encargos e benefícios decorrentes da aplicação dos instrumentos de gestão territorial. A referência inicial ao tema, no referido anteprojeto 37 Sobre o planeamento, constituição do ius aedificandi e direitos adquiridos, vide CONDESSO, F. –Direito do Urbanismo: (…).com CATARINA CONDESSO. Lisboa: Quid Juris, 1999, Pp.60-67; Soriano, José Eugenio – Hacia la tercera desamortización (por la reforma de la Leyndel Suelo). Madrid, 1995. POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 253 governamental, considerava que os IGT vinculativos dos particulares “poderiam” (em vez do atual “devem”) prever um mecanismo equitativo de perequação compensatória das vantagens e inconvenientes para os particulares. Com a designação dada à exigência da não discriminação no tratamento, em face da desigual oportunidade para os proprietários, implicada pelos planos, parecia pretender-se uma releitura soft do princípio constitucional da igualdade, realizador de uma fórmula restrita do mesmo. Os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares devem prever mecanismos equitativos de perequação compensatória, destinados a assegurar a redistribuição entre os interessados dos encargos e benefícios deles resultantes, nos termos a estabelecer na lei, existindo o dever de indemnizar sempre que os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares determinem restrições significativas, de efeitos equivalentes à expropriação, a direitos de uso do solo preexistentes e juridicamente consolidados (que não possam ser compensados pelas técnicas de perequação), em prazo e condições de exercício definidos no RJIGT. Acrescente-se que, agora já numa linha do princípio da responsabilidade civil extracontratual da Administração territorial, entre outras normas que preveem compensações, a nova LBPSOTU vem manter que são indemnizáveis quaisquer sacrifícios impostos aos proprietários do solo que tenham efeito equivalente a uma expropriação, além de dispor, naturalmente que o sacrifício de direitos preexistentes e juridicamente consolidados só pode ter lugar nos casos expressamente previstos na lei ou nos planos territoriais aplicáveis e mediante o pagamento de compensação ou indemnização. Acrescentando que esta compensação ou indemnização é prevista, obrigatoriamente e de forma expressa, no plano territorial de âmbito intermunicipal ou municipal que fundamenta a imposição do sacrifício, nomeadamente através da definição de mecanismos de perequação deles resultantes (art.º17.º). β)- Sobre o princípio da interdição de excesso O princípio da proporcionalidade, na sua proibição de excesso, proíbe que as medidas do plano estabeleçam restrições ou interditem realizações transformadoras nos imóveis, que não se apresentem como idóneas, necessárias, adequadas. E elas não são necessárias se se pode prosseguir o mesmo fim com outros meios menos sacrificadores dos particulares. Não são adequadas se não forem idóneas para o efeito pretendido. Nem são proporcionadas se os custos ou inconvenientes daí resultantes são notoriamente excessivos em comparação com o fim público a prosseguir. c)- Princípio da prevalência dos planos supra-ordenados sobre os Planos Municipais de Ordenamento do Território Este princípio implica uma dada hierarquia. Esta, hoje, ainda sofre o ataque do princípio da contracorrente planificadora. Mas impõe em geral ou a não incompatibili- 254 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO dade38 ou mesmo a conformidade entre planos, com os devidos sancionamentos jurídicos das infrações, a invalidação com nulidade da norma infra-ordenada antinómica e mesmo o contraordenacional, consequência do facto do princípio da hierarquia implicar a imposição da prevalência dos planos supra-ordenados. Este princípio aplica-se em geral entre planos em relação de escalões descendentes na carta territorial e dos poderes orgânico-administrativos implicados, desde a Lei do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território até à base territorial. Assim, os planos regionais e os planos especiais impõem-se aos planos municipais. Entre estes a relação de conformação é clara: PDM, PU e PP. Nesta relação entram também os planos sectoriais, desde que tenham incidência territorial, como resulta naturalmente do RJIGT. Sobre este sistema, importa ter presente que o princípio da legalidade-tipicidade da Administração implica necessariamente que só possam ser considerados planos de ordenamento do território os planos expressamente previstos em lei e que, consequentemente, quaisquer outros planos devem ser entendidos como documentos de trabalho programáticos ou estratégicos, vinculando as administrações públicas, mas sem eficácia e carácter normativo externo para os proprietários. No entanto, este princípio convive com a possibilidade embora excecional da ratificação governamental de normas autárquicas nulas. Em geral, é de diferente natureza a vinculatividade derivada dos diferentes tipos de planos. Em geral, a LBPSOTU não toca na diferenciação e respetiva localização tipológica no que concerne ao conceito de plano apenas vinculativo para a Administração pública (na lógica do princípio da hierarquia e sanção de nulidade) e os planos também vinculativos dos particulares (que permitem a sua invocação direta pela administração urbanística para interditar ou condicionar o desenvolvimento urbanístico e em geral qualquer operação urbanística e a que, aliás, as próprias entidades públicas estão sujeitas, mesmo que dispensadas dos mecanismos camarários de controlo prévio). Neste campo, a grande inovação opera-se no plano da vinculação, não positiva, mas negativa aos planos de aplicabilidade indireta. Com efeito, em termos de vinculação (art.º46.º da LBPSOTU), não só se mantém a dualidade de planos, uns que apenas se impõem ao planeamento infra territorial, e outros que se aplicam diretamente aos particulares, como se resolve o problema da inação reconfiguradora destes planos quando não transcrevam aquelas orientações. Com efeito, os planos territoriais de âmbito municipal, e agora também os intermunicipais e as normas legais ou regulamentares em matéria de recursos florestais, “vinculam as entidades públicas e ainda, direta e imediatamente, os particulares”. Mas, os primeiros, que vinculam apenas as entidades públicas, que prossigam objetivos de interesse nacional ou regional, cujo conteúdo, em função da sua incidência territorial urbanística, devam ser vertidos em plano diretor intermunicipal ou municipal e em outros planos territoriais, no caso 38 COUTET, William -“La notion de compatibilité dans le droit de l’Urbanisme”. In AJDA, 1976 (6), Pp.291 e ss. POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 255 de a respetiva associação de municípios ou o município não ter procedido à atualização, no prazo aí estabelecido para isso, implica a suspensão das normas do plano territorial intermunicipal ou municipal que deveriam ter sido alteradas, “não podendo, na área abrangida, haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a alteração do uso do solo, enquanto durar a suspensão”. Ocorre, ainda, que, no domínio da elaboração e aprovação dos planos, se constata a vigência de um princípio da pluralidade de intervenção de poderes políticos e administrativos. Depende do âmbito territorial de competências a exercer, com exceção do âmbito regional, na ausência de regiões autárquicas, pouco ocupado por municípios associados e em geral coberto pela Administração estatal. Tradicionalmente, não sem alguma polémica sobre a sua inconstitucionalidade, existia generalizadamente a figura da ratificação governamental dos planos aprovados pelas assembleias municipais, até que este instituto foi evoluindo para um princípio da excecionalidade da ratificação governamental dos planos da autoria das autarquias. Ela podia ser total ou parcial, de acordo com a conformidade das suas disposições com as normas e os instrumentos vigentes e eficazes. Mas era sempre uma legalização pela via estatal de uma regulamentação que, sem ela, seria nula. Portanto, visando fazer respeitar a lei e o princípio da hierarquia dos planos, permitia que o poder estatal afrontasse este princípio, em aplicação, primeiro distorcida e mais tarde coerente (derrogação automática da norma supra-ordenadora e obrigação de substituição da mesma), do princípio da contracorrente. Cuja admissibilidade marcava, portanto, a vigência, não de uma hierarquia de planos, mas realmente de uma hierarquia de poderes, com domínio final do poder estadual. Após a aprovação do programa nacional da política de ordenamento do território e dos novos planos regionais de ordenamento do território, a ratificação de planos municipais pelo Governo passou a só ter lugar nos casos em que fosse suscitada, no âmbito do procedimento de elaboração e aprovação dos planos, a desconformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes ou com instrumentos de gestão territorial eficazes. E a não revisão normal dos PDM, após 10 anos de vigência, obrigava à ratificação dos PU e PP, que se elaborassem após aquele período. Entretanto, tornou-se um instituto excecional. Atualmente, nos termos da LBPSOTU, reafirma-se que a ratificação pelo Governo do plano diretor intermunicipal ou do plano diretor municipal, que pode ser total ou parcial (aproveitando apenas a parte objeto de ratificação) é excecional. Só pode ocorrer nas situações em que, no âmbito do respetivo procedimento de elaboração e aprovação, seja “suscitada pela associação de municípios ou pelo município a sua incompatibilidade com programa especial, regional ou sectorial”. Ou pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. A acontecer, essa ratificação tem como efeito a revogação ou alteração das normas incompatíveis do programa regional, sectorial ou especial (art.º51.º), a substituir. 256 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO d)-Princípio da integração de todas as regras sobre o uso do solo Este princípio da integração das regras sobre a utilização do espaço deriva do facto de um correto ordenamento do território só ser possível através da existência e preservação de todas as normas que o implicam, designadamente da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, das áreas naturais protegidas, do património classificado, da disciplina da faixa costeira, da planificação do sector florestal, dos terrenos baldios, etc. Cada uma visando acautelar interesses públicos específicos de valor prevalecente, que se impõem à partida. Com todos os outros a serem ponderados, e conjugados, e por isso passíveis de derrogação parcial (v.g. recuo da zona agrícola para permitir a expansão urbana, construções de carácter excecional nos baldios, etc.), recebendo um enquadramento aglutinador capaz de estabelecer o necessário equilíbrio, em termos de um ordenamento integrado do território. Esta integração de todas as regras de disciplina do território implica a alteração dos planos quando os regimes específicos de utilização do solo sofram alterações derivadas das suas dinâmicas, autónomas do planeamento, implicando a execução de uma política integrada de ordenamento do território, assegurando um desenvolvimento económico e social sustentável, com a definição dos princípios e regras de ocupação, uso e transformação do solo e de utilização de áreas protegidas, a compatibilização com a proteção e valorização dos recursos naturais, das áreas agrícolas e florestais e do património natural e construído e com a previsão de zonas destinadas ao recreio e lazer, a aplicação das disposições legais e regulamentares vigentes e dos princípios legais de ordenamento do território, a salvaguarda e valorização do património natural e construído e a articulação com planos, programas e projetos de âmbito nacional, municipal ou supramunicipal. As restrições de utilidade pública, com caráter permanente e expressão territorial, suscetíveis de impedir ou condicionar o aproveitamento do solo, são obrigatoriamente transcritas nos planos territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal. e)-Sobre a imposição de padrões urbanísticos Os padrões urbanísticos funcionam como limites à liberdade de intervenção da Administração urbanística, antepostos à discricionariedade planificadora e à gestão do território. A sua teorização resulta da criação de regras que consagram soluções que impõem limites de garantia mínima na elaboração planificadora. Numa linha geral de evolução da legislação do pós-guerra, que tem tendido, crescentemente, à imposição de limites e vínculos, de vária ordem, impostos à atividade administrativa, antepostos à planificação e à gestão urbanística. Em geral, podemos constatar a existência normativa de limites, quer para condicionar ex-lege o conteúdo dos planos físicos, aquando da sua formação (que designaria por padrões de aplicação mediata POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 257 ou padrões para transposição). São normas que exigem o método da concretização, isto é, de “transcrição” do conteúdo da norma extra-planificante para a do plano. Em obediência a exigências ordenamentais mínimas, a integrar no regulamento dos planos. E, portanto, de aplicabilidade diferida, porque obrigam o planificador, e só por via dele vinculam os particulares. E há também normas dirigidas a estes, ou seja, à atividade de construção, na fase do seu concreto desenvolvimento (padrões de aplicação direta), independentemente da existência do plano ou na omissão dispositiva deste, nas situações de normas supletivas. Assim, há normas de operatividade direta, que se impõem à Administração e aos particulares, na ausência de planos. Com elas, a lei pretende evitar o comprometimento negativo do ordenamento do território. E, por isso, ela visa sujeitar posteriormente a atividade de construção a um regime particularmente limitativo, com interdição de lotear, urbanizar e edificar, antes da aprovação de instrumentos de urbanização geral. São normas interditadoras, próprias da atividade circunscritiva dos poderes públicos. Intentam, por vezes, limitar a atividade de edificação na ausência de instrumentos urbanísticos fundamentais. Em geral, o direito de intervenção nos solos conta com normas de aplicação direta, impostas, com ou sem plano. Há limites ex-lege, v.g., reservas de solo junto ao mar, distâncias mínimas de proteção estradal fora do aglomerado urbano, normas de proteção do ambiente que imponham restrições para a manutenção de certo habitat, de proteção da zona costeira, de centros históricos, interdição de construções de qualquer tipo em zonas de incêndios de florestas, etc. No entanto, há algumas normas que, mais do que impedir o atuar dos particulares, interditam o atuar de um certo modo, para garantir a configuração e utilização das coisas face a objetivos funcionais pré-fixados. Impõem um dado atuar, ou seja, enunciam exigências padronizadas ao desenvolvimento urbanístico, a integrar em todas as situações previstas no quadro de referência indicado. Aqui temos um tipo de “normas-padrão”, no sentido de padrões urbanísticos de aplicabilidade direta. Basta que tal seja a intenção da norma jurídica e a sua configuração técnica permita essa aplicação imediata, sem a intermediação regulamentar do plano. Ou seja, que tenha carácter impositivo a uma dada realidade urbanística concreta, pela sua pormenorização, incondicionalidade e precisão (sem o que a sua invocação para indeferir qualquer projeto introduziria insegurança jurídica e arbitrariedade, que chocariam com a realização do direito de propriedade, com as faculdades edificatórias já definidas). Aqui cabem todas aquelas normas extra-planificantes com indicação de limites variados de volume, altura, etc., em conformidade com a tipologia das zonas em que se pretende construir (centro histórico, centro habitado ou restante parte do território) e em relação com as funções da própria construção (residencial, comercial ou industrial). 258 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO Portanto, em conclusão sobre o tema, à teoria do planeamento interessam os padrões de planeamento. Há padrões urbanísticos (a final, dirigidos aos particulares, de aplicação derivada do plano), contidos em normas extra-planificantes de operatividade diferida (só são aplicáveis aos particulares depois da aprovação do plano). Ou seja, normas com padrões a inserir nos instrumentos planificadores. Elas funcionam como limite importante à discricionariedade da planificação. São padrões de fixação de limites mínimos, a ser concretizados (e que podem ser elevados) em sede de formação do plano, correspondendo a exigências de interesse público, em face dos dados factuais justificativos de um maior sacrifício da posição do proprietário. Os parâmetros concretizadores destes padrões dependem, por vezes, da individualização de zonas territoriais homogéneas. Prevendo, para cada uma, padrões adequados para cada tipo de zonas ou da simples situação de expansão urbana, prevendo uma dada proporção de equipamentos comunitários ou estabelecimentos de serviços e comércio na inserção urbana (nos ordenamentos jurídicos em que tal ocorre, articulando o planeamento comercial de natureza económica com o urbanismo comercial). A sua função é de ordenação de interesses e poderes administrativos diferentes. A fixação ou modificação dos “padrões urbanísticos” configuram modos de explorar funções de orientação e coordenação da atividade administrativa local e regional, atribuídas ao Estado. Mesmo podendo as regiões definir padrões urbanísticos, o Estado fica com a possibilidade de impor padrões mínimos, que, neste caso, se impõem não só ao planificador municipal como ao legislador padronizador regional. Os padrões de planeamento urbanístico são critérios materiais de planeamento e edificação impostos por normas jurídicas. Quando existem num dado ordenamento jurídico, a ordenação concreta pelo planificador fica limitada nas suas escolhas, diferentemente do que ocorre quando o poder legislativo e regulamentar se limita a remeter para o plano a livre ordenação territorial. Em geral, visam garantir um melhor equilíbrio entre o homem e o ambiente, para assegurar a conservação e o aproveitamento da paisagem urbana tradicional. Há a imposição de um mínimo inderrogável, porque o conteúdo do plano tem obrigatoriamente de se conformar com ele, em nome da qualidade de vida no meio urbano, que pode chegar à préfixação do limite máximo de densidade urbana, em termos de edificações ou de residentes, e pode passar também pela fixação de uma proporção de espaços públicos e equipamentos coletivos, como instalações desportivas, áreas de estacionamento, espaços verdes, etc. Em geral, com especial interesse, estão os parâmetros do dimensionamento das parcelas que, em loteamentos futuros, deverão ser destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e de equipamentos de utilização coletiva. Neste caso, eles dirigem-se aos urbanizadores e loteadores, promotores urbanísticos e proprietários. Isto é, não se aplicam diretamente ao licenciamento da construção, mas à formulação do loteamento intermediador da atividade construtiva. Só se aplicam diferidamente, na concretização do conteúdo deste tipo de planos de pormenor, de iniciativa particular, que são os loteamentos. Pela abordagem planificadora, são realmente padrões de aplicabilidade diferida em relação à POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 259 atividade construtiva. Mas na perspetiva da vinculatividade para os particulares, eles impõem-se na ausência de plano ou na falta de disposições divergentes inseridas em plano de iniciativa pública. Mas também os padrões de equipamentos desportivos comunitários aparecem a pretender a sua aplicação aos loteamentos, com a diferença que os planos públicos que se elaborem anteriormente não podem desconhecer as suas imposições, pois não são de aplicação supletiva, isto é, na falta de ordenamento com disciplina distinta, porquanto o ordenamento, a existir, tem que os respeitar. Poderíamos considerar os padrões que se dirigem aos loteamentos como exemplo de estatuição de padrões de aplicação diferida, de planeamento (embora nalguns casos, de aplicação apenas a título supletivo, isto é, na ausência de normas nos planos de iniciativa pública sobre a matéria, os PMOT), que se impõem aos particulares (licenciamento loteador)? Deve caber ao Estado, numa lógica de igualdade de exigências, regulamentar os critérios gerais e parâmetros do dimensionamento das parcelas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos de utilização coletiva. Estes não visam a sua aplicação à construção, por isso não seriam «padrões de aplicação direta», apesar de vincularem os particulares loteadores e a Administração licenciadora dos lotes. O loteamento é uma atividade de planeamento, embora de iniciativa particular. Por isso, as limitações ao loteamento são padrões dirigidos a uma planificação e não ao desenvolvimento construtivo. Aliás, os limites diretos à construção, mais do que padrões urbanísticos, ao imporem certas soluções proíbem outras, ou seja, são interdições construtivas, o que significa que os verdadeiros padrões seriam apenas as exigências ordenadoras dirigidas aos conteúdos dos planos urbanísticos. Mas qual o interesse da fronteira definidora dos tipos de padrões? Será que a atividade destinatária decide tudo neste campo, sendo irrelevante a sua força obrigatória ou não para o planeamento de iniciativa pública? Isto é, que se imponham sempre à Administração que planifique e não só à atividade loteadora, quando não há planeamento público? Ou que apenas se imponha à atividade loteadora, se não houver plano que, sem vinculação às suas regras, imponha uma dada disciplina? Qual a operatividade jurídica, a vinculatividade decisiva a referenciar no plano classificativo? Se se reporta mais ao ângulo da aplicação direta ou não, das normas que os contêm, aos particulares, independentemente de serem loteadores ou construtores, e não tanto da sua aplicação direta ou não à construção, isto é, se o interesse do conceito o faz inserir em geral no desenvolvimento urbanístico, e não apenas no domínio de licenciamento de obras particulares, há que considerar que devem ser tidos como padrões de aplicabilidade direta, embora de natureza supletiva (se a Administração urbanística nada disser de diferente nos planos da sua autoria). Em boa verdade, seriam padrões que apenas se dirigem ao loteamento, ou seja, padrões de loteamento, que podem não o ser, e nessa medida não funcionando como garantia de mínimos, porquanto o poder planificador municipal pode assumir outros valores e o poder ratificativo do governo (permitindo bloquear a eficácia do plano, mas não substituir as soluções propostas) não é suficiente para acautelar em geral o respeito pelos parâmetros que a Administração estadual considerar de seguir no interesse público para os aglomerados urbanos do país em geral. Mas o interesse 260 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO do conceito coloca-o no âmbito da limitação à discricionariedade do planeamento. Assim, será de considerar de aplicabilidade diferida em termos do desenvolvimento construtivo, todo o padrão que se coloque a qualquer tipo de planeamento, mesmo que apenas seja aplicável ao plano de iniciativa particular (cuja responsabilidade última é da Administração, que o aprova ou não), na ausência de normas diferentes sobre a matéria, em plano supra-ordenado de iniciativa pública? A falta de equipamentos coletivos tem sido responsável pela proliferação de cidades dormitórios, em que o espaço de recreação e de desporto praticamente se confina aos caminhos de peões, completados por pequenas zonas tratadas especialmente para crianças, o que tornava indispensável preencher esta lacuna normativa. Importa, pois, estabelecer um conjunto de regras destinadas a uniformizar os tipos de equipamentos coletivos a consagrar nos vários instrumentos de planeamento. Deve imporse a obrigação de, nos instrumentos de planeamento, serem previstos equipamentos convenientemente integrados na estrutura urbana, com vista à sua adequada utilização pela população interessada. Exigir-se que, nos estudos de expansão urbana dos aglomerados existentes, sejam tomadas em consideração as eventuais insuficiências desses equipamentos. Os equipamentos coletivos devem ser previstos quer nos PMOT quer nos loteamentos e urbanizações urbanos. A razão de ser da imposição destes parâmetros tem que ver, desde logo, com o objetivo de “reduzir a arbitrariedade e de balizar a discricionariedade, de salvaguardar a existência de espaços mínimos para a implantação de infra estruturas e de equipamentos, indispensáveis ao quotidiano da vida urbana, à criação, ao desenvolvimento e à manutenção de funções urbanas”. E também “acautelar níveis mínimos de desafogo, de conforto e de fruição aos cidadãos, pela criação de espaços verdes e de utilização coletiva”. Dada a sua importância teórica, e apesar da quase total cobertura do território nacional por PDM, também operativa, dada a sua aplicação no silêncio das normas destes planos, as normas sobre os padrões ou parâmetros urbanísticos merecem ainda mais algumas referências pormenorizadas. O dimensionamento das parcelas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos de utilização coletiva são os fixados em normas, tidos como valores mínimos a considerar, atendendo à tipologia de ocupação do espaço. Em termos de tipologia de ocupação, nos espaços habitacionais, temos os espaços verdes e os espaços de utilização coletiva: espaços livres, entendidos corno espaços exteriores que se prestam a uma utilização menos condicionada a comportamentos espontâneos e a uma estada descontraída por parte da população utente (LYNCH, 1990), que inclui, nomeadamente, jardins, equipamentos desportivos a céu aberto e praças. Devem ocupar uma dada área por cada porção definida de solo em área bruta de construção para habitação (superfície total da edificação, POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 261 medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores, incluindo varandas privativas, locais acessórios e espaços de circulação, mas não áreas em cave destinadas exclusivamente a estacionamento). Ou então uma certa área por fogo, no caso de moradias unifamiliares. Os equipamentos de utilização coletiva [edificações destinadas à prestação de serviços à coletividade (saúde, educação, assistência, social, segurança, proteção civil, etc.), à prestação de serviços de carácter económico (matadouros, feiras, etc.) e à prática, pela coletividade, de atividades culturais, de desporto e de recreio e lazer, etc.] devem ocupar uma área razoável de cerca de um quarto de área bruta de construção para habitação ou definida por fogo nas moradias unifamiliares. A rede viária e o estacionamento devem ter também exigências mínimas, por área bruta de construção para habitação, com dimensões diferentes conforme o lugar é à superfície ou em estrutura edificada [para o cálculo das áreas por lugar de estacionamento devendo considerar-se certos valores normais para os veículos ligeiros: v.g., 20 m2 por lugar à superfície e 25 m2 por lugar em estrutura edificada e os veículos pesados v.g., 75 m2 por lugar à superfície e 130 m2 por lugar em estrutura edificada]. Nos espaços para serviços e comércio (inserem-se nesta tipologia todos os casos em que a percentagem de área construída destinada a serviços e comércio exceda uma significativa percentagem do total da área construída), impõe-se cerca de um quarto por cada área bruta considerada, quer quanto a espaços verdes e de utilização coletiva, quer também quanto a equipamentos de utilização coletiva. Nos espaços industriais, o dimensionamento destes espaços obrigatórios pode reduzir-se face à área bruta de construção para a indústria. Nos espaços mistos, de habitação, comércio e serviços, devem aplicar-se as mesmas dimensões, de acordo com a áreadestino, a cada uma das áreas brutas para habitação ou comércio e serviços. Quanto a estacionamento em áreas não habitacionais ou mistas (além de se dever destinar uma percentagem da área de estacionamento a uso público, grátis ou não: cerca de um terço da área de estacionamento afeta a habitação e indústria; dois terços da área de estacionamento afeta a comércio e serviços), há que reservar espaços com dimensões significativas. Quanto às áreas de arruamentos (isto é, o espaço construído destinado à circulação de pessoas e viaturas, incluindo a faixa de rodagem e os passeios e com exceção de arruamentos em áreas urbanas consolidadas com alinhamentos definidos), nas várias zonas funcionais, deve impor-se o respeito de um dado perfil tipo total, face à dimensão da faixa de rodagem e também quanto à dimensão mínima dos passeios. Nesta linha de orientação, vigora, hoje, a Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março, que fixa os parâmetros para o dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos de utilização coletiva, tendo presente que o RJUE, na redação da Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, impôs que os projetos de loteamento tivessem de prever áreas destinadas à sua implantação, com parâmetros de dimensionamento a definir em plano municipal de 262 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO ordenamento do território, e cujos valores mínimos face aos tipos de ocupação do espaço constam dos quadros I e II anexos à portaria.39 Em suma, no poder planificador coexistem áreas de discricionariedade e áreas com soluções vinculadas pelo legislador, desde logo os padrões urbanísticos, porquanto os critérios materiais condicionam o poder discricionário de disposição sobre o plano. f)- Sobre a imparcialidade implicando a justa ponderação dos interesses relevantes envolvidos Trata-se de um princípio da prevenção (ponderação prévia de todas as intervenções com impacto relevante no território). O planeamento é afirmado (al.f) da nova Lei dos Solos), como visando a equidade, a justa repartição dos benefícios e dos encargos decorrentes da aplicação dos programas e planos territoriais e dos instrumentos de política de solos. No que se refere a este princípio da adequada ponderação dos interesses envolvidos (art.º39.º, LBPSolos), para além do levantamento geral, pesagem e seleção dos interesses públicos e particulares relevantes, implica que, na elaboração de novos instrumentos de gestão territorial, devam ser identificados e ponderados os planos, programas e projetos com incidência na área a que respeitam, já existentes ou em preparação, e asseguradas as necessárias compatibilizações. O princípio da ponderação é uma diretiva que se impõe ao planificador, pois ele não é livre de efetivar essa ponderação ou não. Mas a ponderação não impõe ex-ante os interesses a ponderar. Senão não seria uma ponderação, mas a concretização desses interesses. Estes não são interesses a preservar obrigatoriamente, mas a ponderar obrigatoriamente. Eles não são impostos. O que se impõe é que não sejam desconhecidos. Não esquecidos na planificação, mesmo que «esquecidos» no plano. A proteção dos interesses relevantes em presença faz-se através do processo de ponderação, que em si se impõe como uma das diretivas da planificação, não podendo haver plano sem a sua efetivação. A ponderação dos interesses é realizada dentro da planificação, enquanto as diretivas em geral orientam desde o início a planificação, limitando permanentemente esta atividade. Não se trata apenas de posições a obrigar à consideração do planificador, mas de posições já consideradas pelo legislador e que se impõem ao planificador. Neste sentido, o princípio da justa ponderação dos interesses envolvidos no plano é uma, embora apenas uma dentro várias, das diretivas da planificação. 39 Diário da República, 1.ª série, n.º 44,PP.1372-(3) e 1372-(4). POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 263 Este princípio da ponderação dos interesses em conflito assume uma primordial importância no planeamento, porque ele exige a apreciação e valoração, em termos proporcionais à sua importância relativa, de todos os interesses relevantes envolvidos no plano, sejam eles públicos ou privados. Ele impõe um levantamento de todos os interesses juridicamente protegidos (método tópico), a sua pesagem relativa (método da balança) e, a final, um juízo de primazia relacionadora ou hierarquizadora do conjunto, isto é, dos interesses inter-ponderados (método relacional). Ou seja, tem que haver uma ponderação, colocando em apreciação todos os interesses, que segundo a natureza das coisas, devam ser enquadrados, de molde a não se desconhecer o significado de todos os interesses atingidos pelo plano, para não haver qualquer desequilíbrio entre eles, por atribuição desproporcional de peso objetivo aos vários interesses em presença. Há aqui uma obrigação constitutiva, fundamental, de toda a planificação e que é de raiz constitucional, porque naturalmente exigida pela cláusula do Estado de direito (art.º 2.º, n.os 2 e 3 do art.º 3.º e art.º 266.º). É um princípio característico também da planificação estritamente urbanística, criando para os particulares um direito subjetivo a ver os seus interesses individuais juridicamente protegidos, em jogo no processo de ponderação num dado plano, ponderados com justiça relativamente aos outros interesses concorrentes, por muito relevantes que sejam. A garantia constitucional da propriedade não admite expropriações ilegais por parte da Administração, apenas se podendo expropriar para servir o interesse público, o que leva à exigência de um direito a um controlo jurisdicional da justa ponderação de interesses conflituantes. Há direitos subjetivos dos particulares imediata e mediatamente atingidos. O plano pode visar a expropriação direta, quando implica a transferência da propriedade. Mas pode também ter efeitos expropriativos materiais intensos, efeitos expropriativos mediatos sobre prédios vizinhos. A realização de certos planos pode ainda ter efeitos negativos consideráveis (o que exigirá uma compensação). Ou ter reflexos negativos na propriedade dos particulares40. Tudo isto impõe a ponderação dos interesses em jogo pelos efeitos ocasionados. Os titulares de prédios vizinhos de área em intervenção podem ser mediatamente atingidos, estando defendidos na medida em que haja normas que os protegem, v.g. do RGEU. Neste domínio dos interesses a ponderar, temos a segurança pública, a ordem pública, a proteção da natureza, da paisagem, da vizinhança, a segurança e fluidez do tráfego, a saúde das pessoas, a posse e a propriedade, etc. Em termos da ponderação dos interesses, a planificação tem três fases: reunião do material a sujeitar a ponderação (levantamento dos interesses a recolher), valorização-pesagem em si de cada um desses interesses (atribuição de relevo) e a sua pon40 CAUPERS, João –“Estado de Direito, Ordenamento do Território e Direito de Propriedade”. Revista Jurídica do urbanismo e do Ambiente. Coimbra: Almedina, n.º 3, 1995. 264 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO deração no conjunto (relativização). A que se segue a decisão de integração na solução do plano, em termos conjugados ou excludentes, isto é, a sua aceitação ou não. É através da participação dos particulares, quanto seja eficaz, e, de qualquer modo, de métodos prognósticos que se efetiva a investigação, a determinação dos interesses futuros a ponderar, recorrendo-se assim a juízos de plausibilidade, princípios da experiência na procura de padrões de probabilidade naturalmente muito inseguros. E quanto à medição relativa do valor dos interesses reunidos não há normalmente critério normativo definidor da sua priorização. Tem que se proceder, tendo presente os objetivos a alcançar e os princípios gerais da planificação, sem bitolas rígidas ou listagens fixas de valor universal. Não há, de antemão, interesses com primazia, nem se pode, de antemão, fazer uma ordenação objetiva dos interesses concorrentes. Apenas se pode, uma vez recolhidos os interesses relevantes, conformar aproximativamente critérios de ponderação orientadores para ajudar o planeador desde o início do processo de valorização relativa. Um interesse privado pode ter valor semelhante ou superior a um dado interesse público. Há interesses originariamente privados que, pelo seu alcance, podem acabar por dever assumir carácter de interesse público. O peso dos interesses só pode resultar de uma apreciação, caso a caso. E há vícios do planeamento, quer quando o resultado não aparece orientado pelo princípio da ponderação, como quando o processo de criação de um plano de urbanização padece ele mesmo de vícios evidentes de procedimento, que tenham influenciado os resultados da ponderação. Deve entender-se que há violação do princípio da ponderação justa dos interesses concorrentes quando a ponderação não existiu, não foram tomados em consideração interesses que o deveriam ser, seja desconhecido o valor e significado de cada interesse em apreciação, desde logo desprezando-se o valor-prioridade resultante de norma jurídica ou de princípios gerais reconhecidos, se constate uma hierarquização desequilibrada ou uma falta de relação objetiva desse peso relativo de cada interesse em presença. A questão da sua relevância para efeitos de apuramento da eventual invalidade do plano tem de efetivar-se face à resposta a dar à seguinte pergunta: caso o interesse não ponderado, o fosse, o resultado do plano poderia ser diferente? g)- Princípio da sujeição do conteúdo futuro dos instrumentos de planeamento à sua prévia avaliação O acompanhamento e a avaliação dos programas e planos territoriais devem ser periódicos e é com base em relatórios desta avaliação (Relatórios sobre o “estado do solo, do ordenamento do território e do urbanismo”), que eles devem ser objeto de revisão, alteração, suspensão ou revogação, face à evolução ou reponderação das condições económicas, sociais, culturais e ambientais subjacentes à sua elaboração (art.º50.º e 72.º, LPSOTU). Além disso, nos termos do RJIGT deve ser publicado bienalmente um “Relatório sobre o estado do ordenamento do território” e deve POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 265 existir um sistema nacional de dados sobre o território, articulado aos níveis regional e local. O Governo tem de apresenta à Assembleia da República, de dois em dois anos, um relatório sobre o estado dos programas e planos territoriais, no qual é feita a avaliação da execução do programa nacional das políticas de ordenamento do território e são discutidos os princípios orientadores e as formas de articulação das políticas sectoriais e regionais com incidência territorial. Quanto ao acompanhamento desta política de solos, a lei estabelece também formas de acompanhamento permanente e de avaliação técnica da gestão territorial e prevê mecanismos que garantam a eficiência dos instrumentos que a concretizam (art.º73.º). Assim, é estabelecida a criação de um sistema nacional de informação territorial para disponibilizar informaticamente dados sobre o território, articulado aos níveis nacional, regional e local e um sistema nacional de informação cadastral que identifique as unidades prediais. Além disso, todos os programas e planos territoriais têm de definir parâmetros e indicadores para viabilizar a monitorização da estratégia, objetivos e resultados da sua execução (art.º 57.º). Todas as entidades de poder territorial ficam obrigadas a recolher esta informação e promover a elaboração dos relatórios de execução e a normalização de fontes de dados e de indicadores comuns. Esta informação tem de ser disponibilizada publicamente, pelos meios informáticos adequados, promovendo-se a interoperabilidade e a articulação aos vários níveis territoriais. A necessidade da alteração, revisão ou revogação de um programa ou plano territorial fundamenta-se no respetivo relatório de execução. D)- Pluralização das intervenções dos poderes públicos a)-Princípio da interação coordenada dos instrumentos de gestão territorial. Com efeito, quanto à organização do sistema, ele assenta na interação coordenada, estruturada em três âmbitos geográficos distintos: o âmbito nacional [al. a)], que define o quadro estratégico para o ordenamento de todo o espaço nacional, estabelecendo as diretrizes a considerar no ordenamento regional e municipal e a compatibilização destas com os diversos instrumentos de política sectorial, e instituindo, quando necessário, os instrumentos de natureza especial; o âmbito regional [al.b)], que define o quadro estratégico para o ordenamento do espaço regional, em estreita articulação com as políticas nacionais de desenvolvimento económico e social, estabelecendo os grandes princípios orientadores do ordenamento municipal; âmbito que, nesta fase histórica, continuará nas mãos do Estado, embora com um papel das estruturas periféricas, desconcentradas, que deveria tender a acentuar-se com um reforço de legitimidade, isto é, com uma participação institucionalizada dos administrados (em alternativa ao vigente défice democrático, resultante da não criação 266 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO das autarquias regionais, dotadas de poder próprio, de fonte eleitoral), em todas as fases do planeamento, independentemente da participação dos seus representantes municipais e da audição alargada, universal, situada na fase da apreciação de «projeto»; e o âmbito municipal [al.c)], que define, de acordo com as diretrizes e os princípios de âmbito nacional e regional e com opções próprias de desenvolvimento estratégico, o regime de uso do solo. Cabe ao programa nacional da política de ordenamento território, os programas sectoriais e aos programas especiais prosseguirem objetivos de interesse nacional e estabelecer os princípios e as regras orientadoras da disciplina a definir pelos programas regionais. Os programas regionais prosseguem os objetivos de interesse regional e respeitam o disposto nos programas territoriais de âmbito nacional. Os planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal devem desenvolver e concretizar as orientações definidas nos programas territoriais preexistentes de âmbito nacional ou regional, com os quais se devem compatibilizar. Os planos territoriais de âmbito municipal devem ainda atender às orientações definidas nos programas intermunicipais preexistentes, que passam agora a ter o mesmo valor dos PDM, vinculando também os particulares. A existência de um plano diretor, de um plano de urbanização ou de um plano de pormenor de âmbito intermunicipal exclui a possibilidade de existência, ao nível municipal, de planos territoriais do mesmo tipo, na área por eles abrangida, sem prejuízo das regras relativas à dinâmica de planos territoriais. Sempre que entre em vigor um programa territorial de âmbito nacional ou regional, é obrigatória a alteração ou atualização dos planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal, que com ele não sejam compatíveis, nos termos da lei. O programa ou o plano territorial posterior avalia e pondera as regras dos programas ou planos preexistentes ou em preparação, identificando expressamente as normas incompatíveis a alterar ou a revogar nos termos da lei (art.º44.º). Neste aspeto da interação, os planos obedecem ainda a exigências específicas de harmonização dos planos e de homogeneidade da planificação. A homogeneidade existe sempre que a lei exija a sujeição de todo um território a um mesmo tipo de plano, independentemente de tratamentos específicos em outros planos de acordo com as suas características próprias. Assim, o PDM trata das áreas urbanas e rurais, sem prejuízo de as áreas urbanas e urbanizáveis serem tratadas especificamente nos PU e PP. Mas há que proceder também à harmonização e à hierarquização ou graduação dos interesses com expressão territorial. Para tal exige-se a coordenação, seja em termos de endocoordenação (intradministrativa), seja de heterocoordenação (de políticas, externa, interadministrativa) das intervenções. E mesmo, se necessário, concertação e articulação das soluções e posições.41 Em causa também a coordenação e compatibilização das diversas políticas públicas com incidência territorial com 41 MORELL OCAÑA, L -“Coordinación de la ordenación del territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el madio físico”. DA, n.º230-231, 1992, Pp.229 e ss. POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 267 as políticas de desenvolvimento económico e social, sem o que não estaria assegurada a adequada ponderação dos interesses públicos e privados em presença (art.º 2.º, al. d, LBSOTU). Impõe-se uma harmonização horizontal (articulação) e uma harmonização vertical (em termos de não incompatibilização ou mesmo de conformação, segundo o modelo de respeito hierárquico maior (PMOT sobre-ordenador em relação aos subordenados) ou menor (PMOT em relação aos PROT). Ou seja, a harmonização em duplo sentido. E, por princípio, descendente, em modelo hierárquico (embora relativo, porquanto também pode ser ascendente, quando disposições de planos de maior abrangência territorial não são respeitadas, por proposta municipal e ratificação governamental, implicando o princípio da contracorrente, com a derrogação automática e necessária substituição de normas de escalão territorial superior. Ou seja, mais do que hierarquização dos instrumentos, estamos face a uma hierarquização de poderes. Nesta lógica, normas incompatíveis ou desconformes com plano sobre ordenador são nulas, v.g., as normas dos PU e PP que sejam desconformes (apresentem qualquer diferença) com o disposto no PDM (a menos que sejam ratificadas por Resolução do Conselho de Ministros). Bibliografia ALARCÃO, Alberto –“Êxodo rural e atração urbana”. Análise Social, n.º7-8, Vol.II, 1964, Pp.538-563. AUBY, Jean-Bernard -Droit de lÚrbanisme et droit europén: Doctrine. AJDA, L’Actualité Juridique, Droit Administratif, Actualité de l’Urbanisme, n.º10, oct.1995, Pp.667 e ss. AUBY, Jean-Bernard -Droit de lÚrbanisme et droit europén: Doctrine. AJDA, L’Actualité Juridique, Droit Administratif, Actualité de l’Urbanisme, n.º10, oct.1995. AUSLAND, Patrick Mc –The ideologies of Planning law. Pergamon Press, 1980. BIELZA DE ORY, V.; MIGUEL GONZÁLEZ, R. de –“El patrimonio cultural: Componente de ordenación del territorio”. Revista Aragoneza de Administración Pública, n.º10, 1997. CAUPERS, João –“Estado de Direito, Ordenamento do Território e Direito de Propriedade”. Revista Jurídica do urbanismo e do Ambiente. Coimbra: Almedina, n.º 3, 1995. CONDESSO, Ricardo -Las estructuras de gobernación en Portugal ante las asimetrías de desarrollo territorial: ¿Qué modelo seguir? Tese doutoral. Biblioteca FFLUNEX, Espanha, 2012. CONDESSO, F. e MORA Aliseda, J.- «Medio ambiente y territorio en Europa: Propuestas para una política de ordenación espacial en la Península Ibérica». Revista Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial, Madrid, Volume 67, 2004, Pp.95-124; CONDESSO, Fernando -Direito do Ambiente. Coimbra: Almedina, 2014; -Derecho a la 268 RICARDO ALEXANDRE AZEVEDO CONDESSO & FERNANDO CONDESSO Información. Crisis del Sistema Político. Transparencia de los Poderes Públicos. Madrid: Dykinson, 2011; -Derecho de acceso de los ciudadanos a la documentación e información. Cuestiones y fundamentos politológicos, económico-financieros, comunicacionales y ambientales. Tomo I, EUA, RU, Tubinguen: Lambert Academic Publishing Gmbh & Co, KG, março de 2012; -Derecho de acceso de los ciudadanos a la documentación y información: Regímenes jurídicos Unión Europea y Península Ibérica. Tomo II, Saarsbruck, Lambert Academic Publishing Gmbh & Co, KG, EAE, 2012; - “Desenvolvimento rural, património e turismo”. Cuadernos de desarrollo rural, International Journal of Rural Development, 8, (66), p.197-222, Código SICI: 0122-1450 (201106)8:66<195:drpt>2.0.TX;2-U. Bogotá: Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Instituto de Estudios Rurales, Departamento de Desarrollo Rural y Regional, Pontificia Universidad Javeriana, enero-junio 2011.Revista indexada en ISI, SCopus, Publindex A1, Redalyc, Scielo; ISSN: 2215-7727; -O Ordenamento do Território da Península Ibérica e o novo contexto da Estratégia Territorial Europeia (tese interdisciplinar sobre temas de Administração Pública, Políticas Públicas e Direito do Planeamento Territorial; -El desarrollo armónico de la Península Ibérica: El problema de la ordenación territorial. Barcelona: Erasmus Ediciones, Jan 2010; Políticas urbanas y territoriales en la Península Ibérica. Tomo I, GIT, Mérida, Serie Estudios Portugueses, n.º28, 2005; -Direito do Ambiente. Coimbra: Almedina, outubro de 2014; -Direito do Ambiente. Coimbra: Almedina, 2001; -Direito do Urbanismo: Noções Fundamentais.(Em colaboração com Catarina Condesso). Lisboa. Quid Juris?, 1999; -Europa em Crise: (…). Lisboa: Caleidoscópio, 2012;–Ordenamento do Território: Administração e Políticas Públicas, Direito Administrativo e Desenvolvimento Regional. Lisboa: ISCSP, 2005; -“O ordenamento do território e o seu enquadramento legal em Portugal”. In A efetividade do direito ambiental e a gestão do meio ambiente na américa ibérica: Balanço de Resultados das Quatro décadas da Conferência de Estocolmo. Santos: Unisantos, 2012, Pp.157-170; -“Sobre a estética urbana”. In Direito do Ambiente. Coimbra: Almedina, maio 2014. COUTET, William -“La notion de compatibilité dans le droit de l’Urbanisme”. In AJDA, 1976 (6), Pp.291 e ss. GOMEZ ORTEGA, D. –Ordenación Territorial. Madrid, 2002. GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, Santiago –Urbanismo y Ordenación del Territorio. Madrid: Thomson-Aranzadi, 2004. GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, Santiago –Urbanismo y Ordenación del Territorio. Madrid: Thomson-Aranzadi, 2004, p.25 GUIDO, D’Angelo –Urbanística e Diritto. Nápoles: Morano, 1969. JOUANJAN, Olivier –Le principe d’égalité devant la loi en droit allemand. Paris, 1992. LARA CARVAJAL, J. M. DE –“La actividade urbanizadora”. In PEREZ HERRERO, J.M. (Dir.) –La carestia de suelo y soluciones.Madrid, 2000. LORA-TAMAYO VALLVÉ, M. -Urbanismo de obra pública y derecho a urbanizar. Madrid, 1992. MALCOM, Grant -Urban planning law.Londres: Sweet-Maxwell, 1982. POLÍTICA E DIREITO DO PLANEAMENTO TERRITORIAL EM PORTUGAL 269 MARINERO PERAL, A.M. –“La ordenación del Territorio en la Unión Europea. In Noticias de la Unión Europea, 190, 2000. MEILÁN GIL, J. L. –El território: protagonista del desarrollo. Madrid, 1971. MONIZ, Ana Raquel Gonçalves -O Domínio Público: O Critério e o Regime Jurídico da Dominialidade. Coimbra: Almedina, 2005. MORA ALISEDA, J.; CONDESSO, F.; SÂO PEDRO, B. (Dir.) -Infraestructuras, Competitividad y Cooperación Territorial. Madrid. Ministerio de Educación y Ciência; -Planeamiento y Pespectivas del Territorio. Madrid. Ed. Ministerio de Educación y Ciencia, 2001. MORELL OCAÑA, L -“Coordinación de la ordenación del territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el medio físico”. DA, n.º230-231, 1992, Pp.229 e ss. NEUMAN, M. –“La imagen y la ciudad. Ciudad y Territorio, n.º104, 1995. OLIVEIRA, Fernanda Paula de; NEVES, Maria José Castanheira; LOPES, Dulce; MAÇAS, Fernanda -Regime Jurídico da Urbanização e Edificação: Comentado. Coimbra: Almedina, 2012. PÉREZ MORENO, A. –“Urbanismo y desarrollo regional: contenido del nuevo regionalismo”. Revista Espanhola de Direito Administrativo, n.º8, 1976. PONCE SOLÉ, J. –Discrecionalidad urbanística y autonomía municipal. Madrid, 1996. RUEDA PÉREZ, M. A. (dir.) –Perspectivas del régimen del suelo, urbanismo y vivienda. Madrid, 2003. SCHEID, Hildebrand A. –“Nuevas iniciativas de la Unión Europea en material de Ordenación del Territorio. Revista da las Instituciones Europeas, 1996. SOTELO NAVALPOTRO, J.A. –Regional development models. Madrid, 2000. UE, COMISSÃO -COM(2008) 616 final, Livro Verde sobre a Coesão Territorial Europeia: Tirar Partido da Diversidade Territorial. SEC(2008) 2550, Bruxelas, 6.10.2008. A classificação e a qualificação do solo no direito do urbanismo alemão ANJA BOTHE * 1.Introdução A classificação do solo em solo rural e urbano na legislação portuguesa 1 é, de certo modo, comparável com a legislação alemã, com as áreas exteriores e interiores de áreas edificadas no seu conjunto. No entanto, os dois sistemas de classificação distinguem-se em vários aspetos: em Portugal, a determinação das classes de solo é estabelecida por meio de um plano municipal que tem eficácia pluri-subjetiva;2 na Alemanha, a base da determinação desta classificação é a distinção entre uma área que corresponde a um conjunto urbano já consolidado ou não, quer dizer, ela assenta em fatos territoriais existentes, sendo que os municípios alemães só de modo muito restrito aprovam planos municipais que são vinculativos para os particulares. A subsequente análise comparada irá incidir sobre os planos urbanísticos locais dos dois países e os respetivos modelos de determinação do destino básico e a qualificação dos terrenos, i.e., do uso do solo. JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 271-285. * Doutorada em Direito pela Universidade de Hamburgo, docente no Departamento de Ciências Empresariais da Universidade Atlântica da Barcarena, e no Departamento de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa. 1 Artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio; artigo 72.º do DL n.º 380/99, de 22 de setembro (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, RJIGT); artigo 10.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio de 2014 (Lei de Bases Gerais da Política Pública dos Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo, LBGPPSOTU). Isto é, vincula as entidades públicas e, direta e imediatamente, os particulares, artigo 3.º, n.º 2 RJIGT. 2 272 ANJA BOTHE 2. Os planos locais na Alemanha Na Alemanha, todos os 11.197 municípios3 possuem um plano municipal preparatório.4 No entanto, previsto no Código Federal de Urbanismo, há um segundo nível de planeamento territorial, que é o único que é vinculativo para os particulares, cuja elaboração se realiza apenas quando o município o considera necessário. 5 Entre os dois níveis referidos, fundamentados no Código Federal do Urbanismo, existe um planeamento intermédio, que é igualmente da competência dos municípios: este planeamento intermédio encontra-se parcialmente previsto na legislação dos Estados Federados (dos Länder), mas decorre igualmente de uma regulamentação informal. Ele consiste não só num planeamento transversal, incidindo simultaneamente sobre os mais diversos aspetos com impacto territorial, como também num planeamento sectorial. Todas as modalidades de planeamento intermédio, que, como foi referido, não se fundamentam no Código Federal do Urbanismo, ainda que orientem e/ou vinculem as entidades públicas, não são vinculativas para os particulares. 3. Regulamento de Usos Gerais de Construção – Baunutzungsverordnung As tipologias de qualificação de zonas edificáveis, aplicáveis aos planos municipais territoriais, estão definidas em Regulamento próprio:6 assim, no plano municipal 3 4 5 6 É usual traduzir Gemeinde por município. Se, em Portugal, o nível inferior da Administração local é o das freguesias e não o dos municípios, na Alemanha, as Gemeinden são o nível inferior da Administração, http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_da_Alemanha; ver também: OLIVEIRA, Fernanda Paula: Direção Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano, Documento Técnico 8/2011. No entanto, ao nível das circunscrições para fins de estatística, são designadas como LAU 2 as 11.197 Gemeinden alemãs e as 4.260 freguesias portuguesas, e os 1.457 Gemeindeverbände alemães (associações de municípios) são classificados, para fins de estatística europeia, como LAU 1, i.e., o nível dos 308 municípios portugueses. Ver imagens em https://www.google.de/search?q=fl%C3%A4chennutzungsplan&tbm=isch&tbo=u&source=uni v&sa=X&ei=0RICU6KgKqP0AW7xYCwCA&ved=0CDEQsAQ&biw=1280&bih=631, último acesso em 17 de fevereiro de 2014; sobre a relação entre o plano preparatório e o plano vinculativo para os particulares, ver: OLIVEIRA, Fernanda Paula: Urbanismo Comparado: o Paradigma do Modelo Alemão, in Conferência “Ordenamento do Território e Revisão dos Planos Diretores Municipais”, Figueira da Foz, 8 e 9 de julho de 2003, p. 5. Artigo 1.º, n.º 2 Código Federal do Urbanismo: “Planos territoriais municipais ( Bauleitpläne) são o plano preparatório municipal (Flächennutzungsplan) e o plano municipal vinculativo para os particulares (verbindlicher Bebauungsplan), n.º 3: “Os municípios elaboram planos territoriais municipais, quando e na medida em que é necessário para o desenvolvimento e ordena mento urbanístico (…)”. Regulamento de Usos Gerais de Construção, Baunutzungsverordnung, traduzido por Regulamento Federal sobre a utilização de terrenos com vista à construção, em OLIVEIRA, Fernanda A CLASSIFICAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO DO SOLO NO DIREITO DO URBANISMO ALEMÃO 273 preparatório distinguem-se zonas de uso habitacional, zonas de uso misto, zonas de uso comercial ou industrial, e zonas de uso especial.7 Estas quatro qualificações devem ser concretizadas, quer no plano municipal preparatório, quer no plano municipal vinculativo para os particulares, em dez tipos de áreas: em áreas parcamente habitadas, áreas de habitação “puras”, áreas gerais ou especiais de habitação, áreas de aldeia, áreas mistas, áreas centrais, áreas comerciais, áreas industriais, áreas especiais.8 Os municípios devem observar imperativamente estas tipologias de zonas e áreas edificáveis, não podendo criar tipologias que não se encontrem legalmente previstas. Neste aspeto, os municípios portugueses gozam de um mais amplo espaço “para pensarem de forma integrada e adequada a melhor forma de categorizar o solo urbano.”9 De acordo com os artigos 2.º a 11.º do Regulamento de Usos Gerais de Construção (RUGC), Baunutzungsverordnung, são especificadas, para cada tipo de área, as suas funções e os projetos que admitem, regular ou excecionalmente.10 Nos planos, apenas se indicam as abreviaturas das tipologias que o município pretende definir, decorrendo as restantes exigências diretamente da lei, isto é, do Regulamento de Usos Gerais de Construção. Os artigos 16.º a 21.º do RUGC estipulam as determinações possíveis relativamente Paula: Análise comparativa das Leis de Solo de Países Europeus, Direção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano, Lisboa, 2004. No Artigo 9.º do Código Federal do Urbanismo, CFU, de epígrafe “autorização para decretar”, lê-se: “O Ministro Federal do Trânsito, Construção e Desenvolvimento Urbano é autorizado a decretar, com o consentimento do Conselho Federal, normas referentes a: 1. Apresentações e determinações nos planos municipais sobre a) O tipo de uso edificatório; b) As intensidades de uso edificatório e o seu cálculo… 7 A rtigo 5.º, n.º 1, do CFU (sublinhado nosso): No plano municipal preparatório deve ser apresentado, para o território do município na sua íntegra, e em linhas gerais, o tipo de uso do solo que resulta do desenvolvimento urbanístico pretendido em conformidade com as necessidades previsíveis do município. No mesmo artigo, n.º 2: Podem ser apresentados no plano municipal preparatório nomeadamente: ponto 1. As zonas previstas para a construção conforme o tipo geral de uso edificável (zonas edificáveis – Bauflächen), conforme o tipo especial de uso edificável (áreas edificáveis - Baugebiete), e igualmente as intensidades gerais do uso edificável. 8 Artigo 9.º, n.º 1, do CFU: No plano municipal vinculativo para os particulares podem ser determinados por motivos urbanísticos: ponto 1. O tipo e a intensidade do uso edificatório; ponto 2. A tipologia de construção, as zonas onde pode e onde não pode haver construção, e a localização das construções. 9 Preâmbulo e artigo 20.º, n.º 4, do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio. 10 BOEDDINGHAUS, Gerhard: Neues zur Art und zum Mass der baulichen Nutzung, (Elementos novos sobre o tipo e a intensidade do uso edificatório), in Zeitschrift für Baurecht, BauR, (Revista para o Direito do Urbanismo), Colónia, 2013, pp. 1601, 1604. 274 ANJA BOTHE às intensidades do uso edificatório. É admissível indicar 11 apenas, no plano municipal preparatório, a área de construção,12 a volumetria de construção13 ou a altura das construções14. Nos planos municipais vinculativos para os particulares, a administração local pode estabelecer determinações sobre a área de construção e a altura dos edifícios, 15 mas é obrigada a integrar o índice de ocupação16 e o número de pisos. 17/18 Normalmente estabelecem-se intensidades máximas19 para cada uma das áreas definidas no artigo 1.º, n.º 2 do RUGC.20 Nos planos municipais vinculativo para os particulares, as decisões acerca de uma construção aberta ou fechada,21 e a exata localização da implantação da construção,22 são determinações facultativas. O Regulamento de Usos Gerais de Construção é complementado pelo Regulamento sobre os símbolos que devem ser usados e aplicados na cartografia dos planos, Planzeichenverordnung. Existem três tipos de planos municipais vinculativos para os particulares: Os qualificados,23 os de execução, 24 e os simplificados.25 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Artigo 16.º, n.º 1, do RUGC. Artigo 20.º, n.º 2, do RUGC: A área de construção indica os metros quadrados de construção por cada metro quadrado de lote. Artigo 21.º, n.º 1, do RUGC: A volumetria de construção indica os metros cúbicos de construção por cada metro quadrado de lote. Artigo 18.º, n.º 1, do RUGC: Na determinação da altura de construções determina-se os pontos de referência necessários. Artigo 16.º, n.º 2, do RUGC Artigo 19.º, n.º 1, do RUGC: O índice de ocupação são os metros quadrados de implantação por metro quadrado de lote. No n.º 2 do mesmo artigo: A área de implantação indica a parte do lote – calculado com base no n.º 1 - que pode ser ocupado com construções. Artigo 20.º, n.º 1, do RUGC: Um piso é contabilizado como piso integral conforme determinado em legislação do respetivo Estado Federado. Artigo 16.º, n.º 3, do RUGC. Que o artigo 17.º do RUGC indica em forma de tabela. Áreas parcamente habitadas, áreas de habitação “puras”, áreas gerais ou especiais de habitação, áreas de aldeia, áreas mistas, áreas centrais, áreas comerciais, áreas industriais, áreas esp eciais Artigo 22.º do RUGC. Artigo 23.º do RUGC. Artigo 30.º, n.º 1, do CFU: Na área de vigência de um plano municipal vinculativo para os particulares, que, autonomamente ou conjuntamente com outras normas urbanísticas, determina no mínimo o tipo e a intensidade do uso edificatório, as superfícies que podem receber edificações, e as áreas para o trânsito local, um projeto é admissível quando não contrária nenhuma destas determinações e quando a infraestruturação é assegurada. A CLASSIFICAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO DO SOLO NO DIREITO DO URBANISMO ALEMÃO 275 Ao contrário dos planos municipais qualificados, os planos municipais simplificados não servem para a decisão acerca da admissibilidade de um projeto,26 dado que não incluem determinações acerca dos seguintes aspetos: 1. do tipo e da intensidade do uso edificatório;27 2. as áreas de implantação;28 3. dos acessos29 e das infraestruturas. O conceito de infraestruturas não se encontra legalmente definido,30 mas deve ser preenchido tendo por base as exigências de um projeto concreto num território concreto. Para a respetiva conceptualização, devemos ainda recorrer aos artigos 123.º a 135.º do CFU, que corresponde ao capítulo acerca da infraestruturação, e ao artigo 127.º, n.º 2 do CFU, que contém uma lista de elementos que fazem parte do equipamento de infraestruturas.31 O plano de execução,32 definido como instrumento urbanístico autónomo, 33 tem elementos comparáveis com os “contratos que tenham por objeto a elaboração de um projeto de plano”34 da legislação portuguesa, quando o seu autor seja um particular. A sua motivação para a elaboração deste tipo de plano está na intenção de nele inserir um projeto que pretenda executar.35 O plano de execução consiste em dois elementos: num contrato em que o particular se responsabiliza pela execução 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Artigo 30.º, n.º 2, do CFU: Na área de vigência de um plano municipal vinculativo para os particulares elaborado para a implementação de um projeto conforme o § 12, um projeto é admissível quando não contraria este plano e quando a infraestruturação é assegurada. Artigo 30.º, n.º 3, do CFU: Na área de vigência de um plano municipal vinculativo para os particulares que não reúna os pressupostos do n.º 1 (plano municipal vinculativo para os particulares simplificado), aplica-se para a admissibilidade de projetos os artigos 34.º e 35.º. Artigo 30.º, n.º 3, do CFU: Na área de vigência de um plano municipal vinculativo para os particulares, que não reúne os requisitos do n.º 1 (plano municipal simplificado), a admissibilidade de projetos é quanto aos outros aspetos de inserção urbanística Artigo 9.º, n.º 1, ponto 1, e os artigos 1.º a 11.º, e 16.º a 21.º, do Regulamento de Usos Gerais de Construção. Artigo 9.º, n.º 1, ponto 2, e o artigo 23.º, do Regulamento de Usos Gerais de Construção Artigo 9.º, n.º 1, ponto 11, do Regulamento de Usos Gerais de Construção. Tribunal Federal Administrativo, em 30 de agosto de 1985, 4 C 48.81. Trata-se, no entanto, de uma norma sobre o montante das contribuições pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas que os municípios poderão exigir. ERNST, Werner/ ZINKAHN, Willy/ BIELENBERG, Walter/ KRAUTZBERGER, Michael: Baugesetzbuch Kommentar (Código Federal do Urbanismo anotado), Vol. II, 113ª edição, Munique, 2014, § 30, p. 27. Vorhabenbezogener Bebauungsplan. Isto é, ele representa uma opção ou tipologia especial de plano municipal vinculativo para os particulares. Artigo 6.º-A, do RJIGT. Para uma melhor distinção entre o plano municipal qualificado e o plano municipal de execução, ver MICHALLIK, Florian: Mass der baulichen Nutzung – Angebotsplan oder vorhabenbezogener Bebauungsplan bei hoher Nutzungsdichte, (Intensidade do uso edificatório – plano de oferta em forma de plano municipal vinculativo para os particulares ou plano de execução no caso de uma elevada densidade de uso), in Zeitschrift für Baurecht, BauR, (Revista para o Direito do Urbanismo), Colónia, 2014, pp. 494 a 499. 276 ANJA BOTHE urbanística (Durchführungsvertrag),36 e num plano de projeto e de realização de infraestruturas (Vorhaben- und Erschliessungsplan).37 Estes dois elementos são aprovados conjuntamente na forma de regulamento.38 4. Uso do solo sem planos municipais vinculativos para os particulares Em termos de planeamento urbanístico,39 a admissibilidade de projetos assenta nos planos municipais vinculativos para os particulares, caso estes existam; se não existirem, o município recorre aos normativos dos artigos 34.º e 35.º do CFU de modo a poder avaliar a admissibilidade de projetos. 40 Substituindo-se ao planeamento vinculativo, a norma do artigo 34.º do CFU41 exige que, para a admissão de projetos, os respetivos usos do solo se compatibilizem com a envolvente física e social existente, não se admitindo qualquer alteração desse uso que seja incompatível com aquela envolvente. As exigências de compatibilidade para projetos devem preencher cumulativamente os seguintes requisitos: i. ii. 36 37 38 39 40 41 Deve-se tratar de áreas urbanas consolidadas / áreas edificadas no seu conjunto, O projeto deve-se inserir na envolvente próxima, Artigo 12.º, n.º 1, do CFU: O município pode determinar a admissibilidade de projetos através de um plano de execução sob as seguintes exigências: o titular do projeto responsabiliza -se via contrato, e com base num plano (Vorhaben- und Erschliessungsplan – plano de projeto e de realização de infraestruturas), que terá de ser aprovado sob forma de regulamento pelo município nos termos do artigo 10.º, n.º 1, de o implementar dentro de um determinado prazo, suportando o particular as despesas de planeamento e de realização de infraestruturas urbanísticas, total ou parcialmente (Durchführungsvertrag – contrato de execução). Artigo 12.º, n.º 3, do CFU: O plano de projeto e de realização de infraestruturas fará parte integrante do plano de execução. Na área do plano de projeto e de realização de infraestruturas, o município não é obrigado a utilizar as tipologias de determinações previstas no artigo 9.º do CFU e no Regulamento de Usos Gerais de Construção (Regulamento que assenta a sua autorização no artigo 9.º a, do CFU). Artigo 10.º, n.º 1, do CFU: O município aprova o plano municipal vinculativo para os particulares em forma de regulamento. O artigo 29.º, n. 2, do CFU, estabelece a ligação para as questões de admissibilidade em termos do Direito das Construções (Bauordnungsrecht dos Estados Federados), excluídas da presente análise. Artigo 30.º, n.º 3, do CFU. Artigo 34.º Admissão de projetos dentro do perímetro urbano, isto é dentro de áreas edificadas – n.º 1 Dentro de áreas edificadas no seu conjunto, um projeto é admissível quando se insere em conformidade com o tipo e a intensidade do uso edificatório, e com a tipologia de construção e a superfície que se pretende edificar, nas características da envolvente próxima, e quando é garantida a infraestruturação. A CLASSIFICAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO DO SOLO NO DIREITO DO URBANISMO ALEMÃO iii. iv. v. vi. 277 Para avaliar a inserção na envolvente, deve-se, entre outros aspetos, ter em conta o tipo e a intensidade do uso edificatório, a tipologia de construção e a área de implantação; As infraestruturas, nomeadamente a acessibilidade, devem ser garantidas; As condições habitacionais e de trabalho devem ser salvaguardadas; e A imagem da localidade não pode ficar prejudicada. De modo a interpretar e determinar os limites destas exigências, foi produzido um imenso acervo jurisprudencial. Assim, concretizam-se jurisprudencialmente os pressupostos de um “conjunto urbano consolidado / áreas edificadas no seu conjunto”,42 que sempre assentam na situação fática existente: deve-se considerar desejável o desenvolvimento das edificações urbanas, opondo-se então, enquanto conjunto, às edificações dispersas.43 Para se definir a inserção na envolvente, clarifica-se que esta assenta nas características do meio que estabelecem um certo quadro desenhador de delimitações.44 O atual uso do solo deve ser respeitado na subsunção deste conceito45. Deste modo, as exigências de respeito são maiores quanto mais sensível é a posição das partes tuteladas, e são menores quando os interesses pretendidos pelo titular do projeto são mais óbvios.46 Assim, a jurisprudência considerou violada a obrigação de inserção nos seguintes casos: x 42 43 44 45 46 47 O projeto de uma instituição para pessoas sem-abrigo junto à uma agência de transportes;47 Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. Acórdãos do Tribunal Federal Administrativo, de 17 de novembro de 1972 (4 C 13.71); de 30 de abril de 1969 (4 C 38.67); de 6 de novembro de 1968 (4 C 31.66 e 4 C 47.68); de 17 de fevereiro de 1984 (4 C 56.79); de 15 de julho de 1994 (4 B 109.94); de 19 de abril de 1994 (4 B 77.94); DZIALLAS, Olaf: Innenbereich und Aussenbereich, (Zonas interiores e exteriores às áreas edificadas), in Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht, NZBau, (Revista Nova para o Direito do Urbanismo e da Adjudicação), Munique, 2006, pp. 308 a 310. Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 26 de maio de 1978 (4 C 9.77). Acórdãos do Tribunal Federal Administrativo, de 25 de fevereiro de 1977 (4 C 22.75), de 18 de outubro de 1998 (4 C 5.98), de 13 de fevereiro de 1981, 16 de setembro de 2010 (4 C 7.10), 23 de maio de 1986 (4 C 34.85), de 5 de agosto de 1983 (4 C 96.79), de 4 de julho de 1980 (4 C 101.77), de 28 de abril de 2004, (4 C 10.03): http://www.bverwg.de/entscheidungen/entschei dung.php?ent=280404U4C10.03.0 último acesso em 26 de maio de 2014; de 18 de outubro de 1974 (4 C 77.73), de 13 de março de 1991 (4 C 1.78). Acórdão do Tribunal Federal Administrativo de 25 de maio de 1977 (4 C 22.75). Tribunal Central Administrativo (OVG) de Münster de 27 de outubro de 1982 (A 1198/82, BauR, Colónia, 1983, p. 151). 278 ANJA BOTHE x x x Parque de descanso para camionistas numa área habitacional;48 Construção de um mercado que iria aumentar o ruído de trânsito numa área habitacional calma;49 Equipamentos de produção de energia solar com uma altura que supera o dobro das construções existentes.50 Em contrapartida, a jurisprudência considerou preenchido o requisito de inserção na envolvente nos seguintes projetos: x x x x x x x x x x x 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Equipamentos de energia do vento numa área habitacional;51 Jaula de puma em zona habitacional;52 Indústria metalúrgica junto a zona habitacional;53 Campos de ténis em zona habitacional;54 Discoteca em zona principalmente industrial;55 Exceder a intensidade do uso edificatório,56 ou a área de implantação;57 Residência de requerentes de pedido de asilo em zona habitacional;58 Construção do vizinho que prejudica a vista;59 Estufa que aumenta o ruído em alturas de chuva em zona habitacional;60 Parque de estacionamento de uma loja junto ao pasto de vacas leiteiras de agricultura biológica;61 Parque de estacionamento de uma casa de jogos provocando ruídos para um Tribunal Central Administrativo (VGH) de Mannheim de 29 de setembro de 1982 (3 S71/82) in Entscheidungssammlung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, - Coletânea de jurisprudência do Tribunal Central Administrativo de Hesse e do Tribunal Central Administrativo de Bade-Vurtemberga - ESVGH 33, 1982, p. 79. Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 22 de maio de 1987 (4 C 6 e 7.85). Tribunal Central Administrativo (VGH) de Mannheim de 16 de junho de 1998 (8 S 1522/98, BauR, Colónia, 1999, p. 173). Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 18 de fevereiro de 1983 (4 C 18.81). Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 5 de março de 1984 (4 B 20.84). Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 4 de junho de 1985 (4 B 202.85). Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 30 de agosto de 1985 (4 C 50.82). Tribunal Central Administrativo (VGH) de Mannheim de 22 de setembro de 1989 (5 S 3086/88), in NVwZ, Munique 1990, p. 480. Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 17 de junho de 1993 (4 C 17.91). Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 23 de julho de 1993 (4 B 59.93). Tribunal Central Administrativo (VGH) de Mannheim de 25 de agosto de 1989 (5 S 2110/89), in Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg (Boletim da Administração de Bade-Vurtemberga) VBlBW, Estugarda, 1990, p. 111. Tribunal Central Administrativo (VGH) de Kassel de 7 de novembro de 1986 (4 OE 68/83, HVGRspr. 1987, 63; Tribunal Central Administrativo de Mannheim, de 12 de setembro de 1991, (8 S 1382/91), in Natur und Recht (Natureza e Direito) NuR, Berlim, 1993, p. 29). Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 22 de agosto de 1999 (4 B 95.124). Tribunal Central Administrativo (OVG) de Luneburgo de 26 de março de 1993 (6 L 197/90), in BauR, Colónia, 1993, p. 440, e NuR, Berlim, 1993, p. 396. A CLASSIFICAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO DO SOLO NO DIREITO DO URBANISMO ALEMÃO x x 279 hotel em zona habitacional;62 Aumento de emissão sonora a partir de mais trânsito causado pela construção de cinemas;63 Empresa unipessoal de manutenção de automóveis sem bate chapa e pintura em zona mista.64 Os planos municipais informais, que muitas câmaras elaboram por motivos estratégicos,65 não vinculam diretamente os particulares e, por isso, não são impeditivos da admissão de projetos nos termos do artigo 34.º CFU.66 O mesmo se aplica aos planos municipais preparatórios67 e à determinação de objetivos de ordenamento do território nos termos da norma do artigo 3.º, n.º 1, ponto 2, da Lei Federal do Ordenamento do Território,68 quando estes contrariem o projeto apresentado segundo o artigo 34.º do CFU. Caso as características da zona onde se pretenda, nos termos do artigo 34.º do CFU, inserir um projeto, correspondam a uma das tipologias enunciadas no Regulamento de Usos Gerais de Construção,69 a fundamentação da decisão sobre a admissibilidade do projeto deve basear-se neste regulamento.70 Por exemplo, uma área sem plano vinculativo e com as características fáticas existentes de uma área de aldeia, no sentido definido no artigo 5.º do Regulamento de Usos Gerais de Construção, terá como parâmetro para o deferimento de projetos este citado artigo 5.º. O desenvolvimento legalmente possível desta área é igual ao desenvolvimento, se existisse um plano.71 Os projetos admissíveis nos termos do nºs 1 e 2 do artigo 34.º do CFU não podem 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 23 de outubro de 2000 (7 B 71.00). Tribunal Central Administrativo (OVG) de Berlin, de 17 de março de 1999 (2 S 6.98), in BauR, Colónia, 1999, p. 355. Tribunal Central Administrativo de Mannheim, de 17 de novembro de 1989 (8 S 1172/88), in Umwelt- und Planungsrecht (Revista para o Direito do Ambiente e do Planeamento) UPR, Munique, 1990, p. 390. Ver supra: capítulo 2 (Planos locais na Alemanha). Tribunal Central Administrativo de Berlim, de 14 de março de 2012 (OVG 10 N 34.10) in Juris: http://openjur.de/u/286236.html último acesso em 30 de maio de 2014. Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 3 de abril de 1981 (4 C 61.78). Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 11 de fevereiro de 1993 (4 C 15.92); WIEDEMANN, Werner: Ziele der Raumordnung und Landesplanung als öffentliche Belange im Sinne der §§ 34 und 35 BauGB?, (Objetivos do ordenamento do território e do planeamento do Estado Federado como interesses públicos no sentido dos artigos 34.º e 35.º do CFU?), in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, NVwZ (Revista Nova para o Direito Administrativo), Munique, 1984, p. 441. Ver supra: capítulo 3. Artigo 34.º, n.º 2, do CFU. Comparar Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 2 de julho de 1991 (4 B 1.91). 280 ANJA BOTHE prejudicar as áreas centrais de abastecimento. 72 Trata-se de uma concretização do princípio da manutenção e do desenvolvimento de zonas centrais de abastecimento na proximidade dos consumidores, que foi integrado no corpo do artigo 1.º, n.º 6, ponto 4, do CFU em 2007.73 As últimas alterações do artigo 34.º do CFU procuraram privilegiar o desenvolvimento de áreas já edificadas em detrimento da consumpção de solos: a exigência da inserção é mitigada quando se trata de ampliações e renovações de usos comerciais, industriais e habitacionais, tal como de qualquer alteração de uso a favor da habitação, artigo 34.º, n.º 3 a do CFU.74/75 Sobre estas alterações normativas resta agora aguardar as decisões jurisprudenciais. O normativo do artigo 34.º CFU reflete a síntese realizada entre a tarefa e a necessidade do planeamento urbanístico: considera-se que o planeamento urbanístico deve preparar e dirigir o uso do solo, se bem que esteja sujeito à discricionariedade do poder local em relação à necessidade deste planeamento.76 Desta síntese resulta a limitação inerente à garantia do direito de propriedade: a chamada vinculação situacional do artigo 14.º, n.º 1, segunda parte, da Constituição 72 73 74 75 76 Artigo 34.º, n.º 3, do CFU. Proposta e fundamentação da lei de alteração do CFU de 2004, in Diário do Parlamento Federal 15/2550, p. 55. Artigo 34.º, n.º 3 a, do CFU: Pode haver, em casos individuais, um afastamento da exigência da inserção nas características da envolvente próxima, segundo o n.º 1, primeira parte, se o afastamento preenche os seguintes pressupostos: 1. Trata-se de um aumento, alteração, alteração de uso ou renovação de uma empresa de comércio ou de ofício/ manejo que tenha sido estabelecido de forma legal, inclusive a alteração de uso para fins habitacionais, ou trata-se de um aumento, alteração ou renovação de equipamentos legalmente construídos e que servem para fins habitacionais, 2. Urbanisticamente defensível, e 3. Em harmonia com os interesses públicos tendo também em conta os interesses dos vizinhos. A primeira parte deste artigo não se aplica às empresas a retalho, que poderão afetar ou prejudicar as possibilidades de abastecimento próximo dos consumidores das populações, seja no município onde se pretende localizar o projeto, seja num outro município. Proposta e fundamentação da lei de alteração do CFU de 2013, in Diário do Parlamento Federal 17/11468, p. 10, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/114/1711468.pdf último acesso em 19 de abril de 2014. Não podemos confundir esta admissibilidade de projetos de desenvolvimento de áreas edificadas com os instrumentos de reabilitação sistemática conforme os artigos 136.º a 164.º b, do CFU. Artigo 1.º, n.º 1, do CFU: O objetivo do planeamento municipal (explicação nossa: aqui abrange o planeamento preparativo, e o vinculativo) é preparar e dirigir o uso do solo, seja em termos de construções, seja referente a outros usos, no município e em conformidade com este Código Federal do Urbanismo. Artigo 1.º, n.º 3, do CFU: Os municípios devem elaborar planos municipais, quando e na medida em que seja necessário para o desenvolvimento e a ordem urbanística. Não existe nenhum direito à elaboração de planos urbanísticos e de regulamentos urbanísticos; este tipo de direito também não pode ser estabelecido por via contratual. A CLASSIFICAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO DO SOLO NO DIREITO DO URBANISMO ALEMÃO 281 da República Federal da Alemanha.77 Esta é concretizada pelas características da envolvente, sempre que o município não estabeleceu nenhum plano vinculativo; por outras palavras, o artigo 34.º do CFU tutela o conteúdo do direito de propriedade, sempre que não haja plano vinculativo.78 Pois só quando o município o considere necessário, haverá plano vinculativo. Este normativo é diferente do normativo da legislação portuguesa, que determina a obrigatoriedade de elaboração de planos diretores municipais.79 5. Distinção entre interior e exterior às áreas edificadas Para definir o quadro legal de uso do solo nas áreas exteriores ao perímetro urbanizado, isto é, às áreas edificadas, o legislador optou por determinações semelhantes àquelas adotadas usualmente nos planos: certos usos são admitidos positivamente.80 Para circunscrever as áreas urbanas consolidadas, os municípios podem aprovar regulamentos que delimitem as parcelas pertencentes a estas áreas já edificadas em conjunto nos termos do artigo 34.º do CFU, e as respetivas áreas exteriores, nos termos do artigo 35.º do CFU.81 Enquanto este tipo de regulamento tem apenas efeitos declarativos, os municípios têm o poder discricionário de alargar as áreas urbanas consolidadas, consentindo a consumpção de áreas rurais no sentido do artigo 35.º do CFU. Ora, este alargamento concretiza-se por via de dois tipos de regulamentos. O primeiro é o regulamento de desenvolvimento, que tem como objeto parcelas com edificações que não se encontram incluídas em área urbana consolidada, e que o município assim passa a incluir nestas.82 É pressuposto para a aprovação deste tipo de regulamento que o plano municipal preparatório defina as zonas objeto do regulamento como áreas edificáveis. O segundo tipo de regulamento é o de ampliação do perímetro urbano.83 Este regulamento tem por objeto os espaços individuais que fazem fronteira com 77 78 79 80 81 82 83 Artigo 14.º, n.º 1, da Constituição da República Federal da Alemanha: A propriedade e o direito à sucessão são garantidos. O seu conteúdo e os seus limites são determinados pelas leis. Acórdão do Tribunal Federal Administrativo, de 1 de dezembro de 1972 (4 C 6.71) Artigo 84.º, n.º 4, do RJIGT. Artigo 35.º, cuja epígrafe é “Edificações nas áreas exteriores” (tradução menos literal: solo rural), no n.º 1: Na área exterior, um projeto apenas é admissível, quando não contrarie interesses públicos, quando se encontra garantida a infraestruturação suficiente e quando: Serve para um empreendimento de agricultura ou de silvicultura e ocupa apenas uma parte subordinada da área do empreendimento, pontos 1 até 8 projetos privilegiados neste tipo de área. Artigo 34.º, n.º 4, ponto 1, do CFU (Klarstellungssatzung – Regulamento de clarificação). Artigo 34.º, n.º 4, ponto 2, do CFU (Entwicklungssatzung – Regulamento de desenvolvimento). Artigo 34.º, n.º 4, ponto 3, do CFU (Einbeziehungs- oder Ergänzungssatzung – Regulamento de inclusão ou de ampliação do perímetro urbano). 282 ANJA BOTHE uma área urbana consolidada, mas que evidenciam elementos de pertença à área urbana consolidada, ainda sem se integrar nela. Estes três tipos de regulamentos podem ser cumulados uns com os outros. 84 Para o regulamento de desenvolvimento e o regulamento de ampliação do perímetro urbano, devem ser respeitadas as exigências de participação pública e de acompanhamento das entidades representativas dos interesses envolvidos, relevantes para as alterações simplificadas dos planos municipais.85 Os pressupostos materiais dos dois últimos tipos de regulamentos resultam, por um lado, do poder discricionário do município referente ao conceito de planeamento local estabelecido e, por outro, dos princípios legais do planeamento municipal definidos nos artigos 1.º, n.ºs 3 a 7, e 1.º a do CFU. Tendo em conta que o objeto dos regulamentos é comparável com o instrumento português da reclassificação do solo rural como solo urbano nos termos do artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, que prescreve os critérios uniformes de classificação e reclassificação do solo, destacamos aqui apenas os princípios do CFU que visam “proteger o solo como recurso natural escasso e não renovável”:86 “Os planos municipais devem garantir um desenvolvimento urbanístico sustentável, (…) Eles devem contribuir para um meio ambiente humano digno, proteger e desenvolver as condições naturais do ecossistema, promover a proteção do clima… Para isto, deve o desenvolvimento urbanístico realizar-se prioritariamente através de medidas do desenvolvimento de áreas já urbanizadas.”87 Estas preocupações de proteção do solo estiveram no centro das últimas alterações do CFU:88 nas áreas abrangidas por plano municipal vinculativo para os particulares, o planeamento do desenvolvimento dentro do perímetro urbano em detrimento da expansão urbana é privilegiado: com este objetivo, a alteração de planos municipais 84 85 86 87 88 Artigo 34.º, n.º 4 in fine, do CFU. Artigo 34.º, n.º 6, do CFU: conforme o artigo 13.º, n.º 2, pontos 2 e 3, do CFU, consiste esta participação no fornecimento dos elementos relevantes sobre o regulamento em elaboração e a oportunidade de formular sugestões. Artigo 5.º, n.º 1, do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio. Artigo 1.º, n.º 5, do CFU. Alteração ao CFU de 11 de junho de 2013 (Innenentwicklungsnovelle – Alteração legislativa para o desenvolvimento do perímetro já urbanizado), in Diário do Parlamento Federal I, p. 1548; para mais desenvolvimento sobre esta alteração legislativa, ver KRAUTZBERGER, Michael: BAUGB 2013, Bona/Berlim, 2013: http://www.krautzberger.info/files/2013/04/BauGB-Novelle-2013Kompatibilit%C3%A4tsmod dus.pdf, último acesso em 26 de maio de 2014; UECHTRITZ, Michael: Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts – “BauGB-Novelle 2013”, in Zeitschrift für Baurecht, BauR, (Revista para o Direito do Urbanismo), Colónia, 2013, pp. 1354 a 1370. A CLASSIFICAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO DO SOLO NO DIREITO DO URBANISMO ALEMÃO 283 vinculativos encontra-se sujeito ao procedimento da alteração simplificada.89 Deste modo, observamos que o planeamento da expansão urbana através de planos vinculativos se encontra sujeito ao procedimento regular de alteração de planos,90 enquanto a ampliação do perímetro urbano em zonas sem plano vinculativo se realiza de acordo com o procedimento simplificado. 6. Conclusão Analisámos os aspetos fundamentais da determinação do uso do solo na Alemanha e em Portugal, e pudemos constatar que os municípios alemães gozam de uma maior discricionariedade na aprovação de um planeamento vinculativo. Nos termos dos artigos 34.º e 35.º do CFU, os municípios alemães têm o poder de decidir sobre o uso do solo, mas apenas fundados em fatos urbanísticos existentes, e podem considerar que um planeamento estratégico, na forma de plano municipal preparatório, é o mais adequado e suficiente.91 Em Portugal, dada a obrigatoriedade da elaboração de planos diretores municipais, predominam os planos vinculativos, ainda que as autarquias gozem de um relevante poder discricionário sobre o grau de detalhe das determinações nos planos municipais.92 Os municípios portugueses, ainda que obrigados a elaborar planos municipais vinculativos para os particulares, podem, no entanto, estipular categorias, parâmetros e índices sem definição legal, enquanto os planos municipais alemães se encontram sujeitos ao princípio da tipicidade das categorias legais. Tendo em conta a utilização de recursos humanos, materiais e financeiros, envolvidos na elaboração de planos territoriais, pergunta-se: será que aumentava a insegurança jurídica se o legislador português recorresse a uma técnica legislativa que permitisse determinar o uso do solo apenas com base nos fatos territoriais existentes, mitigando assim o dever de obrigatoriedade da elaboração de planos vinculativos para os particulares?93 Tendo em conta a morosidade da revisão de 89 90 91 92 93 Artigo 13. A, do CFU: Plano municipal (vinculativo para os particulares) de desenvolvimento de zonas já urbanas (comparável com o plano de reabilitação urbana). Artigo 1.º, n.º 8, do CFU, que corresponde ao procedimento da revisão e inicial elaboração de planos municipais. Artigo 1.º, n.º 3, do CFU: “Os municípios têm o poder discricionário de elaborar planos municipais preparativos e planos municipais vinculativos para os particulares, quando e no medida em que considerarem necessários para o desenvolvimento e a ordem urbanística. Não existe nenhum direito à elaboração de planos municipais e regulamentos urbanísticos; este direito não pode ser constituído por contrato.” OLIVEIRA, Fernanda Paula: A Discricionariedade de Planeamento Urbanístico Municipal na Dogmática Geral da Discricionariedade Administrativa, Coimbra, 2011, p. 618. Neste momento, o conceito de utilização dominante, nos termos do artigo 10.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, pode ser considerada a figura mais parecida com os 284 ANJA BOTHE alguns planos diretores municipais em Portugal94 e a consequente aplicação de regimes excecionais,95 questiona-se: se o legislador admitisse a restrição parcial da exigência de planos vinculativos para os particulares, atribuindo à autarquia competente o respetivo poder discricionário tal iria implicar um trágico aumento da intervenção judicial nesta matéria? Bibliografia: BOEDDINGHAUS, Gerhard: Neues zur Art und zum Mass der baulichen Nutzung, (Elementos novos sobre o tipo e a intensidade do uso edificatório), in Zeitschrift für Baurecht, BauR, (Revista para o Direito do Urbanismo), Colónia, 2013, pp. 1601 a 1608. COSTA, João Pedro: A revisão dos planos diretores municipais de primeira geração, in GONÇALVES, Fernando / BENTO, João Ferreira / PINHEIRO, Zélia Gil: Os dez anos da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo, Encontro Anual da Ad Urbem, Lisboa, 12 de dezembro de 2008, pp. 323 - 329. DZIALLAS, Olaf: Innenbereich und Aussenbereich, (Zonas interiores e exteriores às áreas edificadas), in Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht, NZBau, (Revista Nova para o Direito do Urbanismo e da Adjudicação), Munique, 2006, pp. 308 a 310. ERNST, Werner/ ZINKAHN, Willy/ BIELENBERG, Walter/ KRAUTZBERGER, Michael: Baugesetzbuch Kommentar (Código Federal do Urbanismo anotado), Vol. I a VI, 113ª edição, Munique, 2014. KRAUTZBERGER, Michael: BAUGB 2013, Bona/Berlim, 2013: http://www.krautzberger.info/files/2013/04/BauGB-Novelle-2013-Kompatibilit%C3%A4tsmodus.pdf., último acesso em 26 de maio de 2014. MAGALHÃES, Francisca / RAMALHO, Helda Mendes; As atuais revisões dos planos diretores municipais são uma missão possível? O caso de Vila Nova de Famalicão, in Conferência da Ad Urbem: O Plano ainda vale a pena?, Coimbra, 22 de novembro de 2013. MICHALLIK, Florian: Mass der baulichen Nutzung – Angebotsplan oder vorhabenbezogener 94 95 artigos 34.º e 35.º do CFU, mas este conceito encontra-se omitido na nova Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, Lei n.º 31/2014, de 30 de maio. MAGALHÃES, Francisca, et. Al.; As atuais revisões dos planos diretores municipais são uma missão possível? O caso de Vila Nova de Famalicão, in Conferência da Ad Urbem: O Plano ainda vale a pena? Coimbra, 22 de novembro de 2013. RODRIGUES, Luís F., Manual de Crimes Urbanísticos, Guerra e Paz Editores, Lisboa, 2011, p. 95; COSTA, João Pedro, A revisão dos planos diretores municipais de primeira geração, in Os dez anos da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo, Encontro Anual da Ad Urbem, Lisboa, 12 de dezembro de 2008, pp. 323, 328. A CLASSIFICAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO DO SOLO NO DIREITO DO URBANISMO ALEMÃO 285 Bebauungsplan bei hoher Nutzungsdichte, (Intensidade do uso edificatório – plano de oferta em forma de plano municipal vinculativo para os particulares ou plano de execução no caso de uma elevada densidade de uso), in Zeitschrift für Baurecht, BauR, (Revista para o Direito do Urbanismo), Colonha, 2014, pp. 494 a 499. OLIVEIRA, Fernanda Paula: A Discricionariedade de Planeamento Urbanístico Municipal na Dogmática Geral da Discricionariedade Administrativa, Coimbra, 2011 OLIVEIRA, Fernanda Paula, in Direção Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano, Documento Técnico 8/2011, Lisboa, 2011 OLIVEIRA, Fernanda Paula: Urbanismo Comparado: o Paradigma do Modelo Alemão, in Conferência “Ordenamento do Território e Revisão dos Planos Diretores Municipais”, Figueira da Foz, 8 e 9 de julho de 2003, pp. 1 - 11. RODRIGUES, Luís F.: Manual de Crimes Urbanísticos, Guerra e Paz Editores, Lisboa, 2011. UECHTRITZ, Michael: Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts – “BauGB-Novelle 2013”, in Zeitschrift für Baurecht, BauR, (Revista para o Direito do Urbanismo), Colónia, 2013, pp. 1354 a 1370. WIEDEMANN, Werner: Ziele der Raumordnung und Landesplanung als öffentliche Belange im Sinne der §§ 34 und 35 BauGB?, (Objetivos do ordenamento do território e do planeamento do Estado Federado como interesses públicos no sentido dos artigos 34.º e 35.º do CFU?), in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, NVwZ (Revista Nova para o Direito Administrativo, Munique, 1984, p. 441. La moderna dación en pago1 MIGUEL L. LACRUZ MANTECÓN * El origen de la figura Al participar en un reciente congreso (“Vivienda y crisis económica”, celebrado en Zaragoza, días 3 y 4 de abril de 2014) tuve ocasión de estudiar la nueva regulación de la dación introducida por el legislador español en el Código de buenas prácticas del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que recoge a este Código como anexo, y que luego la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, vuelve a publicar (con algún retoque), apareciendo la dación en pago en el apartado 3, dedicado a las Medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria: dación en pago de la vivienda habitual.2 JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 287-304. * Profesor Titular, Derecho Civil, Facultad de Derecho – Universidad de Zaragoza. 1 El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación de la cátedra “Zaragoza Vivienda”, Vivienda y crisis económica, código 26-481, financiado por la Universidad de Zaragoza y el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, investigador principal M.ª Teresa Alonso Pérez. Recoge partes de la ponencia que, con el título La dación en pago en la regulación más reciente, presenté en el Congreso “Vivienda y crisis económica”, celebrado en Zaragoza los días 3 y 4 de abril de 2014, adicionadas con otras derivaciones y nuevos datos. 3. Medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria: dación en pago de la vivienda habitual. a) En el plazo de doce meses desde la solicitud de la reestructuración, los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, para los que la reestructuración y las medidas complementarias, en su caso, no resulten viables conforme a lo e stablecido en el apartado 2, podrán solicitar la dación en pago de su vivienda habitual en los términos previstos en este apartado. En estos casos la entidad estará obligada a aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o tercero que ésta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda. - b) La dación en pago supondrá la cancela- 2 288 MIGUEL L. LACRUZ MANTECÓN Frente a la predicada novedad de esta regulación, encontramos el origen de algo parecido a esta dación ya en el Derecho romano. No exactamente en la cesión de bienes como figura genérica, que encontramos en el Derecho justinianeo, como un sustitutivo del cumplimiento (Codex, libro VII, tít. 71, Qui bonis cedere possunt, Leyes 1.ª y 4.ª). Ahora bien, al lado de esta cessio bonorum existe, como estudia BLANCH NOUGUÉS, 3 una datio con finalidad solutoria y con un origen consuetudinario y aplicación judicial, figura coincidente con nuestra dación en pago, si bien la expresión “datio in solutum” no aparece ni en el Digesto ni en otros escritos jurisprudenciales, siendo muy limitado el uso de “datio” en la jurisprudencia clásica.4 Esta datio in solutum es voluntaria, por lo que necesita para producir el efecto de un pago del consentimiento del acreedor. Pero al lado de ella, señala BLANCH, hay también una llamada datio in solutum necessaria en la que la norma prescinde de la voluntad y atiende sólo a la situación de insolvencia en la que se encuentra el deudor arbitrando un procedimiento judicial que sustituye la ejecución e impone al acreedor la aceptación de un determinado aliud pro alio: “De este modo, la dación en pago necesaria viene a sustituir por ley a la ejecución de los bienes del deudor en la vía judicial ordinaria y de ahí su carácter singular en el propio Ordenamiento jurídico romano”. El origen de esta figura se encuentra, nos dice el autor, en las Novelas 4, 3 (a. 535) y 120, 6, 2 (a. 544) de Justiniano,5 aunque también se cita el antecedente 3 4 5 ción total de la deuda garantizada con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razón de la misma deuda. - c) El deudor, si así lo solicitara en el momento de pedir la dación en pago, podrá permanecer durante un plazo de dos años en la vivienda en concepto de arrendatario, satisfaciendo una renta anual del 3 por cien del importe total de la deuda en el momento de la dación. Durante dicho plazo el impago de la renta devengará un interés de demora del 10 por cien. -d) Las entidades podrán pactar con los deudores la cesión de una parte de la plusvalía generada por la enajenación de la vivienda, en contraprestación por la colaboración que éste pueda prestar en dicha transmisión. e) Esta medida no será aplicable en los supuestos que se encuentren en procedimiento de ejecución en los que ya se haya anunciado la subasta, o en los que la vivienda esté gravada con cargas posteriores. BLANCH NOUGUÉS, José María, “Acerca de la datio in solutum necessaria en el derecho romano, en la tradición jurídica europea y en los códigos civiles iberoamericanos”, RJUAM, nº 21, 2010-I, pág. 35. En realidad, dice BLANCH, la expresión “dación”, datio, no aparece nunca en las fuentes romanas (SACCOCCIO) sino que en ellas encontramos los términos “solutio” o “solvere” con el añadido de un calificativo que viene a matizar ese cumplimiento, para indicar con ello que, aunque la prestación sustitutiva extingue la obligación, ciertamente no constituye en sí el cu mplimiento exacto de la prestación debida: “in solutum dare”, “aliud pro alio (consentiente creditore) solvere”, “pro soluto rem dare”, “aliud pro alio permutare”. El texto de esta Novela 4, 3, en la traducción de GARCÍA DEL CORRAL que reproduce BLANCH, dice: “…Porque si alguno hubiere dado en mutuo dinero, confiando en los bienes del deudor, mas éste no fuera solvente para la restitución del dinero, pero tuviera bienes inmuebles, y el acreedor apremiara reclamando de todos modos dinero, pero a aquél no le fuera fácil tenerlo, ni tuviera bienes muebles, le damos licencia al acreedor, que quiera, para recibir bienes inmuebles en lugar de dinero. Mas si no se presentara ningún comprador de los bienes inmuebles de aquél, LA MODERNA DACIÓN EN PAGO 289 histórico de las medidas adoptadas por Julio César en el año 49 a. C., cuando se introduce el recurso de la cesión de bienes para que el deudor conservase su libertad y evitase caer en poder de su acreedor, siempre que la situación de insolvencia fuere fortuita o debida a una desgracia y no por mala fe, como relata EGUSQUIZA BALMASEDA.6 Se trata por tanto de un recurso que aparece en épocas de crisis bélica (las guerras civiles, primero entre Mario y Sila, luego César y Pompeyo), pero con las consiguientes repercusiones en la economía y en el cumplimiento de las obligaciones. Como vemos se trata de una vía paralela a la ejecución, cuya finalidad radica en ahorrar costes cuando el deudor tiene bienes, en situaciones de crisis, lo que nos resulta conocido. Estas ideas pasan a los textos históricos castellanos, así nos dice SÁNCHEZ ROMÁN – el Fuero Real, libro 1, Título X, Ley XV, establece la regla de que si el deudor no puede cumplir la prestación, tendrá que cumplir la obligación entregando otra cosa de valor equivalente: Opina SERRANO CHAMORRO que este texto recoge la dación en pago necesaria del Derecho justinianeo, pues “Esto supone que no va a jugar ningún papel el consentimiento del acreedor a la hora de entregar una cosa por otra. En consecuencia, parece que el texto sólo contempla el supuesto de datio in solutum legal, ya presente en el derecho romano”. Luego las Partidas,7 Leyes 1.ª y 3.ª, tít. 15, Part. V, aceptaron la última fórmula del Derecho romano de admitir la cesión como recurso de los deudores para mantener la libertad de sus personas y no ser reducidos a prisión por insolvencia, como preveía el Fuero Juzgo. Como vemos es el mismo recurso romano de la entrega de bienes para no verse el deudor, además, encarcelado por deudas. Las Partidas hablan de “desamparar los bienes”, y señala la primera de estas leyes en cuanto a la forma de efectuar este desamparo: Desamparar puede sus bienes todo hombre que es libre e estuviere en poder de sí mismo o de otro no habiendo de que pagar lo que debe. E débelos desamparar ante el juzgador. E éste desamparamiento puede hacer el deudor por sí 6 7 divulgando también con frecuencia el acreedor, que están obligados los bienes del deudor, y atemorizando con esto a los que quieren acudir a la compra, en este caso procuren en esta felicísima ciudad los jueces de nuestra gloriosísima república …que, hecha escrupulosa estimación de los bienes del deudor, se les dé a los acreedores posesión de inmuebles con arreglo a la cuantía de la deuda con la misma caución con que pueda dar el deudor...”. EGUSQUIZA BALMASEDA, Mª Angeles, “Crisis económica, falta de liquidez y dación en pago necesaria”, en Ejecución hipotecaria. Solución a tiempos de conflicto, Salas Carceller coord., Tomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pág. 61: “El primer hito normativo que se cita a esos efectos es la legislación de Julio César, dictada en época de la guerra civil e incorporada a la Lex Julia de Pecunias Mutuis (49 a. C.). Julio César, ante la disminución de la fides y el impago de las deudas existentes en ese momento histórico, dispone un procedimiento que permite resolver el problema del cumplimiento de las obligaciones ofreciendo una salida adecuada a los intereses de los deudores y acreedores”. Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio (El libro del Fuero de las leyes), versión de José SÁNCHEZ-ARCILLA, Editorial Reus, Madrid, 2004, pág. 795. 290 MIGUEL L. LACRUZ MANTECÓN o por su personero; o por su carta, conociendo las deudas que debe o cuando fuere la sentencia dada contra él e no antes. E si de otra guisa los desamparare no valdría el desamparamiento. Esto mismo aparece en la Novísima Recopilación, nos dice SÁNCHEZ ROMÁN,8 donde la cesión de bienes se contempla como medio de eludir la prisión, como en el Derecho romano, y salvo estas referencias no se recoge una regulación específica, aplicándose la de Partidas. El Código civil no regula la dación en pago, ni la voluntaria ni la necesaria. Es posible la voluntaria, naturalmente, pues concurriendo el acuerdo de las partes en el aliud pro alio, ningún obstáculo puede haber en su aceptación. Pero para este resultado bastan las reglas generales y el uso de la autonomía de la voluntad. Explica BLANCH que la razón de la falta de regulación de la dación en pago en nuestro Código civil está en la doctrina francesa clásica (DOMAT, POTHIER), que sustentó una postura diferente a la europea de la época, negando que el beneficium dationis in solutum encontrase acogida en el Derecho francés, pues dicha institución resultaba contraria a los postulados del libre comercio al imponer el aliud pro alio al acreedor. Por ello no pasó al Código Napoleón ni a la generalidad de los códigos civiles europeos del siglo XIX. Esta influencia francesa explica la poca atención de la doctrina civilista española de los dos siglos pasados hacia esta figura, e igualmente el que tampoco se aluda a la dación en pago necesaria en nuestro Código Civil. Sin una regulación general de la figura en nuestro principal texto civil, cabe sin embargo encontrar daciones en pago reguladas en otras leyes. Así, en relación a los tributos, se regula en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, una dación en pago de las cuotas tributarias de determinados impuestos, dación que regula con carácter general el artículo 73 de dicha Ley: El pago de las deudas Tributarias podrá efectuarse mediante la entrega de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General, en los términos y condiciones previstos reglamentariamente. Volviendo a la legislación civil, tenemos también una regulación de la figura en el Derecho foral navarro, en concreto en el Fuero Nuevo de Navarra, cuya Ley 495 regula expresamente la dación en pago convencional: Cuando el acreedor acepte la dación en pago de un objeto distinto del debido, la obligación se considerará extinguida tan sólo desde el momento en que el acreedor adquiera la propiedad de la cosa subrogada, pero las garantías de la obligación, salvo que sean expresamente mantenidas, quedarán extinguidas desde el momento de la aceptación. El segundo párrafo va referido a la cesión de bienes o “para pago”. Pero la que nos interesa es la Ley 493.2.2, que regula una datio in solutum necessaria, semejante a la del Derecho 8 SÁNCHEZ ROMÁN, Estudios de Derecho civil. Tomo cuarto. Derechos de obligaciones… cit., pág. 272. LA MODERNA DACIÓN EN PAGO 291 romano: Asimismo, el acreedor de cantidad de dinero tendrá que aceptar un objeto distinto si el Juez estima justa la sustitución por haberse hecho excesivamente gravosa la prestación debida. Estamos ante una dación necesaria que, como dice EGUSQUIZA BALMASEDA, se podrá emplear para extinguir cualquier obligación de cantidad que pueda considerarse sujeta al Derecho Privado de Navarra, pudiendo aplicarse “…no sólo en la contratación estrictamente civil que se concluya entre particulares, sino también en la de contratación de consumo y la contratación mercantil entre profesionales o empresarios”. El excesivo gravamen de que habla el texto foral está claro que alude a una grave alteración de las circunstancias. Finalmente, también se enlaza con la dación en pago la hipoteca de responsabilidad limitada del art. 140 LH. En realidad, esta hipoteca no es una figura parecida a la dación en pago: es la propia dación en pago tal y como se diseña hoy en el Código de Buenas prácticas. Es decir, la denominación de la dación es la del Derecho histórico, pero el molde sobre el que se construye es el de la hipoteca de responsabilidad limitada del 140 LH, puesto que se permite a los deudores hipotecarios y se quieren unos efectos coincidentes con los de esta hipoteca: limitar, tanto la responsabilidad como la deuda, exclusivamente a los bienes hipotecados, con el consiguiente efecto extintivo de la deuda con la ejecución de la garantía hipotecaria, y que sea por tanto sólo el bien el que responda; naturalmente ello conlleva la consiguiente quita de la deuda si el valor del bien se ha hecho inferior a la cuantia de la deuda. Como señala este art. 140 LH: No obstante lo dispuesto en el artículo 105, podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados. En este caso la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes… Es decir, que esta hipoteca se establece como excepción a la subsistencia de la responsabilidad patrimonial universal que predica el art. 105 LH reiterando el 1911 CC, y además, más que un tipo de hipoteca, consiste en un pacto de eliminación de la responsabilidad de bienes distintos del hipotecado, con la consecuencia de la limitación de la misma. Es muy interesante el origen del art. 140. Esta hipoteca, o este pacto de limitación de la responsabilidad provienen de la reforma 1944-1946 de la LH, pero su origen está, según ROCA SASTRE,9 en la ley cubana de 3 de abril de 1933, confirmada y ampliada por el Decreto-ley de 7 de enero de 1936, que adicionó a los arts. 1876 del Código civil y 105 de la Ley Hipotecaria de dicha nación varios preceptos en los cuales se dispuso que "el acreedor no podrá, en ningún caso, dirigirse por acción personal o de otra clase, ni por ningún otro procedimiento, contra otros bienes del deudor que no 9 ROCA SASTRE, Ramón Mª, y ROCA-SASTRE MUNCUNILL, Luis, Derecho hipotecario, tomo VII, octava edición, Bosch, Barcelona, 1998, pág. 616. 292 MIGUEL L. LACRUZ MANTECÓN fuesen objeto del contrato de hipoteca", y en consecuencia los Jueces o Tribunales no podían sustanciar procedimiento alguno dirigido contra otros bienes, presentes o futuros, del deudor, para hacer efectivas las obligaciones garantizadas por contratos de hipoteca. Pero además, y esto es particularmente revelador, dichas reformas se introducen en un contexto de crisis en Cuba en la que, en palabras del hipotecarista cubano AGUIRRE (recogidas por ROCA), “…la propiedad inmueble sufrió una desvalorización extraordinaria. Para evitar el cataclismo y ruina de la propiedad deudora, se dictaron varias disposiciones sobre moratoria hipotecaria, que suspendieron el cumplimiento de todas las obligaciones garantizadas con hipoteca y ordenaron el pago de un módico interés. La liquidación de tan oscuro proceso jurídico-económico tuvo lugar en virtud de la llamada moratoria constitucional establecida en la disposición transitoria del título IV de la Constitución de Cuba del año 1940”. Nihil novum sub sole. Pero todavía más: la crisis de la vivienda se extendió a los alquileres, y ante la insolvencia e incapacidad de pago de muchos arrendatarios, “…a solicitud del llamado Comité Central de la Unión General de Arrendatarios, se promulgó el Decreto Nº 2005 del 30 de septiembre de 1933, el cual consiguió una prórroga para los procesos de desahucio y las demandas de desalojo. En diciembre de ese mismo año se fijó la cantidad máxima permisible de procesos de desahucio y demandas de desalojo a 10 por juez y por día. En el año 1939 se congelaron los alquileres y se estableció legalmente un derecho a la vivienda y a la permanencia”.10 En definitiva, las consecuencias de la Gran Depresión, que fueron muy importantes en Cuba. Cabe un clarísimo paralelismo con nuestra actual crisis económica, con una identidad de soluciones. Podríamos pensar en un cierto equilibrio ecológico, en el sentido de adaptación, y pensar que instituciones como la dación en pago, o la limitación de la responsabilidad, son organismos que prosperan en un clima de crisis económica y se retraen en uno de prosperidad, para permanecer latentes hasta que una nueva crisis les hace renacer. Naturaleza: ¿Qué es la dación en pago? Para precisar los contornos de la nueva dación debemos detenernos en la consideración de la naturaleza de la institución, en la cual se opone la tesis de la dación como medio de pago a la que la entiende como negocio o contrato en el que es fundamental el acuerdo de voluntades. La explicación que tiene hoy mayor acogida en la doctrina, nos dice RIVERO, es la de la dación en pago, como negocio atípico. Estaríamos ante un medio de pago o mejor ante un sustitutivo del pago pero que se produce mediante negocio jurídico bilateral, ya que requiere acuerdo entre acreedor y sol10 TREFFTZ, Erich, “50 años de la ley de reforma urbana en Cuba. En el aniversario del cambio de paradigma”, Revista INVI, N°72/Agosto 2011/Volumen 26: 19-62, http://dx.doi.org/10.4067/ S0718-83582011000200002 LA MODERNA DACIÓN EN PAGO 293 vens. Sería un negocio atípico, oneroso (con prestaciones a cargo de cada parte) y con causa propia, causa solvendi, específica de este negocio que lo diferencia de cualquier otro. Como negocio atípico, con las notas dichas, la consideran la STS de 13 mayo 1983 y la de 27 septiembre 2002,11 al decir que “…es una forma especial de pago en que por acuerdo de las partes se altera la identidad de la prestación …lo que se conoce en la doctrina actual con el nombre de «subrogado en el cumplimiento», traducción literal de la palabra Enfüllngssurrogate”.12 Y taxativamente afirma: “…la doctrina mayoritaria, frente a quienes consideran la dación en pago como novación, la califica de modalidad o variante del pago”. Más recientemente la STS de 27 diciembre 201213 reitera: “la dación en pago, es una forma especial de pago, como negocio jurídico emitido voluntariamente por personas físicas o jurídicas con plena capacidad de obrar”. De negocio jurídico se pasa automáticamente a hablar de “contrato”, así la DGRN en su Resolución de 28 de enero de 1999,14 muy claramente: “La dación en pago es un contrato cuya naturaleza es doctrinalmente discutida, por virtud del cual se transmiten al acreedor determinados bienes o derechos distintos de los debidos”. La naturaleza contractual de este negocio es evidente para MERINO HERNÁNDEZ,15 que lo califica de contrato nominado y atípico, celebrado entre acreedor y deudor por el que se pacta una prestación distinta de la inicialmente convenida en la primitiva relación obligatoria. En esta conceptuación negocial se desarrollan, nos dice CRISTÓBAL MONTES, las tesis de FERNÁNDEZ NOVOA acerca de la dación, considerando que no es un contrato real, pues se perfecciona en el momento en que acreedor y deudor convienen que la realización de la prestación distinta de la debida extinguirá la obligación, y la realización de la misma “no forma parte del supuesto constitutivo del negocio de dación, sino que supone tan sólo la ejecución o consumación de dicho contrato”. Y añade que se trataría de un contrato atípico pero con cierta tipicidad social, cuya falta de regulación podría cubrirse con los usos y costumbres, las decisiones jurisprudenciales y las opiniones de la doctrina científica. De “tipicidad práctica y jurisprudencial” habla RIVERO. Sobre si es o no un contrato oneroso, apunta FÍNEZ16 que esto lo determinará la onerosidad o no de la relación obligatoria preexistente, y que estamos ante un contrato de ejecución que encuentra su causa en la previa obligación. 11 12 13 14 15 16 RJ 2002\7877 Esta palabra – remediando sus patentes errores ortográficos – es un término extraño al BGB; se construye a partir de Erfüllung, que significa “cumplimiento”, y Surrogat, con el sentido de “sustituto” o “sustitutivo”. RJ 2013\1625 RJ 1999\614 MERINO HERNÁNDEZ, J. L., “La dación en pago”, RDN, 1975, pág. 81. FÍNEZ RATÓN, “La dación en pago”, ADC, n.º 4 – 1995, pág. 1478. 294 MIGUEL L. LACRUZ MANTECÓN En realidad, en cuanto concurso de voluntades sobre un cambio, la datio es, evidentemente, un contrato, que se rige por la voluntad real o presumible de las partes, pero muy específicamente por las normas de la compraventa y por las reglas generales de las obligaciones y contratos. Esto último es lo que más claramente aprecia actualmente el TS, pues la aproximación a una u otra figura lo que está buscando es encontrar una regulación aplicable, y así podemos verlo en la STS de 30 noviembre de 2000,17 que afirma que “se trata de un acto por virtud del cual el deudor transmite bienes de su propiedad al acreedor, a fin de que éste aplique el bien recibido a la extinción del crédito de que era titular, actuando este crédito con igual función que el precio en la compraventa, dado que según tiene declarado esta Sala en sentencia de 7 de diciembre de 1983, bien se catalogue el negocio jurídico que implica como venta, ya se configure como novación, o como acto complejo, su regulación ha de acomodarse analógicamente por las normas de la compraventa al carecer de reglas específicas”. Esta naturaleza contractual de la dación en pago, su carácter voluntario, hace difícil calificar de tal la figura de dación recogida en el Código de Buenas prácticas. Todo lo más cabría extraer su carácter voluntario o acordado del hecho de la voluntariedad de la adhesión de las entidades bancarias a dicho Código, y su compromiso de aplicación. Figuras similares a la dación y modalidades de la misma 1. La cesión de bienes. La cesión, a diferencia de la dación, sí se regula en el Código civil. Aparece como una de las formas de hacer el pago en el artículo 1175 CC: El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera a aquél de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores se ajustarán a las disposiciones del Título XVII de este Libro, y a lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cabe señalar las siguientes diferencias entre ambas figuras: - La diferencia más importante entre la dación y la cessio bonorum, está en que la dación en pago tiene como efecto característico la transmisión inmediata de la propiedad del bien que se entrega a cambio (cuando es un bien), mientras que en la cesión de bienes el deudor lo que transmite a sus acreedores es el poder de gestionar la liquidación de los bienes cedidos para que con el importe de su venta cobren sus respectivos créditos. -La dación cumple la función de pago, produciendo la extinción inmediata de la obligación preexistente y terminando así la responsabilidad del deudor, mientras que 17 RJ 2000\9319 LA MODERNA DACIÓN EN PAGO 295 la cesión de bienes no tiene este efecto inmediato, sólo inicia un proceso que permite llegar a la extinción mediante la realización de los bienes y sólo libera al deudor – al final – por el importe líquido de lo cedido, subsistiendo su responsabilidad por la parte del crédito no cubierta. También por este motivo, cuando el importe líquido de los bienes cedidos alcanza una suma superior al importe de la obligación, el exceso debe ser reintegrado al deudor. La dación en cambio, se caracteriza porque la extinción de la obligación se produce con independencia de la valoración del bien o de si se obtendría una cantidad suficiente para cubrir la deuda mediante la liquidación del bien. - La cesión de bienes se produce en una situación de insolvencia del deudor, en el caso de la dación ello no es necesario: lo que le falta al deudor no son bienes, sino liquidez, proponiendo por ello la entrega de éstos en lugar de dinero. Produciéndose en la cesión esta situación de insolvencia suele haber una pluralidad de acreedores con los que el deudor celebra el convenio de cesión de bienes. En la dación en pago puede haber un solo acreedor o varios, pero tanto uno como otros son individualmente considerados, en el sentido de que a cada uno se le propone la entrega de bienes concretos en satisfacción de su crédito. Sin embargo SERRANO CHAMORRO18 opina que puede haber cesión pro solvendo aunque no haya insolvencia en el deudor y también aunque los acreedores no sean varios, lo que nos lleva a diferenciar entre una cesión judicial y otra voluntaria o convencional. Ya CASTÁN TOBEÑAS19 distinguía la “cesión contractual” de la judicial, siendo la contractual la que se realiza por acuerdo de deudor y acreedor o acreedores, con las condiciones y efectos que se estipulen; la judicial es la que se realiza con intervención y aprobación de la autoridad judicial en la forma que las leyes determinan. 2. La adjudicación en pago del bien hipotecado. Es esta una posibilidad que se produce al final del procedimiento ejecutivo hipotecario, y también en el extrajudicial. Terminológicamente, LATOUR20 consideraba que era necesario distinguir la dación en pago de la adjudicación en pago, pues si bien ambas extinguen la obligación, no son sinónimas: Adjudicación en pago es una expresión que ha de reservarse para designar los actos de adquisición de la propiedad por acto del Estado, bien sea a través de acto de autoridad o funcionario, o por persona investida con las necesarias facultades por el ordenamiento jurídico. Dejando aparte los casos de adjudicación en pago de la parte del comunero en las operaciones divisorias, el autor considera como adjudicaciones las que se producen en los procedimientos de apremio, aunque rechaza la expresión “datio in solutum forzosa”. 18 19 20 SERRANO CHAMORRO, Entrega de cosa distinta a la pactada, Aranzadi, 2006, pág. 91. CASTÁN TOBEÑAS, Derecho civil español, común y foral… cit., pág. 442. LATOUR BROTONS, “Notas sobre la dación en pago”, RCDI, 1995, pág. 633. 296 MIGUEL L. LACRUZ MANTECÓN Trasladando la cuestión al tema de las ejecuciones hipotecarias, es sabido que en el momento de la contratación de la hipoteca se hace constar la valoración de la finca hipotecada; además, el procedimiento de embargo conlleva la tasación del inmueble por peritos y según valor de mercado (639 LEC). Pues bien, en el caso de que el procedimiento ejecutivo no haya generado en la subasta una cantidad, no ya suficiente, sino mínima para hacer frente a la deuda hipotecaria y los costes añadidos, la entidad crediticia dispone de la posibilidad de adjudicarse el bien hipotecado en los supuestos que señalan los arts. 670 y 671 LEC (reformados – por ahora – por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social). Pues bien, esta adjudicación no es propiamente una cesión, pues quien la pide es el acreedor, y tampoco una dación, por lo anterior y por persistir la responsabilidad del deudor de no haberse obtenido dinero suficiente para extinguir la deuda. En rigor es un acto judicial por el que se consuma el trámite de apremio. De forma paralela, estas adjudicaciones pueden producirse también en el procedimiento de ejecución extrajudicial de bienes hipotecados, regulado en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, pudiendo el acreedor en el caso de que fracase la subasta, conforme al art. 12 del RDL 6/2012 “…pedir, dentro del término de cinco días, la adjudicación de la finca o fincas por importe igual o superior al 60 por cien del valor de tasación”. Con las reformas de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio y Ley 13/2009, de 3 de noviembre, entre otras, el legislador intenta impedir precisamente esto, que el ejecutante se adjudique en pago bienes cuyo valor sobrepase en exceso el montante de la deuda que se ejecuta (aunque la elevación de los porcentajes de licitación unida a la tremenda pérdida de valor de los inmuebles ha provocado la deserción de los concurrentes a las subastas, como advierte JIMÉNEZ PARÍS21). Se trata de evitar el perjuicio que se deriva para el deudor de la ejecución posterior sobre otros bienes en reclamación de la parte de deuda no cubierta en virtud de la subsistencia de la misma. 3. El desamparo del bien hipotecado. El “desamparo” del bien hipotecado es una posibilidad que aparece en el art. 126 de la LH, al señalar que si en el juicio ejecutivo se persiguen bienes hipotecados que hubiesen pasado a poder de un tercer poseedor, podrá el acreedor reclamar de éste el pago de la parte de crédito asegurada con estos bienes si al vencer el plazo no paga el deudor después de requerido judicialmente o por Notario. Este tercer poseedor tiene también que ser requerido, tras lo cual «…deberá verificar el pago del crédito con los intereses correspondientes, 21 JIMÉNEZ PARÍS, Teresa Asunción, «Sobreendeudamiento y vivienda familiar», RGLJ, 2013, número 1, pág. 56. LA MODERNA DACIÓN EN PAGO 297 conforme a lo dispuesto en el artículo 114, o desamparar los bienes hipotecados. -Si el tercer poseedor no paga ni desampara los bienes será responsable con los suyos propios, además de los hipotecados, de los intereses devengados desde el requerimiento y de las costas judiciales a que por su morosidad diere lugar. En el caso de que el tercer poseedor desampare los bienes hipotecados, se considerarán éstos en poder del deudor, a fin de que pueda dirigirse contra los mismos el procedimiento ejecutivo». Recientemente, CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA22 trata de la figura, caracterizándola no como una renuncia ni abdicativa ni traslativa o un abandono del bien hipotecado, sino que el desamparo sólo deja el bien “en poder del deudor”, como si fuera un administrador y representante forzoso, una suerte de curador, como entiende la doctrina francesa al amparo del art. 2174 del Code. El desamparo del art. 126 no implica renuncia a la titularidad del bien hipotecado, “…ni siquiera a su posesión, sino simple cesión de la administración del mismo a los solos efectos ejecutivos”, como opina también la DGRN en antiguas resoluciones, citando el autor las de 27 abril 1921 y de 29 septiembre 1924. Es una figura que, por tanto, no puede confundirse con la dación en pago ni con la cesión de bienes para pago de las deudas, aunque la expresión “desamparo” nos haga suponer que hay una suerte de abandono de bienes. 4. La adjudicación al acreedor privilegiado en el procedimiento concursal. Al amparo de la regulación anterior de las insolvencias, así la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, era posible un acuerdo por el cual el deudor cediese parte o la totalidad de los bienes a sus acreedores, un convenio de cesión que una vez aceptado por la Junta de acreedores liberaba al deudor del cumplimiento de sus obligaciones. La Ley Concursal 22/ 2003 supuso una quiebra de la clásica distinción entre cesión de bienes voluntaria y judicial, como señala YÁÑEZ VIVERO, 23 al eliminar la suspensión de pagos y por tanto los expedientes de quita y espera en los que frecuentemente se acordaban cesiones de bienes, pero sobre todo porque la ley prohibía expresamente en su art. 100.3 la posibilidad de adoptar una cesión de bienes o dación en pago como posible solución del concurso y fuera del procedimiento de éste. Algunos autores mantenían la posibilidad de cesiones o daciones, aprobado en concurso, en el proceso de liquidación. 22 23 CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, G., «El desamparo del bien hipotecado: Una vieja cuestión de honor», en Estudios de Derecho civil en Homenaje al Profesor Joaquín Rams Albesa, Dykinson, Madrid, 2013, pág. 853. YÁÑEZ VIVERO, Fátima, “Cesión de bienes”, en Enciclopedia de Derecho concursal, tomo I (A – E), Emilio Beltrán y J.A. García-Cruces, directores, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012, págs. 420 y ss. 298 MIGUEL L. LACRUZ MANTECÓN Por contra la Ley 38/2011, de reforma de la Ley Concursal, introduce la posibilidad de una suerte de dación - adjudicación en el artículo 155.4 de la misma, relativo al pago de los créditos con privilegio especial: La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda. Nos dice YÁÑEZ VIVERO (loc. cit.) que lo que el legislador ha querido “…es que la ejecución dé los bienes que garantizan privilegios especiales no dependa del arbitrio del plan de liquidación o de la administración concursal sino que deban contar con el conocimiento y aceptación de los acreedores privilegiados. Su especificidad radica en que no es el deudor quien propone esta solución, sino fundamentalmente el acreedor privilegiado (lo que será lo más habitual) o la administración del concurso. La cesión la decide el juez, lo que aproxima esta figura a la adjudicación; sin embargo, la satisfacción del privilegio especial y consiguiente extinción del crédito nos lleva a la dación en pago, pues se trata de su efecto típico. Sin embargo, si queda un “resto del crédito” entonces estamos ante una dación de efecto parcialmente extintivo, con subsistencia de la responsabilidad sobre otros bienes. Dice ZUNZUNEGUI,24 a diferencia de lo que ocurre con el deudor empresario, no hay aquí para el deudor consumidor un fresh start, no se contempla un mecanismo exoneratorio del pasivo insatisfecho que libere al deudor, como en los ordenamientos de nuestro entorno. 5. La hipoteca de responsabilidad limitada del art. 140 LH. Ya se ha visto que esta hipoteca es el modelo para la dación en pago recogida en el Código de Buenas prácticas. Configurada en el ya citado art. 140 LH como una excepción a la responsabilidad universal del deudor conforme al art. 1911, limita dicha responsabilidad y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, al importe de los bienes hipotecados, sin alcanzar a los demás bienes del patrimonio del deudor. En este momento hay que hacer notar que esta hipoteca se ha podido pactar perfectamente a lo largo de los últimos años, pues proviene de la redacción de 1946 de la LH, pero en la realidad económica vemos que nadie la pacta, pues disminuye la garantía al eliminar la subsistencia de la responsabilidad del 1911 CC, encareciendo el préstamo. Es lógico, si limitamos la responsabilidad al valor del bien hipotecado, cualquier disminución de dicho valor implicará la de la responsabilidad, y por tanto y si baja dicho valor por debajo del montante de la deuda, ello significa una quita 24 ZUNZUNEGUI, Fernando, “Sobreendeudamiento y prácticas hipotecarias de las entidades bancarias”, RDBB núm. 129 / Enero-Marzo 2013, pág. 58. LA MODERNA DACIÓN EN PAGO 299 para el deudor, porque no hay posibilidad de extender luego la responsabilidad por la parte de deuda no cubierta a otros bienes, muebles o inmuebles. En cualquier caso, implica menos garantía, lo que da lugar a mayor riesgo, y por tanto ello determina un mayor precio del dinero. La destrucción de la responsabilidad patrimonial universal: hacia una sociedad irresponsable La respuesta de la sociedad española ante todos los problemas suscitados por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica ha sido exactamente la misma que la de una clase de niños de 6 años cuando se ha roto algo: buscar un culpable. Pasados ya unos años metidos en la crisis, la solución a los problemas de sobrevaloración de los inmuebles y exceso de oferta vendrá de la mano del mercado, o no vendrá, mientras que para el problema del impago de los créditos hipotecarios, se buscan soluciones que eviten el lanzamiento de los ocupantes de la vivienda subastada, así como evitar la subsistencia de responsabilidad patrimonial sobre otros bienes (singularmente el salario del deudor) por la parte del crédito restante, responsabilidad que empobrezca a este deudor durante años. La dación en pago se quiere ver como una de las soluciones a este tipo de problemas. Pero como veremos, todo se pone a cargo del “culpable”, que es el Banco, naturalmente,25 cuando lo realmente importante es determinar quién es el que acabará pagando los costes, como se verá. Implican además las recientes medidas una cierta quiebra del principio de la responsabilidad. Por su parte, CARRASCO PERERA26 destacaba, en un artículo de opinión, que el rasgo principal de las reformas en tema de ejecución hipotecaria es el apresuramiento y la vulneración de derechos constitucionales: “Es indicativo del grado de podredumbre moral de este país que nadie se haya preguntado qué anclaje constitucional tiene obligar a los bancos propietarios de viviendas adjudicadas a que soporten la posesión precaria, irrestricta y gratuita por dos años de una familia o un tipo que les debe dinero”. Y, en el caso de la dación, 25 26 No se recata en decirlo así Gemma VIVES MARTÍNEZ (“Ejecuciones hipotecarias y dación en pago. Revisión jurisprudencial y problemas prácticos: dación en pago”, Diario La Ley, Nº 7908, Sección Doctrina, 24 Jul. 2012, Año XXXIII) señalando como conclusiones para una nueva interpretación de la ley en la ejecución hipotecaria: “a) Realidad social del momento en que debe aplicarse la norma (579 y 571 LEC). Por mor del art. 3.1. CC b) Inexcusable ejercicio no abusivo del derecho de suyo que está prohibido el ejercicio antisocial del mismo -sic-… c) La doctrina de los actos propios que, junto a lo anterior, delimita la calificación de la conducta de la entidad financiera... d) Evitar el enriquecimiento injusto por parte del Banco pues la deuda está saldada. Lo contrario implicará, a mi juicio, otorgar una suerte de beneplácito a la conducta del Banco que bajo la apariencia de legalidad exige un importe que no es justo porque no se adeuda”. CARRASCO PERERA, Ángel, “La corte de los milagros o la suspensión de lanzamientos hipotecarios”, en Actualidad jurídica Aranzadi, nº 854, 5 de diciembre de 2012. 300 MIGUEL L. LACRUZ MANTECÓN aceptar el Banco el cambio del objeto de la obligación renunciando al cobro del crédito, a cambio de una vivienda que, sin duda, no le interesa. Culpando a los bancos, critica ZUNZUNEGUI27 la recapitalización y ayudas a la banca y afirma: “La situación actual requiere extender los beneficios que ya recibe la banca al otro lado de la relación, al cliente sobreendeudado que va a perder su vivienda con riesgo de exclusión social y financiera”. También algunas decisiones calificadas de innovadoras han optado por esta culpabilización, así el Auto de la Audiencia Provincial de Navarra de 17 de diciembre de 2010,28 que denegando la continuación de la ejecución sobre otros bienes del deudor, y por tanto la responsabilidad patrimonial del 1911 CC, convierte la adjudicación en una dación en pago, o una hipoteca “normal” en otra de responsabilidad limitada del 140 LH. Ya BASSOLS COMA29 advertía que el derecho constitucional a la vivienda adquiere nuevas dimensiones y perfiles, pudiendo traer causa “…precisamente de la pérdida de una vivienda anterior, decretada judicialmente por impago de rentas o intereses hipotecarios”. Esto por generar la situación de “exclusión” o “vulnerabilidad” un derecho de ayudas a la vivienda (vía subvenciones o viviendas sociales), o ahora por impedirse el lanzamiento; habla el autor de una “judicialización del acceso a una vivienda”, que más bien significa una concesión judicial de la misma precisamente cuando ésta se ha perdido. Por su parte el Defensor del pueblo, en su Informe Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo, (págs. 84 y ss.) propone esta dación después de imputar a los bancos una política agresiva de concesión de préstamos hipotecarios: “… parece evidente que la responsabilidad por el impago de las cuotas hipotecarias no puede trasladarse con carácter exclusivo al deudor, ni condenarle al extremo de que cualquier riqueza posible que genere se deba destinar, igualmente, a la cobertura de este préstamo. Si el deudor firmó un contrato de 27 28 29 ZUNZUNEGUI, Fernando, “Sobreendeudamiento y prácticas hipotecarias de las entidades bancarias”, RDBB núm. 129 / Enero-Marzo 2013, pág. 39. Más adelante (pág. 48) pasa a considerar al Banco directamente como el malo de la película, y al cliente como a un disminuido mental al que hay que proteger de si mismo: “Está muy extendida la opinión de que el problema del sobreendeudamiento familiar con las consecuencias catastróficas que está teniendo es una responsabilidad compartida entre clientes y entidades de crédito. Según estas opiniones, la banca ha podido tener parte de responsabilidad, facilitando el crédito, pero el principal responsable es el cliente que toma la decisión de adquirir una vivienda por encima de sus posibilidades... La responsabilidad de haber concedido crédito por encima de los límites que marca la prudencia bancaria es del profesional. No se puede poner en un mismo plano la responsabilidad del banco en la concesión imprudente de créditos y la del cliente por solicitarlos por encima de sus posibilidades. Las normas de conducta bancarias protegen al cliente incluso contra sus propias decisiones”. AC 2011\1. También el Auto núm. 119/2011 de 16 septiembre de la Audiencia Provincial de Gerona, AC 2011\2172, o el del Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Valladolid de 27 febrero 2012, AC 2012\357. BASSOLS COMA, Martín, “El derecho a la vivienda ante la crisis económica y el cambio climático: intervención de las administraciones públicas ante situaciones de vulnerabilidad social y urbanística”, en RGLJ, 2011, número 1, pág. 17. LA MODERNA DACIÓN EN PAGO 301 préstamo hipotecario fue no solamente por el ejercicio de una voluntad de endeudarse, sino porque el mercado inmobiliario y las condiciones de acceso a los préstamos eran las más laxas de toda la historia. Tipos de interés reducidos, alargamiento de la vida de los préstamos” (pág. 82). Es decir, se está reprochando a los bancos el ofrecer dinero en buenas condiciones. Un magnífico ejemplo de esta forma de pensar, que enlaza con la hipoteca de responsabilidad limitada, lo recoge Mª Carmen GONZÁLEZ CARRASCO, 30 al criticar un reciente Auto del Juzgado núm. 7 de los de Collado-Villalba, de fecha 5 de septiembre de 2013, declarando la improcedencia de ejecución hipotecaria por la existencia de cláusulas abusivas contenidas en su título. Pues bien, una de las afirmaciones más erróneas del Auto es la que declara abusiva la cláusula de responsabilidad universal del deudor “en contra de lo dispuesto en el art. 140 LH” por no haber advertido al prestatario suficientemente de esta circunstancia. Nos dice la autora: “Causa sonrojo tener que explicar que, hoy por hoy, la regla general sobre la que se cimenta nuestro sistema hipotecario es precisamente la responsabilidad universal del deudor con todos sus bienes (art. 105 LH, que se remite al art. 1.911 CC); regla que el artículo 140 LH no deroga, sino que simplemente permite excluir por pacto, sin que pueda entenderse en modo alguno que dicho artículo consagra el principio de responsabilidad limitada a los bienes hipotecados, que en nuestro ordenamiento es de voluntaria aceptación por las entidades bancarias a través de su adhesión a los códigos de buenas prácticas derivadas de las medidas de protección de los deudores hipotecarios sin recursos, y ello solamente bajo ciertas condiciones. Precisamente, las instrucciones para cumplimentar la Ficha de Información Personalizada (FIPER) que se contienen en la normativa sectorial sobre transparencia bancaria en préstamos hipotecarios (Orden EHA 2899/2011) exigen de la entidad precisamente lo que ha hecho, puesto que en la secc. 12 de la FIPER , titulada “incumplimiento de los compromisos vinculados al préstamo: consecuencias para el cliente” se expresarán de forma destacada las consecuencias graves, especialmente, los efectos de la ejecución hipotecaria y de la responsabilidad ilimitada del cliente”. Conclusión Mediante la dación en pago en el Código de buenas prácticas lo que se ha introducido en realidad no es una dación, sino algo semejante a la dación en pago necesaria del Derecho romano, que prescinde de su aceptación por el acreedor y desconoce así 30 GONZÁLEZ CARRASCO, Mª Carmen, “Una carrera hasta el fondo de la degradación jurídica en Materia de cláusulas abusivas hipotecarias: juzgado 7 Collado-Villalba” - blog de la Revista Cesco, en: http://blog.uclm.es/cesco/files/2013/10/Una-carrera-hasta-el-fondo-de-la-degradaci %C3%B3n-jur%C3%ADdica-en-materia-de-cl%C3%A1usulas-abusivas-hipotecarias-Juzgado7-Collado-Mediano.pdf 302 MIGUEL L. LACRUZ MANTECÓN el carácter negocial de la figura, y que conlleva una quita de la deuda si el valor de lo dado no alcanza a cubrir el total de la deuda. Como esta dación es consecuencia del incumplimiento de una deuda hipotecaria, convierte a la hipoteca en hipoteca de responsabilidad limitada, y vulnera (otros dirían “supera”) el principio de responsabilidad patrimonial universal del art. 1911 CC. Pero sobre todo los orígenes históricos de la figura nos han mostrado que la dación no es una solución a la crisis, sino un síntoma: es simplemente la respuesta jurídica a las crisis económicas y a la situación de desvalorización de los inmuebles en una sociedad, del mismo modo que la fiebre y los estornudos son síntomas de un catarro. Pensar que con la dación necesaria se va a solucionar la crisis es como pensar que el síntoma es la terapia. Quizá la buena noticia sea que algunos síntomas, como la fiebre, sí que contribuyen, si el paciente la soporta, a que la enfermedad haga crisis, y se sane. En este contexto, la dación necesaria no es ni buena, ni mala: es inevitable. Pero según lo visto, la funcionalidad de la dación necesaria es sólo para estas situaciones de crisis: en épocas de normalidad, la figura debe retraerse a sus contornos más propios y precisos, los de la dación convencional, y la dación necesaria debe volver a su nicho ecológico, que es la crisis. En nuestra actual situación de crisis, las daciones en pago con efecto extintivo de la responsabilidad patrimonial han propiciado remisiones de deudas, para evitar, según se dice, que la misma siga gravitando sobre el deudor como una losa que le impida salir de su situación de “exclusión”. Es decir, que se está facilitando lo que se conoce como fresh start, común a otras legislaciones, como, nos dice JIMÉNEZ PARÍS,31 las de Francia, EEUU, Alemania, Suecia, Portugal, Italia, Irlanda, Bélgica, Dinamarca, Polonia, Reino Unido, Austria o Finlandia. Ahora bien, en estos países, nos confirman SERRANO, ANGUITA y ORTEGA,32 la liberación de deudas no supone un derecho absoluto del deudor, estableciendo todos ellos “…requisitos y presupuestos con diferente grado de amplitud o exigencia, destinados, principalmente, a evitar utilizaciones abusivas o fraudulentas que produzcan el efecto contrario al realmente perseguido”. En algunos casos la remisión de la deuda se produce tras el correspondiente concurso, y en otros rige la cesión de la parte embargable de las rentas disponibles o créditos futuros del deudor durante un plazo de cinco o seis años a un fiduciario designado por el juez para proceder al pago a los acreedores. 31 32 JIMÉNEZ PARÍS, Teresa Asunción, «La figura del fresh start: ¿Es conveniente su incorporación al ordenamiento jurídico español?», en Estudios de Derecho civil en Homenaje al Profesor Joaquín Rams Albesa, Dykinson, Madrid, 2013, pág. 548. SERRANO GÓMEZ, Eduardo, ANGUITA VILLANUEVA, Luis Antonio y ORTEGA DOMÉNECH, Jorge, “Sistemas de tratamiento de la insolvencia de la persona física (l)”, en Familia y concurso de acreedores, Matilde Cuena coordinadora, Civitas- Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010, pág. 35. LA MODERNA DACIÓN EN PAGO 303 La idea de la responsabilidad de los Bancos se halla firmemente asentada, ya se ha visto, y también la de la superación del principio de responsabilidad patrimonial del art. 1911 CC. Lo relevante sin embargo es saber quién paga esta remisión de deudas. Y frente a la opinión general, la dación no va a ser soportada por los Bancos, como comúnmente se cree, sino por la sociedad, como nos dice JIMÉNEZ PARÍS: 33 “una legislación de sobreendeudamiento que contemple un fresh start para determinados deudores supone, en definitiva, una colectivización de las deudas cuyo pago se traslada al conjunto de la sociedad, pues las entidades …repercutirán las pérdidas que la condonación les supusiera en el precio de los créditos”. Es, nos dice, lo que ocurrió en Finlandia con su Ley de deudas de 1993, donde fueron los ciudadanos, a través del pago de impuestos, los que, en definitiva, se hicieron cargo de las deudas condonadas. Sea por vía del rescate bancario, que se nutre de deuda pública y por tanto de impuestos, sea por la vía del encarecimiento de créditos y servicios bancarios, la cuenta la vamos a pagar todos. Es decir, que se piensa en favorecer la irresponsabilidad y lo que se logra es extender la responsabilidad de unos pocos a toda la sociedad. Esto último puede ser especialmente negativo si la dación necesaria sobrepasa su ámbito propio, sale de su nicho ecológico y se asienta con una ley que haga regla general a la hipoteca de responsabilidad limitada. Económicamente, el resultado de limitar la responsabilidad patrimonial universal, es empeorar las condiciones del crédito, como nos dice CUADRADO IGLESIAS,34 criticando ciertas decisiones jurisprudenciales: “El juez no puede redistribuir la renta ni controlar las condiciones de mercado. Eliminar la doble responsabilidad hipotecaria y personal del acreedor hipotecario puede inducir a insolvencias estratégicas, esto es, cuando el bien hipotecado tiene un valor inferior al de mercado, el deudor deja de pagar y adjudica el bien a la entidad financiera, extinguiéndose la deuda”. Añade Fernando P. MÉNDEZ, exdecano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, en unas jornadas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona: “El principio de responsabilidad patrimonial universal se ha utilizado para sustituir al de prisión por deudas y, en segundo lugar, sirve para facilitar el crédito y, por lo tanto, para hacerlo más accesible, especialmente a los ciudadanos con menos recursos. La garantía hipotecaria, además, refuerza las posibilidades de cobro del acreedor, lo cual permite obtener más capital a menor interés, con un plazo de amortización más largo y, por lo tanto, con unas cuotas de amortización más accesibles”. En particular, sobre la hipoteca de responsabilidad limitada, advierte que las entidades financieras y lo deudores no hacen uso de esta hipoteca, sencillamente, porque no les conviene: “El acreedor debería compensar la disminución de garantías conce- 33 34 JIMÉNEZ P ARÍS, Teresa Asunción, «La figura del fresh start…» cit., pág. 555. CUADRADO IGLESIAS, «La dación en pago y su problemática aplicación», Estudios Homenaje al prof. J. J. Rams Albesa, Dykinson, Madrid, 2013, pág. 870. 304 MIGUEL L. LACRUZ MANTECÓN diendo menos capital a mayor interés y por menos tiempo”, o sea, encarecería el crédito. Concretando, el crédito barato es el hipotecario reforzado con la garantía universal del 1911 CC. Si se elimina esta garantía, se encarece el crédito, lo que nos llevará a un sistema en el que no habrá crédito barato, no habrá crédito popular. Si la dación necesaria se impone como regla, convirtiendo la hipoteca en hipoteca de responsabilidad limitada, el crédito volverá a ser una operación propia de empresas. Para evitar esto hay que entender que la dación necesaria es una institución propia de una economía de crisis, que se utiliza cuando ya no queda otro remedio porque no existen otros bienes del deudor y sus recursos futuros son dudosos. Si se mantiene dentro de sus estrictos límites, permitirá dar por terminadas operaciones que de otra forma caerían en el cajón de los incobrables. Si se extiende como posibilidad general, puede generar consecuencias socialmente negativas. Cuando frente a razonamientos como los que se hacen en este trabajo se oponen razones emocionales, como el decir que de qué le valen estas explicaciones al parado que pierde su casa, yo prefiero pensar en los hijos de este parado, y favorecer un sistema en el que ellos tengan una oportunidad de acceder a la propiedad de una vivienda. O Estado fomentador e protetor do desenvolvimento da cultura VICTOR GAMEIRO DRUMMOND * Sumário: I. Introdução. II. Breves indicações sobre a natureza da cultura. III. Do círculo cultural (e da circularidade cultural) e do conteúdo genérico dos direitos culturais. IV. Da presença do conceito das liberdades inerentes aos direitos culturais na circularidade cultural. V. Libertarianistas e conservadores - Tendências no senso comum autoralista e reflexos nos direitos culturais. VI - Os transbordamentos fronteiriços dos conflitos típicos do direito de autor. VII. Os mantras performáticos. VIII - O equívoco das atribuições conflitantes na seara econômica. VIII. Da cultura como complementação do processo educacional. IX. Da consideração dos direitos culturais como direitos fundamentais sociais. X. Da necessidade de valorização das atividades culturais como elemento formador humano e da sociedade. XII. Da necessidade de estímulo à produção cultural como elemento de formação da sociedade. XIII. Pontuações de aspectos pragmáticos e procedimentais para valorização da cultura como elementos formador do povo brasileiro e de maior movimentação do círculo cultural. XIV. Conclusões. Resumo: O texto trata da importância da compreensão do acesso à cultura como direito fundamental e da necessidade de haver uma política de desenvolvimento cultural promovida pelo Estado. JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 305-344. * Presidente do Instituto Latino de Direito e Cultura (ILDC). Presidente do Comitê Jurídico e de Desenvolvimento da Federação Latin Artis. Doutor em Direito pela Universidade Estácio de Sá (UNESA/RJ). Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), Professor universitário. Advogado especialista em propriedade intelectual. 306 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND Abstract: The text indicates the importance of comprehension of culture acess as a fundamental right and discuss the necessity of aplying a cultural developing policy to be promoted by the State. Palavras chave: Cultura. Liberdade. Direitos Fundamentais. Direito Constitucional. Educação. Key words: Culture. Liberty. Fundamental Rights. Constitucional Law. Education. I. Introdução O presente estudo tem como objetivo identificar os direitos inerentes à proteção da cultura no direito constitucional brasileiro (com algum colorido de direito comparado) e analisar o locus ocupado pelas diferentes aplicações de vertente protetiva da cultura no ambiente constitucional. Para tanto, inicialmente é necessário apontar quais direitos relacionam-se, direta ou indiretamente com a cultura uma vez que falar-se em cultura estabelece uma linha ainda muito débil de definições. Devem ser objeto de análise para a compreensão deste ambiente: a proteção de direitos de acesso à cultura; a proteção constitucional da liberdade de expressão criativa; a proteção e garantia de proteção dos direitos de autor; etc. Cada uma destas categorias ou circunscrições jurídicas pode ocupar uma posição diferenciada no ambiente constitucional, com consequências diferenciadas e obrigações distintas por parte do Estado. A intenção deste estudo é facilitar a compreensão do universo inerente aos direitos culturais, ainda tão incipientemente explorado. Sabe-se porém, que a discussão dos elementos formadores da cultura não é nada nova. Em diversas atividades e áreas do conhecimento humano, a cultura recebe definições distintas. Em todas elas, porém, ao menos nos países de orientação democrática, parece haver uma certa unanimidade quanto ao fato de que o desenvolvimento das atividades culturais, não obstante uma participação da sociedade e do Estado, deve ser livre. Ou seja, o “fazer ou produzir cultura” não pode estar moldado ou ser direcionado. Partindo deste paradigma, que parece ser efetivamente correto, é importante analisar se há obrigações do Estado para contribuição neste processo e, em caso positivo, analisar também as motivações que indiquem tais obrigações. O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 307 Dois fundamentos, porém, merecem ser salientados: 1 – Como se posicionam constitucionalmente os direitos implicados na proteção da cultura e mais precisamente, qual o ambiente de proteção destes no que tange aos direitos fundamentais; 2 – O modo por meio do qual o Estado pode contribuir para o desenvolvimento da cultura. Nestes termos, é importante procurar analisar se os direitos culturais ocupam uma posição clara no ambiente dos direitos fundamentais. II. Breves indicações sobre a natureza da cultura. Não parece razoável propor discussões filosóficas sobre o que seria cultura para a apreciação deste breve estudo. Concomitantemente, parece razoável apontar, ainda que com a precisão terminológica somente possível, sem pretensões de esgotamento, a qual cultura se está referindo. Há de se compreender, porém, que o conceito de cultura pode ser (muitas vezes), cientificamente indecifrável e para tanto, a (breve) indicação do que seja cultura, para os devidos efeitos do presente texto1 comporta uma dupla vertente interpretativa, qual seja: a da cultura: Como (1) a totalidade das manifestações sociais inerentes à existência e a representatividade de um povo e; Como (2) o conjunto de conhecimentos que possa ser formador das capacidades de desenvolvimento da(s) pessoa(s) e de sua personalidade. Seja como representação de um povo, seja como elemento formador das capacidades/personalidades, a cultura representa algo de grande relevo, que é o diálogo social. A simples existência das manifestações culturais indica um ambiente de participação social, do qual participa, por um lado, quem “produz” cultura e do outro, quem “absorve” cultura. Tanto esta “produção” com esta “absorção” fazem parte de um processo cíclico, que ocorre no ambiente de potencialidades criativas e que conduzem aos dois fundamentos que, neste estudo, estão indicados como definições de cultura: a representa1 E que, desde já se faz a ressalva quanto ao fato de que não se está procurando definir a cultura em si, mas delineá-la para os fins exigidos para este estudo. 308 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND ção de um povo e a formação deste mesmo povo, em sua coletividade e em suas múltiplas individualidades (pela formação das capacidades e desenvolvimento das personalidades dos sujeitos implicados). Cultura, porém, ainda assim pode ser vista sob muitos olhares e o que interessa a este estudo é a compreensão da cultura como elemento formador do caráter coletivo de um povo, manifestado por meio de suas criações artístico-culturais.2 Por sua vez, as criações artístico-culturais ora referidas são aquelas que se manifestam sob a forma de música, literatura, cinema e audiovisual, teatro, artes plásticas, artes cibernéticas, moda, gastronomia, fotografia, arquitetura, patrimônio imaterial e todos os elementos que possam ser enquadrados no que se pode conceber como ambiente sociocultural relacionado às criações intelectuais. Serão todas enquadradas como elemento formador da representatividade de um povo e são manifestações culturais. Obviamente que cultura, em um sentido mais amplo, é ainda mais do que isto, podendo-se afirmar que é toda e qualquer manifestação social referente aos seres humanos, mas é certo que este conceito ainda mais amplo não serve aos propósitos deste estudo. O propósito inicial do texto é identificar, portanto, a acepção do que é o ambiente cultural para os efeitos dos direitos culturais e as relações destes direitos com as possibilidades de representatividade de um povo e inserção do que se denomina círculo cultural. III. Do círculo cultural (e da circularidade cultural) e do conteúdo genérico dos direitos culturais. O que é se evidencia, portanto, é que o sujeito que “produz” cultura (já feira a ressalva do significado de cultura para os efeitos deste estudo) precisa ter à sua disposição condições jurídicas, estabelecidas num ambiente, inclusive, de política legislativa claramente definida, que permitam que a cultura seja “explorada”3 ao máximo possível (num sentido de possibilidade da criação potencialmente concebível). 2 3 A utilização da expressão criações artístico-culturais indica um fechamento semântico em relação à expressão manifestações culturais que também pode ser utilizada com maior abrangência significativa. Enquanto as criações se referem, ao fim e ao cabo, às obras artísticas (que podem ou não ser protegidas pelo direito de autor) a expressão manifestações culturais conduz a algo mais, considerando que muitas manifestações podem não ser criações em sentido estrito, ou seja, podem não exigir uma criatividade humana, exteriorização das ideias sob alguma forma perceptível aos sentidos e originalidade relativa. Ver também nota de rodapé 21. No sentido de divulgação, difusão, sem necessariamente a violação de direitos inerentes à proteção dos criadores de obras protegidas por direito de autor. O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 309 Por outro lado, aquele que absorver a cultura inerente às criações artístico-culturais se beneficiará e fortalecerá a sedimentação de sua personalidade, pois como indica BARRETO “... o acesso ao conhecimento irá tornar o homem livre, pois será o ato mais revolucionário de toda a cultura humana.4 Portanto, o receptor das criações artístico-culturais precisa ter à sua disposição as distintas manifestações culturais, seja (simplesmente) como destinatário, seja como um novo alimentador do processo cultural que, pode, eventualmente, redirecionar e reenviar os elementos recebidos no ambiente cultural.5 4 5 BARRETO, Vicente de Paulo, O fetiche dos direitos humanos, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010, p.13. Vem se desenvolvendo com bastante profusão, especialmente nos Estados Unidos da América, teses de que o processo criativo deveria ser relativizado no que se refere à proteção pelo direito de autor. As teses basicamente atribuem fundamentos muito mais presentes no âmbito econômico e da liberdade de acesso à cultura e liberdade de criação do que pontuações filosóficas. O autor norte americano Lewis Hyde, na sua obra A dádiva foge um pouco a esta regra pois indica um posicionamento de ordem filosófica, afastando-se em sua tese, dos meros argumentos econômicos ou excessivamente libertários de outros autores, ainda que não estejamos de acordo com parte significativa de suas ideias. Em linhas gerais, o autor busca adequar a questão do que pode ser considerado como criação artística e que, esta criação deve circular socialmente como uma doação. Em algum sentido, o que é defendido pelo autor norte americano é uma concepção de que deve estar intrínseca à criação o fato de que a circulação artística é (para dizer o mínimo) melhor se for promovida como a transmissão de uma dávida que foi recebida e que, portanto, não poderia deixar de circular. Assim, parece indicar Hyde que, uma vez compreendido que um autor é um criador de uma obra de arte, este deve permitir a sua circulação social pois esta somente pode criá-la por ter recebido, sob a forma de dávida de um autor anteriormente alimentado por alguma(s) outra(s) criação(ões). Este círculo vicioso-virtuoso seria fundamental para a criação artística e estimulante para a possibilidade de novas criações. Melhor dizendo, em linhas gerais, defende o autor que somente desta forma haveria um novo processo criativo. Segundo Hyde, se a doação não se consumar, o espírito criador se consome (p. 230). O autor defende que somente pelo processo criativo pensado como uma doação poderia haver uma nova criação futura, como se todas as obras fossem, ao mesmo tempo, originárias e derivadas, fato que, do ponto de vista filosófico, não deixa de ser uma realidade, pois todas decorrem de alguma percepção anterior e serão, ao menos potencialmente, alimento para criações futuras. Nisto estamos de acordo. E afirma Hyde: A doação cria um espaço por onde flui uma nova energia. A alternativa é a petrificação, é o bloqueio da capacidade de criar”, “é como se a vida fosse impedida de fluir”(p. 231). A tese do autor, em alguma medida, surge desde os primórdios das discussões de direito de autor, considerando-se o fato de que parte significativa do que é criado decorre da criação dos sujeitos anteriores e que, portanto, até mesmo, não se justificaria uma proteção pela exclusividade inerente ao direito de autor e direitos conexos. Claro que como se sabe, esta posição acaba sendo objeto de aplicação de diversos institutos de direito de autor e conexos que tem como objetivo equilibrar a relação existente entre a proteção pela exclusividades (a mais ampla na propriedade intelectual) e a livre utilização pela sociedade, como é o caso do domínio público e do regime de limitações. Ocorre porém, que esta posição libertária, também verificada em autores como Lawrence Lessig e na doutrina dos Creative Commons parece ignorar que a criação pode se dar por motivações outras que não a criação pela criação. Ora, se Hyde entende que ao aceitar o que lhe é dado, o artista se sente compelido a criar uma obra e oferece-la ao público poder-se-ia interpretar que existem artistas que são doadores por natureza e outros que não o são? E como a obra se processa na mente 310 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND Ou seja, no processo do ambiente potencial de criação, o criador é criador, mas, por outro lado, também sempre é destinatário, e o destinatário, potencialmente, pode vir a ser criador, ainda que esta não seja necessariamente uma obrigação lógica. Esta conclusão, evidente e naturalmente perceptível do ponto de vista do surgimento natural dos processos de desenvolvimento de criações artístico-culturais, conduz à percepção de que há movimentos cíclicos na cultura e que merecem ser observados. Um deles se refere ao ambiente de criação artístico-cultural que se dá no processo da criação. Neste sentido, entendo que há uma similaridade entre o círculo hermenêutico presente nos fundamentos de hermenêutica contemporânea desenvolvidos por Schleiermacher, Dilthey, Heidegger e Gadamer e o locus no qual se opera o processo de criação artística, o qual denomino círculo criativo e, ao seu movimento denomino circularidade criativa.6 6 criativa de cada um deles? E será que o não-doador, necessariamente será um “mal-criador”. Sua obra será, portanto, uma “má-criação” nas duas mais evidentes acepções que cabem ao caso em análise? Esta lógica para conduzir a uma divisão dual, em que haveria artistas mais “generosos” e que poderiam doar por receber, e haveria outros “menos generosos” conduziria a um problema bastante significativo: haveria obras que circulariam mais ou melhor do que outras por serem objeto do que o autor indica como doação? Ou as demais sequer seriam obras com a mesma qualidade? Isto não seria o mesmo que se querer instituir um caráter e características humanas ao objeto criativo? Haveria uma obra egoísta na sua essência? Estas perguntas parecem todas estar colocadas pelas teses defendidas pelo autor mas parece que estão todas sem respostas. Ainda que se compreenda, nas palavras do autor, que a dádiva (o dom) precisa ser mantida em movimento, uma criação que não seja doada não necessariamente deixará de influenciar outras criações ou deixará de fazer parte do círculo-virtuoso das influencias criativas, assim como um artista, que em sua vida particular se comporte como um canalha sem caráter não deixará de, por meio de suas obras, influenciar outras pessoas. Por mais que se compreenda que a circulação se dará de forma mais descompromissada e despreocupada, esta não é uma realidade que pode ser ampliada aa toda e qualquer criação artística. Neste sentido, parece que não foi objeto do autor a análise do que definimos como o conteúdo filosófico do surgimento da obra de arte, compreendido no círculo hermenêutico, que denominamos círculo criativo. Em linhas gerais, porém, considerando que a obra A Dádiva foi escrita ainda nas décadas de 1970 e 1980, há certo pioneirismo ao compará-la com novos autores que se pretendem libertários em decorrência da nova moda nas análises do direito de autor, demasiadamente ideologizadas, em minha opinião, especialmente após o surgimento dos Creative Commons. Além de A dádiva de Lewis Hyde e das obras de Lawrence Lessig em geral, outros textos que apresentam um viés que pode também ser considerado excessivamente liberal, mas que merecem alguma atenção pelos estudos implementados ou por algumas teses apresentadas são: Copyrights and copywrongs, The rise of intelectual property and how it threatens creativity, de Siva Vaidhyanathan e The soul of creativity, forging a moral rights law for the United States de Roberta Rosenthal Wall. O círculo hermenêutico pode ser compreendido como o locus onde se dá a criação, e, este locus, como se percebe, não é um vazio, um mundo das ideias platônico à espera de um criador-condutor de sua captura para dar vida à sua plenitude existencial. Por outro lado, este con ceito circular e de complexidade filosófica pode (e deve) ser compreendido no âmbito da criação artística, visto que uma criação artística nunca é uma criação artística fora do contexto. A obra é parte de um todo. O todo que é o ambiente do qual ela surge, o qual representa O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 311 Por outro lado, há também um ambiente circular de criação-recepção de cultura no âmbito social do qual participam todos os criadores (potenciais ou efetivos) e receptores/destinatários que, muitas vezes, necessitará de observação do Estado para o estabelecimento de políticas de desenvolvimento cultural. Este ambiente, denominado círculo cultural, no qual se opera o que denomino de circularidade cultural, pretende que todas as potencialidades culturais sejam livremente circulantes e que possam fomentar ao máximo as potencialidades de desenvolvimento cultural e representação de um povo, ao mesmo tempo em que servem como fundamento de desenvolvimento social e educacional. Neste aspecto, é de suma importância compreender (e apontar) a função que deverá ser exercida pelo Estado no fenômeno da circularidade cultural e também é fundamental compreender qual a natureza dos direitos fundamentais em questão e como se deverá proceder numa política legislativa eficiente para o setor. Neste momento, cabe compreender que há uma dupla vertente de proteção dos direitos culturais: enquanto uma primeira vertente de proteção se dá num ambiente de garantia de (acesso aos) direitos culturais (e inclusive pela difusão e divulgação de criações artístico-culturais) e de liberdade criativa, a segunda ocorre pela proteção das criações artístico-culturais. Ou seja, o Estado deve, concomitantemente atuar pela garantia e permissão de liberdade de criação cultural e de liberdade de acesso à cultura.7 Esta primeira análise, 7 a totalidade. Também o todo que é composto por todas as obras do artista que a criou. Igualmente do todo das criações artísticas postas antes dela mesma. Ela sempre se relaciona com seu criador, que por sua vez, igualmente compõe parte de um todo. E pela compreensão do fato do ser criativo encontrar-se num mundo posto, este já é influenciado pela percepção das criações artísticas já postas. A esta concepção do círculo hermenêutico no ambiente das cria ções artísticas nomeio como círculo criativo e o movimento inerente a este locus, circularidade criativa. O círculo hermenêutico, portanto, possibilita que a arte se manifeste, considerando-se seus antecedentes, em uma criação artística. O quanto desta criação deve ser atribuída ao autor é algo que não se pode mensurar no campo direito de autor sem a compreensão do círculo hermenêutico ora adaptado. E mesmo a origem da obra em si, não pode sofrer mensuração qualitativa considerando antecedentes sem a compreensão do círculo hermenêutico. A tarefa filosófica do direito de autor é dizer o quanto o criador pode e deve ser protegido em sua individualidade por ter trazido ao mundo perceptível dos sentidos algo que se plasmou sob a forma de uma criação artística. Neste sentido, entendo que o que está posto como antecedente à criação concretizada no círculo hermenêutico, exige, de fato, um retorno a seu lugar de origem, considerando a possibilidade de circularidade. Isto, porém, não pode ser visto sob o olhar econômico ou do direito sem apreciação da compreensão filosófica deste olhar do momento e do locus da criação. Por outro lado, deve haver garantia da proteção das criações artístico–culturais (fundamentada pela proteção pelo direito de autor) 312 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND aparentemente, localiza os direitos culturais no ambiente dos direitos fundamentais de 1a geração, uma vez tratando-se de proteger as liberdades inerentes à cultura e, por outro lado, o próprio desenvolvimento protetivo dos direitos de autor. Delineando um pouco estes aspectos, e sob uma outra ótica, Jorge Miranda estabelece uma distinção entre a “... Constituição cultural objectiva – a referente às instituições culturais e às incumbências do Estado e da sociedade – e uma Constituição cultural subjetiva – a referente aos direitos fundamentais” .8 Entendo que há aspectos de ordem dos direitos subjetivos e de ordem objetiva em cada uma destas apreciações e, por isso, compreendo que a distinção entre a obrigação de garantia de acesso e a obrigação de proteção da criação são duas faces de uma mesma moeda que buscam um equilíbrio não somente da ordem econômica, mas simplesmente da permissão/remuneração da criação, o que é um dos grandes fundamentos da criação humana do ponto de vista da cultura como a tratamos neste texto. Por outro lado, faz parte também deste estudo analisar que, além da garantia de acesso e da garantia da proteção no âmbito do direito de autor,9 há um elemento que promove um entroncamento a estas duas concepções: em que medida o Estado deve participar para promover a circularidade cultural, possibilitando as plenas liberdades criativas e garantindo, ao mesmo tempo, a proteção aos autores das criações artístico-culturais. Esta função parece não estar totalmente presente no universo da 1 a geração de direitos fundamentais. IV. Da presença do conceito das liberdades inerentes aos direitos culturais na circularidade cultural. Como visto, tanto a permissão de acesso quanto a proteção cultural,10 entre outros elementos, estão incluídos no contexto da circularidade cultural. Antes disso, porém é importante perceber que o primeiro elemento fundamental para compreensão da circularidade cultural é, desde já, apontar que as manifestações culturais (representadas pelas criações artístico-culturais) podem se dar de qualquer 8 9 10 O Património Cultural e a Constituição (Tópicos), em Escritos Vários sobre Direitos Fundamentais, Editora Principia, Estoril, 2006. p. 362. A utilização da expressão direito de autor não importa em exclusão dos direitos conexos, mas somente decorre de uma sintética nomeação, em detrimento de direitos autorais ou direitos de autor e direitos conexos. Eventualmente, porém, no texto, farei uso da expressão em conjunto com direitos conexos, como medida de variar o modo de nomear para dar mais fluência ao texto, portanto, por razão mais estética do que efetivamente técnico-científica. O que inclui, obviamente, a proteção pelo direito de autor. O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 313 forma, ou sob qualquer modalidade. Ou seja, não se pode limitar sob qual forma se dará uma expressão cultural vista como criação artístico-cultural. Por outro lado, o conteúdo por meio do qual se conceberá a criação artístico-cultural também não pode ser delimitado ou indicado. Desta forma, tanto no que se refere à questão de forma quanto à questão de conteúdo, as constituições contemporâneas tem atuado como garantidoras do processo eletivo por parte do criador de qual caminho este optará na sua criação, até mesmo por meio de garantias de liberdade de expressão. Isto se dá por meio da liberdade de criação implementada nos textos constitucionais, sendo certo que algumas constituições tratam de liberdades de expressão em gênero e outras tratam da liberdade de criação artística. Pode-se, portanto, partir de um pressuposto que vem sendo alcançado com as constituições contemporâneas que se refere pela presença, direta ou indireta, da liberdade de criação artística. Dito de outra forma, o conceito amplo das liberdades civis republicanas e oriundas historicamente dos processos constitucionais da revolução francesa e do constitucionalismo norte-americano inclui a liberdade de criação artística, mesmo quando não especificamente indicada, o que conduz até hoje à compreensão destes valores, seja num contexto geral de liberdade (como no caso dos EUA 11), seja no conteúdo mais específico (como no caso, v.g. da Espanha e do Brasil12), ou ainda por meio de discussões, já à época destes momentos constitucionais, de temas inerentes ao direito de autor e direitos conexos. Isto foi observado no próprio surgimento do constitucionalismo, inclusive com a garantia da proteção das criações 11 12 Nos Estados Unidos da América as liberdades mais aproximadas à liberdade de criação artística estão revistas já na primeira emenda constitucional (Amendment 1), por meio da liberdade de religião, liberdade de imprensa e liberdade de expressão: O congresso não poderá criar nenhuma lei referente ao estabelecimento da religião, ou proibindo seu livre exercício; diminuindo a liberdade de expressão, ou de imprensa, ou o direito do povo de se associar em paz, e peticionar ao governo por reparação de ofensas. Na constituição espanhola a liberdade de criação está prevista em conjunto com outras modalidades de liberdades inerentes à cultura, tais como liberdade de opinião, liberdade de cátedra, em seu artigo 20: Art. 20-1. São reconhecidos e protegidos os direitos: a) A expressar e difundir livremente os pensamentos, ideias e opiniões mediante a palavra, escritos ou qualquer outro meio de reprodução. b) À produção e criação literária, artística, científica e técnica. c) À liberdade de cátedra. d) A comunicar ou receber livremente informação verdadeira por qualquer meio de difusão. A lei regulará o direito à cláusula de consciência e ao segredo profissional no exercício destas liberdades. No caso do Brasil estão constitucionalmente previstas a liberdade de criação (Art. 5o, inciso IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença); a proteção efetiva do direito de autor e direitos conexos como direitos fundamentais (Art. 5 o, inciso XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar) e por fim, pela garantia de (Art.5 o, inciso XVIII, a) proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas e (Art.5o, inciso XVIII, b) do direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 314 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND artísticas prevista no Federalista 43, in verbis: Os poderes conferidos pela constituição …: A quarta classe de poderes compreende as seguintes autoridades: 1. A autoridade para promover o progresso da ciência e artes aplicadas, assegurando, por tempo limitado, aos autores e inventores, o direito exclusivo sobre suas escritos e descobertas (sic).13 É importante também compreender que do conteúdo do Federalista 43 pode-se extrair um utilitarismo e um pragmatismo que influenciaria gerações de autoralistas que ajuda(ra)m a formar um senso comum filosófico sobre o direito de autor, que circula entre as justificativas kantianas (de natureza moralista-personalista), lockeanas (de matriz altamente proprietarista) e de tendência utilitarista (especialmente no que se refere a Jeremy Bentham e a J. S. Mill). Ou seja, hodiernamente, portanto, não parece repousar qualquer dúvida quanto ao fato de que a liberdade de criação artística deva estar presente como direito fundamental previsto nos textos atualmente em vigor, oriundos de democracias contemporâneas. A liberdade de criação artística encontra-se de tal modo assentada como direito fundamental de 1a geração que a discussão mais efetiva no que se refere à circularidade cultural talvez não esteja presente neste ambiente, visto que em alguma medida, o Estado, ao promover esta garantia de liberdade, já atua no fomento da movimentação inerente ao círculo cultural. Há de se compreender, porém, que há um contemporâneo conflito no âmbito do direito de autor que traz importantes reflexos para os direitos culturais, e que venho identificando como o conflito entre libertarianistas e conservadores, e que passo a tratar seguidamente. 13 No caso do texto acima, faço a ressalva de que a melhor expressão a ser indicada, do ponto de vista técnico, deveria ser invenções, considerando o fato de que descobre-se algo que existe no mundo ou na natureza, enquanto inventa-se algo por meio de processo criativo. Daí que os autores são protegidos pelo processo criativo por meio de direito de autor e os inventores por meio do direito patentário, pelo processo criativo-inventivo. Não obstante tão fato – plenamente justificável considerando que à época dos Federalistas os conceitos sobre a propriedade intelectual eram um tanto quanto incipientes – o que releva compreender é o fato de que já havia um entendimento de proteção da criação artística, por meio de estímulo ao progresso artístico (e também científico). O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 315 V. Libertarianistas e conservadores. Tendências no senso comum autoralista e reflexos nos direitos culturais. O direito de autor, ainda que seja somente um dos componentes do universo mais complexo dos denominados por direitos culturais, traz reflexos de grande monta ao desenvolvimento cultural e estes reflexos relevam sobremaneira ao também desenvolvimento de políticas públicas culturais, pois dependendo da forma com que se assentam as ideias autoralistas (e a política autoralista), os resultados na produção cultural podem variar. É verdade e evidente que não se pode esquecer que há liberdades que vem sendo observadas e interpretadas sob o viés de um certo “libertarianismo” excessivo, ao se considerar que obras que sejam protegidas por direitos de autor devam ser de livre circulação, em nome do acesso à cultura e informação, como medida de fomento da circularidade cultural. Os argumentos, porém, muitas vezes têm sido excessivamente direcionadores de pontos de vista pouco neutros, isto para não dizer os que são intelectualmente pouco honestos. Tenho classificado esta dualidade por meio de duas tendências, às quais denomino libertarianista e conservadora. A expressão libertarianista, propositadamente reducionista, tem como objetivo, sinteticamente, indicar que parte dos pensadores que tem atuado na seara do direito de autor e da propriedade intelectual apresentam tendências a liberar ou flexibilizar parte do conteúdo protetivo do direito de autor, por meio de atitudes e pensamentos que propõem, por vezes, uma revitalização e, por outras, uma excessiva fragmentação ou esvaziamento do direito de autor e de seu conteúdo. A utilização da expressão acentuadamente e (insisto) propositadamente reducionista foi a opção encontrada para evitar a expressão liberal ou liberais (pelo evidente conflito semântico que apresentaria com o conceito dos movimentos liberais do século XVIII). Também vi por bem não utilizar a expressão libertário, por entender que poderia haver um certo conteúdo preconceituoso nela, confundindo-se com um clamor revolucionário, que efetivamente não é o que pretendo indicar. Por outro lado, a expressão libertário vem sendo utilizada também com outra conotação. Libertário é o modo como se traduz, muitas vezes nos idiomas português e espanhol, o sujeito que se vincula às ideias do libertarismo que, por sua vez, é a tradução para o entendimento contemporâneo de linhas de filosofia política efetivamente liberal (ou acentuadamente liberal) nos EUA, como se observa em muitas fontes e é utilizada, por exemplo, por Michael J. Sandel na sua obra Justice.14 No texto original em inglês, Sandel faz uso das expressões libertarianism e 14 Michael J. Sandel é professor de filosofia em Harvard da mais concorrida disciplina daquela instituição, denominada Justice. Publicou entre outras obras, o livro Justice – What’s the right thing to do, que, em linhas gerais, representa o referido curso e foi traduzido para diversos idiomas. Indica o autor que “(...) os libertarianistas (ou libertários) são partidários que os mercados sejam livres e se opõem a qualquer regulação do Estado, mas o motivo desta sua atitude não é a eficiência econômica e sim a liberdade humana. (...)” Libertarians favor unfettered markets and oppose government regulation, not in the name of economic efficiency, but in 316 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND libertarian para nomear, respectivamente, a linha filosófica libertarianista e seus adeptos. O uso que faço da expressão libertarianista não possui, portanto, qualquer conteúdo das ideias de filosofia política e moral contemporâneas que tenham relação com as expressões indicadas. Por outro lado, no presente texto, oponho o conceito de libertarianista ao conceito de conservador. E, para os fins deste estudo, os conservadores são os pensadores autoralistas que apresentam nenhuma ou pouca tendência a flexibilização ou diminuição da aplicação de conteúdos da sistemática o direito de autor, em qualquer dos sistemas principais, seja droit d’auteur seja copyright. Devo ressalvar, meu entendimento é de que em verdade as posturas podem ser classificadas como conservadoras ou libertarianistas, mas não necessariamente os autores apresentam posições sempre libertarisnistas ou conservadoras. Evidentemente que há uma tendência a um ou outro posicionamento ser mantido pelos autoralistas, mas esta tendência não confirma uma posição fechada. Portanto, há sempre possibilidade de “oxigenações” doutrinárias. Neste sentido, a discussão mais importante que vem ocorrendo (sendo bastante reducionista) é o embate entre os defensores e apoiadores dos Creative Commons e os defensores de uma linha de direito de autor mais tradicional. O que importa indicar, antes de tudo, é que parece que a discussão entre o direito de autor mais tradicional e os Creative Commons faz sentido nos países de filiação ao sistema de copyright, por diversos motivos que valem a pena ser enumerados: 1 - no sistema de copyright a transferência dos direitos pode ser dar na totalidade dos direitos sem grandes discussões técnico-jurídicas; 2 - a possibilidade de atribuição originária da autoria diretamente a pessoas jurídicas;15 3- os EUA possuem todos os mecanismos de distribuição de produtos de entretenimento/cultura que geram grandes volumes na economia mundial, seja por manipulações de mercados locais (muitas vezes por medidas altamente condenáveis, tais como “venda casada” de obras de audiovisual), pela utilização do mercado em língua inglesa, entre outros fatores. Por outro lado, são as próprias poderosas empresas de novas tecnologias (Google; Microsoft; Apple; Yahoo, etc.) que vem tomando posições contrárias aos titulares de direitos de autor e de direitos conexos, com a intenção de, entre outras atividades, possibilitar o “acesso livre” às informações e à cultura, com a incrementação ao de seus bancos de conteúdo (como vem sendo denominadas as criações intelectuais de um modo genérico nesta quadra da história). Em linhas gerais, por estes motivos, pode-se entender que 15 the name of human freedom” E continua indicando que há três tipos de políticas rechaçadas modernamente aplicadas pelos Estados contemporâneos: o paternalismo (como postura política ou mesmo política legislativa), a criação de legislações sobre questões morais e legislações ou questões sobre redistribuição de renda e patrimônio. SANDEL, Michael J. Justice – What’s the right thing to do. Farrar. Straus and Giroux. New York, 2009. p. 59. São indicados como libertarianists ou libertarians nos EUA o economista Milton Friedman, o ex-candidato à presidência dos EUA Ron Paule, entre outros. Em oposição, por exemplo, à lei brasileira, Lei 9.610/98: Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 317 a discussão entre os defensores de uma linha mais tradicional de filiação aos direito de autor e dos entusiastas dos Creative Commons não faz o mesmo sentido no Brasil ou em Portugal e nos EUA. Ainda assim, entendo que as discussões devam também ocorrer no cenário nacional de cada um destes países, em nome de uma evolução do direito de autor e das ideias em geral, mas compreendendo-se que não há correlação absoluta entre a problemática norte-americana e as brasileira e portuguesa, entre outras.16/17 16 17 Outro exemplo desta diferenciação se observa na obra Copyrights and Copywrongs, The rise of intelectual property and how it threatens creativity de Siva Vaidhyanathan, p. 28: “Copyright was to be a balance between the interests of the producer and the interests of the society os consumers, voters and readers. “O direito de autor era o equilíbrio entre os interesses do produtor (producer) e os interesses da sociedade de consumidores, eleitores e leitores.” Como se observa, e complementando que foi indicado no final da nota de rodapé supra, o termo producer denuncia o entendimento típico do sistema de copyright e, portanto, típico da problemática norte americana. Dentre as muitas correntes libertária(nista)s ou relativistas que tem como interesse diminuir a aplicação de pressupostos de direito de autor e de direitos conexos, os argumentos que conduzem à diminuição dos direitos aplicáveis surgem de aspectos inerentes às liberdades. Há um autor português, Vasco Pereira da SILVA, que indica questões referentes tanto a razões econômicas quanto aquelas de interesse das liberdades, tratado de analisar, inclusive, o importante viés constitucional e basilar tantas vezes esquecido pelos autoralistas. O problema é que o autor quer trazer ao ambiente da criação sujeitos que não possuem qualquer possibilidade de serem considerados criadores da obra protegida. Em algum momento o autor resolve estabelecer a distinção - ou a identificação dos sujeitos que se referem à proteção constitucional da cultura. (Vasco Pereira da SILVA, A cultura a que tenho direito. Direitos fundamentais e cultura, Almedina, Coimbra: 2007. p. 95). Defende, posteriormente, que o direito à criação cultural tem como sujeitos, além do criador da obra (Id. p. 97), que está em primeiro lugar, outros sujeitos. Indica o autor que “ o âmbito de proteção subjetiva deve ainda ser alargado a todos aqueles que medeiam entre a criação e o trazer ao público da obra intelectual (muitas vezes substi tuindo-se aos artistas no processo da sua publicitação, divulgação ou mesmo comercialização...” (Id. p. 97). E indica os referidos sujeitos, entre outros: editoras, agentes artísticos, produtores, mecenas e citando o autor alemão IPSEN indica que os mediadores do artista (Mittler der Kunst) cuja atividade é condição de realização da obra de arte, para que esta encontre seu público, também fazem parte do processo. Com a devida vênia ao autor, que de fato se debruçou sobre importantes temas inerentes aos direitos fundamentais, entendo que este pensamento está completamente equivocado em sua mais pura essência, qual seja, a própria origem da criação artística. O criador é unicamente aquele que possui a possibilidade e capacidade de desen volver e trazer do mundo das abstrações psicológicas, sensíveis – do universo não palatável extra-sentidos – as sensações que irão se configurar como criações artísticas. Não há a menor hipótese de se considerar autor alguém que não tenha efetivamente sido o sujeito que possibilitou este nascimento da criação. Pode-se utilizar os argumentos que se entender para atribuir a titularidade ou autoria originária a qualquer outro que não o autor, mas esta atribuição será sempre uma ficção do universo jurídico, seja nas contemplações de titularidades derivadas ou mesmo na consideração de criações como de pessoas jurídicas. Até mesmo o argumento que se possa utilizar com que a criação decorre da percepção humana do que está no mundo, e que, portanto, o criador ser o remetente criador de algo novo (ou fio condutor de algo novo, no ambiente das artes) ainda nestas circunstancias não há que se falar em atribuição do conceito de criador a um terceiro que não este mesmo sujeito que efetivamente trouxe à cabo a possibilidade de transformar um vazio artístico, ainda que com cores de outras criações anteriores, em 318 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND VI - Os transbordamentos fronteiriços dos conflitos típicos do direito de autor. Venho insistindo na ideia de que o direito de autor é um terreno voltado ao surgimento e fomento de vilanias e dualidades radicais. Isto pode ser verificado em muitos momentos de sua história e particularmente em posições que representam interesses de grande monta, como por exemplo nos conflitos entre entidades de gestão coletiva e usuários de obras protegidas e entre artistas do setor musical e companhias fonográficas e editores musicais. Esta espécie de fundamentalismo autoralista e a oposição de interesses daí decorrentes incrementou-se com o transbordamento fronteiriço das questões típicas de oposições do direito de autor para o terreno mais amplo que inclui também as ditas liberdades civis, ou as liberdades no âmbito dos direitos fundamentais. Desta forma, o que antes se configurava como um entorno de conflitos internos, na ordem de direito de autor e o equilíbrio que deveria (e deve) estar presente nesta categoria jurídica, na contemporaneidade transborda-se para além do direito de autor. Neste sentido, podem ser sentidos pelo menos dois efeitos imediatos: Em primeiro lugar o direito de autor passou a ser tema de interesse de uma maior camada da população (até mesmo porque a circulação dos bens culturais passou a ser muito mais ampla). Em segundo lugar, os direitos fundamentais, principalmente no que tange às liberdades, entraram no jogo conflituoso. Ora, desta forma, e considerando que o que passou a ser alardeado foi a tensão entre direito de autor e as exclusividades inerentes a esta categoria jurídica e as liberdades, em especial a liberdade de expressão e a liberdade de acesso à cultura, os conflitos passaram a darse de forma atentatória a aspectos filosóficos e ingressaram no terreno do econômico. Explico: se bem é verdade que parte significativa dos conflitos entre direito de autor e a possibilidade de criação (comportando, portanto, a liberdade de expressão) e a liberdade de acesso à cultura decorre dos excessos na exclusividade do direito de algo novo e perceptível aos sentidos. Um mecenas, portanto, não poderia, em nenhuma hipótese ser comparado ao criador da obra que participa por meio do mecenato, por mais que sua condição seja a de possibilitador da divulgação da obra. Entendo, quando indica o autor que não se trata de uma igualdade de condições. Entendo que defende sua tese (e do citados autor alemão) como uma possibilidade de inclusão dos mediadores culturais na condição de titulares de direitos à liberdade criativa e não criadores em si. Entendo porém, também, que não obstante possibilitarem o livre exercício dos artistas mais criativos, não merecem coautoria nem qualquer atribuição assemelhada com esta, pelo simples fato de possibilitarem uma liberdade. A problemática mais significativa se dá no fato de que a expansão artificial desta condição pretende igualar os criadores aos meros mediadores numa ordem forçosa, considerando que as razões de ordem filosófica demonstradas neste artigo indicam já a sua impossibilidade, visto que os demais partícipes do processo indicados por SILVA não se encontram no círculo hermenêutico de onde surgem as obras. Alegar que são livres para fazer circular a obra não os iguala aos artistas, mas os coloca em condições distintas de mediadores, possibilitadores, difu sores, portanto, seria razoável denominá-los como titulares de direitos de livre difusão da arte, ou outra nomenclatura que se queira utilizar, mas seria excessivamente forçoso denominá-los por titulares de um direito à livre criação artística, mas titulares de direito à livre circulação artística. O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 319 autor, também é verdade que parte do conflito é artificializado por razões muito mais econômicas do que efetivamente de conteúdo concretamente jurídico e filosoficamente adequado (para dizer o mínimo). Ora, ainda que se possa indicar que parte do processo criativo dependa do acesso a bens culturais (considerando-os como criações) é um exagero e uma inadequação afirmar que o direito de acesso à cultura conflita necessariamente com o direito de autor, prejudicando, portanto, necessariamente, o destinatário do bem cultural. Ou seja, em suma, pode-se realmente afirmar que parte significativa do que é produzido culturalmente inclui-se num processo constante de adaptação, reciclagem, revisões, versões e variações sobre a temática de reestruturações, seja de ideais ou de resultados formais, ou seja, obras. Por outro lado, não se pode afirmar que o direito de autor, simplesmente pelo fato de fundamentar-se na atribuição de exclusividades possa interferir de modo tão negativo impedindo o processo criativo. Isto, portanto, no que se refere à liberdade de acesso, para pontuar parte do conflito. Por outro lado, no que tange à liberdade de expressão, visto como processo de criação, o direito de autor não é um natural opositor ou uma espécie de predador natural das liberdades criativas ou da liberdade de expressão. Se é bem verdade que o processo criativo eventualmente possa ser limitado às exclusividades inerentes ao direito de autor (de fato, muitas vezes excessivo) também é verdade que se cria com o que há de disponível como matéria prima. Deve-se compreender que matéria prima, neste sentido, não é somente o que pré-existe como obra criada, mas todo o entorno cultural objetivo, mas primordialmente subjetivo que compõe a possibilidade de criação. A visão de mundo do sujeito-criador, do potencial autor de obras compõe-se como elemento também significativo sem que haja interferência direta inerente a exclusividades concretamente apontáveis como necessariamente violadoras do processo criativo. Ocorre que o direito de autor deve ser aplicado considerando a visão de mundo (Weltanschauung) de cada sujeito-criador que, por sua vez, deve receber a possibilidade de que lhe seja aplicado o direito independente das fontes que conduziram à criação, além, obviamente, de não interferir neste processo o grau de erudição e de estilo decorrente do estudo que recebeu. É portanto um equívoco, à luz do círculo criativo (e das potencialidades criativas), atribuir-se um conflito antagônico constante e aplicável em tese entre direito de autor e liberdade de expressão, pois a liberdade de expressão comporta a maior potencialidade possível de se expressar e criar com o que existe de disponível no círculo criativo18 de cada sujeito-criador. 18 O círculo criativo é um conceito que venho desenvolvendo e que se refere ao locus/momentum (circunstância espaço-tempo) no qual se dá o processo interpretativo-criativo. O sujeito-criador interpreta o mundo por meio de seus sentidos e estabelece um processo interpretativo-criativo por meio do qual irá promover o surgimento de uma manifestação artístico-criativa que irá fun- 320 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND Nesta ordem de ideias, possivelmente um compositor erudito teria mais condições de compor uma sonata em detrimento de um compositor de natureza artística menos voltada à erudição musical. E isto por uma questão cultural, de envolvimento com determinada forma de expressão. O mesmo se daria numa interpretação de uma situação ao inverso em que os executantes de instrumentos musicais de estilos musicais mais populares seguem uma tendência ao improviso menos alcançada nos músicos executantes de filiação mais erudita. E, neste sentido, o acesso a um universo de obras pré-existentes ao processo criativo e que compõem o círculo criativo não pode ser um elemento indicativo de ofensa à liberdade criativa. No mais, se coloca a pergunta: e por que a liberdade de expressão se dá necessariamente em decorrência de como o (um) outro se expressou? O que está disponível na visão de mundo de cada um não é suficiente? O que entendo é que este cavalo de batalha utilizado por posicionamentos demasiadamente libertarianistas representa um argumento falacioso para alcançar uma finalidade injusta e inadequada, o que não significa, de modo algum, falar-se em proteção de direito de autor em detrimento da liberdade de expressão. Por fim, os excessos no fomento e no acirramento do conflito, faz uso de ferramentas que denomino mantras performáticos e que passo a descrever. VII. Os mantras performáticos. Mantras performáticos são expressões utilizadas com o fim, primordial, de buscar um convencimento retórico de ideias presentes no senso comum dos autoralistas e que são utilizadas esvaziadas do seu conteúdo efetivo. O uso de expressões como: o direito de autor é contrário ou ofensivo à liberdade de expressão; a cultura é grátis; o direito de autor protege os criadores, entre outras expressões conduzem ao esvaziamento das aplicações das leis de direito de autor ou a sua utilização ilegítima. Esta utilização ilegítima pode ocorrer por parte de grandes corporações que tem como objetivo construir grandes bases de dados ou cobrar pelo acesso aos denomidamentar a existência de uma obra. É uma adaptação do conceito de círculo criativo gadameriano. O círculo criativo possibilidade que o sujeito-criador esteja em posição de criação a qualquer momento, sendo-lhe dispensado o atendimento a um local de entrada. O círculo criativo (e a circularidade criativa que lhe é ínsita) fazem surgir a necessidade de se promover a aplicação do Direito em determinadas circunstâncias inerentes ao processo interpretativo-criativos. O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 321 nados conteúdos; representantes de titulares, titulares de direito de autor de direitos conexos e associações diversas; associações de consumidores; entidades de gestão coletiva e diversos outros agentes atuantes no cenário do direito de autor que fazem uso dos mantras para criar ideias ideologicamente contrárias a uma ou outra linha de direito de autor, cabendo lembrar a divisão conceitual (insisto, sempre reducionista) em dois grandes grupos (quase sempre diretamente) conflituosos: conservadores e libertarianistas. Os mantras performáticos são expressões utilizadas com a finalidade simbólica e muitas vezes ilegítima, por terem sido baseadas em concepções exageradas e muitas vezes artificialmente conflituosas criadas/surgidas fora de análises filosoficamente justificantes do direito de autor. Por diversas vezes não são necessariamente utilizadas sob a forma de frases, mas ideias, repetidas à exaustão, que também criam um falso convencimento na sociedade de valores que fortalecem um senso comum teórico dos autoralistas que impede reflexões efetivas, em especial do ponto de vista filosófico. A utilização dos mantras performáticos pode se dar em textos escritos; por meio de apresentações em congressos, palestras ou seminários; em textos legislativos; em material de divulgação, sob a forma escrita ou mesmo verbal. O maior perigo dos mantras performáticos é o esvaziamento do conteúdo efetivamente autêntico ou correto que possa albergar e que acaba sendo desvalorizado com o uso de suas ideias centrais fora de contextos, exageradamente, de forma ideológica ou sob a forma de argumentos sob a forma denon sequitor. A utilização por parte de empresas que possuem interesse direto em que a informação e os bens culturais sejam de custo baixo ou nenhum custo de licença ou cessão é um exemplo de utilização de expressões mântricas que buscam simbolicamente esvaziar o direito de autor ao afirmar que a Internet é um território livre ou ainda que o direito de autor ofende a liberdade de acesso à cultura. Ora, é verdade que a Internet deve ser um território livre, mas a existência do direito de autor (por si só) não é o obstáculo à liberdade na Internet (como também deve ser afastada a ideia de que o direito de autor é um predador natural da liberdade de expressão e liberdade criativa. Há outros obstáculos e, por outro lado nem toda obra protegida por direito de autor pode ser considerada um obstáculo à liberdade de acesso. No mais, pode-se relativizar o direito de autor e, portanto, afirmar que ele é um obstáculo por si só é, do ponto de vista da hermenêutica, impossibilitar a sua relativização, o que é altamente paradoxal. Por outro lado, também se está diante do uso de mantras performáticos quando se verifica a utilização de expressões indicativas de que toda a postura política e defen- 322 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND sora do direito de autor decorre da proteção dos interesses do autor, constantemente utilizadas por grandes corporações e entidades de gestão que pretendem confundir a figura do sujeito-criador com o titular de direitos patrimoniais de autor. Este exemplo de mantra performático transforma esta ideia, não obstante o seu conteúdo essencialmente e teoricamente válido, em um argumento falacioso quando quem o afirma não é um sujeito-criador ou até mesmo quando há um desvio na atribuição da condição do sujeito criador sem respeito à igualdade. Os mantras performáticos, como se vê, fortalecem uma tensão existente do ponto de vista potencial entre as liberdades e o direito de autor, possibilitando uma sedimentação injusta e inadequada das dualidades radicais, prejudicando a reflexão sobre o o direito de autor, as liberdades de expressão, de acesso à cultura e, em suma, as reflexões sobre os direitos culturais. VIII - O equívoco das atribuições conflitantes na seara econômica. Um dos equívocos que se destaca no senso comum autoralista é exatamente o de se fazer acreditar que as discussões de direito de autor contemporâneo devem ser amparadas sempre por um viés preferencialmente econômico, sem análise das questões filosóficas. Como alguns dos mais significativos nomes trouxeram elementos de natureza econômica, há uma repetição por parte significativa da academia ressonando ideias aparecem nos conflitos econômico-ideológicos apontados por Lessig, Smiers, Paltry, Hyde (para citar alguns), quando há muitas discussões interessantes propostas por estes autores de matriz naturalmente filosófica. Este viés econômico, ou, dito de melhor modo, esta tendência a estabelecer o conflito na seara dos valores econômicos, vem fomentando as vilanias tão típicas do direito de autor e que, neste cenário transbordam para os direitos culturais, com o uso dos mantras performáticos e com o acirramento de questões que, muitas vezes sequer são as mais relevantes. Assim, ainda que se compreenda que a liberdade de criação artística (que obviamente passa por uma liberdade de acesso à cultura) não é questionável do ponto de vista do conceito de circularidade cultural, é certo também que não se pode considerar que a cultura deve ser gratuita ou por outro lado, garantida pelo Estado em toda a sua amplitude (por políticas de fomento cultural decorrentes de leis de incentivo, leis de meia entrada, etc.). Este processo retro-alimentador de produção cultural é inerente ao círculo cultural, mas efetivamente não pode ser visto como uma vertente de desobrigação de toda uma gama de direitos que estejam intrinsecamente relacionados. Neste sentido, não se pode compreender que direitos de autor diversos de titulares sejam completamente ignorados em nome da liberdade de criação, pois mesmo com a presença dos direitos de autor (e desde o início de sua implementação) sempre houve liberdade O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 323 criativa. No mesmo diapasão, não é justo que os produtores culturais devam encontrar mais dificuldade no âmbito da difusão da cultura por estarem submetidos a obrigações de cunho econômico impostas, sem qualquer questionamento aos próprios produtores culturais, como é exatamente o caso das leis de meia-entrada (somente para citar um exemplo). Ou seja, o conflito da liberdade criativa com a liberdade de acesso cultural é artificialmente trazido ao ambiente da circularidade cultural, locus de importante valor filosófico, quando na verdade o que se pretende, muitas vezes, é definir direções econômicas, políticas e muitas vezes de política de baixo nível significativo e meramente com fins eleitoreiros.19 O ambiente de discussão deve, portanto, ser reavaliado para que as discussões de ordem extra-econômicas possam vir à tona, favorecendo as análises de ordem filosófica. Ou seja, é evidente que as liberdades de acesso à informação e a proteção da cultura estão em conflito, mas o que pretende uma política de implementação efetiva de direitos culturais amparado por aspectos de relevo à criação artística é um catálogo legal que imponha a obediência ao princípio filosófico inerente à circularidade criativa, ou seja, a que a criação é livre e pode ser oriunda da percepção de outras criações anteriores20 e que ainda assim respeite às obras anteriormente criadas, as leis de 19 20 Veja por exemplo o tema das leis de meia entrada existentes no Brasil. Há um evidente acumulo de leis com finalidades que não a verdadeira inserção de categorias de pessoas no ambiente da circularidade cultural pelo acesso a manifestações culturais. Em algum sentido, isto decorre do fato de que a constituição brasileira, excessivamente descritiva na intenção de proteger o cidadão – o que historicamente é obviamente aceitável - acabou criando condições para conflitos de competência, considerando, p. ex. que a União, os Estados e os Municípios devam tratar concorrentemente, sobre questões inerentes às relações de consumo e patrimônio cultural e artístico e educação e cultura, como se depreende do Art. 24, inciso V: Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre: ... VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico...VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico ...IX – Educação, cultura, ensino e desporto. Neste sentido, o que seria benéfico acabou, no tema especifico das leis de meia-entrada e outros temas inerentes à cultura, sendo pernicioso e possibilitador de posturas eleitoreiras. No mais, a atenção demasiada a grupos privilegiados por leis de meia-entrada acaba prejudicando os que não fazem parte dos grupos destacados, e aumentam o valor dos ingressos para atividades culturais. Assim, existem diversos diplomas de competência federal e estadual que instituindo o beneficio da meiaentrada e possibilitando conflitos de competência e políticas eleitoreiras. São exemplos de leis de meia-entrada a Medida Provisória 2208/2001 a Lei estadual (RJ) 2519/96, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003, que não obstante não se caracterizar como uma lei especificamente com esta intenção, também trata do tema em seu artigo 23: A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais) e, para se ter uma ideia, as leis 7844/92; 10.858/01 e 13.715/04 somente para citar o Estado de São Paulo. Ligeiramente distinto, mas com ideia bastante aproximada a que indicamos está o texto de Mario G. Losano, em Sistema de estrutura no Direito, volume 2 – o século XX, Editora Martins Fontes, São Paulo: 2010, p. 35: No mundo do pensamento, as inovações raramente cancelam o antigo, mas, muitas vezes, a ele se superpõem, de forma que a reação a um movimento de 324 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND direitos de autor, as liberdades inerentes ao acesso à cultura e liberdade de acesso à informação. Estando obedecidas estas condições, o círculo cultural será devidamente alimentado pela participação dos criadores e dos destinatários, sem violações de direitos. Pode-se perceber, portanto, que a liberdade criativa está diretamente relacionada à proteção que recai sobre o criador pela lei de direito de autor pela remuneração que lhe é destinada (Lei 9.610/98) e que, portanto, o conflito pode até mesmo não se apresentar. Ou seja, a liberdade criativa permitida ao criador efetivo ou potencial é objeto de proteção no momento em que esta se exterioriza sobre as ideias que passam a ser perceptíveis pelos sentidos, após a tradução do criador de elementos do universo da sensibilidade para o universo da percepção de terceiros. O criador traz do universo cultural abstrato e ilimitado algo que, sob a forma de obra artística, será percebido por terceiros (e ele mesmo) após o processo de exteriorização.21 Assim sendo, o criador é também destinatário da liberdade de acesso, no mínimo pela escolhas das fontes de algo que lhe possa conduzir a uma nova criação, à liberdade de observação, como leitor, receptor, ouvinte, analista de todo este complexo inerente ao destinatário da criação artística que será passível de um processo de retroalimentação no ambiente da circularidade cultural, considerando, também, que há uma saudável espécie de promiscuidade cultural entre as posições ocupadas pelo criador, ora como sujeito criador, ora como destinatário. E esta potencialidade é inerente a toda universalidade de pessoas, numa evidente proteção constitucional de um viés universalizante das liberdades criativas de um lado e de liberdade de acesso, e de recepção de informações, dados e cultura, de outro. Por outro lado, parece não ter havido uma consolidação efetiva das posições ocupadas pelo Estado fora do âmbito dos direitos fundamentais de 1a geração, representados, principalmente, pelo conceito das liberdades. Há portanto, lacunas a serem preenchidas no que se refere às obrigações do Estado em relação ao desenvolvimento da cultura em, constatando-se que, também neste aspecto, o Estado deixou de 21 pensamento assinala o retorno às ideias contra as quais o próprio movimento reagira. Ainda que o texto de Losano se refira a discussões inerentes a estrutura do Direito em modo amplo, em especial sobre o positivismo e o neokantismo, evidencia-se que esta mesma lógica decorre do processo criativo e do que faz parte do circulo criativo que, em grande medida, justifica a própria existência do círculo cultural, considerando que novas criações artístico culturais comprovam o movimento circular de criação. As condições de possibilidade para a proteção de uma criação artístico cultural e, consequentemente uma obra artística são: (1) criatividade – a obra necessita decorrer de uma criação humana; (2) exteriorização – a obra necessita ser exteriorizada pelo criador, trazida ao mundo dos sentidos ao inteligível e (3) originalidade (ainda que relativa) – a obra necessita ser diferente de outras obras anteriormente criadas. O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 325 observar o que Streck correntemente denomina de promessas não cumpridas da modernidade.22 Pode-se concluir, até o momento, que efetivamente há uma preocupação da ordem constitucional em promover uma ampla liberdade criativa, liberdade esta que também se assenta em outras modalidades, tais como liberdade religiosa e liberdade profissional, somente para citar algumas, mas isto não vem sendo suficiente para o fortalecimento do círculo cultural.23 Ora, considerando-se o universo dos direitos culturais, de fato isto ainda não é suficiente, pois entendemos que a cultura, como elemento parte formador do desenvolvimento de um povo, muitas vezes não pode ficar simplesmente à espera de que o seu próprio povo decida como deverá ser indicada a quem, talvez, sequer tenha conhecimento da mesma. Ou seja, a cultura e a manutenção do que são os direitos culturais por meio do acesso a atividades culturais compreendem uma circunstância diferenciada da liberdade de criação artística. Atente-se ao fato de que ao se falar de direitos culturais também se faz referência à necessidade de que a cultura circule, e, neste sentido, a liberdade não é um elemento suficiente para tal efeito. Não há dúvidas, porém, de que este aspecto deve ser visto com bastante parcimônia, ao se compreender que um dirigismo cultural não pode ser implementado pelo Estado, pois, de outra forma, se poderia conduzir a uma situação ainda mais grave do que a simples ignorância da necessidade da participação do Estado nesta circunstância fática a qual já denominamos circularidade cultural. Tudo isto, dito de outra forma, significa que o Estado deve participar do movimento do círculo cultural, ao qual denominamos circularidade cultural. Ocorre que as liberdades civis manifestadas sob a forma de liberdade criativa não atendem à necessidade de impulso difusor da cultura por parte do Estado. Para ser mais direto, ainda que a garantia da liberdade de criação e expressão artística livre esteja presente no texto constitucional, isto não é garantia de que a cultura circule. Evidentemente, permite a circulação, mas não a promove. Ou seja, não é simplesmente permitindo que qualquer criador em potencial tenha liberdade criativa em detrimento de censura que o Estado promoverá o acesso à cultura. Esta ordem de ideias conduz à evidência de que também é necessária uma participação mais efetiva do Estado por meio dos direitos sociais para o desenvolvimento dos 22 23 Sobre o tema e as expressões utilizadas por Lenio Luis Streck, ver, por todas as suas obras: Verdade e consenso – uma teoria da decisão, Editora Livraria do Advogado Forense, Porto Alegre, 5a edição: 2006. Ainda está presente como representação do Brasil o trinômio futebol-praia-samba, muitas vezes como se não existisse qualquer outra modalidade de manifestação cultural. 326 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND direitos culturais. Ora, se a liberdade criativa decorre de uma necessidade de possibilitar a maior amplitude possível de criações artísticas, os direitos sociais tem como função trazer à sociedade o que o liberalismo não permitiu que surgisse em condições igualitárias. O que se pretende é que manifestações artístico-culturais sejam efetivamente promovidas pelos direitos fundamentais sociais, além de todo o entorno de participação ativa na circulação cultural já indicado neste estudo. IX. Da cultura como complementação do processo educacional. Desde há muito deve ser percebido que o fato de a cultura ser a manifestação representativa de um povo não afasta sua caracterização como conjunto de conhecimentos que fortalecem a educação. Ou ainda, pelo menos deve se afastar o entendimento de promoção da cultura como complemento do binômio “pão e circo” e tratá-la como elemento para uma melhoria na formação da sociedade e desenvolvimento de diversas ordens, inclusive, econômica. Por outro lado, a cultura representa um povo porque este se vê representado nela. E desta forma, só poderá se ver representado em uma manifestação cultural aquele indivíduo que compreende o universo cultural do que faz parte. Como é evidente, somente poderá ser representado na cultura alguém que tenha acesso à ela.24 Neste sentido, a necessidade de implementação de elementos de educação que possam permitir um ponto de partido idêntico ou assemelhado a todos os participantes da sociedade decorre da presença, no ambiente educacional, das variadas e distintas manifestações representativas de um povo, sob a forma de conjunto de conhecimentos culturais (conjunto de conhecimentos que possa ser formador das capacidades de desenvolvimento da pessoa, por meio de manifestações culturais).25 24 25 Neste sentido, é ainda mais relevante a implementação do acesso à cultura, e ainda mais, por meio de uma valorização de uma cultura nacional, diferenciadora, ao mesmo tempo em que se deve promover o acesso às diferentes manifestações culturais, com a finalidade de, ao mesmo tempo, situar o destinatário das manifestações culturais no universo mais amplo possível, mas, outrossim, de faze-lo compreender o universo cultural do qual faz parte, evitando uma compreensão artificial e já tão acentuada em uma padronização cultural. Este fato, inclusive, decorre do que bem indicou Ahmet DAVUTOGLU, A hegemonia econômica e política [...] da civilização ocidental [...] faz de sua cultura um padrão válido em termos globais para sociedades diferenciadas. Tal homogeneização da cultura global, contudo, está se tornando uma ameaça ao pluralismo cultural, um pré-requisito para qualquer tipo de diálogo e interação entre civilizações, cujo discurso é incoerente com a ausência de pluralidade. (grifei), Em: Cultura global versus pluralismo cultural: hegemonia civilizacional ou dialogo e interação entre civilizações, em Direito Humanos na sociedade cosmopolita, organizador: BALDI, Cesar Augusto, Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2004, p. 105. Para simples reflexão é importante compreender alguns elementos entre as culturas de massa, erudita e popular: Cultura de massa – é a cultura originária da produção industrial e não do surgimento espontâneo como manifestação social. É possível, porém, que seja originária de uma O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 327 A educação, portanto, está diretamente relacionada à cultura e, neste sentido, deveria ser efetivamente considerada a universalização das diversas manifestações culturais, visto que enquanto que se considera que o objetivo da universalização educação permite o conhecimento mínimo e básico para se alcançar o mesmo ponto de partida para todos os membros de uma sociedade,26 deveria estar a cultura presente, no mínimo, como complemento do processo educacional,27 e, neste caso, mesmo quando necessariamente tivesse que ser promovida pela Estado. Ora, mesmo eventualmente interpretando-se a cultura como meramente complementar ao processo educacional (e não como representatividade de um povo) também deve haver um mínimo desenvolvimento cultural a ser implementado o que conduz à compreensão do desenvolvimento cultural ao nível de proteção da educação, como direito fundamental social e não um direito de natureza difuso de difícil identificação.28 Desta forma, todos deveriam ter acesso à cultura, como possibilidade para que, diante de cada critério pessoal e de acordo com as manifestações de seu interesse, possam ser feitas escolhas de complementação educacional. Há de se compreender, portanto, que o processo de desenvolvimento cultural, por ser dinâmico e contido na circularidade cultural, necessita de estímulo, especialmente para inclusão das classes sociais economicamente menos favorecidas. Pode parecer pouco, mais um simples concerto de música erudita numa praça pública com uma 26 27 28 migração artificial de uma cultura popular ou erudita para o ambiente da indústria cultural. Cultura erudita – É a cultura originária de um grupo social que ao se expandir para além das fronteiras deste, é compreendida por outros grupos como importante e necessária para a eleva ção ou manutenção do status social. Cultura popular – É a cultura originária de um grupo social, determinável ou não, sem transbordamentos para além deste, e representativa de sua coletividade criadora. É a cultura para consumo interno do grupo social que a criou ou deu origem. O que deveria ocorrer por meio de um “ponto de partida” universalizado por meio da efetivação da universalização da educação, ponto no qual ainda não chegamos no Brasil, ainda que a universalização do ensino fundamental já seja uma grande vitória. Como visto, é importante identificar o conteúdo do que se pretende compreender como cultura no universo jurídico, e, em especial, no contexto do direito constitucional. Há um certo padrão constitucional na compreensão do que seja cultura observado nas diversas constituições democráticas. Este padrão não segue a compreensão do que seja a cultura num sentido amplo mas, sim do que seria a cultura a ser promovida, estimulada ou desenvolvida pelo Estado. O padrão deveria ser um pouco mais direcionado à indicação da cultura como manifestação de expressão do povo, mas, insistimos, sempre relacionada ao conteúdo da educação. Neste sentido, este conceito de cultura, se aproxima, evidentemente, do conteúdo de educação como direito fundamental social e, portanto, de obrigação de cumprimento por parte do Estado, o que fortalece a compreensão de cultura ou de direitos culturais como direitos fundamentais como direitos sociais, portanto de 2 a geração, em conjunto com a sua concepção como direitos de 1ª geração e, eventualmente, de 3ª geração. Ou como um vertente das liberdades criativas, que, neste caso especificamente, não apresentam qualquer relação. 328 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND programação de compositores nacionais faz, por si só, grande diferença do ponto de vista do estímulo para a criação musical e para a absorção da cultura brasileira. Uma multiplicação de atividades desta natureza fomenta o interesse e desenvolve a difusão cultural, o que pode não ser visto como uma preferência qualitativa nas atividades culturais em países como o Brasil,29 em que o catálogo de direitos sociais ainda se apresenta tão incompleto diante das obrigações do Estado, mas certamente fomenta o interesse e sedimenta os valores culturais a longo prazo.30 X. Da consideração dos direitos culturais como direitos fundamentais sociais. Como já foi visto, é fundamental salientar a relevância do desenvolvimento cultural para um país que pretende valorizar sua cultura e para que possa compreender os valores formadores da sociedade que o compõe. A cultura e sua proteção, porém, sempre foram atividades consideradas de segunda linha, até mesmo quando políticas populistas são aplicadas.31 Não se percebeu, portanto, que os direitos culturais não podem ocupar um lugar de importância no constitucionalismo se não se considerar a cultura como um elemento formador social. Um valor importante para a sociedade. Esta é a dificuldade inerente a consideração efetiva do constitucionalismo dos valores culturais. A ocupação de um lugar periférico no texto constitucional (e nas discussões constitucionais) somente ajuda a afastar a compreensão de que a cultura é fundamento ético e formador do povo brasileiro.32 No caso da CRFB somente no Art. 215 e seguintes houve indicação mais precisa do que seria (ou de como deveria se dar) a presença do Estado no ambiente de proteção cultural, do ponto de vista constitucional. Percebe-se que a sua localização no texto constitucional, mesmo considerando-se que é obedecida uma ordem lógica de ideias proposta pelo texto constitucional em vigor, também significa, em alguma medida, um certo desprezo que o Estado brasileiro possui pela proteção da cultura, em detrimento de como a cultura é vista em outros países. 29 30 31 32 Digo isto, pois o dirigismo cultural sempre é uma preocupação em países de constitucionalidade ainda tardia, com possiblidade de resgate (ou promoção) de atuações populistas. O mesmo ocorre com outras atividades mas que, diante de uma maior popularidade, estimulam uma maior participação da sociedade e tem resultado mais evidente e facilmente comprovável. Basta pensar que quando algum esportista se torna um profissional de destaque logo ocorre uma maior procura pela prática de tal esporte. Como muitas vezes se observa em medidas de política legislativa típicas de leis de incentivo e leis de meia entrada, somente para citar algumas. Como já citei neste mesmo artigo, e insistindo nas palavras de BARRETTO: o acesso ao conhecimento irá tornar o homem livre, pois será o ato mais revolucionário de toda a cultura humana. O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 329 Sabemos, portanto, que os direitos fundamentais sociais não são de fácil concepção e efetivação. 33 Deve-se compreender, portanto, que não obstante o fato de que a grave crise paradigmática que atravessa o Direito atinge todas as suas áreas, o direito constitucional e, em especial, os direitos fundamentais parecem ser os mais sacrificados, seja pela dificuldade de implementação, seja pela inefetividade constante. E, tratando-se de inefetividade, se é possível apontá-la em ambientes protetivos da saúde e outros componentes de ordem assumidamente mais relevantes para o Estado, imagine-se a inefetividade no universo do desenvolvimento cultural e da educação. São, pois, direitos mais “caros” que outros grupos de direitos e custam altos valores aos cofres do Estado e, portanto, também custam muito aos contribuintes. Imaginese ao considerar direitos que além de “caros” ainda são considerados de segunda linha, como é o caso da proteção e acesso à cultura. Por outro lado, no que se refere à educação, as obrigações do Estado devem seguir em direção a uma busca de igualdade (de conhecimento de elementos culturais básicos) como ponto de partida. Isto porque, como afirma LEAL: O que está em jogo com esta perspectiva do conceito de igualdade é exatamente a garantia sistemática e integral de comandos constitucionais principiológicos atinentes ao pluralismo e à diversidade social, assegurando o tratamento diferenciado-igualizador de sujeitos desigualados materialmente.34 A igualdade possui o condão coletivista de permitir o acesso de todos à educação como meio de possibilidade de participação (e inserção) social.35 Neste sentido, o acesso às manifestações culturais, como medida de conduzir o ser humano a uma formação básica que lhe coloque em condições de igualdade com os demais, é uma 33 34 35 Neste sentido, cabe indicar, ainda que em referência ao direito à saúde (mas também da ordem dos direitos fundamentais sociais, o entendimento de Rogerio Gesta LEAL: “Assim, o direito à saúde não pode se concretizar, ou pelo menos não se concretiza somente através de uma politica constitucional, eis que esta é, prima facie, uma projeção imperativa sobre órgãos constitucionais do Estado das contingencias de varias esferas da sociedade.” A quem compete o dever de saúde no direito brasileiro? Esgotamento de um modelo institucional, em www.tjrs.jus.br/ex port/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/doutrina/doc/DireitoSaude.doc, p. 20. LEAL, Rogerio Gesta, Condições e possibilidades eficaciais dos direitos fundamentais sociais - os desafios do Poder Judiciário no Brasil, Editora Livraria do Advogado, 2008, Porto Alegre, p. 127. A educação não deve ser, porém, amparada por políticas de restrição estatais de desenvolvimento cultural ou mesmo direcionadoras, ou nas palavras de Jorge Miranda, “ O Estado não pode atribuir-se o direito de programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, estéticas, politicas, ideológicas ou religiosas. (Liberdade religiosa e Liberdade de Aprender e Ensinar, em Escritos Vários sobre Direitos Fundamentais, Editora Principia, Estoril, 2006, p.197. 330 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND vertente da proteção e garantia da dignidade da pessoa humana36 e este sentido evidencia que os direitos culturais, ainda que no que corresponda ao menos neste aspecto, são da natureza dos direitos humanos.37/38 Isto parece ser compreendido em outros aspectos sociais, tais como o acesso às novas tecnologias (já não tão novas assim), como Internet e telefonia celular. Utilizando-se exatamente deste exemplo, é necessário compreender que o conteúdo do que se pretende possibilitar por meio do acesso tecnológico é o verdadeiro objeto da proteção. Ou seja, quando se fala em garantia de acesso à Internet, fala-se em inserção social para que se possa permitir o acesso à formação cultural. Neste sentido, não há porque se considerar o acesso às novas tecnologias um direito fundamental e não considerar o acesso ao elemento intrínseco da formação cultural. Claro, e não se pode ser ingênuo, que deve se considerado que parte da inserção tecnológica decorre da necessidade / possibilidade de comunicação, até porque, o que se observou, nos últimos anos, foi o rompimento do paradigma comunicacional e não de efetivo conteúdo em decorrência de um surgimento espontâneo e exponencial de novas ideias. Dito de outra forma, o que efetivamente rompeu o paradigma anterior não foi a quantidade de novas informações (ou mesmo conteúdo) ainda que não se possa olvidar que a própria tecnologia traz um maior desenvolvimento de conhecimento que lhe é intrinsecamente relacionado, mas o que trouxe uma circunstância perfuro-cortante foi o desenvolvimento tecnológico inerente à comunicação. Por isso, tenho defendido a utilização da expressão sociedade tecno-comunicacional desde 10 anos atrás.39 De toda esta discussão, porém, o que mais releva é perguntar: se o direito ao acesso às novas tecnologias já vem sendo indicado como a causa ou consequência de uma 4 a geração de direitos fundamentais, o que falta para compreender que os próprios direitos culturais e proteção da cultura também devem ocupar o mesmo espaço? 36 37 38 39 “O princípio da dignidade pressupõe também o acesso aos bens espirituais, como a educação e a cultura, e o respeito a sentimentos propriamente humanos”. Vicente de Paulo BARRETO, O fetiche dos direitos humanos, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010, p. 71. Diante da vulgarização da compreensão do que são os direitos humanos, é importante salientar a presença de diversos elementos no conteúdo dos denominados direitos culturais, sendo certo que há valores que podem ser considerados como de direito humanos, tal qual o acesso à cultura e a liberdade de criação e proteção (da obra) e remuneração pelo uso, independente da qualidade da criação, todos amparados pelo sentido da liberdade em um ambiente de igualdade. O que pretendem os direitos humanos não é acrescentar um elenco o mais amplo possível de direitos que sejam garantidos pela sua natureza. O que pretendem os direitos humanos é garantir o mínimo existencial que garanta a sobrevivência com dignidade no ambiente de igualdade em que coabitam os homens livres. E para isto, os direitos humanos pretendem que haja igualdade de condições para que o marco zero de onde partem todos os homens seja idêntico. Não se pretende, com a aplicação dos direitos humanos, subnivelar ou sublevar direitos, mas manter o igual tratamento dos direitos no universo que os mesmos ocupam. Neste sentido, tratar qualquer direito como direito humano, sem que o seja é supervalorizar um direito que não merece tal condição em detrimento da desvalorização de todos os demais. Entrar por este tema seria seguir por vias demasiado distantes do que pretendo neste estudo. Ver minha obra Internet, privacidade e dados pessoais, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2003. O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 331 Ora, a compreensão de que os direitos culturais fazem parte do escopo dos direitos fundamentais (em posições que devem ser efetivamente reavaliadas) e concomitantemente de um catálogo de direitos humanos, conduz à compreensão de que o próprio Estado não pode se exceder, inclusive, na negação do acesso à cultura, sob pena de estar violando aspectos dos direitos culturais pertencentes a cada uma das gerações de direitos fundamentais.40 Ou seja, se o acesso tecnológico deve ser considerado direito fundamental, com mais razão a proteção efetiva dos fundamentos culturais, do acesso a cultura em si e das liberdades criativas. É inevitável, portanto, uma reavaliação da posição ocupada pelos direitos culturais nesta quadra da história. O que parece ser de alguma dificuldade por parte do Estado é a compreensão que o desenvolvimento cultural faz parte deste ambiente de proteção e mínimo a ser garantido pelo Estado, não como um direito de categoria inferior ou mesmo um direito difuso (de 2a ordem) na aplicação ou na “compreensão” por inexatidão de seu conteúdo, mas um conteúdo de primeira grandeza, fundamental para a formação do indivíduo na sociedade. É neste sentido que se deve compreender que os direitos culturais devem ser efetivamente considerados direitos fundamentais sociais e urgem de implementação efetiva para que o desenvolvimento cultural do Brasil possa gerar uma sociedade culturalmente mais rica, produtiva e educada no sentido mais amplo, ainda que o processo ocorra de forma lenta e gradual. Sob este enfoque, o ponto nodal deve ser a necessidade de efetivação dos direitos sociais culturais como complemento à educação. Por outro lado, a inefetividade dos direitos culturais ocorre também como consequência da inaplicabilidade dos fundamentos protetivos da cultura no universo constitucional. A garantia/proteção de uma (cláusula geral da) cultura41 não é autoaplicável, necessitando de complementação posterior infraconstitucional. Nisto, ao menos no que se refere ao conteúdo do Art. 215, as obrigações conferidas são de 40 41 Tal circunstância é mais bem compreendida no ambiente dos direitos fundamentais de primeira geração (em relação a um conceito mais genérico de liberdade) bem como em relação aos direitos sociais de 2a geração relacionadas a saúde e à educação em sentido restrito – acesso a escola, por exemplo, por meio de cotas de participação. “Como direito do homem e do cidadão, os direitos fundamentais, são uma vez, direitos de defesa contra os poderes estatais. Eles tornam possível ao particular defender-se contra prejuízos não autorizados em seu status jurídicoconstitucional pelos poderes estatais no caminho do direito.” HESSE, Konrad, Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1998., p. 235. Em especial dos direitos culturais, pouco aclarados no decorrer do texto constitucional e do acesso à cultura. 332 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND resultado42 da qualidade das normas programáticas, e pode conduzir a que alguém afirme “ ... que os direitos que dela constam, máxime os direitos sociais, tem mais natureza de expectativas que de verdadeiros direitos subjectivos, aparecem, muitas vezes, acompanhadas de conceitos indeterminados ou parcialmente indeterminados” (grifei).43 Por outro lado, e já ingressando em tema específico relacionado à inefetividade, é evidente que não se destina ao setor cultural verba sequer próxima do razoável, mesmo considerando a dificuldade de implementação da ordem econômica em decorrência da reserva do possível.44 Neste sentido, e como bem indica CANOTILHO, a reserva dos cofres do Estado coloca problemas de financiamento mas não implica o grau zero de vinculatividade jurídica dos preceitos consagradores de direitos fundamentais sociais,45 até porque, como ensina o mestre coimbrão, o recorte jurídico-estrutural de um direito não pode nem deve confundir-se com a questão do seu financiamento.46 Diante do exposto, observe-se que o fundamento geral da proteção dos denominados direitos culturais se apresenta, do ponto de vista constitucional, no artigo 215 da CRFB, com o seguinte teor: Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Não obstante o estabelecimento da garantia dos direitos culturais, o texto constitucional não define ou indica quais seriam estes direitos. Portanto, a compreensão dos direitos culturais deve, antes de tudo, considerar a indicação do objeto de proteção e dos sujeitos relacionados (seja o cidadão que deverá ter acesso à cultura, seja aquele que pretende ser protegido no ambiente criativo das artes e da cultura). 42 43 44 45 46 MIRANDA, Jorge, Teoria do Estado e da Constituição, Editora Saraiva, Rio de Janeiro, 2003, p.442. MIRANDA, Jorge, Teoria do Estado e da Constituição, Editora Saraiva, Rio de Janeiro, 2003, p.442. Importante salientar que o investimento em cultura, esportes, turismo e entretenimento nos próximos anos no Brasil poderá trazer retorno institucional e econômico altamente significativo, isto se as diferentes instâncias de poderes atuarem de modo a que os investimentos em eventos internacionais tais como os Jogos Mundiais de 2014 no Brasil e as Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro possam ser utilizados a favor do Estado e da sociedade. Neste sentido, indico que, em circunstâncias como a que no momento se apresenta, as novas valorações e considerações sobre o conteúdo da reserva do possível se fazem necessárias. Por outro lado, urgem medidas procedimentais de controle das contas públicas. CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Metodologia Fuzzy e camaleões normativos na problemática atual dos direitos econômicos, sociais e culturais, em Estudos sobre Direitos Fund amentais, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, p. 109. CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Metodologia Fuzzy e camaleões normativos na problemática atual dos direitos econômicos, sociais e culturais, em Estudos sobre Direitos Fund amentais, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, p. 108. O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 333 Por outro lado, e também observando o que indica o texto constitucional seguidamente, o Artigo 216 também necessita de uma observação à luz de uma complementação infraconstitucional, visto que também se caracteriza (em sua essência) como cláusula geral não auto aplicável e neste caso, simplesmente indica a existência de necessidade de proteção do denominado patrimônio cultural, sem, porém, esclarecer condições ou modalidades protetivas: Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Por sua vez, a própria legislação infraconstitucional, que deveria estar destinada a estabelecer políticas legislativas eficazes de proteção, no caso específico do patrimônio cultural e da complementação do teor do Art. 216, em termos objetivos não confere grau de proteção razoável. No mais das vezes, o que se pode indicar como legislação infraconstitucional complementar e referente ao Art. 216 são o Decreto 3551/200047 cujo objetivo é estabelecer livros de registro de bens culturais de natureza imaterial, o que não garante qualquer acesso à cultura mas serve unicamente de registro declaratório de manifestações culturais que fazem parte do patrimônio cultural imaterial48 e, por outro lado, a Lei 9.610/98, quando estabelece, em seu artigo 45, a ressalva a proteção aos conhecimentos étnicos e tradicionais.49 Ou seja, também o 47 48 49 Em verdade, não obstante a legislação que objetiva definir e salvaguardar o conteúdo do patrimônio cultural, qual seja, o Decreto 3551/2000, existe ao menos uma significativa modalidade de proteção constitucional por meio do uso de ferramental típico dos direitos coletivos/difusos, que e a aplicação da ação popular. O conteúdo declaratório dos bens imateriais registrados, no mais das vezes, serviria como fundamento em eventuais demandas da ordem do direito internacional tendo o Brasil como titular perante organizações internacionais, tais como a UNESCO e a OMPI. Por outro lado, o conteúdo em si é de tão diversa natureza que não corresponde a um arquivo efetivo ou conjunto de bens acessíveis ao público, tais como se pode observar no endereço eletrônico do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial em http://portal.iphan.gov.br. Que constitui tema demasiadamente específico se comparado com o que se expõe neste estudo. Cito, porém, o dispositivo indicado da Lei 9610/98: Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: I – as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores; II – as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais (grifamos). 334 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND teor do Art. 216 não parece indicar precisamente como devem ser fundamentados e efetivados os direitos culturais como complementação educacional pois o simples registro de atividades ou patrimônio cultural está longe de garantir desenvolvimento educacional efetivo e é tema distinto do que ora indico neste texto. Diante destas primeiras observações, já se pode constatar que os direitos culturais, não obstante o seu posicionamento relativamente (e forçosamente considerado) periférico no texto constitucional, além de toda a evidência de serem considerados direitos fundamentais, podem, em uma análise mais apurada, ser considerados direitos de 1a geração (no sentido do já observado à luz do seu conteúdo de liberdades) e, no sentido do necessário acesso à cultura como complemento inerente à educação, direitos fundamentais sociais, portanto, de 2a geração (para dizer o mínimo), com as características inerentes a estas categorias. No mais, se há uma consideração de que os direitos de acesso à tecnologia da informação e aos elementos da sociedade da informação (que denomino sociedade tecno-comunicacional) são direitos fundamentais de 3a ou 4a geração, também o próprio direito ao conteúdo cultural e as ferramentas de acesso não tecnológico devem ser assim observadas (em concomitância com as demais categorizações), como tenho defendido. Especificamente quanto ao posicionamento na 2a geração de direitos fundamentais, este aspecto há de ser salientado, pois na maioria das vezes os direitos culturais são completamente esquecidos desta 2a geração de direitos como complemento educacional, ainda que a educação componha os valores inerentes aos diretos sociais, como previsto no caput do dispositivo constitucional que os indica: Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição. Assim, considera-se que a proteção da cultura e, portanto, dos direitos culturais, estaria submetida ao crivo do interesse, eventual, da sociedade civil por meio de mecanismos (forçosamente) próprios (à cultura).50 50 O fato de o Estado “esquecer” a existência de direitos culturais, não obstante a previsão programática constitucional conduz a um fortalecimento de medidas (quando muito) da ordem dos direitos difusos. A consideração dos direitos culturais como de natureza difusa, por sua vez, trazem em si um aspecto de relevo, que é o fato de perceber que há mecanismos constitucionais de controle da integridade do patrimônio cultural. Por outro lado, esta visão acaba por ser, para dizer o mínimo, levemente excludente das obrigações do Estado em relação ao denominado complemento educacional por meio do acesso à cultura. Ou seja, ainda que, do ponto de vista da consideração dos direitos culturais como direitos de 2a geração, e, portanto, como direitos fundamentais sociais, sejam absolutamente pertinentes as críticas decorrentes da impossibilidade de cumprimento das promessas da modernidade, em decorrência da catalogação dos direitos culturais ao lado da educação e da cultura, somente para citar os mais relevantes, a consideração eventual de direitos culturais sob a forma de direitos difusos, portanto de 3 a geração, traz alguns benefícios de ordem prática e que conduzem a uma (relativa) efetividade. Neste sentido, talvez o mais relevante seja o instituto da ação popular, presente no ordenamento brasileiro e português, que merece especial consideração. Tanto Brasil quanto Portugal possuem O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 335 esse mesmo instituto jurídico presente em seus diplomas constitucionais, cabendo somente salientar que o objetivo da ação popular não se restringe à tutela do patrimônio cultural, permitindo um escopo de proteção ainda mais amplo. Desta forma, na CRFB, em seu art. 5º, inciso LXXIII, institui-se que: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à morali dade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O ordenamento português, por sua vez, trata da ação popular através do teor do art. 52. 3., que dispõe: “É conferido a todos, pessoalmente ou através de associações de defesa dos interesses em causa, o direito de ação popular nos casos previstos na lei, incluindo o direito de requerer para o les ado ou lesados a correspondente indenização, nomeadamente, para: a) promover a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial das infrações contra [...] preservação do [...] patrimônio cultural; [...] No ordenamento brasileiro, o objeto da tutela em sentido amplo é o patrimônio público (contra atos lesivos que lhes possam ser praticados). Dessa forma, há, em certa medida, proteção adequada ao patrimônio histórico e cultural no seio da CRFB, mesmo sem a necessidade de qualquer modalidade de registro de bens como componentes do Patrimônio Cultural do Brasil. Dito de outra forma a garantia de manutenção dos bens é efetivada, ainda que isto não signifique, diretamente, acesso aos bens culturais, mas ao menos, garante a sua sobrevivência, por assim dizer, para a garantia do acesso. Por outro lado, a própria natureza da ação popular traz em si particularidades que facilitam o seu uso, a saber: a atribuição de qualquer cidadão como parte legítima para ingressar com a mesma e a isenção das custas judiciais e eventuais ônus de sucumbência. Tais particularidades têm como objetivo facilitar a proteção do patrimônio cultural. É também importante relevar que o cidadão poderá impetrar a ação popular ainda que não esteja em seu domicílio eleitoral e mesmo que não pertença à comunidade a que respeita o litígio. De toda forma, o que ambienta o uso do referido remédio constitucional são dois requisitos, um de ordem subjetiva e outro de ordem objetiva. O requisito de ordem subjetiva já fora analisado, pois que este é a exigência para que a legitimidade ativa seja exercida somente por cidadãos, sem qualquer outra exigência prevista no texto constitucional. No que se refere ao requisito de ordem objetiva, este configura-se por ser um ato de ação ou omissão do Poder Público que venha a lesar o patrimônio público, devendo, portanto, ser impugnado. Outro ponto a ser colocado no que se refere à ação popular é a consideração sobre qual a natureza de atos poderiam ser objeto de sua tutela; se somente aqueles inerentes à administração pública, portanto, atos de cunho administrativo direto, ou se estaria possibilitada a tutela também a atos de cunho legislativo ou inerentes ao judiciário. Acreditamos que o patrimônio cultural do país poderia ser violado por todo e qualquer ato inerente ao Poder Público, sendo irrelevante a natureza do referido ato. Por fim, importante notar que a ação popular somente caberá em casos práticos, nunca na análise de lei em tese. O ordenamento português, por sua vez, define que o objeto será constituído pelos bens do Estado, das regiões autônomas e das autarquias locais, bem como a saúde pública, os direitos dos consumidores, a qualidade de vida e a preservação do ambiente e do patrimônio cultural. No que pesem algumas diferenças terminológicas quanto ao funcionamento do referido mecanismo de proteção em ambos os países, o que de fato nos interessa é ressaltar a sua eficiência como método de garantia da preservação do patrimônio cultural e manutenção da existência do patrimônio como garantia primeira do acesso. Compreendido, de modo genérico, o mecanismo de funcionamento do modelo da ação popular pode-se compreender que a própria consideração dos direitos culturais como direitos difusos, ainda que sem uma consideração da ordem de 1 a ou 2a gerações, já apresenta a discussão sobre a necessidade de preservação do patrimônio cultural e, portanto, do acesso à cultura de um modo genérico, o que já um grande passo em termos da efetivação dos direitos culturais. 336 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND Não obstante o entendimento de que não há distinção qualificativa dos direitos fundamentais, consoante o seu surgimento e sendo a classificação em gerações uma consequência cronológica e histórica, resta evidente que o Estado promoveria uma maior atenção à cultura se considerasse que esta faz parte do grupo dos direitos de 2 a geração, ao lado da proteção da saúde e da educação, em especial porque as políticas públicas de disseminação da cultura nacional seriam muito mais presentes e não se dariam somente sob a forma de declarações, registros, inventários, tombamentos ou outras atividades que, não obstante a sua importância, não são suficientes para fazer chegar o conteúdo cultural à parcela da sociedade que necessita de tal formação cultural, principal objetivo dos direitos culturais. Tudo isto deve ser visto, porém, sem esquecer a problemática inerente aos direitos fundamentais sociais decorrentes da dificuldade em efetuar a manutenção econômica dos valores constitucionais.51 XI. Da necessidade de valorização das atividades culturais como elemento formador humano e da sociedade. Como já constatado no decorrer do presente texto, a cultura é vista como um aspecto supérfluo na formação dos povos na contemporaneidade e o Brasil, neste sentido, segue a cartilha com exatidão, como se pode constatar na própria participação do Ministério da Cultura no orçamento nacional.52/53 51 52 53 Ou, como diz MENDES et alli: Noutras palavras, como os direitos sociais demandam medidas redutoras de desigualdades [...] e essas medidas dependem quase que exclusivamente de investimentos estatais [...] o grande problema para a efetivação desses direitos reside mesmo é na escassez de recursos para viabilizá–los – o chamado limite do financeiramente possível –, perversamente mais reduzidos onde maior é a sua necessidade, ou seja, naquelas países absolutamente pobres, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Curso de Direito Constitucional, Editora Saraiva, 4a edição, Rio de Janeiro, 2009, p. 760/761. Ou, como diz MENDES et alli: Noutras palavras, como os direitos sociais demandam medidas redutoras de desigualdades [...] e essas medidas dependem quase que exclusivamente de investimentos estatais [...] o grande problema para a efetivação desses direitos reside mesmo é na escassez de recursos para viabilizá–los - o chamado limite do financeiramente possível -, perversamente mais reduzidos onde maior é a sua necessidade, ou seja, naquelas países absolutamente pobres, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Curso de Direito Constitucional, Editora Saraiva, 4a edição, Rio de Janeiro, 2009, p. 760/761. No ano de 2013 o orçamento do setor cultural (por meio da dotação orçamentária destinada ao Minc) teve considerável incremento, esperando-se, tão somente, que não se trate de uma destinação eventual, mas efetivamente uma mudança de pensamento sobre a importância da valorização da cultura no país. Sobre o tema, ver: http://blog.planalto.gov.br/ministerio-dacultura-tera-orcamento-de-r-3-bilhoes-em-2013-afirma-dilma-ao-empossar-marta-suplicy/ e http://www.cultura.gov.br/leis/-/asset_publisher/aQ2oBvSJ2nH4/content/orcamento-do-ministe er io-da-cultura-de-2013/10895. Sobre o detalhamento do planejamento do orçamento para O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 337 Correto está, também, compreender que no que se refere à análise da questão dos direitos culturais vista à luz dos direitos sociais deve ser levada em conta a condição da reserva do possível, como já indicado. Neste sentido, sabe-se que há direitos de liberdade que, uma vez que seja necessária uma aplicação de obrigações por parte do Estado, é importante compreender que eles passam por uma questão de ordem econômica. Especificamente no que respeita à cultura, considerando-se que a possibilidade de liberdade criativa necessita de um mínimo de educação e conhecimento a ser apreendido, o problema já se coloca com mais gravidade. Isto porque liberdade criativa está, em alguma medida, também relacionada a um mínimo de conteúdo de formação intelectual. Se não no que se refere a um universo diretamente relacionado como causa e efeito do que pode ser apreendido, ao menos como formação cultural em sentido amplo. Assim, terá mais condições de alcançar possibilidades de compreender música e compor música quem tenha uma formação mais ampla, tendo acesso, por exemplo, a concertos de música erudita na mesma medida em que haja acesso a programações culturais de música popular por meio, por exemplo, de localidades populares, como é o caso das lonas populares na cidade do Rio de Janeiro. É claro, se a cultura está imbricada – e está – com a educação deve-se levar em conta o alto custo da educação em países de modernidade tardia, para utilizar uma expressão difundida por Lenio Streck que já indiquei. A valorização da cultura, no Brasil, ainda é incipiente se comparada com outros países que tem nesta atividade um verdadeiro mercado. Deve-se considerar que a cultura faz parte do desenvolvimento da sociedade a longo prazo, para dizer o mínimo. Um povo orgulhoso de suas atividades e produções culturais as irradia com mais fervor. Neste sentido, não parece haver dúvida de que uma política cultural inclusiva passa por uma universalização da educação, como ainda não se conseguiu alcançar no caso brasileiro. Enquanto a universalização do ensino fundamental foi já alcançada, ainda que todas as críticas que lhes possam ser feitas54 a universalização em novos graus precisa ser buscada, mas também com uma formação, ao menos complementar, de aspectos culturais relevantes. 54 2013, incluindo o Ministério da Cultura com as suas devidas rubricas e destinação orçamentária especificada, ver o relatório do Ministério do Planejamento: http://www.planejamento.gov.br/ secretarias/upload/Arquivos/sof/ploa2013/Volume_2.pdf. Sobre a universalização do ensino fundamental, veja-se o estudo de Romualdo Portela de Oliveira denominado Da universalização do ensino fundamental ao Desafio da qualidade: uma análise histórica, disponível em http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a0328100.pdf e www.cedes.unicamp.com.br: “Abunda na literatura uma interpretação bastante crítica desse processo de expansão do ensino, enfatizando o que não se alcançou e diminuindo a importância do que se conseguiu. A opção feita neste texto foi chamar a atenção para o que se conseguiu. Não que isso signifique abraçar um otimismo ilusório ou que não se perceba a dimensão das insuficiências e da desigualdade incorporada nessa dinâmica. Entretanto, tomado de um ponto de vista histórico, esse processo reduziu a desigualdade de acesso à educação e não a aumentou, ainda que esta permaneça acentuada. Na mencionada publicação do IPEA, essa le itura é evidenciada na seguinte passagem: Um aspecto particularmente importante de nosso 338 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND Por outro lado, o reiterado apoio a manifestações repetitivas de padrões universalizados da cultura brasileira não dão apoio e suporte a que outros conceitos surjam. Assim, quanto mais se valoriza, excessivamente, a cultura das escolas de samba em detrimento das atividades de bois de Parintins, por exemplo, não se consegue sair de um mesmo roteiro básico de apresentação de padrões universalizantes. Há de se tomar cuidado com o dirigismo cultural, mas deve se compreender que é perniciosa a reiteração dos mesmos valores em detrimento da diversidade cultural que, esta sim, deveria ser objeto de políticas públicas, como forma de divulgação das “diferentes culturas brasileiras”. Ou seja, ainda que não se possa estabelecer uma distinção qualitativa para se enquadrar alguma atividade como mais necessária do que outra sob pena de dirigismo cultural, também é verdade que quanto mais se permite o uso de leis de incentivo por parte do Estado para os mesmos nomes já consagrados e já assentados na cultura brasileira, mais distante se está de um fortalecimento da diversidade cultural.55 Por outro lado, políticas de troca de informação cultural deveriam ser implementadas pelo Estado, como forma de introduzir diferentes culturas em grupos diferenciados. Por exemplo, não seria má ideia criar intercâmbios culturais entre escolas públicas, 55 sistema educacional é que virtualmente todos entram na escola, mas somente 84% concluem a 4a série e 57% terminam o ensino fundamental. O funil se estreita ainda mais no nível médio, no qual o índice de conclusão é de apenas 37%, sendo que, entre indivíduos da mesma coorte, apenas 28% saem com diploma. (IPEA, 2006, p. 129) Entretanto, se não percebermos que a desigualdade é outra, não estaremos preparados para enfrentá-la adequadamente. Paradoxalmente, mais educação gera demanda por mais educação. Esse é o ponto que procurei assinalar com força neste texto. A universalização do ensino fundamental gerou duas novas demandas populares por acesso à educação. Uma materializada na matrícula no ensino médio e mesmo no ensino superior, implodindo, ironicamente, a vertente de economia de recursos que originou parte das políticas de correção de fluxo. A vertente que prosperou foi a democratizadora, por mais educação, para maior número de pessoas, por mais tempo. A segunda demanda, propositadamente não mencionada, refere-se à questão da qualidade. Ainda que não se possa argüir com tranqüilidade que a escola que foi deixada para trás nesse processo, a id ílica escola de privilégios de alguns, como menciona Mariano Enguita (1995), tivesse de fato qualidade, no momento em que os setores excluídos anteriormente passam a ingressar e permanecer no sistema, emerge com toda força o desafio de lograr democratizar o conhecimento historicamente acumulado. A superação da exclusão por falta de escola e pelas múltiplas reprovações tende a visibilizar a exclusão gerada pelo não aprendizado ou pelo aprendizado insuficiente, remetendo ao debate acerca da qualidade do ensino. É a qualidade “que oprime o cérebro dos vivos” e ocupa o centro da crítica ao processo presente de expansão, tornando -se a questão central da política educacional referente à educação básica nos próximos anos.” Repare-se a recente polêmica sobre o blog de divulgação de poesia com a participação da cantora Maria Bethânia. Fontes: Jornal O Globo: http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/03 /20/blog-de-poesia-de-maria-bethania-inspira-debate-sobre-projetos-brasileiros-na-web-924048 888.asp; Folha de São Paulo: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/889245-maria-bethaniapodera-ter-r-13-milhao-para-criar-blog.shtml; Ministério da Cultura: http://www.cultura. gov.br /site/2011/03/17/maria-bethania-nao-recebeu-dinheiro-do-ministerio-da-cultura/. O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 339 por meio dos quais os próprios alunos poderiam, durante certo período, frequentar atividades em escolas de regiões diferentes, com medida de aproveitamento/absorção da cultura local. Em linhas gerais, o que se deve pretender é a valorização de que uma incrementação e valorização da cultura como elemento de formação do povo brasileiro deve ser objeto das preocupações do constitucionalismo brasileiro e de políticas culturais efetivas. XII. Da necessidade de estímulo à produção cultural como elemento de formação da sociedade. A esta altura, parece estar compreendido o fato de que os direitos culturais não podem ser vistos somente sob o olhar da liberdade de criação artística e, obviamente, da proteção da criação por meio do direito de autor, mas deve ser observado sob a ótica de direitos fundamentais sociais. Assim, eventuais falhas interpretativas sobre o posicionamento da proteção da cultura no universo constitucional (que é o hábito corriqueiro) conduzem à conclusão de que a formação cultural deve ocupar um espaço privilegiado na formação do povo brasileiro, sendo certo que medidas procedimentais e de política legislativa podem ser tomadas como meios de efetivação dos direitos culturais, considerando-se, inclusive, a cultura como investimento. Já se concluiu que as manifestações culturais, de qualquer forma, de fato devem ser valorizadas e difundidas. A plena difusão das manifestações culturais pode ocorrer de diversas formas para atingir a maior parcela possível da população, por meio, por exemplo, da própria criação e apoio para a criação e surgimento de novos ambientes culturais (centros culturais, bibliotecas, estabelecimento de cinema, de teatros, tudo isto principalmente em localidades com pouca difusão cultural, permissão para surgimento de rádios comunitárias, etc.). Por outro lado, um aspecto que deve ser considerado é que não há estímulo suficiente para que a sociedade civil tenha interesse em investir em cultura. Isto decorre do fato de que, no ambiente da criação artística e do mercado cultural impera um entendimento de que quem trabalha com arte e cultura – principalmente o empreendedor do setor – deve absorver, ainda que indiretamente, um espírito de mecenas, abrindo mão de seus lucros em detrimento da simples função perseguida. Dito de outra forma, se nos setores bancário ou financeiro, da construção civil, da saúde privada, do transporte, só para citar alguns, ninguém espera que haja descontos ou benefícios aos consumidores ou destinatários finais (ao menos como benesse), por outro lado, no universo do empreendedorismo cultural a sociedade somente vê com bons olhos o empresário que atue de modo a permitir cortes ou diminuição no seu lucro e, caso a legislação assim determine, que o mesmo seja efetivamente responsá- 340 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND vel por benefícios diretos ao consumidor, como é o caso das políticas legislativas de meia-entrada no setor cultural. Assim, além de uma certa vergonha institucionalizada por perseguir lucros no setor cultural, também se deve enfrentar uma pré-compreensão social de que o mercado cultural deve absolver prejuízos em decorrência de se tratar de cultura, em especial se o empreendedor tiver prazer ou orgulho de sua atividade, o que seria o mesmo que dizer que alguém que tenha prazer em sua profissão deva ser menos remunerado por esta circunstância. As políticas de difusão cultural, de proteção cultural e de acesso à cultura no Brasil compreendem, todas, em sua medida, falhas estruturais que necessitam ser modificadas para uma efetivação eficiente dos direitos culturais. Considerando o fato de que o texto constitucional não abarca as medidas legislativas nem as determinações de efetivação, tal tarefa se torna ainda mais difícil, visto que seria necessária uma reformulação de diversos diplomas infraconstitucionais. XIII. Pontuações de aspectos pragmáticos e procedimentais para valorização da cultura como elementos formador do povo brasileiro e de maior movimentação do círculo cultural. Do ponto de vista de aspectos pragmáticos, há possibilidades procedimentais diversas ao desenvolvimento de condições de difusão cultural, que obviamente necessitam ser desdobradas em estudos aprofundados, uma a uma, com a finalidade de buscar soluções de efetividade. Ainda assim, algumas merecem indicações ao menos ilustrativas: 1 – Reformulação das leis de meia-entrada. É importante salientar que as leis de meia-entrada, senão em sua totalidade, em sua maioria não contemplam soluções adequadas e facilitadoras da circularidade cultural. O não estabelecimento de limites de ingressos a serem comercializados (tornado o ônus pesado ao produtor cultural) dificulta o acesso à manifestações culturais. Por outro lado, os valores dos ingressos sofrem descontos “artificializados” para atender às leis e não há planejamento adequado por parte dos produtores culturais. Por fim (nesta sintética apreciação do tema) “falsos beneficiários”56 buscam a atribuição decorrentes dos descontos por sua posição fazendo com que os custos finais da produção sejam muito mais altos do que 56 Pessoas que fazem uso de documentações falsas ou que requerem a impressão de carteiras de estudante sem ostentar esta posição, para citar exemplos. Estas figuras merecem a consideração de participantes mais execráveis do ambiente cultural, pois ardilosamente se beneficiam de vantagens não atribuídas a si, prejudicando toda a circularidade cultural, sendo perniciosas a todo o processo inerente à cultura. O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 341 o esperado pela obrigatoriedade dos descontos, sendo onerados os que não são contemplados com a condição de beneficiário que, por sua vez, deixam de frequentar eventos culturais, por impossibilidade de participação econômica. 2 – Reformulação da atual lei de direitos de autor e direitos conexos em vigor (Lei 9.610/98), por meio da inclusão de mecanismos de acesso a obras, sem excessiva imposição sob pena de desestimular o processo criativo e o mercado cultural. 3 – Reformulação das leis de incentivo fiscal por meio de (alguma efetiva) responsabilização sobre o resultado das obras produzidas e criadas com verba pública. 4 - Reformulação das leis de incentivo fiscal por meio da criação de um fundo econômico com a finalidade de promoção de atividades que sejam efetivamente necessárias e cujos incentivos fiscais sejam direcionados, como medida de fortalecimento da cultura a longo prazo, como elemento formador/desenvolvedor de manifestações culturais. 5 – Estabelecimento de uma política pública de reconhecimento de que os direitos culturais são direitos sociais e, portanto, que as manifestações culturais devem ser promovidas pelo Estado como elemento complementar da educação. 6 – Estabelecimento de atividades culturais não populistas e que possam dar retorno ao Estado, para que, com o resultado econômico, possam ser redirecionadas para novas atividades culturais, aumentando a circularidade cultural, por exemplo, por meio das seguintes atividades: 1 - contratação de artistas a preços populares que possam ser cobrados da população, e que com isso possam ser mais efetivas do que espetáculos musicais gratuitos; 2 – participação do Estado, não somente por meio de leis de incentivo, mas por meio de participação econômica como destinatário de partes dos lucros das atividades, que integrariam um fundo de circularidade cultural, cujas verbas seriam obrigatoriamente utilizadas para desenvolvimento de novas atividades culturais, entre outras. Evidentemente que cada uma destas medidas necessitam de uma política legislativa efetiva e que considere os direitos culturais como interesse por parte do Estado e objetivo para desenvolvimento de atividades culturais. Tratam-se de brevíssimas reflexões, mas que tem um condão de trazer algum pragmatismo à discussão inerente à circularidade cultural. 342 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND XIV. Conclusões. Diante do exposto, uma série de conclusões pode ser tomada, com fins a ainda mais desenvolver os temas dos direitos culturais: 1 - O desenvolvimento de atividades culturais criativas deve ser livre e a constituição deve garantir e preservar esta liberdade, tanto seja pela permissão da escolha de profissões que se insiram em atividades que sejam consideradas artísticas, seja pela própria garantia da liberdade de criação artística por parte de qualquer pessoa. 2 - A liberdade de criação artística e de conhecimento passa também pelo acesso à cultura, que deve ser promovida pelo Estado, não obstante o fato de que este deve compreender que a cultura não deve ser considerada gratuita para que somente neste caso haja um acesso às suas diferentes manifestações (liberdade de acesso à cultura não significa, necessariamente, gratuidade, insisto). 3 - O Estado deve promover a proteção das criações artísticas e do sujeito-criador por meio de leis de proteção de direitos de autor, garantindo o estímulo às criação, sem promover, com isto, uma excessiva utilização das obras protegidas em detrimento das obras ou de seus criadores. 4 - Deve ser compreendido que o Estado deve possibilitar a circularidade criativa, que comporta a complexidade de atos e fatos indicativos de que as manifestações culturais ocorrem de modo circular, havendo a necessidade de fomento e estímulo para a sociedade. 5 - Também deve ser compreendido que a circularidade criativa comporta toda e qualquer circunstância factual que possa gerar uma manifestação criativa ou o acesso às criações artístico-culturais, e que as atividades econômicas relacionadas à cultura também fazem parte deste processo. 6 - O Estado e a sociedade devem atuar no sentido da valorização das atividades culturais e os direitos culturais devem ser vistos, também, como direitos fundamentais sociais de 2a geração. 7 - As atividades culturais devem ser vistas como elemento economicamente viável e de interesse da sociedade como investimento econômico. 8 - A garantia do acesso à cultura no ambiente da circularidade cultural, a longo prazo, auxilia na formação do povo e fortalece os seus laços culturais e interesse pelas atividades formadores da personalidade coletiva e da sua própria essência cultural. O ESTADO FOMENTADOR E PROTETOR DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 343 9 - Devem ser criados procedimentos que conduzam à circularidade cultural, com o intuito de que a cultura possa circular, ser absorvida e gerar desenvolvimento econômico. Referências Bibliográficas BARRETO, Vicente de Paulo, O fetiche dos direitos humanos, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010. BRASIL, Ministério da Cultura: http://www.cultura.gov.br/site/2011/03/17/maria-bethanianao-recebeu-dinheiro-do-ministerio-da-cultura/ BRASIL, Ministério da Cultura: http://www.cultura.gov.br/leis/-/asset_publisher/aQ2oBvSJ2 nH4/content/orcamento-do-ministerio-da-cultura-de-2013/10895 BRASIL, Ministério do Planejamento: http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/ Arquivos/sof/ploa2013/Volume_2.pdf BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA: http://blog.planalto.gov.br/ministerio-da-cultu ra-tera-orcamento-de-r-3-bilhoes-em-2013-afirma-dilma-ao-empossar-marta-suplicy/ CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Metodologia Fuzzy e camaleões normativos na problemática atual dos direitos econômicos, sociais e culturais, em Estudos sobre Direitos Fundamentais, Coimbra Editora, Coimbra: 2004. DAVUTOGLU, Ahmet, Cultura global versus pluralismo cultural: hegemonia civilizacional ou diálogo e interação entre civilizações, em Direito Humanos na sociedade cosmopolita, organizado, BALDI, Cesar Augusto, Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2004. DRUMMOND, Victor Gameiro, Internet, privacidade e dados pessoais, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2003. ESPANHA, Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, em: Constituciones de Espana (1808-1978), Editorial Segura, Madrid: 1988. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, The Constitution of the United States of America, em The Constitution/The Declaration of Independence and the Articles os Confederation, Wilder Publications, Radford: 2008. Folha de São Paulo: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/889245-maria-bethania-poderater-r-13-milhao-para-criar-blog.shtml HESSE, Konrad, Elementos de direito constitucional da Republica Federal da Alemanha, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre: 1998 HUSTER, Stefan; PAU, António; ROCA María J., Estado y Cultura, Fundación Colóquio Jurídico Europeo, Madrid: 2009. HYDE, Lewis, Dádiva e a Origem da obra de arte, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro: 2011. IPHAN - Programa Nacional do Patrimônio Imaterial em http://portal.iphan.gov.br 344 VICTOR G AMEIRO DRUMMOND LEAL, Rogério Gesta, A quem compete o dever de saúde no direito brasileiro? Esgotamento de um modelo institucional, em www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_ justica/centro_de_estudos/doutrina/doc/DireitoSaude.doc LEAL, Rogério Gesta, Condições e possibilidades eficaciais dos direitos fundamentais sociais - os desafios do Poder Judiciário no Brasil, Editora Livraria do Advogado, Porto Alegre: 2008. LOSANO, Mario G. Sistema de estrutura no Direito, volume 2 – o século XX, Editora Martins Fontes, São Paulo: 2010. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocencio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Curso de Direito Constitucional, Editora Saraiva, 4a edição, Rio de Janeiro: 2009. MIRANDA, Jorge, Liberdade religiosa e Liberdade de Aprender e Ensinar, em Escritos Vários sobre Direitos Fundamentais, Editora Princiapia, Estoril: 2006. MIRANDA, Jorge, O Patrimonio Cultural e a Constituição (Tópicos), em Escritos Vários sobre Direitos Fundamentais, Editora Principia, Estoril: 2006. O Globo: http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/03/20/blog-de-poesia-de-maria-bethaniainspira-debate-sobre-projetos-brasileiros-na-web-924048888.asp OLIVEIRA, Romualdo Portela de Oliveira, Da universalização do ensino fundamental ao Desafio da qualidade: uma análise histórica, disponível em http://www.scielo. br/pdf/es/v28n100/a0328100.pdf e www.cedes.unicamp.com.br SILVA, Vasco Pereira da, A cultura a que tenho direito. Direitos fundamentais e cultura, Almedina, Coimbra: 2007. STRECK, Lenio Luiz, Verdade e consenso – uma teoria da decisão, Editora Livraria do Advogado Forense, Porto Alegre, 5a edição: 2006. STRECK, Lenio Luiz, Hermeneutica e decisão jurídica: questões epistemológicas, in Hermeneutica e Epistemologia – 50 anos de Verdade e Método, STEIN, Ernildo; STRECK, Lenio - Editora Livraria do Advogado, Porto Alegre: 2011. VAIDHYANATHAN, Siva, Copyrights and copywrongs, The rise of intellectual property and how it threatens creativity, Stanford University Press, Stanford: 2007. VICENTE, Dário Moura, A tutela internacional da propriedade intelectual, Almedina, Coimbra: 2008. WALL, Roberta Rosenthal, The soul of creativity, forging a moral rights law for the United States, Stanford University Press, Stanford: 2009. Um Contributo para a História do Direito - Os Expostos NUNO CAMPOS INÁCIO * O abandono de recém-nascidos e de crianças de tenra idade é um flagelo transversal a todas as sociedades e em todos os períodos da história. Umas vezes melhor aceites socialmente, outras mais ostracizados, esses abandonos foram sendo regulados pelo Direito de acordo com a moral e a organização social de cada época e de cada Estado. Se analisarmos o comportamento de alguns animais ditos irracionais, poderemos até concluir que o abandono de recém-nascidos e infantes de tenra idade ou de condição mais débil, em circunstâncias de crise - como a escassez de alimentos -, ou existindo um perigo iminente para o agregado familiar ou comunidade, é uma prática natural, que terá acompanhado a humanidade ao longo do seu processo evolutivo, desde a pré-história até à modernidade. Na cultura Judaico-Cristã o caso mais famoso de um “abandonado” é o de Moisés, descrito no Antigo Testamento, Livro do Êxodo 2:1 a 2:10. Neste caso bíblico o abandono deveu-se a uma perseguição dos egípcios, que cumpriam a ordem do Faraó para matar todos os meninos filhos de hebreus. Esse (a fuga a uma perseguição) é apenas mais um dos muitos motivos que podem estar na origem do abandono de crianças. Esta passagem bíblica tem, como é sabido, um fundamento Divino. Para os crentes, Deus providenciou para que tudo acontecesse de acordo com a Sua vontade, para cumprir uma determinada profecia. Este cumprimento da “vontade Divina”, de uma “fatalidade” originada por um “capricho” de Deus, foi, ao longo dos JURISMAT, Portimão, n.º 5, 2014, pp. 345-360. * Licenciado em Direito; Antigo Aluno do ISMAT. 346 NUNO CAMPOS INÁCIO séculos do Período Medieval, o único conforto para os pobres e indefesos enjeitados que, acreditavam, ou faziam-nos acreditar, estarem a cumprir um desígnio incompreensível e inquestionável de Deus. Também os que os acolhiam, acreditavam estar a cumprir uma vontade de Deus, a quem dedicavam a esmola do tratamento de uma criança abandonada. Em todo o caso, esta referência bíblica apenas refere uma prática comum e bastante terrena e humana, regulada por Lei desde, pelo menos, a Antiga Babilónia. Já o Código de Hamurabi (c. 1700 a.C.), regulava que: 185 – Se um homem adoptar uma criança e lhe der o seu nome como filho, criandoo, este filho crescido não poderá ser reclamado por outrem; 186 – Se um adoptar uma criança e esta criança ferir seu pai ou mãe adoptivos, então essa criança adoptada deverá ser devolvida à casa de seu pai; 188 – Se um artesão estiver criando uma criança e a ensinar-lhe a sua arte, essa criança não poderá ser devolvida; 190 – Se um homem não sustentar a criança que adoptou como filho e criá-lo com outras crianças, então esse filho adoptivo poderá retomar à casa do seu pai. 191 – Se um homem, que tenha adoptado e criado um filho, fundado um lar e tido filhos, desejar desistir do seu filho adoptivo, este filho não deve desistir dos seus direitos. O pai adoptivo deve dar-lhe parte da legítima e, só então, o filho adoptivo poderá partir, se quiser. 192 – Se o filho de uma amante ou prostituta disser ao seu pai ou mãe adoptivos: “Você não é meu pai, ou minha mãe”, ele deverá ter a sua língua cortada. 193 – Se o filho de uma amante ou prostituta desejar regressar a casa de seu pai e desertar da casa dos pais adoptivos, indo para cada de seu pai, então o filho deverá ter o seu olho arrancado. 194 – Se alguém der o seu filho a uma ama e a criança morrer aos cuidados dessa ama, mas a ama, com o desconhecimento do pai e da mãe, cuidar de outra criança, então eles devem acusá-la de estar a cuidar de uma outra criança sem o seu conhecimento. Esta mulher deverá ter os seus seios cortados. As disposições deste Código, com quase 4 000 anos, poderiam, em certos aspectos, vigorar no ordenamento jurídico português quase até à implantação da República, como se verá adiante. Para já, podemos analisar algumas questões preliminares: Desde logo devemos realçar a necessidade sentida pelo reino da Mesopotâmia de positivar a regulamentação de uma actividade comum na organização social da época. Muitas crianças não eram criadas pelos seus pais, fosse por terem sido abandonadas à sua sorte, não sabendo sequer quem são os progenitores (185), fosse por terem sido confiadas pelos pais à guarda de outrem (194), fosse por não terem con- UM CONTRIBUTO PARA A H ISTÓRIA DO D IREITO - OS EXPOSTOS 347 dições para criar os filhos, preferindo dá-los para adoção (186, 188, 190, 191), fosse pela falta de moral da mãe para tomar conta dos seus filhos (192, 193). Ou seja, o costume e as normas de conduta social, não eram suficientes para regular uma actividade que tinha tantos reflexos jurídicos no dia-a-dia de uma sociedade. Na Antiguidade Clássica, também a mitologia recorreu à analogia dos deuses abandonados para retratar a realidade da organização social dos povos. Édipo será o mais famoso da cultura grega; Rómulo e Remo os mais famosos da mitologia romana. Estes casos de crianças abandonadas, que atingiam uma dimensão universal, alimentariam os sonhos de muitas crianças enjeitadas por toda a Europa. Também a Filosofia se debruçou sobre a questão dos abandonados. Platão, em “República”, defende que os pais não possam ter mais filhos do que aqueles que possam manter, devendo os restantes ser entregues às famílias mais abastadas. Para este filósofo os pobres não deveriam ter filhos. Já Aristóteles, em “Política”, é mais radical, defendendo que as famílias deveriam limitar a sua prole e que a Lei deveria regular aqueles que deveriam ser abandonados à morte. Por muito chocante que, na actualidade, tal possa parecer, a verdade é que, muitos abandonos tinham como objectivo a morte natural dos recém-nascidos. O Direito Romano permitia, não só o abandono, como a venda e a morte dos filhos pelos seus progenitores. Nas Duodecim Tabulae encontramos, na Tábua IV, as seguintes disposições: 1 – É permitido ao pai matar o filho que nasceu disforme, mediante o julgamento de cinco vizinhos. 2 – O pai terá, sobre os filhos nascidos de casamento legítimo, o direito de vida e de morte, e o poder de vendê-los. 3 – Se o pai vender o filho três vezes, que esse filho não recaia mais sob o poder paterno. 4 – Se um filho póstumo nascer até ao décimo mês após a dissolução do matrimónio, que esse filho seja reputado legítimo. Esta Lei, geral, era aplicada em todo o Império mas, certamente, tinha reflexos diferentes nas várias regiões, de acordo com a sua realidade social. Sabemos, no entanto, que, na cidade de Roma, o abandono de crianças era tão frequente, que havia um local próprio onde as mesmas eram abandonadas e poderiam ser levadas por quem as quisesse, sem haver qualquer regulamentação sobre essa actividade. Muitas dessas crianças eram do sexo feminino, enjeitadas por os pais preferirem um primogénito varão. À denominada Colunna Lactária, acorriam as amas, que eram pagas pelo Estado Romano para amamentarem as crianças aí abandonadas. Este método baseava-se no Cinosarges, uma escola da Cidade-Estado de Atenas construída para alber- 348 NUNO CAMPOS INÁCIO gar crianças abandonadas ou filhos ilegítimos, que eram abandonadas no Templo de Hércules dessa cidade. Se alguns abandonados tinham a sorte de vir a ser adoptados e tratados como filhos, a esmagadora maioria acabava por ser reduzida à condição de criados ou de escravos e as raparigas tratadas como servas, criadas, ou entregues à prostituição. Com o advento do Cristianismo surge na Europa um novo conjunto de valores sociais, como a piedade e a caridade. São Gregório, no Século IV, debruça-se sobre a questão dos abandonados e, a partir do Século V, surge a oblatio1 que, no caso das crianças se traduziu no abandono das mesmas nas igrejas, conventos e mosteiros, acabando muitos por seguir a vida religiosa. Surge, então, a designação de “filho da Igreja” para classificar os enjeitados. No Século VI, em Trier, na Alemanha, foi criada a concha de mármore, que funcionava nos mesmos moldes que a Colunna Lactária. A partir daqui, difundem-se por toda a Europa as “Rodas dos Expostos” e as “Torres do Abandono”, que tinham a mesma finalidade. A primeira “Roda dos Expostos” surgiu em França, no Século XII. Com este método, as crianças eram colocadas numa plataforma cilíndrica oca, em madeira, dividida ao meio, permitindo que quem abandonava a criança não fosse vista por quem a acolhia. O abandono de crianças em Portugal evoluiu a partir desta herança romana e judaico-cristã. A questão relativa aos expostos tem de ser subdividida tendo em atenção duas vertentes: a das amas e a das crianças abandonadas. Por ser mais simples, analisaremos em primeiro lugar a questão das amas em geral e das amas-de-leite. Como já vimos, desde o período romano que o Estado pagava a mulheres para amamentarem as crianças abandonadas. Essa actividade, para muitas mulheres pobres, abandonadas, ou viúvas, era a única fonte de rendimento para fazer face à sua subsistência e evitar uma vida de mendicidade. Como é do senso comum, para que uma mulher fosse contratada como ama-de-leite, teria que estar numa fase de amamentação, ou seja, teria sido mãe há relativamente pouco tempo. Com a mortalidade infantil existente na antiguidade e na Idade Média, provocada por carências alimentares e sanitárias, a que se juntavam as epidemias, as doenças e as perturbações sociais, não eram poucas as mulheres em condições de amamentarem os filhos de outros. Ainda assim, conhecem-se casos bem mais complexos, de mulheres que abandonavam os próprios filhos e depois recebiam-nos a seu cargo como amas-deleite, pagas pelo Estado. Outras abandonavam os seus filhos para se oferecerem 1 Acto de oferecer qualquer coisa a Deus. UM CONTRIBUTO PARA A H ISTÓRIA DO D IREITO - OS EXPOSTOS 349 como amas-de-leite de crianças de famílias nobres, que pagavam bem para garantir a vida dos seus filhos. Alguns hospitais recebiam prostitutas e mulheres que queriam ter os seus filhos de uma forma clandestina, mas essas mulheres eram obrigadas a permanecer nessa instituição durante dois anos e a amamentar gratuitamente, não só o seu filho, como as crianças expostas que chegassem a esse local. A primeira regulamentação dos privilégios dados às amas dos expostos é feita pela Carta de Privilégios dada por D. Manuel I, em 1502: D. Manoel por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves, daquem, e dalem mar, em Africa Senhor da Guiné, e da Conquista, Navegação, Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. A quantos esta Nossa Carta virem, fazemos saber, que querem Nós dar forma, e maneira, como para os meninos, que se engeitarem no Nosso Hospital de Todos os Santos desta Cidade, se possão achar melhor Amas para os criarem, por este presente nos praz, que qualquer Amo, que criar Engeitados ou Engeitadas, que ao dito Hospital vierem, e que lhe for dado pelo Provedor delle, alem do ordenado, que por criação lhe houver de ser dado, segundo se com ele concertar, goze trez annos primeiros seguintes, que se começarão do dia, em que o dito Engeitado, ou Engeitada levar de todo o privilégio de carregos do concelho aqui declarados: convem a saber, que não pague em nenhumas peitas, fintas, talhas, pedidos, serviços, emprestimos, que pelo Concelho onde for morador, sejão lançados, por qualquer guisa, e maneira, que seja, nem vá com prezos, nem com dinheiros, nem seja Tutor, nem Curador de nenhumas pessoas, que sejão, salvo se as Tutorias forem Lidimas, nem sirva em nenhuns outros cargos, nem servidoens do dito Concelho, nem seja official delle contra sua vontade, nem pouzem com ele em suas cazas de morada, adegas, nem cavelharias, nem lhe tomem seu pão, vinho, roupa, palha, cevada, lenha, galinhas, nem besta de cella, nem d’albarda, nem outra alguma couza contra sua vontade. E queremos, e nos praz, que pelo traslado deste privilegio, assignado por Estêvão Martins, Mestre Escolla da Sé desta Cidade, e Provedor do dito Hospital criar, de todas as couzas aqui declaradas, durante o tempo dos ditos 3 annos, em que o dito Engeitado pode ser tirado, e mais não; porque passados não haverá lugar, nem lhe será mais guardado o dito privilegio. E o dito Mestre Escolla, nas Certidões, que der aos ditos Amos, para este privilegio lhes ser guardado o mandará sempre trasladar de verbo ad verbum, para se saber o privilegio, que lhe hade guardar. E Mandamos a todos os Nossos Corregedores, Juizes, e Justiças, Officiais e pessoas, a que este privilegio for mostrado, incorporado no assignado do dito Provedor, que em todo o cumprão, e guardem, e fação cumprir, e guardar, como nelle he conteudo, assim como se fosse por Carta Nossa passada pela Nossa Chancellaria, e sellada de 350 NUNO CAMPOS INÁCIO Nosso Sello; porque assim nos praz. E isto outorgamos ao dito Hospital por esmola. Dada em Nossa Cidade de Lisboa a trinta e hum dias de Maio. Alvaro Fernandes a fez. Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e quinhentos e dous. Por Carta Régia de 1532, estes privilégios passaram a ser estendidos a todos aqueles que recebessem os expostos em sua casa, em qualquer parte do país. Por Alvará de 29 de Agosto de 1654 são atribuídos mais privilégios às amas, por exemplo, isentando os maridos dos encargos da guerra. Ao nosso conhecimento chegou, igualmente, a organização da Real Casa dos Expostos de Lisboa. Sabemos, assim, que essa Casa possuía duas rodeiras, e 40 a 60 amasde-leite, que recebiam mensalmente 2$400 Réis, e 1$200 Réis para a ajuda da criação do seu próprio filho, bem como 12$000 Réis por ano para a vestiaria. Para tal tinham de comer três vezes por dia e manter cama e roupa lavada. Estavam obrigadas a dar de mamar a dois expostos, podendo ser três ou quatro, se houvesse carência de amas, devendo ainda lavar os cueiros e a roupa das crianças a seu cargo. Em casos de extrema necessidade, não dispondo as amas-de-leite próprio suficiente, eram autorizadas a dar aos expostos leite de cabra ou de vaca. Se, em Lisboa e nas grandes cidades, as crianças ficavam “depositadas” nas casas dos expostos, nos meios mais pequenos os expostos eram entregues a amas particulares, que acolhiam as crianças na sua casa de família. Estas auferiam um rendimento diferente, que chegava aos 2$000 Réis nos primeiros 13 meses de amamentação e nos 2 meses seguintes, que eram de desmame. Entre os 15 meses e os 3 anos de idade da criança, recebiam 1$200 Réis mensais, valor que baixava para os 500 Réis mensais entre os 3 e os 7 anos de vida. Para evitar maior dispêndio para as famílias que assumiam a obrigação de acolher crianças expostas, estas eram entregues vestidas todas de novo e levavam duas camisas, dois cueiros, uma envolta, um côvado de baeta, roupinhas e touca. Aos 6 meses de amamentação recebiam outro enxoval. Este rendimento fácil, associado aos privilégios dados aos cônjuges das amas, originou casos de absoluta ganância e desumanidade, como aconteceu, por exemplo, com Luísa de Jesus, de 22 anos de idade, que, umas vezes em seu nome, outras com nome falso, recebeu na década de setenta do Século XVIII, da Roda dos Expostos de Coimbra, mais de 30 crianças, requisitadas por várias pessoas e que nunca chegaram a ser adoptadas. Estranhando tal facto, as autoridades policiais realizaram uma rusga à casa da recoveira, encontrando no casebre onde esta habitava os restos mortais esquartejados e caveiras de, pelo menos, 10 crianças, tendo a mulher confessado a autoria da morte de 28 expostos. Julgada num clima de ruidosa indignação, a homi- UM CONTRIBUTO PARA A H ISTÓRIA DO D IREITO - OS EXPOSTOS 351 cida foi sentenciada e executada a 1 de Julho de 1772, tendo sido “atenazada”. Antes de ser garrotada, as mãos foram-lhe cortadas e, depois de morta, o corpo foi “reduzido a cinzas para que nunca mais haja memória de semelhante monstro”. Luísa de Jesus foi a última mulher a ser condenada à morte em Portugal. Importa salientar que esta guarda dos menores não constituiu qualquer vínculo legal entre a ama e a criança a seu cargo. Não podemos, sequer, comparar essa guarda à actual confiança judicial pois, muitas vezes, essa entrega era feita à revelia das autoridades. A única obrigação da ama era manter a criança viva e bem cuidada, o único dever da criança era respeitar a ama que a acolhia. A ama não respondia por qualquer delito ou acidente cometido pela criança, tal como a criança não respondia por qualquer incidente provocado por quem a acolhia (ao contrário dos filhos legítimos). ***** Vista a questão relativa às amas, analisamos agora a questão dos expostos e enjeitados. No seio da sociedade medieval e cristã portuguesa, não faltavam motivos para o abandono de crianças. Filhos gerados por relações ilícitas de membros do clero, relações esporádicas ou violações, relações adulteras e relações incestuosas, tinham frequentemente como destino o abandono. Se algumas acabam resgatadas e legitimadas, a esmagadora maioria viverá para sempre o estigma social de ter sido enjeitada. É à Rainha Santa Isabel, mulher do Rei D. Dinis, que se deve a fundação da primeira instituição portuguesa destinada a receber e tratar crianças abandonadas. Fundado a 12 de Dezembro de 1321, o Hospital de Santa Maria dos Inocentes, em Santarém, contava com amas-de-leite responsáveis pelas crianças de colo, que aí davam entrada e permaneciam até aos 14 anos de idade, ensinando-lhes uma profissão. Por determinação régia, o hospital tinha, ainda, «…homem boom e de boa vida per ospitalleiro que faça criar e ensignar os moços. E este ospilalleiro façamlhe dar sa mantença per que se possa hii manter comunallmente». Temos, assim, que esta instituição medieval ia além da simples manutenção da vida das crianças, antes preparandoas para a vida em sociedade, com o ensino de uma profissão. Esse homem era pago pelos cofres públicos. Digno de nota, para o Direito, é o facto de o internato terminar aos 14 anos, quando as crianças ainda eram menores, ficando, no entanto, entregues à sua sorte, sem qualquer tipo de assistência. Em 1330, coube à Rainha D. Beatriz, mulher de D. Afonso IV, a fundação do Hospital dos Meninos Órfãos de Lisboa. Esta sorte não era comum aos abandonados de todo o país, sendo antes a excepção. 352 NUNO CAMPOS INÁCIO Até ao Século XV estas eram das poucas instituições portuguesas vocacionadas para o acolhimento das crianças abandonadas. Nos outros concelhos os enjeitados ficavam entregues a instituições de assistência geral, como os hospitais e os albergues, que recebiam os doentes, os pobres, os mendigos ou os simples peregrinos, sem qualquer vocação especial para as crianças. A primeira norma portuguesa dedicada às crianças abandonadas encontra-se no Título LXVII do Livro I das Ordenações Manuelinas (1521), “Do Juiz dos órfãos, e cousas que a seu Officio pertencem”: §10 – Porem fe alguüs orfaõs que nom forem de legitimo matrimonio forem filhos d’alguüs homens cafados, ou de folteiros, em tal cafo primeiramente feram conftrangidos feus pays, que os criem; e nom tendo eles por onde os criar, fe criaram aacufta das mãys; e nom tendo huüs nem outros por onde os criar, fejam requeridos feus parentes que os mandem criar; e nom o querendo fazer, ou fendo filhos de Religiofos, ou Frades, ou Freiras, ou de molheres cafadas, por tal que as crianças nom mouram por minguoa de criação, os mandaram criar aacufta dos bens dos Ofpitaes, ou Alberguarias, fe os ouver na Cidade, Villa, ou Luguar ordenados pera criação dos engeitados; e nom avendo hi taees Ofpitaes ou Alberguarias, fe criaram aacufta das rendas do Concelho; e nom tendo o Concelho rendas por onde fe poffam criar, fe lançará finta por aquellas peffoas que nas fintas, e encarreguos do Concelho ham de paguar, a qual laçaram os Officiaes da Camara. §11 – Item o Juiz dos osfaõs fará apreguoar em fim da fua Audiencia quaefquer orfaõs de fua jurifdiçam, que fe ajam de dar por foldada, ou a peffoas que fe ajam de obriguar de os cafar, tanto que forem em hidade de fete annos, o nom os dará fenom aaquellas peffoas que por elles mais derem: e quando lhe forem dados fará obriguar por Efcripturas pubricas aquelles a que os der, que lhe paguaram feus ferviços, cafamentos, ou foldadas, fegundo lhe foram dadas, aos tempos que fe obriguaram pagar, e daram fiadores abaftantes pera comprirem o em que fe affi obriguarem… De acordo com esta legislação, deveria passar a existir em todos os concelhos uma instituição para albergar os órfãos e enjeitados, podendo ser lançado um imposto específico para esse fim, nos concelhos desprovidas dessas instituições. Digno de nota é o facto de essas instituições só albergarem menores de 7 anos, sendo, a partir dessa idade, entregues a quem mais pagasse por eles, responsabilizando-se pela sua posterior criação. Mais uma vez, esta entrega não constituía qualquer vínculo jurídico entre o infante e a pessoa que o acolhia. Esta norma manteve-se quase inalterada nas Ordenações Filipinas, onde se encontra no Título LXXXVIII do Livro I, no §11. UM CONTRIBUTO PARA A H ISTÓRIA DO D IREITO - OS EXPOSTOS 353 No Século XVII, o Rei Filipe III decretou que todas as Casas da Misericórdia tivessem um procedimento para acolher as crianças abandonadas, obrigando-as a instalar uma Roda dos Expostos. Proliferam, assim, as rodas de expostos por todo o país e o número de crianças expostas não pára de crescer. A “Gazeta de Lisboa” de 3 de Janeiro de 1738, noticia que, no ano transacto, o Hospital dos Meninos Expostos, o Criandário, tinha recebido na sua roda e porta 893 crianças, que se juntaram às 2357 já acolhidas e institucionalizadas, das quais faleceram 495. A mortalidade entre as crianças expostas era gritante, cabendo à instituição ou à Câmara Municipal custear o seu funeral. Este número elevadíssimo de falecidos, ocorrido em Lisboa, é muito inferior ao que se verificava, por exemplo, no Algarve, onde raramente um exposto passava o primeiro ano de vida. E, se a mortalidade declarada não era maior, tal devia-se ao facto das amas-de-leite, muitas vezes, omitirem a morte da criança, para continuarem a receber o seu subsídio. A responsabilidade da criação dos expostos passa, assim, a ser repartida entre as instituições de assistência social, como as Misericórdias, e as rendas das Câmaras Municipais, que chegam a lançar “fintas ou cabeções” para esse fim. Este aumento de receita permite que se criem vários hospícios para acolher as crianças abandonadas, criando-se novos cargos, como os “mordomos dos expostos”, “regentes da Casa de Roda”, “rodeiras” e “amas-secas”, que se juntam às tradicionais “amas-de-leite”. Em alguns locais havia também o “pai dos velhacos”, um homem que se encarregava das crianças com mais de 7 anos. Esta melhoria das condições de albergue das crianças, criou um outro fenómeno. Pais conhecidos entregavam os seus filhos na roda dos expostos para que recebessem o tratamento inicial, mas iam buscá-los quando atingiam os 7 anos de vida. Também há casos de expostos que são entregues à própria mãe, que assume a posição de ama-de-leite, recebendo o subsídio devido, para fazer face à sua subsistência. Falamos em casos de miséria extrema. Até à entrada em vigor do Código Civil de 1867, a perfilhação das crianças expostas era possível ficando, no entanto, dependente da celebração de matrimónio entre os seus progenitores. Essa legitimação, normalmente, ficava averbada ao assento de casamento dos pais. Tal aconteceu, por exemplo, no caso do casamento celebrado entre José Inácio Bustorff e Maria do Carmo Teixeira, na freguesia de Portimão, a 30 de Agosto de 1860, quando legitimaram o filho Pedro, exposto a 4 de Janeiro de 1851. Este reconhecimento era possível porque, quando entregavam as crianças na roda dos expostos, a estas era atribuído um número, ficando a pessoa que entregou a criança com um recibo com esse mesmo número. Noutros casos, mais raros, as 354 NUNO CAMPOS INÁCIO crianças iam acompanhadas de um bilhete, como aconteceu com Roque, exposto em Albufeira, em Julho de 1854, que levava um bilhete com a informação de que já tinha sido baptizado em casa; ou com Laura, exposta a 1 de Dezembro de 1899, em Alvor, que levava um papel que dizia “quem criar esta criança será baptizada por este nome LAURA”. Como já vimos a partir dos 7 anos as crianças passavam por uma espécie de “leilão”, ficando com quem mais pagava por elas. Havia uma ressalva para as amas de criação, que poderiam ficar com as crianças mais 5 anos, mas sem receber criação e sem pagar soldada. Apenas neste caso a criança seria arrematada aos 12 anos de idade. É óbvio que a esse “leilão” acorriam os que tinham interesse numa criança para realizar algum tipo de trabalho. A falta de legislação que definisse as condições em que a criança era entregue provocava situações de autêntica escravatura. Já aqueles que tinham qualquer tipo de deformação ou menos capacidade para o trabalho, ficavam entregues à sua sorte, passando a viver de esmola ou da criminalidade. Para regular essa questão, o Marquês de Pombal emitiu o Alvará de 31 de Janeiro de 1755, onde define a situação e os direitos dos expostos depois de completaram os 7 anos de idade e regulando as condições em que eram entregues a mestres de ofícios mecânicos. Definiu, igualmente, o tempo a que as crianças eram obrigadas a servir sem soldada. Apesar desta subsequente exploração infantil, o número de expostos não parava de aumentar. Munido de plenos poderes conferidos pela Rainha D. Maria I, o Intendente Geral da Polícia, Pina Manique, expediu uma circular a todos os provedores das comarcas do reino, a 10 de Maio de 1783, mandando criar e abrir casas de roda para enjeitados em todas as cabeças de comarca de Portugal. Com vista à angariação de mais amas-de-leite, o Decreto de 31 de Março de 1787 isenta do recrutamento os maridos e filhos das Amas dos Expostos; enquanto os Decretos de 5 de Junho de 1800 e de 9 de Novembro de 1802 confirmam os privilégios antigos dados às mesmas, tomando especiais providências sobre a amamentação das crianças expostas. Também a forma como as crianças expostas eram tratadas passou a ser alvo de fiscalização, de acordo com o Alvará de 24 de Abril de 1804, que determinou que as damas da Ordem de Santa Isabel estariam obrigadas a assistir e visitar as casas de roda pelo menos 4 vezes por mês. Confrontado com o crescimento contínuo do número de expostos por todo o país, o Estado começa a emanar Leis com vista a obrigar os pais a cuidarem dos seus filhos. Importa salientar que, no início do Século XIX, Portugal entra num fervor “Jus Positivista”, emanando leis a granel, tentando regular todas as circunstâncias do dia-a-dia em sociedade, à medida que os problemas chegam ao conhecimento do Legislador. UM CONTRIBUTO PARA A H ISTÓRIA DO D IREITO - OS EXPOSTOS 355 Só isso explica que questões que, durante séculos, foram sendo reguladas pelo costume ou pela organização social, apareçam agora positivadas. Pelo §8 da Lei de 18 de Outubro de 1806, é recomendado às Justiças que obriguem efectivamente as mulheres solteiras, que se souber andarem grávidas, a darem conta do parto, para criarem o filho, sendo possível, ou, a todo o tempo que se souber dos pais, obrigarem-nos a pagar a criação e tomarem conta dos filhos. Esta Lei foi a primeira grande tentativa de inverter a tendência crescente de abandono, ainda que apenas se aplicasse a uma parte do problema, as mães solteiras. Percebe-se, assim, que o Estado e o Legislador tinham consciência de que muitos abandonados eram fruto de relações ilegítimas. A real dimensão do problema pode ser vista através da consulta dos registos paroquiais. No caso de Portimão, no ano de 1602, havia 1 exposto num universo de 84 nascimentos, enquanto no ano de 1839 havia 53 expostos num universo de 223 nascimentos; já em 1881 encontramos 58 expostos num universo de 260 nascimentos; no caso de Albufeira, no ano de 1851, havia 44 expostos num universo de 221 nascimentos. Como se vê, não foi pela obrigação de uma maior fiscalização às mulheres grávidas que o número de crianças expostas diminuiu. Em todo o caso, o Estado continuou na sua senda reguladora, continuando a emanar lei e decretos. Como se poderá justificar, então, que a Lei de 1806 não tivesse feito inverter o número de crianças expostas? A resposta é encontrada na própria Lei. O Legislador, de tanto querer regular, acabava por cair em contradição e, nesse mesmo dia 18 de Outubro de 1806 emana um Decreto que, no seu §8, determina: Que quando aconteça o haver hum parto secreto, e se recorra a pedir socorro ou às Justiças, ou ao Provedor da Misericórdia, ou ao Mordomo dos Expostos, serão obrigados a prestallo; procurando-lhe huma mulher bem morigerada, que com segredo assista ao mesmo parto, fazendo conduzir o exposto para a roda, ou entregando-o a huma ama, que o crie, e ministrando-lhe todos os soccorros, e remedios possiveis; sem que se indague a qualidade da pessoa, nem faça acto algum judicial, donde se possa seguir a difamação. E se não obstante todas as sobreditas providencias, ainda succeda apparecer algum exposto desamparado à porta de algum vizinho de qualquer lugar, esse, ou o Juiz da Vintena, ou outro Official de Justiça, serão obrigados a conduzi-lo, entregando-o a alguma mulher, que o possa alimentar até ser entregue na Casa dos Expostos mais proxima, aonde pelo rendimento applicado para estas despezas, se lhe pagará a conducção, segundo o desvelo, e trabalho, que nella tiverem tido. 356 NUNO CAMPOS INÁCIO Como se percebe, ao mesmo tempo que o Legislador persegue as mães solteiras, facilita a exposição dos filhos das mulheres casadas, regulando uma prática que já era comum (a entrega das crianças na roda dos expostos por quem as encontrasse), sendo a única novidade o pagamento de despesas à pessoa que, até então, entregava as crianças de uma forma voluntária. Não será assim de estranhar que, voltando ao caso de Portimão, a parteira Luísa da Conceição, tenha apresentado, no ano de 1881, 14 crianças abandonadas, com a desculpa de que tinham sido expostas à porta da sua casa, na Rua Diogo Tomé. Os Decretos e Portarias vão-se sucedendo: A Portaria de 16 de Março de 1812 nomeou um Desembargador para examinar a situação dos expostos por todo o Reino. A Portaria de 8 de Maio de 1812 apelava à colaboração dos clérigos, ordenando aos corregedores que recolhessem “os Menores de ambos os sexos, que vagão pelas Comarcas do Reino sem abrigo ou destino” e que, de acordo com os Vigários Gerais, os entregassem aos párocos “mais zelosos do serviço de Deos” para estes os distribuírem pelas casas de lavoura. O Alvará de 24 de Outubro de 1814 estabelece novas regras para o destino de crianças expostas com mais de 7 anos de idade, mandando instalar a Casa Pia do Castelo para acolher essas crianças e permitindo que as famílias de acolhimento possam manter esses jovens até aos 16 anos de idade, ainda que sem receberem qualquer contrapartida monetária e sem que essa manutenção crie algum tipo de vínculo jurídico com o menor. O Código Penal de 1852, não proibindo a exposição de menores de 7 anos em local próprio, penaliza aqueles que os abandonam no espaço público, com uma pena de 1 mês a 3 anos de prisão. Em 1862 uma comissão nomeada para estudar o problema do abandono de crianças propõe o fim das rodas de expostos, devendo as crianças ser abrigadas em hospícios com condições para acolhê-las. No Algarve, à semelhança do que terá acontecido por todo o país, as rodas foram sendo desactivadas, mas as crianças continuaram a ser abandonadas, agora à porta das casas de determinadas pessoas. As crianças expostas em Portimão e em Monchique, por exemplo, eram encaminhadas para o hospício de Silves. O Código Civil de 1867 definiu um novo estatuto jurídico para os expostos, ao mesmo tempo que aprofunda questões como o poder paternal, a legitimação e tutela de filhos perfilhados e a investigação de paternidade ilegítima. Com a entrada em UM CONTRIBUTO PARA A H ISTÓRIA DO D IREITO - OS EXPOSTOS 357 vigor desta lei, surge uma distinção entre crianças expostas e abandonadas, tomando a posição de expostas apenas aquelas que eram entregues nas rodas (as poucas que ainda existiam nessa data). Este Código determina, no art.º 290º, que os expostos ou abandonados tinham direito à propriedade e ao usufruto de tudo o que adquirissem durante a sua menoridade. No que se refere ao processo de reconhecimento da paternidade, este só poderia ser iniciado pelo pai, sendo que a mãe só o poderia fazer com o consentimento deste. As perfilhações realizavam-se através de escritura pública, lavrada por tabelião, na presença de testemunhas. De fora ficavam os filhos concebidos de relações adúlteras ou incestuosas, considerados filhos espúrios, ou seja, a sua condição jurídica não lhes permitia serem perfilhados. A extinção das rodas de expostos criou um problema adicional. O número infanticídios disparou e surgem as abortadeiras, que realizam abortos clandestinos, sem olhar às mais básicas condições de higiene e sanidade, provocando a morte de muitas mulheres. A este respeito, o Conde de Mafra refere nas suas memórias o “Luciano das ratas”, homem que descia aos esgotos de Lisboa e regressava com “uma cabazada de ratazanas numa mão e um molho de fetos humanos na outra”. O aumento do número de infanticídios estará na base da decisão de reinstalação das Rodas em algumas localidade, que funcionaram até finais do Século XIX e, em alguns sítios, até durante a República. Apesar da existência de algumas Rodas, os hospícios, mantidos pelas Câmaras Municipais, eram as instituições que prestavam o apoio à infância. O hospício era dirigido por uma directora, a quem competia a sua administração, sob supervisão do vereador dos expostos. Depois de prestados os cuidados básicos, as crianças poderiam ser entregues a amas externas, pagas pela Câmara Municipal. Do novo hospício de Silves saíam crianças para serem criadas por amas de locais como Alvor, Monchique, Alferce, Portimão, Silves, Lagoa, Estômbar e um pouco por todo o Barlavento Algarvio. Numa freguesia sem expressão, como era a do Alferce, no concelho de Monchique, conseguimos identificar, na segunda metade do Século XIX, 71 amas-de-leite, algumas casadas e com filhos, mas onde proliferam as viúvas. Infelizmente poucas eram as crianças que passavam do primeiro mês de vida. Os princípios do Iluminismo, que inspiraram o Marquês de Pombal no Século XVIII, e do Liberalismo, já no Século XIX, centrado na dignidade humana e no princípio universalista da “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”, a que não é alheia a influência das organizações maçónicas e carbonárias, foram incutindo na população em geral e no meio político novos valores de organização social, contrários e adversos ao abandono de crianças. Apesar de ainda existirem hospícios e rodas de expostos, o número de crianças abandonadas já tinha diminuído nos últimos anos do Século XIX e nos primeiros anos do Século XX. 358 NUNO CAMPOS INÁCIO Com a implantação da República, em 1910, e a aprovação da Constituição de 1911, é consagrado o direito à assistência pública. Passa a ser o Estado a suportar um sistema de assistência pública, intervindo no funcionamento das instituições públicas e privadas, financiando-as, controlando-as e fiscalizando as suas receitas e despesas. Muitas instituições de acolhimento deixaram de ser rentáveis e percebe-se que, atrás do flagelo dos expostos havia muito interesse económico. Por outro lado, as alterações ao Direito da Família, com a criação do Direito ao Divórcio e a implementação do Registo Civil, que substituiu o registo eclesiástico e não levantava questões de ética ou de moral, facilitando o registo de filhos ilegítimos, levou a uma diminuição drástica do número de crianças abandonadas. A melhoria das condições de vida da sociedade portuguesa e um maior controlo da natalidade, associadas a uma alteração de mentalidades, levaram a que o abandono de crianças passasse a ser socialmente reprovado e, até, criminalizado. Mais uma vez, o Direito adapta-se a uma nova ordem social. Esta mudança de mentalidade acompanha a alteração verificada um pouco por todo o mundo civilizado. O direito à família figura na Constituição de quase todos os países de mundo, baseado em princípios como o da dignidade humana. O art.º 25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) estabelece que: «A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimónio, gozam da mesma protecção social». O Princípio IV da Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) diz que: «A criança deve gozar dos benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde; para essa finalidade deverão ser proporcionados, tanto a ela, quanto à sua mãe, cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré e pósnatal. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados». Esta protecção dada às crianças, mas também às mães, tem sido fundamental para evitar o abandono de recém-nascidos, sendo raros os casos vindos a público. Ainda assim, o Direito Português continua a prever essa ocorrência, estabelecendo o Código Civil as circunstâncias em que deve haver uma Averiguação Oficiosa de Maternidade e de Paternidade, bem como as subsequentes Investigações. Para finalizar há que abordar a questão da situação jurídica dos expostos. Entendiase que o estado civil dos expostos era um estado negativo, uma vez que não era filho legítimo, nem ilegítimo, nem natural, nem adulterino. É, assim, tratado como se a sua vida tivesse sido gerada pelo acaso, sem a existência de pai ou de mãe. Não possui filiação nem laços familiares. É tratado por amas que não têm para com ele UM CONTRIBUTO PARA A H ISTÓRIA DO D IREITO - OS EXPOSTOS 359 qualquer vínculo jurídico, apenas estando obrigadas a mantê-lo vivo; vive numa casa ou num hospício que não é mais do que um albergue temporário, de onde terá de sair aos 7 anos de idade (ou na melhor das hipóteses aos 12 anos), sem ter qualquer outro vínculo para com essa família ou instituição; aos 7 anos são “leiloados” e adquiridos como se fossem escravos, mas também não tinham o estatuto de escravos (mesmo no período em que vigorava a escravatura), nem eram geridos como coisas; eram menores, mas não lhes era aplicada a lei aplicável aos menores, uma vez que essa lei pressupunha a existência de vínculos familiares; trabalhavam, mas não tinham um vínculo de trabalho, uma vez que o seu labor era a contrapartida pelo ensinamento e cuidado que recebiam; podiam possuir e administrar bens, mas se falecessem sem descendência não tinham outro herdeiro que não o Estado. Temos, assim, que o exposto era um ser sem vínculo, regulado por uma legislação avulsa que lhe era aplicável, tendo em vista a manutenção pura e simples da sua vida. Dotado de personalidade jurídica, possuía uma capacidade jurídica própria, definida por Lei e, muitas vezes, contrária ao próprio ordenamento jurídico. 360 NUNO CAMPOS INÁCIO Orientação Bibliográfica Aristóteles, A Política, Tradução de Torrieri Guimarães, Hemus Editora. Bíblia Sagrada, Edições Verbo. Lamas, Maria, Mitologia Geral I, Editorial Estampa, 4ª Edição, 2000. Lopes, Maria Antónia, Protecção Social em Portugal na Idade Moderna, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010. Marcos, João Nuno Aurélio, A Caridade e as Instituições de Assistência Pública no Concelho de Lagoa (Séculos XVI-XX), no prelo. Ordenações Filipinas, disponível em formato digital em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/ filipinas/ordenacoes.htm Ordenações Manuelinas, disponível em formato digital em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/ proj/manuelinas/ Orlando, António, Código de Hamurabi, Lei das XII Tábuas, Manual dos Inquisidores, Lei do Talião, Conceito Editora, 2010. Pinto, António Joaquim de Gouvêa, Exame Crítico e Histórico sobre os direitos estabelecidos pela legislação antiga, e moderna, tanto pátria como subsidiária, e das Nações mais vizinhas, e cultas, relativamente aos Expostos e Engeitados, Academia Real das Ciências, 1828. Platão, A República – Diálogos I – Publicações Europa-América. Recursos informáticos www.genealogiadoalgarve.com
Download