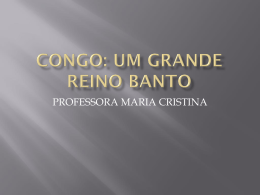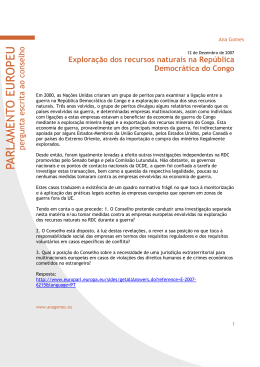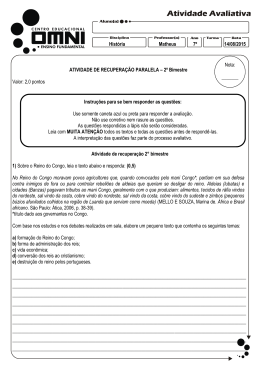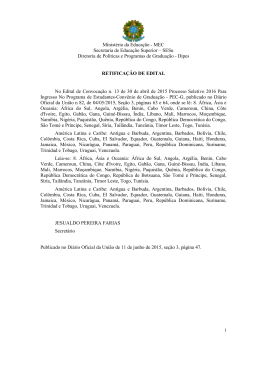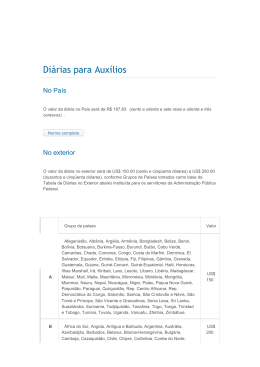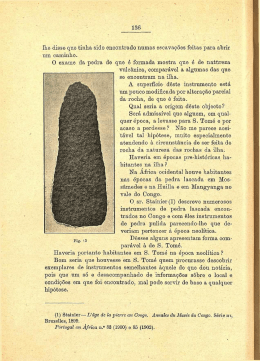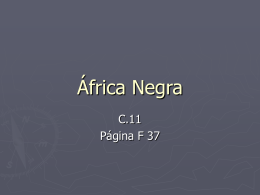No final de 1961, a Companhia 322, de que era médico, foi enviada por via aérea para São Salvador do Congo, a capital da província do Congo, antes chamada Banza e depois da independência M’banza Congo. A missão do médico era prestar assistência aos vários pelotões estacionados no mato em pontos considerados estratégicos e também às crianças da sanzala de São Salvador. Em São Salvador vivia a rainha do Congo, importante figura tribal e a última de uma longa linhagem real cujo contacto com os navegadores portugueses começara em 1493, entre Nzinga Nitos, rei do Congo, e Diogo Cão. Diogo Cão regressou a Portugal acompanhado por uma 77 embaixada do rei do Congo com o fim de, segundo a crónica de Garcia de Resende, pedir a D. João II que fossem enviados «frades e clérigos e todas as cousas necessárias para elle e os seus Reynos receberem as águas do baptismo». Numa segunda expedição, comandada por Rui de Sousa, Nzinga Nitos converteu-se e tomou, em homenagem aos reis de Portugal, o nome de João, e sua mulher o de Leonor, e o filho, que lhe sucedeu, o de Afonso. Pelo papa Clemente VIII, São Salvador foi elevada a diocese e para o reino do Congo foram enviados jesuítas, carmelitas descalços, capuchinhos e dominicanos, alastrando a evangelização dos povos Bantos. Como seria de esperar, o reino transformou-se rapidamente num importante entreposto de escravos e de marfim, o que despertou a cobiça de holandeses, franceses e ingleses, que iniciaram acções bélicas no território e acções diplomáticas junto dos reis do Congo, tendo as relações entre a coroa de Portugal e a coroa do Congo atravessado momentos difíceis, que só terminaram no reinado de Garcia II do Congo. A partir daí, tudo aparentemente correu melhor que nas outras regiões de Angola, talvez porque os Bantos eram mais pacíficos que os outros povos circundantes, como os Jagas, os Zimbas e os Jingas, guerreiros nómadas, agressivos e antropófagos. Destes últimos, uma figura emblemática foi uma rainha dos Jingas, de Pungo Andongo, que se revoltou contra o Governo 78 de Luanda, onde duas irmãs suas foram presas num convento. Reza a lenda que teve inúmeros namorados, dos quais pelo menos um seria certo fidalgo português, e que, après avoir couché avec, reincidia, comendo-os ao pequeno-almoço. Convivi bastante com os povos Bantos. Alguns usavam tatuagens, ornatos nos lábios e limavam os dentes. Praticavam a circuncisão, a exogamia e viviam em cubatas em forma de colmeia, cobertas de capim, confortáveis e frescas. Este romanesco passado despertou em mim o desejo de conhecer a rainha. Para o efeito, mandei o meu sargento-enfermeiro pedir-lhe audiência. Voltou com a notícia de que me receberia às cinco da tarde. Apresentei-me com pontualidade, acompanhado pelo tenente Mensurado (irmão do jornalista José Mensurado), que comandava um pelotão de pára-quedistas. O palácio era um bungalow simples, mas de traça harmoniosa. Tinha um só piso e na frontaria havia um terraço coberto. A rainha aparentava cinquenta anos, era corpulenta, de estatura média, vestia como as mulheres da classe mais alta de São Salvador e falava e movia-se com lentidão e imponência reais. Acompanhavam-na dois anciãos de ralas barbas brancas, vestidos com velhíssimas fardas coloniais, azuis, com alamares e botões dourados, e também duas jovens, suas sobrinhas. Curvei-me e tratei-a por Vossa Majestade. Respondeu-me no mesmo tom, tratando-me majestaticamente por tu. Falava bem 79 português, mas com os tiques de sintaxe habituais nos angolanos. – Vou-te apresentar os meus conselheiros – disse com solenidade. Equivocado, entendi ‘cozinheiros’ e para aligeirar um pouco o cerimonial perguntei aos velhos quais os petiscos favoritos de Sua Majestade. Uma cotovelada e um bichanar do Mensurado puseram-me no caminho correcto e a conversa continuou fácil. Seguidos a uma distância respeitosa pelos conselheiros e sobrinhas, levou-nos para uma ampla sala, mobilada com simplicidade – móveis de verga e bambu, que contrastavam com pratas, bonitas loiças da Companhia das Índias, boas armas e alguns retratos dedicados. Mandou servir refrescos e contou que as pratas, as loiças, armas e retratos eram ofertas a seus avós dos reis de Portugal, nomeadamente de D. Luís e de D. Carlos. À despedida, disse-me num tom que mais parecia uma ordem, que gostaria que voltasse a visitá-la. Assim fiz com regularidade. Presenteava-me sempre ou com algum mimo da sua horta ou do seu galinheiro – em geral dois ovos, produto difícil de encontrar em São Salvador e que eram bem-vindos como variante à dieta castrense, cujo prato forte era massa com dobradinha seca. Mas esqueceu o exemplo dos seus antepassados e as nobres tradições tribais e nunca me ofereceu três raparigas virgens. Uma vez que fui a Luanda acompanhar feridos graves e me demorei, admoestou-me no meu regresso: – Então foste no Luanda e não me disseste nada! 80 A sua conversa favorita era a secular aliança entre as coroas de Portugal e do Congo. Mostrava ou afectava mostrar total aprovação para com a política de Salazar e uma atitude perante a guerra que encontrei em muitos outros africanos de todos os níveis: a guerra colonial não passava de um epifenómeno com um peso social muito inferior ao peso das ancestrais relações tribais. O que aconteceu em Angola depois do regresso das tropas portuguesas, e também em outras das ex-colónias, é disso prova. Parti de São Salvador sem me poder despedir da rainha. Anos depois, soube que estava em Lisboa e que fora recebida pelo presidente da República, almirante Américo Tomás. Não tive então vontade de a rever.
Baixar