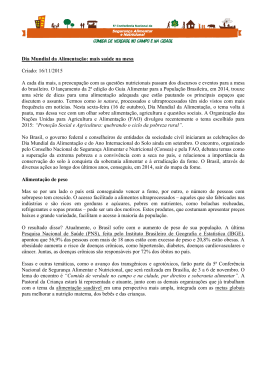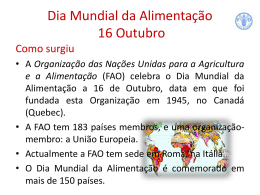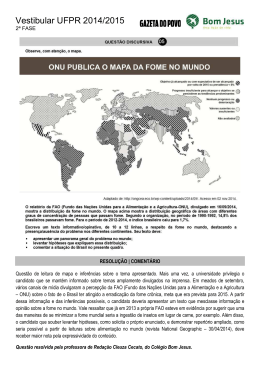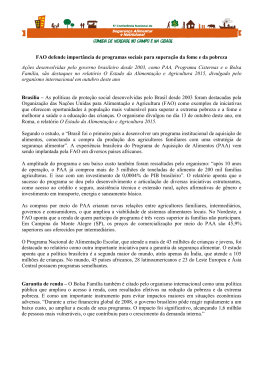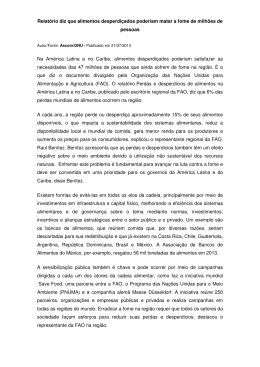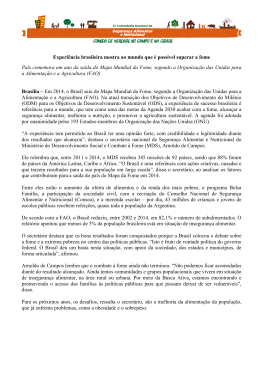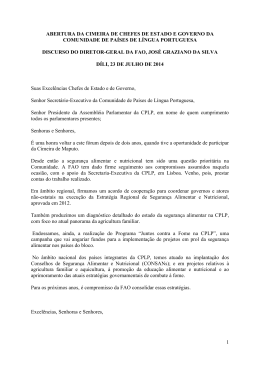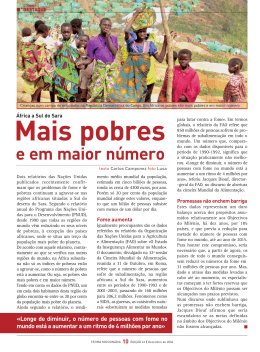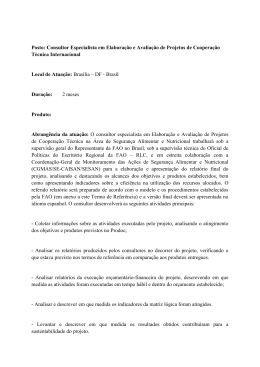1 Universidade de Brasília Instituto de Relações Internacionais Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Mestrado em Relações Internacionais O Brasil e a insegurança alimentar global: forças sociais e política externa (2003-2010) Pilar Figueiredo Brasil 2013 2 Pilar Figueiredo Brasil O Brasil e a insegurança alimentar global: forças sociais e política externa (2003-2010) Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, como pré-requisito para obtenção do grau de Mestre em Relações Internacionais, sob orientação do Professor Dr. Pio Penna Filho. 2013 3 Pilar Figueiredo Brasil O Brasil e a insegurança alimentar global: forças sociais e política externa (2003-2010) Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, como pré-requisito para obtenção do grau de Mestre em Relações Internacionais, sob orientação do Professor Dr. Pio Penna Filho. Banca Examinadora ___________________________________ Prof. Dr. Pio Penna Filho ____________________________________ Prof.ª Dra. Danielly Silva Ramos Becard _____________________________________ Prof. Dr. Virgílio Caixeta Arraes 2013 4 Agradecimentos Gostaria de sempre conseguir mostrar minha gratidão às pessoas que fazem parte da minha vida, mas eu bem sei que essa não é uma das minhas principais qualidades. Muitas vezes guardo pra mim esses sentimentos e aquela pessoa, tão especial, acaba nem sabendo... Mas eu sempre acho que vou ter uma oportunidade mais adequada pela frente... Talvez, esse seja o momento... De Boa Vista a Brasília, são muitas as pessoas que fazem parte da minha vida e que, de alguma forma, fizeram parte dessa trajetória dissertativa, em particular. A família, agora vejo, base de tudo, dos meus princípios e valores, do meu caráter, e também das minhas prioridades. À minha mãe, Selma Luiza, agradeço por ter cantado e recitado poemas nas minhas manhãs. Por ter sido carinhosa e por ter sempre nos dado todo o amor. Por ter sido rígida e muito séria, em alguns aspectos, e por ter feito tudo o que pôde pra nos educar para o mundo. Realmente, uma pessoa diferente de tudo, diferente de todos, uniquíssima e maravilhosa! Agradeço ao meu pai, Willer, por te sido muito pai enquanto pôde ser. Aos meus irmãos, Ícaro e Pietra, eu agradeço por terem sido sempre uma referência para mim. Além disso, por serem verdadeiros amigos e companheiros para todos os momentos. Eu não tenho palavras pra expressar o quanto sou feliz de ter esses dois irmãos. O nosso amor é para sempre. À Maely, à Maby, à Melissa, à Cris, ao Rafinha e à Ana Clara, agradeço por terem me acolhido e por terem se tornado a minha família em Brasília. Pessoas muito especiais, às quais eu sempre serei grata pelo convívio e pelo carinho. À Maely, em especial, que me acolheu em sua casa e foi carinhosa como uma mãe. Nunca irei esquecer o que ela fez por mim, e nunca será demais agradecer. Além de tudo, agradeço pela revisão do texto, que foi feita com quase nada de tempo, mas tenho certeza que foi com todo o empenho. Aos amigos da graduação, que se tornaram amigos pra vida toda: Guerra, Hélio e Alexandre, pessoas com as quais eu já compartilhei muitas experiências boas e que, apesar da distância e do tempo que não nos vemos, sempre estão na minha memória. 5 Aos amigos que fiz no mestrado, companheiros para todas as horas, Antouan, Rafael Araújo, Ganesh, Alberto, Rafael Manzi, Bruno, e aos outros amigos que fiz em Brasília, Leana, Lorys, Dani, Amanda, Vicente, Theiss e outros. Gostaria de agradecer, em especial, ao Antouan, que foi muito amigo, em todos os momentos, e porque ele foi tão magnânimo que compartilhou todos os seus amigos comigo, a forasteira, vinda de terras distantes de quase-Venezuela. Outra pessoa que também se tornou grande companheira foi a Leana. Agradeço por ter sido tão paciente, por ter me escutado, enfim, por ser amiga. Aos amigos, Lu e Pedro, que me aguentaram na fase mais difícil, me apoiaram com palavras de incentivo, foram solidários e me ajudaram sempre. A contribuição dos professores ao longo da nossa vida é de um valor inestimável, realmente, são figuras transformadoras e que merecem todos os nossos agradecimentos. Por isso, ao meu orientador, Professor Pio, que foi paciente e muito compreensivo, eu agradeço de todo o coração. Pois, muitas vezes, ele me apontou caminhos mais simples para as coisas que eu julgava mais complicadas. Eu agradeço pela generosidade de aceitar me orientar e de seguir comigo até final, até que eu conseguisse chegar aqui. Por fim, eu agradeço ao Thiago, por ter entrado na minha vida, por tê-la mudado completamente, por ter se tornado uma grande referência para mim, de comprometimento, de responsabilidade, de perseverança, de generosidade, de amizade, de amor. E que o amor seja sempre nossa tônica, o centro de tudo, a força que nos move para frente, para mais e para além. É com o meu amor que termino os meus agradecimentos, pois é aquilo que tenho de melhor para dar a todas essas pessoas maravilhosas. 6 Enquanto os homens exercem Seus podres poderes Morrer e matar de fome De raiva e de sede São tantas vezes Gestos naturais Podres Poderes - Caetano Veloso Lá vou eu de novo Brasileiro, brasileiro nato Se eu não morro eu mato Essa desnutrição Minha teimosia Braba de guerreiro É que me faz o primeiro Dessa procissão Abre-te Sésamo - Raul Seixas 7 Resumo A segurança alimentar ganhou corpo na agenda política nacional por força das pressões sociais no início dos anos 1990. Entretanto, coube aos Chefes de Estado, por meio da diplomacia presidencial ou de Cúpula, fortalecer o tema da segurança alimentar como linha da política externa brasileira nos anos 2000. A modificação na ênfase internacional brasileira, com uma inserção internacional pautada nas demandas sociais nacionais de combate à fome e à pobreza reconstruiu a imagem do país no mundo. Esta dissertação procura compreender como e por que a questão alimentar foi incorporada à política externa brasileira. Além disso, procura-se observar os reflexos das demandas sociais e das políticas nacionais na ação externa do Brasil. Em que medida a inclusão do tema na agenda de política externa foi determinada pelos movimentos e pressões sociais nacionais. O objeto de estudo será abordado a partir de três dimensões. A primeira, tratará da questão alimentar no âmbito global, a evolução das políticas e do debate conceitual no âmbito das Organizações Internacionais que tratam do tema. Trata-se de uma abordagem exploratória que tem o objetivo de construir um panorama do tema, com estudos recentes, ideias, pontos de vista e debates, demonstrando como a questão ganhou densidade na política na academia em nível internacional. A segunda será uma abordagem da questão em ambiente doméstico, com ênfase nas políticas públicas específicas para segurança alimentar e combate à fome. Além disso, busca-se mostrar como os movimentos sociais foram decisivos na inclusão do tema na agenda política nacional. A terceira dimensão volta-se para a incorporação do tema à política externa brasileira no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). A delimitação do objeto em três dimensões (políticas globais, políticas públicas nacionais e política externa), bem como a problematização da questão alimentar como um fenômeno dual, que interliga os níveis doméstico e externo (das forças de pressão e pulsão que influenciam na agenda de política externa do Brasil), foram feitas com objetivo de abarcar a complexidade do tema, levando em consideração tanto o ambiente externo quanto o interno. A técnica de pesquisa utilizada foi a de observações sistemáticas por meio de pesquisas bibliográficas e documentais, tanto de livros e artigos científicos sobre segurança alimentar e política externa brasileira, quanto pela análise documental dos acordos, declarações e convênios das parcerias firmadas pelo Brasil, em âmbito bilateral e multilateral. Para análise e interpretação dos dados obtidos, foi escolhido o método qualitativo. Palavras-chave: combate à fome e à pobreza; insegurança alimentar; política externa brasileira 8 Abstract Food security gained body in the national political agenda mainly by the social pressures in early 1990. However, it was up to the Heads of State, through the presidential diplomacy or by summit, strengthening the issue of food security as a line of Brazilian foreign policy in the 2000s. The change in international Brazilian emphasis with an international insertion ruled by national anti-hunger and poverty social demands rebuilt the country's image in the world. This dissertation seeks to understand how and why the food issue was incorporated into Brazilian foreign policy. Furthermore, we seek to observe the reflections of social demands and national policies in Brazil's external action. To what extent the inclusion of the theme on the foreign policy agenda was determined by the national movements and social pressures. The study object will be approached from three dimensions. The first will deal with the food issue at the global level, the evolution on policy and conceptual debate within the international organizations that deal with the subject. This is an exploratory approach that aims to build an overview of the topic, with recent studies, ideas, views and debates, demonstrating how the issue gained density in politics in academia internationally. The second approach will be an issue in the domestic environment, with emphasis on specific public policies for food security and fighting hunger. Furthermore, it seeks to show how social movements were decisive in the inclusion of the topic in the national political agenda. The third dimension is intended to understand the incorporation of the theme to the Brazilian foreign policy under Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) presidency. The delimitation of the object in three dimensions (global policies, national policies and foreign policy), as well as the problematic issue of food as a dual phenomenon, which connects domestic and external levels (the pressure forces that drive and influence the Brazil’s foreign policy agenda), were made in order to encompass the complexity of the issue, taking into account both the internal and the external environment. The research technique used was the systematic observations through bibliographic and documentary researches, both on books and papers on food security and Brazilian foreign policy, as the documentary analysis of the agreements, declarations and covenants that consolidate Brazilians partnerships, in bilateral and multilateral context. For analysis and interpretation of data, the qualitative method was chosen. Keywords: fighting hunger and poverty; food insecurity; Brazilian foreign policy 9 Lista de Siglas e Abreviaturas ABRANDH Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos ALCSF Iniciativa América Latina e Caribe sem Fome - 2025 AOD Assistência Oficial ao Desenvolvimento ASCOFAM Associação Mundial de Luta Contra Fome BID Banco Interamericano para o Desenvolvimento BM Banco Mundial BRIC Brasil, Rússia, Índia e China CAISAN Câmara Interministerial para a Segurança Alimentar e Nutricional CARICOM Caribbean Community CBD Convenção sobre Diversidade Biológica CC-AEI da FAO Comitê do Conselho para Avaliação Externa Independente da FAO CDH Conselho de Direitos Humanos CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe CGFOME Coordenação Geral de Apoio às Ações de Combate à Fome CIP Comitê Internacional de Planejamento das ONG/OSC CIRADR Conferência Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural CMA +5 Cúpula Mundial da Alimentação (+ 5 anos) CMA Cúpula Mundial de Alimentação CNAN Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição CNSA Conferência Nacional de Segurança Alimentar CNSAN Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional COBAL Companhia Brasileira de Alimentos COEP Comitê de Entidades Públicas no Combate à Fome e Pela Vida COFAP Comissão Federal de Abastecimento e Preços COFI Committee on Fisheries 10 CONAB Companhia Nacional de Abastecimento CONSAD Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local CONSEA Conselho Nacional de Segurança Alimentar CPLP Comunidade de Países Africanos de Língua Portuguesa CRGAA Comissão de Recursos Genéticos para a Alimentação e Agricultura CSA Comitê de Segurança Alimentar CSNU Conselho de Segurança das Nações Unidas DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos ECOSOC Conselho Econômico e Social das Nações Unidas EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ENDEF Estudo Nacional de Despesas Familiares FAO Food and Agriculture Organization FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador FIDA Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz FNDE Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação FPA Foreign Policy Analysis G-77/China Grupo dos 77 (Setenta e sete países em desenvolvimento mais a China) G8 Grupo dos Oito (Sete países mais ricos e a Rússia) GCIAI Grupo Consultivo sobre Investigação Agrícola Internacional GTIFAO Grupo de Trabalho Interministerial para a FAO I PRONAN I Programa Nacional de Alimentação e Nutrição IAAH Aliança Internacional contra a Fome IBAM Instituto Brasileiro de Administração Municipal IBAS Índia, Brasil e África do Sul IBASE Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 11 II CNSAN II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional III CNSAN III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional INAN Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição INIAF Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Bolívia) IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada LBA Legião Brasileira de Assistência LOSAN Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário MEC Ministério da Educação MERCOSUL Mercado Comum do Sul MESA Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome MINUSTAH Missão de Estabilização das Nações Unidas para o Haiti MPAS Ministério da Previdência e Assistência Social MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão MRE Ministério das Relações Exteriores OIT Organização Internacional do Trabalho OMC Organização Mundial do Comércio OMPI Organização Mundial de Propriedade Intelectual OMS Organização Mundial de Saúde ONG Organização Não Governamental ONU Organização das Nações Unidas PAA Programa de Aquisição de Alimentos PAP Programa de Abastecimento Popular PEB Política Externa Brasileira PIB Produto Interno Bruto PMA Programa Mundial de Alimentos PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAN Política Nacional de Alimentação e Nutrição 12 PND I Plano Nacional de Desenvolvimento I PNLCC Programa Nacional de Leite para Crianças Carentes PNSAN Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente PROAB Programa de Abastecimento de Alimentos Básicos em Áreas de Baixa Renda PROCAB Projeto de Aquisição de Alimentos em Áreas Rurais de Baixa Renda PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAN II Programa Nacional de Alimentação e Nutrição II PRONERA Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária PT Partido dos Trabalhadores REAF Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do MERCOSUL REBRASFAO Representação Permanente do Brasil junto à FAO SAN Segurança Alimentar e Nutricional SAPS Serviço de Alimentação da Previdência Social SEAC Secretaria Especial de Ação Comunitária SEAIN/MPOG Secretaria de Assuntos Internacionais do MPOG SER Responsabilidade Social Empresarial SERE Secretaria de Estado das Relações Exteriores SESAN Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional SISAN Sistema Nacional de Segurança Alimentar STAN Serviço Técnico da Alimentação Nacional UA União Africana UE União Europeia UECSS Unidade Especial de Cooperação Sul-Sul UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura 13 Sumário INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 14 CAPÍTULO 1 – OS ESTUDOS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E SEGURANÇA ALIMENTAR ................................................................................................................ 18 1.1. CONCEITOS E DEBATES : SEGURANÇA ALIMENTAR , FOME E POBREZA ........... 19 1.2. A CRIAÇÃO DA FAO E AS ORIGENS HISTÓRICAS DA IDEIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR .......................................................................................................... 32 1.3. AS VULNERABILIDADES DO ATUAL SISTEMA ALIMENTAR GLOBAL ................ 42 CAPÍTULO 2 – O B RASIL E A (IN)SEGURANÇA ALIMENTAR ..................................... 55 2.1. AS FORÇAS SOCIAIS E A QUESTÃO ALIMENTAR NO BRASIL ........................... 55 2.2. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NO BRASIL ................................................................................................................. 62 2.3. O PAPEL DO CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR (CONSEA) ............................................................................................................................ 78 CAPÍTULO 3 – A SEGURANÇA ALIMENTAR NA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA .... 87 3.1. TRÊS DIMENSÕES DA SEGURANÇA ALIMENTAR NA PEB (2003-2010) .......... 87 3.2. O BRASIL NA FAO: OS GANHOS DA PRÓ -ATIVIDADE..................................... 99 3.3. ACORDOS BILATERAIS , ARRANJOS INTER - REGIONAIS E COALIZÕES : FRONTS DO COMBATE À FOME ......................................................................................... 113 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 119 FONTES E BIBLIOGRAFIA ........................................................................................ 126 14 INTRODUÇÃO Em um mundo marcado por uma interdependência complexa e pela globalização econômica e da informação, no qual os Estados pautam-se pela governança global e pela atuação em diferentes fóruns multilaterais, as relações internacionais seguem se desenvolvendo em um mundo de pobreza e de fome, onde as estruturas internacionais, como Organizações Internacionais e organizações não governamentais, constituídas para lidar com o problema alimentar não são capazes de combatê-lo com a eficácia imaginada. Essa falta de capacidade se dá, muitas vezes, porque os agentes nacionais e internacionais não atribuem ao problema a importância e urgência de que ele se reveste para o desenvolvimento e a segurança nacional e internacional. O problema alimentar persiste como um desafio avassalador da humanidade no século 21. Os mecanismos de governança global exigem que as questões sociais e de direitos humanos mais urgentes sejam atendidas pelos governos nacionais. O fato de os problemas da fome afetarem majoritariamente os países em desenvolvimento, ou pouco desenvolvidos, faz com que os maiores interessados no estudo dessa questão e na busca por soluções sejam esses próprios países. Somando-se a isso, o fato de esse objeto não ter tido grandes espaços na academia de Relações Internacionais é um forte motivo para que se faça um esforço concentrado de reflexão sobre este que é um dos maiores problemas sociais da humanidade. Os problemas alimentares vivenciados pelo Brasil estão, de certa forma, ligados à dimensão e às causalidades da problemática alimentar no mundo. O Brasil se diferencia em relação aos países pobres que também sofrem com as penúrias da fome, porque no Brasil não existe escassez de recursos alimentares. As características principais que determinam a relação de pobreza e fome, no Brasil, são as grandes disparidades sociais e a má distribuição espacial dos recursos disponíveis. No Brasil, a externalização do tema, na forma de política externa e na consolidação de parceiros internacionais, demonstram o imperativo de tratar a questão com a urgência que ela demanda. Nesse sentido, faz-se necessário análise acurada das repercussões dessa nova política brasileira. 15 O objeto de estudo será abordado a partir de três dimensões. A primeira, tratará da questão alimentar no âmbito global, a evolução das políticas e do debate conceitual no âmbito das Organizações Internacionais que tratam do tema. Trata-se de uma abordagem exploratória que tem o objetivo de construir um panorama do tema, com estudos recentes, ideias, pontos de vista e debates, demonstrando como a questão ganhou densidade na política internacional e na academia. A segunda será uma abordagem da questão em ambiente doméstico, com ênfase nas políticas públicas específicas para segurança alimentar e combate à fome. Além disso, busca-se mostrar como os movimentos sociais foram decisivos na inclusão do tema na agenda política nacional. A terceira dimensão volta-se para a incorporação do tema à política externa brasileira nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003/2006-2007/2010). Nesse sentido, primeiramente, será feito um recorrido sobre as forças sociais internas que determinaram a inserção do tema na agenda política nacional, bem como o papel dos chefes de Estado na inclusão deste na pauta de política externa. A delimitação do objeto em três dimensões (políticas globais, políticas públicas nacionais e política externa), bem como a problematização da questão alimentar como um fenômeno dual, que interliga os níveis doméstico (das forças de pressão e pulsão que influenciam na agenda de política externa do Brasil) e externo, foram feitas com objetivo de abarcar a complexidade do tema, levando em consideração tanto o ambiente externo quanto o interno. A pergunta principal que guia o desenvolvimento desta dissertação é: como e por que a questão alimentar foi incorporada à política externa brasileira? No entanto, ela não é suficiente para compreender toda a complexidade do tema e, de acordo com Trachtenberg, “A lot of thought has to go into the research effort – that it has to be question-driven” (2006, p. 33). Portanto, optou-se pela elaboração de perguntas auxiliares como: quais os reflexos das demandas sociais e das políticas nacionais na ação externa do Brasil? Em que medida a inclusão do tema na agenda de política externa foi influenciada pelos movimentos e pressões sociais nacionais ou pela conjuntura internacional propícia? As ações globais do Brasil no combate à fome e à pobreza refletiram na construção de uma nova imagem internacional do país? 16 Como hipótese, temos que: o governo brasileiro absorveu o conceito de segurança alimentar nos anos 2000 como uma forma de qualificar sua inserção internacional, o que promoveu a construção de uma nova imagem do Brasil no cenário internacional, ligada ao combate à fome e à pobreza. A segurança alimentar ganhou corpo na agenda política nacional por força das pressões sociais no início dos anos 1990; coube aos Chefes de Estado, por meio da diplomacia presidencial ou de Cúpula, fortalecer o tema da segurança alimentar como linha da política externa brasileira; a modificação na ênfase internacional brasileira, com uma inserção internacional pautada nas demandas sociais nacionais de combate à fome e à pobreza reconstruiu a imagem do país no mundo. Sabendo-se que o tema escolhido enfoca prioritariamente uma questão contemporânea e um governo recente, este trabalho buscou retratá-lo como o que Gaddis (2003, p.17) chama de uma “paisagem próxima”, no entanto, com o distanciamento necessário para identificar os componentes essenciais dessa paisagem: o espaço, a estrutura e os processos. Uma vez que o conteúdo da ciência é essencialmente uma relação entre métodos e regras (KING; KEOHANE; VERBA 1994, p.9), e partindo do pressuposto de que “todo método depende do objetivo de investigação” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 25), definiu-se como objeto a investigação do processo e dos efeitos da inserção da segurança alimentar na política externa brasileira. Dessa forma, foi escolhido o método qualitativo para leitura e interpretação deste objeto de estudo. A técnica de pesquisa utilizada foi a de observações sistemáticas por meio de pesquisas bibliográficas e documentais, tanto de livros e artigos científicos sobre segurança alimentar e política externa brasileira, quanto pela análise documental dos acordos, declarações e convênios das parcerias firmadas pelo Brasil, em âmbito bilateral e multilateral. Além disso, foi dada atenção especial à análise da documentação ostensiva do Ministério das Relações Exteriores sobre a temática alimentar. Ao mesmo tempo, foi de grande relevância a análise de fontes jornalísticas. O processamento dos dados obtidos foi feito por meio de inferências descritivas. As ideias dos “jogos de dois níveis” e do sistema dual de “finalidades e causalidades” (PUTNAM, 1993); (DUROSELLE, 2000), guiaram o enfoque dado ao objeto de estudos, para que se chegasse a uma compreensão das interações entre os níveis nacional e internacional; da atuação das diversas forças históricas (de pressão, 17 pulsão, organizadas e desorganizadas), com sua natureza múltipla (econômica, ideológica, demográfica, política, social) e que afetam o ambiente de tomada de decisão. Dessa forma, este estudo tem o objetivo de compreender como e por que o conceito de segurança alimentar foi incorporado à política externa brasileira no início dos anos 2000. Para tanto, no primeiro capítulo, foi feito um recorrido sobre como as Teorias de Relações Internacionais marginalizam os debates sobre graves questões sociais como a fome e que, ironicamente, afetam populações no mundo inteiro e se revelam verdadeiros desafios globais. Também será feita uma exposição do debate sobre o conceito de segurança alimentar e seu atrelamento às ideias de fome e pobreza. Por fim, elaborou-se uma descrição da evolução da temática nos espaços de concertação internacional, bem como a gênese de uma governança global em segurança alimentar. No segundo capítulo, foi debatido o papel dos movimentos sociais na inclusão do tema na agenda política doméstica; além da elaboração de um histórico da temática alimentar nas políticas nacionais do Brasil e a consequente consolidação das instituições especializadas no assunto. Ademais, o capítulo apresenta o papel da sociedade civil, por meio do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), na elaboração de princípios que guiam a inserção internacional do Brasil na área alimentar. O terceiro e último capítulo, apresenta um mapeamento das ações internacionais do Brasil na área de segurança alimentar durante o governo Lula (2003-2010). Nesse sentido, são abordadas as negociações internacionais, a cooperação Sul-Sul e a assistência humanitária. Foi dada uma ênfase especial ao papel proativo do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), por meio da Representação Brasileira junto a FAO, a REBRASFAO. Foram sublinhadas as parcerias bilaterais e as iniciativas da diplomacia brasileira no combate à fome global. Por fim, serão feitas algumas considerações finais, com a síntese dos principais pontos desta dissertação e com o resgate das perguntas e da hipótese que guiam o desenvolvimento deste trabalho, com o fim de debater os resultados alcançados com a pesquisa. 18 CAPÍTULO 1 OS ESTUDOS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E SEGURANÇA ALIMENTAR Neste primeiro capítulo, procura-se construir um pano de fundo para análise da inserção da segurança alimentar na política interna e, posteriormente, na política externa brasileira. Ao abordar o tema por um viés holístico, será possível contextualizar o objeto de estudo e compor um entendimento sobre a política externa brasileira de segurança alimentar, levando em consideração a influência das discussões nos fóruns multilaterais, da participação do Brasil na FAO e do peso de regimes internacionais na definição de uma estratégia brasileira de inserção internacional na temática. Primeiramente, será feita uma apresentação de como as teorias de Relações Internacionais lidam, ou deixam de lidar, com os temas segurança alimentar, fome e pobreza. Além disso, buscamos pontuar os debates mais atuais, expondo novos conceitos, tais como vulnerabilidade social, multiple stressors, vulnerabilidade e resiliência do sistema alimentar global. Em um segundo tópico, serão apresentados a evolução da temática nos espaços de concertação internacional, com um breve histórico do surgimento do conceito de segurança alimentar da FAO e sua evolução, bem como a gênese de uma governança global em segurança alimentar por meio de ações internacionais e criação de instituições especializadas. Ao mesmo tempo, serão expostos os principais problemas e entraves enfrentados por essas instituições internacionais. Por fim, serão abordadas as questões que se apresentam, na atualidade, como desafios à segurança do sistema alimentar global. Dessa forma, ao compreender a essência da problemática alimentar nas relações internacionais, será possível avançar no argumento sobre a política externa brasileira nos capítulos seguintes. 19 1.1. CONCEITOS E DEBATES : SEGURANÇA ALIMENTAR , FOME E POBREZA A questão da pobreza e da fome permaneceu marginalizada em relação aos debates de Relações Internacionais, que priorizam questões de guerra e de paz, de segurança militar e sobrevivência nacional, de ordem e estabilidade, e as dinâmicas econômicas internacionais. Por não haver um conceito de segurança alimentar próprio dos debates de Relações Internacionais, primeiramente, será discutido como a academia tem negligenciado o tema ou, por vezes, o tem tratado muito marginalmente. Em seguida, será exposto o conceito elaborado no seio de organizações e organismos internacionais que trabalham diretamente com o tema. As escolas mais tradicionais, como o Realismo e o Liberalismo, negligenciaram os desafios apresentados ao bem-estar humano, como a existência de um subdesenvolvimento global. O idealismo, como vertente inaugural da tradição analítica no campo das Relações Internacionais, circunscrevia suas preocupações à busca pela paz no plano político e pelo progresso no plano econômico. Um mundo governado por propósitos superiores e universais, ancorado na livre iniciativa e em parâmetros éticos de conduta que se sobressairiam aos egoísmos da esfera política. Assim, o preenchimento de necessidades básicas, como a alimentação, seria uma consequência natural do progresso alcançado com a colocação em prática dos ideais liberais (CARR, 2001). Entretanto, as dificuldades em conectar valores morais às políticas de Estado, o medo hobbesiano de que a ausência de uma autoridade supranacional gerasse conflitos e a fraqueza da opinião pública em se mobilizar em torno da estabilidade, criaram uma tensão entre o interesse nacional egoísta e o voluntarismo racionalista. Logo, o realismo se estabeleceu como ortodoxia do pensamento internacionalista, dimensionando os problemas internacionais pela ótica da segurança e aceitando como natural o uso da força e da violência (BUZAN, 1998). Em um ambiente internacional de guerras mundiais, crises econômicas e protecionismo exacerbado, a cooperação em temas de importância reduzida ou as chamadas low politics, como a questão alimentar, não teriam espaço ou seriam 20 eclipsadas pela lógica da confrontação que alimentou o paradigma realista das Relações Internacionais. Nos anos de 1960, um ramo da academia voltou-se para a análise de política externa (foreign policy analysis – FPA), procurando identificar no processo de tomada de decisão as explicações sobre as escolhas dos atores internacionais. As Análises de Política Externa inovaram no nível da apreciação, ao enfocar prioritariamente a burocracia e os processos de formulação e execução da política pública, além de agregar aspectos imateriais, como as percepções. Segundo Kubálkova (2001), até então, o Estado era visto como uma “caixa preta”, e os analistas de política externa sentiram a necessidade de abrir a caixa, com o fim de explicar o comportamento desses atores. Outro ramo de estudos internacionalistas, forjado na tradição analítica dos anos 1960, daria origem ao globalismo, como um paradigma que comporta perspectivas marxistas e não marxistas de explicação das relações internacionais (VIOTTI; KAUPPI, 1999). O foco deste paradigma recai sobre o padrão produtivista da sociedade atual, que teria sido forjado na racionalidade instrumental econômica, estimulando a produção de riquezas e a concentração de bens materiais, que alcançaram a escala global a partir de uma estrutura interligada em cadeias. Os laços de dominação, engendrados pela globalização financeira e comercial, perpetuaram o modelo capitalista e a lógica da superexploração do meio ambiente e de seus recursos naturais. Assim, a principal contribuição desta perspectiva teórica seria enfatizar a questão da fome e da pobreza como uma “pendência histórica” cujas raízes encontram-se na ordem econômica global. Ainda assim, os globalistas, dentre eles os dependentistas, enfocaram em seus discursos teóricos a estrutura internacional que geraria desigualdades nas relações entre os países do Norte e do Sul, mas deixando de lado os fatores causadores das disparidades sociais, da pobreza e da fome (THOMAS, 2008). Paralelamente ao desenvolvimento da Teoria de Relações Internacionais de base norte-americana, emergiram na Europa duas relevantes tradições de estudos sobre o internacional. Desde os anos 1950, com a obra Introdução à História das Relações Internacionais de Pierre Renouvin, delineava-se uma escola francesa de estudos sobre a história das relações internacionais. Nos anos 1970, com Todo Império Perecerá, Jean 21 Baptiste Duroselle consolidou um conjunto de referenciais teóricos e metodológicos, derivados do estudo da História, para compreender as relações internacionais. Por um lado, o conceito de “forças profundas”, permitiu entender os fenômenos internacionais mediante a multifatorialidade de elementos geográficos, econômicos, financeiros, ideológicos, demográficos que se interpunha entre Estados e sociedades. Por outro, o protagonismo do Homem de Estado e sua susceptibilidade às pressões diretas e indiretas nos ambientes nacional e internacional, determinariam o ritmo das mudanças nas relações internacionais. Mas nenhum deles conseguiria enxergar a questão alimentar como um problema de primeira ordem nas Relações Internacionais. Em um contexto histórico em mutação, de crescentes trocas comerciais e financeiras, acentuam-se os graus de sensibilidade e a vulnerabilidade entre países, principalmente, em relação a setores estratégicos, como o alimentar. De fato, necessidades sociais e técnicas estimularam as elites e burocracias a cooperarem em setores específicos, garantindo um transbordamento da integração para outras áreas e países. Na década de 1980, emergiu no seio da Escola de Frankfurt estudos que procuravam assimilar uma perspectiva de indignação contra a hegemonização do mundo social e que contribuíram de forma imperceptível na modelagem de discursos, análises e interpretações críticas ao modo de produção do conhecimento vigente no Ocidente. A chamada Teoria Crítica rechaçava a mentalidade utilitarista e predatória, manifesta no primado da racionalidade técnica-instrumental, que colocava os recursos naturais como objeto de apropriação a serviço de uma minoria de grupos e países, conformando-se em “bens oligárquicos” (ALTVATER, 1995). Além disso, a crítica à sociedade industrial vinha acompanhada da crítica à modernidade no contexto da globalização neoliberal, que potencializava os efeitos perversos da lógica capitalista de apropriação da natureza, pela mercantilização, gerando pobreza e devastação ambiental em escala mundial. O subdesenvolvimento insustentável seria um preço alto a se pagar por aqueles que precisam e almejam crescer nas relações internacionais (PROCÓPIO, 2005). Uma mudança na mentalidade coletiva das sociedades acompanhava as transformações operadas com o declínio da União Soviética e da Guerra Fria. Assim, o Copenhagen Peace Research Institute, criado em 1985 com o objetivo de promover 22 estudos para a paz, é, nos dias de hoje, uma referência na área de segurança internacional. Ao notarem que o conceito de segurança estava essencialmente ligado às questões estratégicas e militares, e que o único objeto de segurança era o Estado, os teóricos de Copenhague propuseram uma mudança ontológica nas teorias sobre segurança. Para tanto, os estudos de segurança deveriam incorporar as ameaças advindas não só do setor militar, mas também das áreas política, econômica, societal e ambiental. Nesse caso, o Estado deixava de ser o único objeto de análise de segurança (TANNO, 2003). A vertente “abrangente” da segurança proposta pela Escola de Copenhague encontrou diálogo com as perspectivas críticas, associadas à Escola de Frankfurt que, por sua vez, situam a segurança humana como centro da análise e propõe “que as pesquisas de segurança devam colaborar para a emancipação humana” (TANNO, 2003, p.50). Nas teorias de relações internacionais e nos debates produzidos pela Escola de Copenhague sobre segurança internacional não existe, entretanto, um conceito acabado de Segurança Alimentar. Nem sequer a segurança alimentar é considerada um setor de segurança. Buzan (1998) considera que as mazelas da fome estão dentro dos desdobramentos produzidos por um quadro de insegurança ambiental. Ou, por outro lado, a insegurança alimentar poderia ser considerada como uma ameaça à segurança societal, caso alguma sociedade ou grupo étnico se encontrasse em uma situação de risco às suas identidades, em função de práticas alimentares negativas ou à falta de alimentos. Com efeito, o desafio ambiental, por exemplo, ligado ou não à ação do homem, torna países e pessoas cada vez mais vulneráveis; a desertificação de biomas, como o cerrado brasileiro; a salinização de áreas agricultáveis e o desmatamento da cobertura vegetal original de importantes florestas, como a Amazônia, criam pressões sobre as populações, podendo ocasionar deslocamentos internos, fluxos migratórios e a deterioração da situação social e econômica interna (HULME, 2003). O conceito de segurança ambiental se refere à preservação das condições ecológicas que suportam o desenvolvimento da atividade humana e está diretamente relacionada às ameaças de perder as condições de que dependem a obtenção ou a manutenção da qualidade de vida de uma população, comunidade ou sociedade. Nesse 23 sentido, a segurança alimentar pode ser afetada por ameaças à segurança ambiental (BUZAN, 1998). Por uma ótica estatal, a segurança alimentar pode ser vista por dois prismas. O primeiro, é a capacidade do Estado de prover segurança alimentar para a população, considerando que a alimentação é, além de uma necessidade básica, um dos direitos fundamentais de todos os indivíduos. Então este primeiro aspecto diz respeito ao quão distribuída e planificada é a segurança alimentar dentro de todo o espaço de jurisdição do Estado, estando ligada à garantia de direitos fundamentais. Pelo segundo prisma, a segurança alimentar se apresenta como a autonomia que um Estado possui em relação aos outros estados e ao sistema internacional para proporcionar a segurança alimentar nacional. Este é um prisma sistêmico e aponta para o grau de vulnerabilidade do Estado em relação aos outros atores do meio internacional. Quando um Estado não possui segurança alimentar, dentro dos dois aspectos citados, há sérios riscos de chegar à falência de suas instituições. As conturbações causadas pela insegurança alimentar podem emergir na sociedade, causando revoltas, protestos, conflitos civis e contestação do poder público, gerando insegurança política e militar. Além da crise interna, pode haver também o transbordamento do problema por meio das migrações regionais e extrarregionais, como já ocorre em alguns lugares do mundo. Álvaro Gurgel de Alencar afirma que Configura-se atualmente, para países ricos, médios ou pobres, o imperativo de atribuir à segurança alimentar – quer em termos globais quer nacionais – importância estratégica decisiva para a preservação de seus interesses, cada vez mais próximos do interesse da manutenção da paz e segurança internacionais. Tentar fazer com que esses interesses comuns sejam clara e amplamente percebidos é missão que deve incumbir a todos aqueles que se ocupam do assunto, seja em nível teórico, decisório ou operacional, já que somente assim se produzirá a necessária mobilização das vontades para enfrentar o problema (2001, p.4). Havendo crise interna e propagação da violência social, há o risco de intervenção externa pelo princípio de good governance ou ingerência, ainda que remoto. Ou seja, o Estado, ao não garantir o cumprimento dos direitos humanos, dentre os quais o direito à alimentação, está sujeito ao envolvimento de forças externas em seus problemas internos, o que se traduz em riscos à soberania (ALENCAR, 2001). 24 Aqui resgatamos a contribuição da periferia do sistema internacional em pensar a segurança internacional. O debate conceitual evoluiu para incorporar seu aspecto primordial, a multidimensionalidade. A linguagem de segurança tradicionalmente invoca respostas e soluções militaristas e nacionalistas e constrói o entendimento acerca da segurança como sendo relacionado ao seu potencial para violência. Esta visão, contudo, vem sendo modificada por uma ênfase crescente da ótica multidimensional, que envolve vários setores sociais e que se relaciona ao indivíduo e a pequenos grupos de pessoas, ao invés da coletividade que forma um Estado. Logo, a preservação de um Estado em relação aos novos fenômenos transnacionais, como explosão demográfica, migrações e desequilíbrios ecológicos globais e crises humanitárias, não está garantida pelo unilateralismo e pelo uso da violência institucional. Segundo Villa (1999), pode-se afirmar que a segurança global, por ser multidimensional, pode ser ameaçada pela ocorrência de conflitos originados em fenômenos transnacionais e que, por sua vez, não admitem a guerra como meio de solução. Ao se distanciar da visão tradicional, é possível conceber a segurança internacional como um fenômeno que abarca toda a humanidade e, portanto, refere-se a um bem coletivo indivisível; ao se enfocar nas análises a multiplicidade e a interdependência entre as fontes de ameaça e riscos, emerge um novo conceito que pode melhor traduzir a realidade das relações internacionais dos países periféricos. Nesse caso, o conceito de segurança é complexo e indivisível, no sentido que os setores alimentar, humano, ambiental, energético e militar fazem parte de um mesmo quadro de entendimento da realidade (GEHRE, 2008). Nos anos 2000, a evolução teórica das Relações Internacionais trouxe à tona novas ênfases sobre a realidade. A Teoria Crítica, as novas abordagens de Segurança Internacional, o Construtivismo Social, tiraram o foco de análise do Estado e reposicionaram em outros níveis, aspectos e agentes da realidade social (NOGUEIRA; MESSARI, 2005). Um exemplo são as abordagens mais recentes que debatem a segurança humana e situam o indivíduo como o centro da análise dos estudos de segurança, são os chamados Estudos críticos sobre Segurança Humana (NEWMAN, 2010). Na medida em que a agenda internacional ganhou feições mais bem definidas no século 21, acompanhou-se a consolidação da temática alimentar como uma questão não 25 tradicional de relevância, tanto como impulsionador da cooperação entre os países, quanto como causadora de conflitos de interesses internacionais. Tickner e Waever (2009) trazem à tona a discussão sobre epistemologias geoculturais. Segundo eles, ainda que Relações Internacionais seja um campo de estudos alegadamente internacional, teorizar relações internacionais ainda gravita na órbita de teorias norte-americanas. Ou seja, apesar de ser uma disciplina que se auto define como global e que estuda uma realidade que é mundial, a comunidade científica tem muito pouco conhecimento sobre como a disciplina é moldada pelas relações de poder, conhecimento e recursos globais. Tickner e Waever apontam para o fato de que existem problemas na vida internacional que não são abarcados pelo mainstream das teorias de Relações Internacionais. Problemas e dinâmicas específicas da periferia e que não são alcançados pelo pensamento teórico das Relações Internacionais tradicionais. Os autores, na busca pela contribuição teórica produzida no mundo fora do centro ocidental, tentam mostrar que as questões-chave para esses outros lugares devem ser entendidas segundo óticas distintas da anglo-americana, predominante nas RI. Nesse sentido, levantamos o seguinte questionamento: Por que a insegurança alimentar, a pobreza e a fome, problemas característicos dos países periféricos e subdesenvolvidos, não fazem parte das preocupações centrais das produções científicas em RI? A relação que se estabelece entre os argumentos apresentados pelos autores e a problemática alimentar é que, justamente, o grande problema da fome e da insegurança alimentar, vivenciado em países em desenvolvimento ou pouco desenvolvidos, não afeta de forma equivalente os países desenvolvidos, ou centrais, lócus onde se produz as teorias de Relações Internacionais. Como vimos, a formulação das teorias de Relações Internacionais é determinada por questões e desafios próprios do mundo desenvolvido. Dessa forma, se existe uma necessidade de teorizar sobre o problema alimentar, essa demanda provém justamente dos países onde existem as penúrias alimentares. Isso porque, os mundos acadêmicos se constroem, em grande medida, segundo realidades locais, que até possuem interseções com realidades de outros lugares, mas são determinados pelo ambiente mais imediato. A anacronia da dominação da agenda de pesquisa em Relações Internacionais 26 por teorias anglo-americanas é evidenciada por meio da exposição de problemas essencialmente de países periféricos, que não são compatíveis com as teorias dominantes. Como visto, as teorias elaboradas podem contribuir, de uma forma ou de outra, com “pinceladas” no quadro analítico sobre a questão alimentar no mundo. Os debates atuais Nos atuais debates, específicos sobre sistema alimentar global, segurança alimentar e governança alimentar no meio internacional, alguns conceitos são trabalhados na busca por um desenho de estudos interpretativos e também explicativos. Ericksen, Bohle e Stewart, ao falar das caraterísticas do sistema alimentar global, defendem a ideia de que existe um nexo entre vulnerabilidade e resiliência. A resiliência é definida como a capacidade de um sistema de absorver mudanças sem alterar sua essência para um estado de propriedades diferentes, em outras palavras, é a capacidade de adaptação (ERICKSEN; BOHLE e STEWART, 2010). Dessa forma, uma das características da vulnerabilidade diz respeito à falta de capacidade de adaptação, ou seja, baixa resiliência. Entender o porquê de pessoas e sistemas alimentares serem vulneráveis em relação aos choques, estresses e mudanças de longo prazo, como os impactos das mudanças globais, seria a chave para desenvolver opções de adaptação frente às novas ameaças, segundo Ericksen, Bohle e Stewart (2010). Embora a adaptação seja considerada por muitos como a resposta natural do homem diante das mudanças, o ritmo e a escala dos desequilíbrios ambientais e das crises econômicas são sem precedentes na história da humanidade, assim como a velocidade de reação do homem pode vir a ser insuficiente diante da ameaça iminente (ERICKSEN; BOHLE e STEWART, 2010). Aqui estabelecemos um paralelo com a interdependência complexa de Keohane e Nye (1989). Os conceitos de vulnerabilidade e sensibilidade, em certa medida, servem para a compreensão do sistema alimentar global. Keohane e Nye distinguem a sensibilidade e a vulnerabilidade como efeitos típicos produzidos pelo processo de interdependência. A sensibilidade pode ser definida pela suscetibilidade de eventos externos afetarem o estado de normalidade de um país, antes que políticas específicas sejam executadas para tentar mudar a situação. A vulnerabilidade significa que, mesmo 27 depois de política específicas terem sido executadas para conter os efeitos de eventos externos, o país é suscetível a grandes prejuízos econômicos, políticos ou sociais. Uma vez que, geralmente, a elaboração de políticas específicas para a contenção de transbordamentos negativos, pode apresentar dificuldades, os efeitos imediatos de mudanças externas geralmente refletem a sensibilidade. A vulnerabilidade pode ser medida pelo alto custo das políticas de ajustamentos executadas ao longo de um período de tempo. Keohane e Nye reconhecem, também, a existência de uma interdependência assimétrica entre as partes, e a marcam como potencial fonte de poder. Assim, incentivos econômicos agem da mesma maneira que questões de segurança, conferindo aos atores menos dependentes um forte recurso político devido ao fato de que as modificações impostas por eventos externos, para esses atores, terão custos menores do que para os mais dependentes. Nesse sentido, podemos afirmar que, para os países mais pobres, existe maior dificuldade de adaptação às mudanças no sistema alimentar global, aos eventos climáticos e à mudança no consumo e nas cadeias de produção. E essas dificuldades de adaptação revelam os níveis de sensibilidade e vulnerabilidade de cada país. A agricultura, o processo de produzir alimentos, a criação de animais para alimentação, tudo isso está incluso no chamado “sistema agroalimentar”. Este sistema inclui todo o upstream, ou seja, inputs na produção (sementes, fertilizantes, pesticidas, tratores, combustíveis) bem como os setores downstream (a mão-de-obra produtora, o processo, o transporte, a venda e finalmente a negociação em varejo) (McDONALD, 2010). A produção aparece como fator fundamental para a compreensão do sistema alimentar. O rendimento da produção dos alimentos depende de condições ambientais (clima, solo e pestes), mas também depende do manejamento feito pelo homem para lidar com as adversidades naturais, os chamados inputs, ou também insumos (sementes melhoradas, fertilizantes, pesticidas, irrigação, maquinaria, trabalho). Nos últimos anos, os inputs tornaram-se cada vez mais caros, já que estão diretamente atrelados ao preço da energia, em particular dos combustíveis e agroquímicos (LIVERMAN; KAPADIA, 2010). 28 Além disso, o modelo de produção em larga escala, que é o mais disseminado no mundo, é considerado responsável por inúmeras interferências negativas no meio ambiente. Ressaltam-se: a degradação dos solos, a poluição de rios e lençóis freáticos, os desmatamento de áreas de mata e floresta, a destruição de biomas, entre outros. Podemos notar, dessa forma, que a “produção” é uma variável determinante do sistema alimentar, tendo forte influência na própria origem das vulnerabilidades desse sistema (LIVERMAN; KAPADIA, 2010). Ademais, o aumento e as mudanças de padrão do consumo têm impacto considerável no sistema alimentar. Segundo a FAO, o consumo de cereais vai aumentar 70% até 2050 e irá dobrar em países em desenvolvimento. Além do aumento no consumo, observa-se uma mudança na estrutura da demanda alimentar, motivada pelo aumento na renda e pela urbanização: de uma dieta baseada em cerais básicos para uma dieta composta também por frutas, vegetais, óleos, alimentos processados e, principalmente, carnes. Essa mudança implica outras transformações na cadeia alimentar: a) na estrutura do sistema de produção; b) nos meios pelos quais os consumidores adquirem seus alimentos; c) na natureza da relação alimentos/saúde; e d) nos desequilíbrios ambientais (LIVERMAN; KAPADIA, 2010). Entretanto, essas mudanças não são homogêneas, depende de cada região do mundo. Na Ásia, observou-se essa transformação de forma mais significativa, enquanto na América do Norte o consumo de carne não cresceu tanto, tendo em vista que já era bem alto. A mudança na dieta é mais observada em países em desenvolvimento, ou “em transição” (LE MONDE, 2008a). A FAO estima que se produzam no mundo o suficiente para alimentar toda a população mundial com 3.600 calorias diárias (1.200 calorias a mais que o necessário), e ainda assim existem 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. Os países em desenvolvimento e pouco desenvolvidos são os maiores produtores de alimentos no mundo e são justamente os países que mais sofrem com as mazelas da fome (THOMAS, 2008). Logo, o problema da fome não é ligado diretamente à quantidade de alimentos produzidos, mas sim à distribuição desigual do alimento. Daí surge o conceito de vulnerabilidade social: por que as pessoas pobres são particularmente vulneráveis à fome? Para responder a essa pergunta, faz-se necessário desagregar a noção de pobreza e traduzi-la dentro de um conceito dinâmico e relacional. A vulnerabilidade social está ligada à “falta de escolha” e é intrínseca aos processos 29 sociais, políticos e econômicos em múltiplos níveis (ERICKSEN; BOHLE e STEWART, 2010). Como vimos, são múltiplos os fatores que afetam a segurança alimentar, constituindo a vulnerabilidade dos sistemas alimentares (ERICKSEN; BOHLE e STEWART, 2010). Esse conceito leva em consideração a ideia de “multiple stressors”, no qual a segurança alimentar é sensível a inúmeras variáveis como: mudanças climáticas; desigualdade social; pobreza; falha nas instituições; crise nas cadeias de produção; aumento e mudança na estrutura do consumo; crises econômicas e financeiras. Esse conceito nos permite sublinhar que os sistemas alimentares são vulneráveis a fatores estruturais, conjunturais e circunstanciais. A insegurança alimentar advém, além de fatores circunstanciais, como eventos climáticos e crises financeiras, de problemas estruturais enraizados, como a pobreza crônica e outros fatores sociais que restringem o acesso à alimentação. Desde o início, o conceito de segurança alimentar em ciências sociais, esteve extremamente ligado aos temas de pobreza e de fome. Neste trabalho, também recorremos frequentemente ao uso desses conceitos e, por isso, faz-se necessário uma breve pontuação. Adotamos a visão crítica que desconsidera a ideia de que esses problemas são ligados apenas à incapacidade financeira de se inserir no mercado. Por essa perspectiva, a pobreza se explica pela ausência de disponibilidade de valores espirituais, de recursos e laços comunitários que garantam a satisfação das necessidades básicas (THOMAS, 2008). Em outras palavras, “a pobreza é o estado de privação de um indivíduo cujo bem-estar é inferior ao mínimo que sua sociedade é moralmente obrigada a garantir. A pobreza em uma sociedade é o agregado dos estados de privação dos seus membros” (OSÓRIO; SOARES; SOUZA, p. 9, 2011). Sobre a fome, defende-se a ideia de que a insegurança não se estabelece simplesmente pela relação entre o crescimento da população humana e a quantidade de suprimentos produzidos no mundo. Segundo a visão crítica, o grande problema causador da fome no mundo é o modelo de distribuição, que estabelece o paradoxo do aumento da produção de alimentos ao mesmo tempo em que ocorre o aumento do número de pessoas passando fome e sem possibilidade de acesso aos alimentos (THOMAS, 2008). 30 Segundo Caroline Thomas (2008), a fome e a pobreza são tratados em conjunto em razão de uma ligação intrínseca dos conceitos que, por sua vez, são os conceitoschave para o estabelecimento do que chamamos “insegurança alimentar”. O próprio conceito de segurança alimentar se desenvolveu concomitantemente ao aprimoramento das ideias de pobreza e de fome. Dessa forma, a abordagem crítica será adotada como referencial, quando os conceitos de fome e pobreza forem utilizados ao longo deste trabalho. Os conceitos oficiais de Segurança Alimentar O termo segurança alimentar nasceu com o advento da Primeira Guerra Mundial e era ligado às ideias de estratégia. Porém, ao longo do tempo, esse conceito deixou de ser desenvolvido como um aspecto da estratégia e passou a ser utilizado pela FAO e por diversos países como um conceito chave de direitos humanos. Ainda que, nos dias de hoje, a segurança alimentar não seja mais utilizada como um termo de estratégia, o conceito carrega consigo uma série de características que a situa dentro de um rol de questões estratégicas para os Estados. Entre 1974 e 2001, as organizações internacionais especializadas emitiram uma sucessão de definições oficiais, refletindo a articulação de uma conceitualização gradualmente mais inclusiva da segurança alimentar. O Encontro Mundial sobre Alimentação de 1974 focou nas questões de fornecimento, definindo segurança alimentar como a “disponibilidade, a todo tempo, de fornecimento adequado de alimentos básicos que sustente firmemente a expansão do consumo e que compense as flutuações nas produções e nos preços” (ONU, 1975). No início dos anos de 1980, a definição de segurança alimentar usada pela FAO (1983) foi ampliada para incluir o acesso físico e econômico como componentes vitais da segurança alimentar, uma preocupação incorporada nas últimas definições, como a Declaração de Roma de 1996. Em 2001, a FAO foi além, refinando a ideia ao adicionar o termo “acesso social” e estabelecendo o conceito usado nos dias de hoje. Segundo a FAO a segurança alimentar se define por: A segurança alimentar existe quando todas as pessoas, a todo tempo, possuem acesso físico, social e econômico a alimentos nutricionais suficientes e seguros, para suprir suas necessidades e preferenciais para uma vida ativa e saudável. Os quatro pilares da segurança alimentar são 31 disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade. A dimensão nutricional integra o conceito de segurança alimentar (FAO, 2009. p.3)1. No Brasil, o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) está em consonância com a conceituação internacional. O conceito foi desenvolvido com base nas discussões feitas no âmbito do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e das Conferências Nacionais de Segurança Alimentar (CNSAN) e positivado pela implementação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei nº 11.346/2006). A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2006, art. 3º). Esse conceito atende aos princípios da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos realizada em Viena em 1993, quando o direito à alimentação passou a ser incorporado aos demais direitos do homem, estabelecidos na Carta dos Direitos Humanos de 1948. Os demais elementos como a quantidade, qualidade e regularidade também estão em consonância com o compromisso assumido pelo Brasil na Cúpula Mundial de Alimentação de 1996. O conceito de Segurança Alimentar evoluiu tanto internacionalmente quanto nacionalmente à medida que a insegurança alimentar deixou de ser vista apenas como consequência do estado de pobreza econômica. A partir do momento em que foi adicionado a esse conceito aspectos culturais, nutricionais e ambientais, o conceito de segurança alimentar ampliou suas condições essenciais, tornando-se abrangente e multidimensional e evidenciando o caráter complexo da segurança em si. Ao assumi-lo como um direito básico, portanto inserido no conjunto de direitos que dão substância à condição humana, a idéia de SAN elevou-se da dimensão alimentar e nutricional como expressão da realização das condições que mantenham o indivíduo biológica e mentalmente apto para sobreviver no mundo – para aquela em que o direito à vida se apresenta como a realização 1 Tradução livre, feita pela autora. 32 das condições de humanidade que dão sentido à existência (GOMES, 2009, p.296). Podemos perceber então, que a Segurança Alimentar é uma equação de vários fatores, pois depende diretamente da produção, da distribuição, do acesso, do consumo e da qualidade dos alimentos. Na atualidade, destaca-se a dificuldade de acesso como fator causador da insegurança alimentar em nível sistêmico. O acesso depende do equilíbrio entre os preços, os estoques, o nível de emprego, a comercialização e os padrões de produção e consumo, alimentares e não-alimentares (LIVERMAN; KAPADIA, 2010). Ademais, segurança alimentar é um conceito formulado para servir como norte às políticas a serem implementadas com o objetivo de combater a fome. Dessa forma, eles representam a forma como a FAO e outras instituições internacionais encaram a problemática alimentar. Por isso, esses conceitos são frutos da evolução no debate sobre os direitos humanos e as condições fundamentais para uma vida digna, mas acabaram alimentando as reflexões acadêmicas em várias áreas de estudos. 1.2. ORIGENS HISTÓRICAS : DA CRIAÇÃO DA FAO (1945) À CÚPULA DE ROMA (2009) A expressão Segurança Alimentar começou a ser utilizada logo após a Primeira Guerra Mundial, quando essa traumática experiência deixou claro que um país poderia dominar outro por meio do controle do suprimento alimentar, tornando-se uma arma poderosa. Nesse sentido, o abastecimento alimentar adquiria um significado de segurança nacional, apontando para a necessidade de formação de estoques “estratégicos” de alimentos, fortalecendo a ideia de que a soberania de uma nação dependia de sua capacidade de autoprovisão de alimentos e de matérias-primas. Portanto, o termo segurança alimentar tem origem nas doutrinas estratégicas militares, sendo de vinculação exclusiva à capacidade de produção. Manter a segurança alimentar significava, sobretudo, a manutenção da soberania (HIRAI & ANJOS, 2007). No início do século 20, alguns esforços foram feitos para enfrentar os desafios globais da fome e da desnutrição, por meio do melhoramento da produção alimentar, do 33 fornecimento e da comercialização e disseminação dos resultados dos primeiros trabalhos científicos sobre nutrição, sob os auspícios do Instituto Internacional para a Agricultura e da Liga das Nações, que acabou recebendo um orçamento considerável durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, quando milhões de europeus tiveram sua infraestrutura agrícola destruída pelas batalhas da Segunda Guerra Mundial, 44 governos se reuniram nos Estado Unidos, em Hot Springs, Virgínia, e se comprometeram a criar uma organização internacional na esfera da alimentação e agricultura. Em junho de 1945, um documento foi preparado em nome da Comissão Interina das Nações Unidas sobre Alimentação e Agricultura. Esse informe, juntamente com o projeto de Constituição, foram os elementos principais que conduziram à fundação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) na qualidade de organismo especializado das Nações Unidas no dia 16 de outubro de 1945 (FAO, 2010) 2. O informe da Comissão Interina também enfatizava que a FAO começara seu trabalho no contexto de um esforço internacional muito mais amplo, já que estaria relacionada com o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). Nos anos imediatamente posteriores à Segunda Guerra Mundial, os esforços da FAO se centraram em grande parte nos países da Europa e no Japão, no âmbito das medidas de reconstrução da infraestrutura produtiva (FAO, 2010). Com a criação da FAO, a comunidade mundial estabeleceu o desafio de garantir que todas as pessoas tivessem a alimentação necessária para viver saudavelmente. O problema encarado pela organização tinha duas dimensões: primeiro, a proteção de consumidores e produtores frente às severas flutuações de preços e de produção; segundo, a utilização dos excedentes para ajudar as nações com déficit de produção, de um modo que não atrapalhasse o comércio ou criasse desincentivos ao melhoramento da produção doméstica. À medida que o processo de descolonização avançava, em meados do século 20, um número crescente de Estados que acabava de conquistar a independência passou a ser membro das Nações Unidas e seus organismos. Com a retirada das potências coloniais, o sistema das Nações Unidas começou a assumir 2 muitas das A sigla corresponde ao nome da organização em inglês: Food and Agriculture Organization. 34 responsabilidades relacionadas com a provisão da assistência financeira e técnica que tentavam obter os novos Estados (FAO, 2010). O sistema das Nações Unidas se diversificou, incluindo a FAO e outras organizações do grupo original de organismos especializados, como a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO), cresceram rapidamente nos anos de 1960 e 1970 em resposta a essas novas demandas (FAO, 2010). Esse crescimento foi acompanhado pela fundação de novas entidades no marco do sistema, incluindo, em esferas de interesse da FAO, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) em 1963, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 1965, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em 1972 e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) em 1977, e em estreita relação com o sistema das Nações Unidas, o Grupo Consultivo sobre Investigação Agrícola Internacional (GCIAI) em 1971 (FAO, 2010). A ideia inicial sobre Segurança Alimentar, que estava essencialmente ancorada na produção de alimentos, manteve-se até a I Conferência Mundial de Segurança Alimentar promovida pela FAO, realizada em Roma, em 1974. Essa Conferência resultou na Declaração sobre a erradicação da Fome e da Subnutrição, tornando-se referência para as décadas subsequentes (ONU, 1975; HIRAI & ANJOS, 2007). Novo compromisso político só seria assumido em 1996, quando mais de 180 nações participaram da Cúpula Mundial da Alimentação (CMA), na qual firmou-se o compromisso de diminuir pela metade, até o ano 2015, o índice de pessoas subnutridas no mundo. Foram concebidos dois grandes documentos: a Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar Mundial, listando sete compromissos que os governos participantes iriam assumir para elevar o nível de segurança alimentar, e o complementar plano de ação da Cúpula Mundial da Alimentação, listando objetivos específicos para alcançar as metas consubstanciadas na declaração. Todas as nações envolvidas concordaram e subscreveram a declaração, coincidindo em relação à urgência na adoção de medidas, devendo-se para isso implementar ações nas distintas esferas de atuação (local, regional, comunitária). Essas 35 ações implicavam iniciativas relacionadas, no âmbito educativo e político, ao combate à fome e à insegurança alimentar (HIRAI & ANJOS, 2007). A meta de erradicar a fome viu-se refletida e ampliada no contexto da realização da Cúpula do Milênio das Nações Unidas, no ano 2000. A declaração do Milênio estabeleceu oito metas de desenvolvimento do milênio, sendo a primeira a de erradicar a pobreza extrema3 e diminuir pela metade o número de pessoas que passam fome no mundo até 2015 (GODINHO, 2007). Esse compromisso foi renovado em Roma, no dia 11 de junho de 2002, dessa vez por 182 países signatários. No marco do documento final da Cúpula Mundial da Alimentação + 5 (CMA +5), os chefes de estado e de governo evidenciaram a necessidade de renovar os esforços de organizações internacionais, da sociedade civil e do setor privado, no sentido de atuar de modo ainda mais incisivo com vistas a pôr fim à tragédia que alcançava naquele ano mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo (BELIK, 2006). Em junho de 2008, foi realizada a Conferência de Alto Nível sobre Segurança Alimentar: os Desafios das Mudanças Climáticas e Bioenergia, convocada por decisão da 34ª Sessão da Conferência, de 2007. Os dados técnicos reunidos pela FAO sugeriam a possibilidade de surtos de insegurança alimentar nos países pobres, o que, de fato, ocorreu nos primeiros meses do ano seguinte. A exemplo de 1974, 1996 e 2002, o momento era oportuno para uma conferência de alto nível que discutisse a questão da insegurança alimentar no mundo. Diante do quadro de agravamento da alta dos preços dos alimentos e os desdobramentos de crise alimentar mundial de 2008, a Conferência centrou sua agenda na insegurança alimentar mundial e seus efeitos para os países mais vulneráveis. Em sua declaração final, a Conferência ressaltou o objetivo de buscar meios de garantir a segurança alimentar mundial e, nesse contexto, lidar com os desafios do aumento dos preços dos alimentos, das mudanças climáticas e da bioenergia. De 3 No Brasil, pobreza extrema significa “ter renda domiciliar per capita menor que R$ 50,00 mensais, valor correspondente a um quarto do salário mínimo no início de 2003. Atualizado de setembro de 2003 para setembro de 2010 pelo INPC, o valor arredondado dessa linha seria R$ 70,00” (OSÓRIO; SOARES; SOUZA p. 9,10, 2011). Essa categorização apresentada por Osório, Soares e Souza, é a mesma utilizada pelo programa Bolsa Família. Essa linha é próxima da linha internacional de pobreza usada para o monitoramento do progresso global em reduzir à metade da pobreza extrema no mundo. A linha de pobreza internacional, usada pelas Nações Unidas é de um dólar por dia per capita (OSÓRIO; SOARES; SOUZA, p.18, 2011). 36 maneira abrangente, recordou os compromissos da declaração da Cúpula Mundial da Alimentação, de 1996; retomou o Objetivo Do Milênio nº 1 de reduzir pela metade até 2015 a proporção de pessoas que passam fome; e notou que o aumento dos preços dos alimentos era fenômeno resistente, com o qual os esforços no combate à fome deveriam doravante conviver. A Conferência, ademais, recuperou o tema do desenvolvimento, da autossuficiência alimentar e do retorno à terra e à agricultura. Entre suas conclusões mais expressivas está a urgência de apoiar os países em desenvolvimento a expandir a agricultura e a produção agrícola, pela recomposição dos investimentos público e privado, pela prestação de assistência técnica e pela transferência de tecnologias e conhecimentos. A declaração propôs duas linhas de ação em suas medidas de curto prazo (“twintrack approach”): de um lado, ações humanitárias na prestação de ajuda alimentar imediata aos países afetados pela crise, cooperação, facilitação do acesso a sementes, fertilizantes e insumos e promoção do desenvolvimento; de outro, apoio ao incremento da produção e produtividade agrícolas por intermédio de políticas e programas de apoio aos pequenos produtores4. No médio e longo prazos, o aumento de investimentos por parte dos governos nacionais, das instituições financeiras internacionais e regionais e dos contribuintes voluntários em favor da agricultura deveria visar às populações rurais, urbanas e periurbanas, bem como ao desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias de produção e produtividade agrícolas5. Em paralelo, a declaração solicitou o estabelecimento de regras de comércio mais equitativas com a conclusão da Rodada Doha, liberalizando o comércio internacional e eliminando barreiras comerciais, sem as quais os produtores dos países em desenvolvimento teriam maior acesso aos mercados6. No entender da Conferência, em conjunto, essas medidas teriam impacto muito positivo sobre a segurança alimentar mundial, cuja discussão, embora esmaecida nos últimos meses, continua central na agenda internacional. Com esse ímpeto, reuniram-se 4 Relatório de Gestão relativa à Conferência de Alto Nível sobre Segurança Alimentar: os Desafios das Mudanças Climáticas e Bioenergia. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 670 Relat4Conf2008 de 12 de agosto de 2010. Reservado. Arquivo do Ministério das Relações Exteriores (doravante AMRE). 5 Idem. 6 Ibidem 37 181 delegações, 43 em nível de chefe de Estado e de Governo e mais de 100 em nível ministerial7. Em novembro de 2009, realizou-se em Roma, a última Cúpula Mundial da Alimentação. Desse encontro foi publicada uma declaração final com pouca substancialidade, sem metas e prazos estabelecidos. Houve uma preocupação em reiterar comprometimentos anteriores, como os esforços relativos ao objetivo número 1 das Metas do Milênio a ser alcançado até 2015 (FAO, 2009. p.2), e também o compromisso dos países desenvolvidos de repassar 0.7% de seus respectivos PIB’s até 2015, para a Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) direcionado aos países em desenvolvimento, bem como ampliar de 0.15 para 0.2 o percentual do PIB a ser repassado para os países menos desenvolvidos (FAO, 2009. p.6). A falta de substância na declaração foi atribuída à pouca efetividade do encontro, no qual se esperava a presença de todos os Chefes de Estados associados à FAO, o que não ocorreu8. Com a participação de governantes de países africanos, latino-americanos e asiáticos, mas com a ausência dos líderes do Grupo dos Oito (G8, os sete países mais ricos e mais a Rússia), com exceção do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, a declaração da Cúpula ficou reduzida a um documento sem propostas concretas, orçamentos, metas nacionais, ou programas. O insucesso da última Cúpula Mundial sobre a Alimentação foi o exemplo da falta de interesse dos países desenvolvidos na questão da insegurança alimentar global. No âmbito internacional a problemática alimentar continua à margem dos principais objetos de negociação dos organismos internacionais multilaterais. Outros temas, como energia, terrorismo, segurança militar e comércio internacional continuam dominando a agenda. A segurança alimentar ainda é pouco vista como algo que afeta diretamente a segurança estatal e, portanto, esse tema acaba não se constituindo como prioridade dentro das preocupações políticas e de segurança. Mesmo assim, além da FAO, uma série de outros organismos e ações são coordenadas internacionalmente com o objetivo de fortalecer o combate à fome e à 7 Passim. Notícia publicada pela Agência EFE: “Cúpula contra fome da FAO divide países pobres e ricos” publicada no dia 17 de novembro de 2009. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1382388-5602,00CUPULA+CONTRA+FOME+DA+FAO+DIVIDE+PAISES+POBRES+E+RICOS.html. Acessado no dia 20 de novembro de 2011. 8 38 pobreza. Podemos citar o Comitê de Segurança Alimentar (CSA), o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Programa Mundial de Alimentação (PMA), entre outros. O Comitê de Segurança Alimentar (CSA), instituído em 1974 como um organismo intergovernamental, foi idealizado para servir como um fórum de análise e acompanhamento de políticas de segurança alimentar (CFS, 2012). Criado em contexto de crescente insegurança alimentar, o CSA recebeu atribuições para controle de oferta e demanda de alimentos, para avaliar medidas adotadas para garantir a segurança alimentar e nutricional e recomendar políticas de curto e longo prazos. Em 2009, o Comitê passou por um processo de reforma para assegurar que as vozes de outras partes interessadas fossem ouvidas no debate global sobre segurança alimentar e nutricional. A ideia do CSA é ser a plataforma mais inclusiva, internacional e intergovernamental, para todas as partes interessadas trabalharem em conjunto e de forma coordenada para garantir a segurança alimentar e nutricional para todos. A Comissão elabora anualmente um relatório ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) (CFS, 2012). O CSA é composto por todos os Estados-Membros da FAO, do FIDA ou do PMA e Estados não-membros da FAO, que sejam membros da Nações Unidas. Há ainda os participantes, que variam de representantes das agências da ONU, da sociedade civil e organizações não-governamentais (ONGs) e suas redes, sistemas internacionais de pesquisa agrícola, instituições financeiras regionais, representantes de associações do setor privado a, até mesmo, fundações privadas filantrópicas (CFS, 2012). O Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) é uma agência especializada das Nações Unidas, e foi criada como uma instituição financeira internacional em 1977, como um dos principais resultados da Conferência Mundial para Alimentação de 1974. A Conferência foi organizada em resposta às crises alimentares do início dos anos 1970, que afetaram principalmente os países do Sahel da África. A conferência decidiu que “um Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola deve ser estabelecido imediatamente para financiar projetos de desenvolvimento agrícola, principalmente para a produção de alimentos nos países em desenvolvimento” (IFAD, 2012). 39 Um dos insights mais importantes da conferência foi a de que as causas da insegurança alimentar e da fome não se davam por insuficiência na produção de alimentos, mas sim em função de problemas estruturais relativos à pobreza e ao fato de que a maioria das populações pobres do mundo em desenvolvimento se concentrava em áreas rurais. 75% das pessoas mais pobres do mundo - 1,4 bilhões de mulheres, crianças e homens - vivem em áreas rurais e dependem da agricultura e atividades relacionadas para sua subsistência (IFAD, 2012). Por isso, o FIDA é dedicado à erradicação da pobreza rural nos países em desenvolvimento. O FIDA-país concentra-se em soluções específicas, que pode envolver o aumento do acesso das populações pobres rurais aos serviços financeiros, mercados, tecnologia, terras e outros recursos naturais (IFAD, 2012). O FIDA, a FAO e o Programa Mundial de Alimentos (PMA), compõem a tríade de agências especializadas das Nações Unidas baseadas em Roma e envolvidas com temas afetos à agricultura e à luta contra a pobreza e a fome. Seu mandato, bastante específico, diz respeito exclusivamente à erradicação da pobreza rural em países em desenvolvimento, por meio da assistência financeira e técnica a projetos desenvolvidos conjuntamente com países recipiendários e quase sempre, com a participação de entidades cofinanciadoras (IFAD, 2012). Seu caráter de organização financeira, criada em 1977 como um dos principais resultados da Conferência Mundial de Alimentação de 1974, faz com que sua estrutura assemelhe-se àquelas de outras instituições financeiras internacionais, como, por exemplo, bancos regionais e internacionais de fomento ao desenvolvimento social e econômico (IFAD, 2012). A parceria entre o FIDA e o Brasil iniciou-se em 1980. O envolvimento do Fundo no País decorre, por um lado, do fato de que 30% de todos os pobres rurais da América Latina e Caribe localizam-se em território nacional. Por outro lado, o Brasil é percebido como país que hoje sustenta sólidas políticas públicas de desenvolvimento agrário e erradicação da pobreza. Desfruta, igualmente, de grande capacidade de alocar recursos para essa área e disponibilidade de quadros e instituições capacitadas, afora conhecimento acumulado de técnicas e tecnologias em agricultura de apreciável qualidade (MRE, 2012). Com efeito, motivam a atuação do FIDA no país tanto a necessidade de contribuir para a redução de expressivo contingente de pobres rurais, quanto a 40 oportunidade de promover diálogo de políticas e intercâmbio de experiências com parceiro versátil. Do ponto de vista estritamente financeiro, o Brasil é recipiendário atraente, pois sua condição de país de renda média mais elevada implica recebimento de empréstimos em termos ordinários, contribuindo também para a reprodução de capital do FIDA (MRE, 2012). Historicamente, os investimentos do Fundo no País totalizam 186,7 milhões de dólares, quantidade significativa, muito embora modesta quando comparada aos recursos injetados na agricultura brasileira pelo BID ou pelo Banco Mundial. Ainda que o FIDA tenha prestado importante ajuda na luta contra a pobreza rural em termos quantitativos, a principal vantagem comparativa de seu envolvimento reside na qualidade dos projetos e programas por ele financiados, que podem ser replicados. No diagnóstico do próprio FIDA, a vitalidade da cooperação financeira mantida com o Brasil advém, em muitos aspectos, da coordenação entre os órgãos envolvidos com políticas de desenvolvimento agrário e as áreas responsáveis por finanças, nomeadamente a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEAIN/MPOG) e o Ministério do Desenvolvimento Agrícola (MDA) (MRE, 2012). Desde o início de sua relação com o FIDA, oito projetos foram financiados no Brasil, com o desembolso de 186,7 milhões de dólares. O custo total dessas operações foi de 508,4 milhões de dólares, com o restante sendo cofinanciado pelo governo federal e outros órgãos de fomento. Cerca de 169,4 mil unidades familiares têm sido beneficiadas. Atualmente, há financiamento para os seguintes projetos: o Projeto de Desenvolvimento de Comunidades Rurais nas Áreas de Maior Pobreza na Bahia; o Projeto de Desenvolvimento Sustentável de Cariri e Seridó na Paraíba (PROCASE); o Projeto de Desenvolvimento Sustentável para o Semiárido no Piauí (Projeto “Viva o Semiárido”); e o Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares do Nordeste Brasileiro (“Projeto Xingó”) (MRE, 2012). O Projeto de Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos de Reforma Agrária no Semi-árido do Nordeste (“Projeto Dom Hélder”), a maior das operações do FIDA no Brasil, encontra-se em fase de avaliação intermediária pelo Escritório de Avaliação. Importante atividade financiada por doações do FIDA na área de diálogo de políticas que tem logrado grandes êxitos é a Reunião Especializada de Agricultura Familiar do Mercosul (REAF), criada em 2004 (MRE, 2012). 41 Criado em 1962, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) é o organismo das Nações Unidas encarregado de prover alimentos às populações em situação de insegurança alimentar. É também a maior agência humanitária do sistema ONU, assistindo atualmente 90 milhões de pessoas em 73 países. Por PMA subentendem-se os dispositivos institucionais e financeiros adotados para esse Programa pela AssembleiaGeral das Nações Unidas em sua Resolução 1714 de 19 de dezembro de 1961, e pela Conferência da FAO em sua Resolução 1/61 de 24 de novembro de 1961. O PMA viabiliza seus projetos humanitários e de desenvolvimento inteiramente por meio de contribuições voluntárias. Tais doações se dão atualmente de três diferentes formas: em dinheiro, em alimentos ou em forma de itens necessários para o cultivo, preparo ou armazenamento de alimentos. O principal objetivo do programa é erradicar a fome no mundo, sendo que a assistência do PMA foca tanto a ajuda aos mais carentes como crianças mal nutridas, crianças em idade escolar, órfãos, vítimas de desastres naturais e de conflitos armados, quanto o fortalecimento da capacidade dos próprios países em reduzir a fome em seus territórios. O PMA é o braço de ajuda humanitária na área alimentar do sistema das Nações Unidas. As políticas que regem a utilização da ajuda alimentar do Programa Mundial Alimentar são orientadas para o objetivo de erradicação da fome e da pobreza. Na medida do possível, o fornecimento de ajuda alimentar de emergência é coordenado com a ajuda humanitária fornecida por outras organizações humanitárias (WFP, 2012). Podemos citar também a Aliança Contra a Fome e Desnutrição, que é uma iniciativa voltada para a reflexão sobre o tema em perspectiva global e une organizações afins e instituições que estão envolvidas na luta contra a fome e a desnutrição (AAHM, 2012). Fundada em 2003, por recomendação da Cúpula Mundial da Alimentação +5, a Aliança contra a Fome e Desnutrição foi inicialmente apoiada por três agências com sede em Roma - a FAO, o FIDA, e o PMA. Hoje, a Aliança Internacional compreende as agências fundadoras e suas alianças nacionais, bem como uma série de ONGs internacionais (WFP, 2012). A Aliança Contra a Fome e Desnutrição funciona como uma plataforma de participação múltipla, um tipo de fórum onde aqueles que dirigem as iniciativas de desenvolvimento “de cima para baixo” e de “baixo para cima” podem se reunir para 42 trocar experiências, ideias e estabelecer redes de comunicação de apoio dentro dos países. A Aliança opera em dois níveis: a) internacionalmente, através de um grupo consultivo, é apoiado pela Secretaria, que é organizada pela FAO, funcionando como uma parceria global que reúne uma ampla gama de partes interessadas, incluindo as organizações da ONU e ONGs internacionais; b) em nível nacional, por meio do apoio à criação e às atividades de Alianças Nacionais contra a Fome e Desnutrição e facilitação das ligações entre elas (AAHM, 2012). Se considerarmos a magnitude e a persistência dos problemas de segurança alimentar, há uma necessidade imperativa de se entender por que, apesar de significativa quantidade de organizações, alianças, fundos e ações globais, a insegurança alimentar continua a ser um problema complexo e duradouro, que confronta as sociedades com problemáticas sem soluções óbvias. Parece que, da mesma forma que no ambiente acadêmico, a questão da fome no mundo não gera grandes preocupações no meio político internacional ou, mesmo que gere, essas preocupações não parecem demasiado fortes a ponto de gerar um verdadeiro comprometimento com a questão. 1.3. AS VULNERABILIDADES DO ATUAL SISTEMA ALIMENTAR GLOBAL Esta última parte do capítulo é dedicada à discussão de questões da atualidade relacionadas à segurança alimentar. Nesse sentido, alguns tópicos serão abordados com o objetivo de contextualizar o quadro atual das crescentes vulnerabilidades do sistema. As crises dos preços dos alimentos de 2007-2008, as mudanças climáticas, os biocombustíveis e a especulação no mercado de commodities agrícolas e energéticas, são fatores apontados como chave para a compreensão do atual sistema alimentar global. Entre a segunda metade de 2007 e o primeiro semestre de 2008, os preços mundiais dos alimentos aumentaram dramaticamente, criando uma crise global que gerou instabilidade política, econômica e social, tanto em países pobres como também naqueles considerados desenvolvidos. As causas iniciais são encontradas no final de 2006, quando eventos climáticos afetaram alguns países produtores de grãos, como seca na Austrália e inundações no 43 Canadá. Além disso, observou-se significativo aumento no preço do petróleo, o que levou a um aumento no custo dos insumos para a produção e transporte dos alimentos (BBC BRASIL, 2007). Outra causa ventilada diria respeito à possibilidade de que o uso crescente de biocombustíveis em países desenvolvidos teria ajudado a alavancar o preço dos alimentos já que, em alguns casos, existe a concorrência entre as duas culturas, como, por exemplo, no caso do etanol produzido do milho, em que a concorrência fica entre o cultivo do milho amarelo, destinado ao etanol, e do milho branco, destinado à alimentação9 (TIRABOSCHI, 2008). No entanto, não se sabe ao certo o quanto os biocombustíveis são responsáveis pelo aumento do preço dos alimentos, uma vez que as pesquisas apontam dados discrepantes. O relatório do Banco Mundial indica que os biocombustíveis teriam 65% de responsabilidade na crise alimentar de 2007. Enquanto para Olivier Dubois, do grupo de estudos de bioenergia e mudança climática da FAO, há estudos que atribuem o grau de responsabilidade entre 5% e 30%. Segundo Dubois, a demanda por bioetanol triplicou, enquanto a de biodiesel aumentou em 11 vezes durante esse período, o que teria afetado a demanda geral por insumos agrícolas (BBC BRASIL, 2007). Outros fatores citados são: 1) o aumento da demanda por alimentos nos países asiáticos, com a ampliação da dieta entre as classes médias desses países; 2) as políticas comerciais restritivas, como foi o caso do Cazaquistão que bloqueou a exportação de trigo para garantir os estoques internos, impactando no preço do cereal que subiu 40% em apenas uma noite; 3) a especulação desencadeada pela crise financeira advinda do estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008, que fez com que muitos investidores trocassem seus investimentos tradicionais por commodities (LIVERMAN; KAPADIA, 2010). Estes fatores em conjunto desencadearam uma “corrida alimentar” que elevou a especulação no mercado futuro dos alimentos, gerando mais aumento dos preços e maior volatilidade. Além de todos esses elementos, o relatório do Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA), de 2008, indicava que a quantidade de alimentos 9 A crise da tortilha, como ficou conhecido a crise nos preços do milho no México, em 2007. O prato nacional mexicano é feito com milho branco, mas o preço acompanha o do milho amarelo, valorizado pelas usinas de etanol dos EUA; o preço da tortilha chegou a aumentar 400% (GALILEU, 2008). 44 distribuídos em operações de ajuda humanitária atingira, no ano de 2007, o nível mais baixo em quase 50 anos (BBC BRASIL, 2008). Segundo o PMA, 5,9 milhões de toneladas de alimentos foram distribuídas em 2007, 15% a menos do que em 2006. O total distribuído pelas agências humanitárias em 2007 foi o menor desde que dados sobre a questão começaram a ser compilados, em 1961, e menos da metade dos 15 milhões registrados no ápice dos estoques, em 1999. O relatório – que faz um balanço de todos os alimentos doados no mundo em operações humanitárias, não só as realizadas pela ONU – atribuía a diminuição à alta generalizada do preço dos grãos no mercado internacional (BBC BRASIL, 2008). Alguns analistas enfatizam o papel da especulação financeira na rápida elevação dos preços dos alimentos e seus efeitos sociais, o chamado “super ciclo das commodities”, que seria responsável pelo cerceamento do acesso aos alimentos para milhões de pessoas: Desperate for quick returns, dealers are taking trillion of dollars out of equities and mortgage bonds and ploughing them plowing into food and raw materials. It’s called the ‘commodities super-cycle’ on Wall Street, and it is likely to cause starvation on an epic scale (STEINBERG, 2008). Após um pico no segundo trimestre de 2008, os preços caíram consideravelmente no final do ano, voltando a aumentar durante 2009 e 2010, chegando, no início de 2011, em um nível superior ao nível alcançado em 2008. Entre 2006 e 2008, os preços de alimentos amplamente consumidos no mundo subiram drasticamente: o arroz subiu em média 217%, o trigo 136%, o milho 125% e a soja em torno de 107%. O rápido aumento no preço dos alimentos em 2007 e 2008 teve como consequência um aumento no número de pessoas que passam fome no mundo. Mesmo antes da crise os progressos na segurança alimentar eram modestos. Entre 1990-92, 20% da população mundial passava fome, já entre 2004-06, o número foi reduzido para 16%. Embora a proporção tenha diminuído, o número absoluto de pessoas que viviam em fome crônica permaneceu constante nesse período. A crise nos preços em 2008 fez esse número aumentar, pois afetou diretamente o acesso aos alimentos (FAO, 2011). Desde julho de 2010, os preços de muitas culturas aumentaram dramaticamente. O preço do milho aumentou 74%, do trigo subiu 84%, do açúcar 77%, dos óleos e 45 gorduras em torno de 57%. Os preços do arroz permaneceram relativamente estáveis, menos de 4% superior ao ano anterior; carne e laticínios também se mantiveram estáveis, mas em níveis elevados. A FAO informou que o índice do preço dos alimentos subiu 3,4% em dezembro de 2010, marcando o nível mais alto desde que a organização começou a medir os preços em 1990 (LE MONDE, 2008a). Em 2011, observou-se uma nova escalada nos preços dos alimentos, chegando a níveis ainda mais altos do que os de 2008. Três fatores aparecem novamente como causadores: o uso de alimentos para a produção de biocombustíveis, eventos meteorológicos extremos e mudanças climáticas, além do aumento das transações envolvendo produtos agrícolas nos mercados financeiros. A situação seria agravada por uma diminuição nas reservas mundiais de grãos (OXFAM, 2011). O debate sobre o peso da demanda por biocombustíveis na alta do preço dos alimentos continua e ainda não se sabe ao certo o quanto esse setor pode representar uma ameaça para a segurança alimentar. Em 2010, 126 milhões de toneladas das quase 400 milhões de toneladas de grãos da colheita dos Estados Unidos foram para a produção de etanol (no ano 2000 apenas 16 milhões de toneladas tiveram essa finalidade) (LE MONDE, 2008b). Essa capacidade massiva de converter grãos em combustível está fazendo com que o preço dos grãos passe a ser atrelado ao preço do petróleo, tornando-se cada vez mais rentável produzir grãos para a geração de biocombustíveis. Brown fala sobre essa forte tendência: It's not just a U.S. phenomenon: Brazil, which distills ethanol from sugar cane, ranks second in production after the United States, while the European Union's goal of getting 10 percent of its transport energy from renewables, mostly biofuels, by 2020 is also diverting land from food crops (Brown, 2011, p.3). Pode-se dizer, então, que as causas da crise são múltiplas e há um debate considerável sobre a importância relativa de diferentes fatores. É consenso que os principais motivadores para o aumento dos preços são: 1) a produção reduzida devido ao mau tempo, possivelmente ligado às mudanças climáticas (por exemplo, a seca extrema ou inundações, como ocorreu na Austrália e Rússia em 2010); 2) as restrições à exportação e compra motivada pelo pânico, geralmente causadas por choques relacionados ao clima; 3) o aumento da demanda, tanto para os 46 biocombustíveis quanto de alimentos, especialmente da carne; 4) causas financeiras como a depreciação do dólar, baixas taxas de juros e a especulação; 5) aumento dos preços do petróleo que fazem subir o custo dos insumos agrícolas, como fertilizantes e transporte10. É interessante notar que as grandes empresas do comércio de alimentos têm relatado aumento dos lucros e as empresas de sementes e fertilizantes também estão lucrando com essa tendência de mercado. Algumas grandes agroindústrias, que operam ao longo da cadeia de suprimentos e têm uma posição forte nos mercados, estão aproveitando os benefícios advindos da alta dos preços. Há também questões relativas ao impacto de grandes investidores institucionais que se envolveram em especulações sobre os preços dos alimentos – atividade que além de agravar o aumento dos preços dos alimentos, gera mais volatilidade. Grandes desastres ecológicos, como a seca na Austrália, que atingiu a produção de alimentos e elevou os preços das matérias-primas básicas, parecem ser uma boa notícia para o investidor corporativo. Stefan Steinberg (2008), ao abordar o funcionamento da lógica da especulação, mostra como os grandes investidores se beneficiam de certos eventos climáticos: Deutsche Bank has estimated that the price for corn will double, while the price for wheat will rise by 80 percent in the short term. Such ecological disasters, which can ruin ordinary farmers and mean poverty for millions through increased food prices, are an aspect of the “inefficiency” of the raw materials market, which currently makes “soft commodities” such an attractive prospect for major speculators (STEINBERG, 2008). A maioria dos consumidores em países ricos é afetada apenas marginalmente pela alta dos preços dos alimentos. Do outro lado da moeda estão as pessoas mais vulneráveis, susceptíveis ao desabastecimento familiar em função da falta de acesso. As pessoas pobres, não só dos países em desenvolvimento, mas também de países desenvolvidos, são as mais atingidas: os sem-terra, os moradores de favelas e os 10 Em 2010 ocorreram choques climáticos devastadores, relacionados às mudanças climáticas, que tiveram impactos dramáticos na produção de alimentos. Em julho/agosto de 2010, a Rússia sofreu sua pior seca em décadas, destruindo cerca de 25% da colheita do trigo; uma proibição de exportação foi imposta, resultando na compra movida pelo pânico e um aumento muito rápido dos preços. Inundações na Austrália, em janeiro de 2011, danificaram dramaticamente a produção em Queensland, uma área de grande produção de trigo e açúcar. 47 trabalhadores agrícolas. Ou seja, aqueles que já vivem no limite são particularmente mais vulneráveis. Segundo Steinberg: (…) in poor countries, many consumers spend most of their income on food. So, higher prices mean smaller portions, fewer meals and consuming foods with lower nutritional value. To afford essential food needs, many low and middle-income households must also cut spending on education and health (STEINBERG, 2008). Ao contrário do que se poderia imaginar, os pequenos agricultores raramente se beneficiam da alta dos preços. Os agricultores pobres não têm capacidade para conseguir tirar proveito dos preços elevados por uma série de razões, incluindo o acesso limitado à terra, à água e aos insumos essenciais, como fertilizantes, maquinaria e estrutura para armazenamento. Estradas em más condições e outras falhas infraestruturais podem bloqueá-los de chegar ao mercado. Sem mencionar que são os pequenos agricultores os mais atingidos por desastres ambientais e eventos climáticos (OXFAM, 2011). O nível de segurança alimentar no mundo declinou nos dois períodos observados (2007-08 e 2010-11), porque houve queda nos empregos, na renda e nas remessas feitas por entes privados. Essas perdas reduziram o acesso à alimentação, principalmente para as pessoas que já viviam na linha da pobreza (LIVERMAN; KAPADIA, 2010). Existem algumas semelhanças entre os dois períodos, mas podemos sublinhar algumas diferenças: 1) A partir de 2011, os estoques de cereais globais se elevaram em relação a 2007-08; 2) O aumento dos preços não foi global - em grande parte da África os preços permaneceram estáveis, por causa de boas colheitas; 3) Não foram impostas consideráveis restrições à exportação, um dos principais impulsionadores da alta de preços em 2007-08; 4) Os preços de todos os tipos de alimentos subiram, sobretudo, dos cereais, que são consumidos por muitas das pessoas mais pobres do mundo. No entanto, estes não alcançaram o pico da crise de 2007-08 (OXFAM, 2011). As projeções da FAO afirmam que os preços continuarão altos na próxima década em função do crescimento das demandas por alimentos, da produção de biocombustíveis e do alto custo dos insumos agrícolas, além das projeções de aumento dos desequilíbrios ambientais (FAO, 2011). 48 Com esse quadro pessimista em relação aos preços, surge o debate sobre “a nova geopolítica dos alimentos”, e alguns autores alertam para um crescente “nacionalismo alimentar” (BROWN, 2011). Na crise de 2007, observou-se que alguns países impuseram restrições às exportações com o fim de garantir os estoques nacionais, enquanto os países importadores alarmavam-se com a escalada nos preços e com o desabastecimento. Não obstante tal acontecimento não ter sido observado no ano de 2011, essa parece ser uma tendência para os países produtores em tempos de crise. De fato, não se sabe qual direção tomará o aumento da intensidade na competição pelo abastecimento alimentar. Porém, de acordo com Brown (2011), o mundo parece estar se afastando da tendência de cooperação internacional que evoluiu ao longo das décadas após a Segunda Guerra Mundial, para uma postura em que o lema seria o “cada um por si”: Food nationalism may help secure food supplies for individual affluent countries, but it does little to enhance world food security. Indeed, the lowincome countries that host land grabs or import grain will likely see their food situation deteriorate (Brown, 2011. p. 7) Certamente, o uso do termo “nacionalismo alimentar” pode ser demasiado forte para os casos em que, em tempos de crise nos preços, alguns países exportadores restringiram a exportação de grãos com a finalidade de manter estoques estratégicos. Podemos sim afirmar que essas medidas sublinham a sensibilidade do sistema alimentar global em relação às crises financeiras e às especulações no mercado de commodities. As duas crises, que não podem ser consideradas puramente crises alimentares, mas econômico-financeiras, ressaltam os links entre: Alimentos & Energia Alimentos & Mudanças Climáticas Alimentos & Mercado Financeiro Os preços do petróleo e dos biocombustíveis interagem e criam volatilidade e novas tensões Os desequilíbrios ambientais são ameaças diretas à cadeia produtiva alimentar; As crises financeiras e a especulação geram aumento nos preços dos alimentos e ressaltam as sensibilidades e vulnerabilidades do sistema alimentar global; Os mais atingidos pela crise nos preços dos alimentos são as pessoas mais pobres, que 49 Insegurança Alimentar & Pobreza veem seu poder de compra ser corroído pelos altos preços. Em 2006, houve queda nas colheitas e aumento no preço do milho nos EUA, que chegou a ficar cerca de 50% mais caro do que no início do ano. Em 2007, a “Crise da Tortilha” no México demonstrou que o aumento no preço dos alimentos tem efeito devastador na população mais pobre. E esses acontecimentos seriam apenas o prelúdio do que aconteceria em 2008. Nesse ano, o mundo se deparou com um “tsunami” de fome, que foi causado por um espantoso aumento dos preços dos alimentos, em especial, o milho, a soja, o trigo, o arroz e os óleos vegetais. A crise de 2008, para muitos, parecia que tinha chegado sem avisar, apesar de que esse espectro já pairava no horizonte há muito tempo. Os preços dos elementos básicos da alimentação duplicaram e até triplicaram em um curto espaço de tempo (FAO, 2011). No entanto, existem fatores de longo prazo já identificados, que levaram àquela situação: a) a produção de grãos para alimentação humana e animal: o aumento da dispersão na produção de milho e soja para a produção de carne (o consumo de carne no mundo duplicou, no período que vai da década de 1960 aos anos 2000); b) a diminuição das reservas de alimentos, tendência observada desde 1980 até 2008; c) o processo de “desruralização”, camponeses e fazendeiros se viram forçados a migrar do meio rural para o meio urbano em busca de melhores condições de vida; e) o aumento da concentração da posse e controle, por parte de corporações, de todos os setores da produção alimentar, de sementes, pesticidas e fertilizantes a elevadores de grãos, instalações de processamento e varejo (MAGDOFF; TOKAR, 2010). Em 2009, os preços dos alimentos caíram de suas extraordinárias altas taxas do ano de 2008, mas elas permaneceram consideravelmente altas se comparadas aos anos anteriores a 2007. Mesmo a quantidade de alimentos sendo suficiente para alimentar toda a população mundial, se distribuída igualitariamente, a especulação financeira, acompanhada das adversidades climáticas, mais uma vez, levou a uma espiral no preço dos alimentos no ano de 2010. Nesse ano, estimou-se que aproximadamente 1 bilhão de pessoas sofriam de fome contínua e severa. Somados a mais dois bilhões de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e sofriam com a insegurança alimentar. Isso 50 significa que quase metade da população mundial sofria de fome, desnutrição ou algum grau de insegurança alimentar. Nos Estados Unidos, antes da crise de 2008, havia aproximadamente 36 milhões de pessoas sofrendo de fome e insegurança alimentar, incríveis 12% da população sem acesso seguro à alimentação no país mais rico do mundo, apesar da vasta produção alimentícia e da grande quantidade de estoques (MAGDOFF; TOKAR, 2010). Então nos questionamos como, no mundo de hoje, resolver a contradição entre haver alimentos suficientes para toda a população mundial e ao mesmo tempo existirem um bilhão de pessoas famintas?11 O alimento se tornou uma commodity como qualquer outra e aqueles com mais dinheiro decidem como se apropriar, de acordo com sua conveniência. Somando-se a isso, vários países tornaram-se dependentes da importação de alimentos; então, quando há uma escalada no preço dos alimentos no mercado mundial, isto é transmitido rapidamente para a população. Nos casos dos países mais pobres, em que acontece um processo de desruralização, os pequenos produtores não têm capacidade para produção de alimentos destinados ao consumo local. Alguns autores defendem a ideia de que a busca por lucro determina, em muitos casos, um sistema alimentar frágil, imbuído de problemas como a fome em larga escala (MAGDOFF; TOKAR, 2010). Segundo Magdoff, os efeitos colaterais da difusão da produção agrícola de modelo capitalista, que começou no século 19 e, ao longo século 20, evoluiu para a produção de larga escala “estilo fábrica”, são percebidos nos dias de hoje: a) os danos ecológicos causados pelo uso de combustíveis químicos e fósseis no ciclo da cadeia produtiva; b) a rápida degradação dos solos devido à prática da agricultura intensiva; c) a forte consolidação, integração horizontal e vertical, dos inputs e setores de processamento no sistema de produção alimentar; d) os pequenos produtores cada vez 11 Ressalto que a estimativa oficial da FAO, no ano de 2009, é de que cerca de 1,02 bilhão, e em 2010 925 milhões de pessoas viviam cronicamente em situação de fome. Quando dizemos que quase metade da população mundial, ou seja, 3 bilhões, naqueles anos, viviam em situação de insegurança alimentar, queremos dizer que, dentro dessa estimativa, também da FAO, essas pessoas se encontravam privadas de alimentação adequada, ou com dificuldades econômicas de acesso alimentação, não necessariamente em situação de fome crônica. Fonte: FAO. 1.02 billion people hungry - One sixth of humanity undernourished – more than ever before. Relatório da FAO de 2009. Disponível em: http://www.fao.org/news/story/en/item/20568/icode/. Acessado no dia 13 de julho de 2011. FAO. Fact Sheet: Goal 1: Eradicate Extreme Poverty And Hunger. Disponível em: http://www.fao.org/mdg/goalone/en/. 51 mais integrados ao agribusiness, frequentemente sob contrato para a larga integração das corporações produtoras de carnes; e) o papel das sementes geneticamente modificadas na consolidação do controle corporativo sobre o setor de inputs; f) as dificuldades apresentadas pelos países em desenvolvimento e pouco desenvolvidos em função das diretrizes de comércio da OMC; g) a massiva migração dos camponeses para o meio urbano, onde poucos empregos estão disponíveis; h) a contradição entre a enorme produção e a falta de acesso para grande parte da população (MAGDOFF; TOKAR, 2010). Algumas coisas mudaram na última década, no entanto, as tendências básicas continuam e têm se tornado cada vez mais enraizadas no sistema. Por exemplo, os desequilíbrios ambientais associados à produção agrícola convencional têm se intensificado. Isso inclui a destruição de biomas, a degradação dos solos, poluição dos mananciais e das águas da superfície com nitratos, fosfatos, sedimentos, pesticidas e antibióticos. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas afirma que há evidências de que existe o aquecimento global e de que a atividade humana é, em parte, responsável pela aceleração desse processo. Talvez uma das alterações mais perturbadoras sejam as consequências de médio e curto prazo para a agricultura global. Os dados do IPCC apontam para o fato de que se houver um aumento de temperatura de até 2.7ºC a produção alimentar global experimentará um grande declínio (IPCC, 2012). A principal força que impulsiona o sistema neste modelo é, com certeza, o objetivo sem fim de continuar a geração de lucros. Nas palavras de Richard Levins: “a agricultura não tem o objetivo de produzir alimento, mas sim de produzir lucro. A produção de alimentos é, meramente, uma consequência” (2010, p.16). As condições de pobreza dos trabalhadores rurais é uma das tragédias mais persistentes do atual sistema agroalimentar. Esses trabalhadores passam por exposições diárias a pesticidas, padecem da falta de estruturas sanitárias e de água limpa, têm baixa remuneração e baixo poder de barganha. Isso incentiva fortemente o trabalhador rural a migrar para os centros urbanos. Enquanto todo mundo continua se alimentando e consumindo cada vez mais alimentos, a divisão da população que está diretamente envolvida no processo de produção está diminuindo cada vez mais, tendência observada ao longo do século 20 e início do 21 (McDONALD, 2010). 52 Outra grande tendência é o crescente papel dos atores privados e não governamentais na governança dos alimentos, na formulação de regras formais e informais de instituições e práticas que guiam o gerenciamento dos setores alimentares e emanam desses atores. As formas de governança que surgem são frequentemente híbridos que combinam ações governamentais com ações de empresas e organizações nãogovernamentais. A exemplo disso, podemos citar os casos em que corporações adotam sistemas de certificação engajados com a sustentabilidade ou com o incentivo à agricultura familiar e que, para adquirir “legitimidade”, são formuladas em colaboração com ONGs. Quando esses sistemas de certificação conseguem determinado reconhecimento, os governos os adotam como padrões para outras empresas e produtos (SCHILPZAND, LIVERMAN et al., 2010). Mas quem são esses atores-chave que têm capacidade de influenciar a governança, os sistemas e a segurança alimentar? Certamente, as grandes corporações são extremamente importantes nesse processo. Os produtores, processadores e varejistas de larga escala estão cada vez mais dominando o mercado alimentício e determinando a formulação das regras da governança alimentar. Os grandes varejistas são os que mais se destacam, pois, nos últimos anos, foi o setor que mais aumentou as vendas e as margens de lucro se comparado com o setor de processamento e a indústria de insumos alimentares (SCHILPZAND, LIVERMAN et al., 2010). Dentro do sistema de mercado global alimentar o papel das Corporações Multinacionais, como a Monsanto, a Cargill, a Archer Daniels Midland, a Mosaic, o Walmart, o Carrefour, tem crescido tanto que as dez maiores companhias controlam pelo menos um quarto do mercado global de sementes, pesticidas, fabricação de alimentos e da venda de varejo (SCHILPZAND, LIVERMAN et al., 2010). Além disso, a influência das corporações multinacionais se estende para além do histórico papel do lobby junto aos governos e instituições multilaterais, pois essas empresas têm, cada vez mais, substituído instituições de pesquisa e difusão do conhecimento, além da definição de normas e regras de produção (SCHILPZAND, LIVERMAN et al., 2010). Como podemos perceber, o sistema alimentar global é altamente difuso e fragmentado, dado que o objeto de governança envolve a tomada de decisão sob uma 53 grande variedade de contextos e por atores em vários níveis espaciais. Desde os pequenos produtores que atendem o abastecimento no nível local, aos grandes varejistas que dominam o mercado de alimentos em larga escala. Das grandes corporações que detêm as patentes e monopolizam o fornecimento de sementes, aos consumidores que detêm o poder da escolha ao consumir. Dos Estados que assumem cada vez mais um papel apenas de facilitador, aos que se veem forçados a interferir no ciclo perverso de pobreza e de fome que afeta suas sociedades. O sistema tem sido profundamente moldado por várias tendências gerais associadas aos padrões recentes da globalização econômica, incluindo a diminuição da autoridade regulatória dos Estados e a tendência de esses atores assumirem papéis de facilitação. Por outro lado, a crescente autoridade e papel regulatório de grandes corporações, particularmente mediante a gestão da cadeia de suprimentos e contratação privada, que também é muitas vezes descrita como regulamentação privada. Além disso, o crescimento do papel das ONGs sociais em todos os níveis da governança e o surgimento de redes mundiais como uma forma chave de organização transversal (SCHILPZAND, LIVERMAN et al., 2010). Como síntese deste primeiro capítulo, podemos sublinhar que a academia de Relações Internacionais, de certa forma, acompanha a tendência dos países desenvolvidos na marginalização da temática da fome. Vimos que as instituições internacionais especializadas nesse tema não recebem a atenção que demanda desses países, nem em suas cúpulas mais importantes, como as de Chefe de Estado, nem quando se trata de questões orçamentárias para o aumento da Ajuda ao Desenvolvimento ou para os projetos emergenciais e estruturantes de combate à fome em países pobres. Por outro lado, já existem debates específicos sobre o sistema e a segurança alimentar globais, nos quais alguns conceitos já vêm sendo desenvolvidos com objetivo de entender e explicar as características e o funcionamento desse sistema. Já o próprio conceito de segurança alimentar parece ter sido absorvido das conceituações elaboradas nas instituições internacionais sem grandes polêmicas e debates. Também observamos que, dentre as questões problemáticas da atualidade, as crises financeiras aparecem como desafio à construção da segurança alimentar. A especulação no mercado de commodities agrícolas provoca o aumento dos preços e gera dificuldades ao acesso de milhões de pessoas que vivem no limite de seus orçamentos 54 familiares. Além disso, a concorrência entre produção de biocombustíveis e de alimentos, o seu papel no aumento dos preços de certas commodities; o papel do modelo de produção na intensificação das mudanças climáticas; os alimentos geneticamente modificados e a monopolização de sementes por parte das grandes corporações; os atores privados que influenciam na governança alimentar; todas essas são questões surgem como desafios àqueles que decidem pensar a segurança alimentar na atualidade. O mundo está entrando em uma nova era dos alimentos. Os primeiros sinais disso são os preços recordes dos grãos dos últimos anos, a restrição à exportação de grãos pelos países exportadores, o crescente papel das grandes corporações na elaboração das regras da governança e a aquisição de vastas extensões de terra no exterior por países importadores de grãos. Um desafio central desta nova era não será apenas aumentar a produção de alimentos, mas também garantir uma distribuição eficiente dos alimentos existentes, já que os agentes da governança estão cada vez mais pulverizados e os fatores de vulnerabilidade sistêmica têm cada vez mais influência na segurança alimentar. Nesse sentido, o desafio nacional relacionado à questão alimentar demanda respostas por meio de políticas públicas específicas, mas também da política externa, entendida como ferramenta para se alcançar o interesse nacional. 55 CAPÍTULO 2 O BRASIL E A INSEGURANÇA ALIMENTAR “A fome é exclusão. Da terra, da renda, do emprego, do salário, da educação, da economia, da vida e da cidadania. Quando uma pessoa chega a não ter o que comer, é porque tudo o mais já lhe foi negado.” Betinho12 Este capítulo é destinado à compreensão de como a insegurança alimentar ganhou corpo na agenda doméstica nas décadas de 1980 e 1990, por força das pressões de segmentos da sociedade brasileira e da reelaboração das políticas governamentais de cunho social. Além do papel dos movimentos sociais, será apresentado um histórico sobre a temática alimentar no Brasil e sua consequente institucionalização em políticas públicas e estruturas decisórias. Por último, falaremos do papel do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) na formulação das posições brasileiras nas negociações internacionais sobre fome e pobreza. A partir do entendimento de que política externa se constrói por meio de uma lógica dual, que interliga os níveis doméstico (das forças de pressão e pulsão que influenciam a composição de interesses e objetivos nacionais) e externo (das normas e regras estabelecidas em acordos, debates em foros internacionais e arranjos de governança global), o desenvolvimento deste capítulo procura desdobrar as ideias e conceitos do capítulo anterior em uma análise que abarque a complexidade deste “jogo de dois níveis”, levando em consideração tanto o ambiente externo quanto o interno. 2.1. AS FORÇAS SOCIAIS E A QUESTÃO ALIMENTAR NO BRASIL Enquanto alguns temas, como código florestal e royalties de petróleo, possuem fortes grupos de interesse com capacidade de influenciar a inserção de seus assuntos no 12 Hebert de Souza, o sociólogo conhecido como Betinho, em artigo publicado no dia 7 setembro de 1993, no Jornal do Brasil. 56 debate político e afetar o processo decisório, outras temáticas dependem de mobilização popular para alcançar destaque nacional, sendo o caso do combate à fome e à pobreza emblemático. Os acontecimentos sociais e políticos da década de 1980 e início dos anos de 1990 foram essenciais para a institucionalização das políticas públicas voltadas para o combate à fome e à pobreza. Esse período foi marcado por manifestações sociais, organizadas no sentido de pressionar o governo para a questão da fome no Brasil e alertar a sociedade brasileira como um todo para a discussão do assunto. Em 1985, espaços de participação e debates sobre o tema da fome e desnutrição foram se estruturando. Naquele mesmo ano, o Ministério da Agricultura, por meio da Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL), implantou o Programa de Abastecimento Popular (PAP) e organizou o denominado “Dia D do Abastecimento”. O Debate Nacional de Abastecimento Popular mobilizou cerca de 30 mil participantes vinculados a quase três mil organizações populares das periferias dos centros urbanos (PELIANO, 2010). Os participantes encaminharam uma extensa pauta de reivindicações que tratavam da política econômica e da questão salarial, da política de redistribuição agrária e apoio à atividade agrícola, dos programas de abastecimento e da participação popular na formulação e fiscalização das políticas públicas para o setor. Segundo Peliano (2010), inaugurava-se ali um embrião das conferências de segurança alimentar. Na Universidade de Brasília, foi criado o Núcleo de Estudos da Fome, onde foram desenvolvidas diversas atividades, entre pesquisas, seminários, publicações (Cadernos de Economia e Nutrição) e a edição do jornal “Fome em Debate”, com uma tiragem de 40 mil exemplares distribuídos dentro e fora do Brasil. Esse jornal visava, essencialmente, promover a conscientização e a mobilização política em torno do tema. Numa de suas edições, à época das eleições de 1989, foram realizadas entrevistas com os então candidatos à Presidência da República para que apontassem, se eleitos, quais seriam as medidas que adotariam para combater a fome no país (VASCONCELOS, 2005). Foi instituído, dentro do Núcleo de Estudos da Fome, o Prêmio Josué de Castro que, na sua primeira edição, premiou Walter Barelli 13, por sua luta no Departamento 13 Walter Barelli é Professor do Instituto de Economia da Unicamp desde 1990. Foi Diretor da DIEESE de 1968 a 1990. Foi Ministro do Trabalho (1992/4) e Secretário de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (1995/2001). Fonte: DIEESE: História de Vida – Walter Barelli. Disponível em: http://memoria.dieese.org.br/museu/nossas_historias_menu/walter-barelli. Acessado em 21 de março de 57 Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) pela elevação do salário mínimo. Por ocasião da premiação, reuniram-se, na UnB, as principais lideranças sindicais do país para debater e elaborar a Carta de Brasília, sobre o tema “Fome e Salário”, que foi entregue ao Presidente da República em exercício, Ulisses Guimarães (PELIANO, 2010. p.31). Nos anos 1990, sob a liderança do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, desencadeou-se a campanha contra a fome, articulada por amplos setores da sociedade civil brasileira. A campanha baseava-se na compreensão de que cabe à cidadania instituir a lógica da solidariedade e, também, apontar o rumo ao Estado e ao mercado. Assim, o movimento denominado “Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”, em 1993, assumiu uma dimensão nacional, inspirado em razões de ordem ética e da importância da solidariedade (HIRAI; ANJOS, 2007). Em seguida, com apoio do CONSEA, realizou-se a I Conferência Nacional de Segurança Alimentar, em julho de 1994, que tinha como objetivo indicar diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA, 2007). As empresas públicas, com a participação ativa de seus funcionários, se organizaram, em 1993, no Comitê de Entidades Públicas no Combate à Fome e Pela Vida (COEP)14, com o objetivo de ampliar suas ações de caráter social. A Ação mobilizou a sociedade em trabalhos voluntários para atendimento aos mais pobres e foi objeto de reconhecimento internacional. Nesse mesmo momento, o movimento da sociedade civil pela Ética na Política elegia o Combate à Fome e à Miséria pela Vida como bandeira de mobilização nacional e o autointitulado “governo paralelo” do Partido dos Trabalhadores (PT) lançava a proposta de uma política de segurança alimentar de caráter nacional, se tornando o 2013. CNPq. Currículo Lattes –Walter Barelli. Disponível em: http://lattes.cnpq.br/4184613623839750. Acessado em 21 de março de 2013. 14 Trinta entidades públicas fundaram o Comitê, são elas: Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), Companhia Energética de São Paulo (CESP), Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV), DNC, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), FURNAS Centrais Elétricas S.A. (FURNAS), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Instituto Nacional de Tecnologia (INT), Light S.A. (LIGHT), Nuclebrás Engenharia (NUCLEN), Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRÁS), Empresa Brasileira de Comunicação (RADIOBRÁS), Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA), Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), Telecomunicações do Estado do Rio de Janeiro (TELERJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), VALE DO RIO DOCE. Fonte: Históricos das Reuniões do Conselho Deliberativo do COEP, p.11. 1993. Disponível em: http://www.coepbrasil.org.br/portal/publico/apresentarConteudo.aspx?CODIGO=C200812311110640. Acessado no dia 21 de março de 2013. 58 embrião da ideia e das propostas de plano de governo da campanha de 2002 do candidato petista, Luiz Inácio Lula da Silva, à Presidência da República (VASCONCELOS, 2005). É importante frisar que a primeira iniciativa decorrente dessa união foi a elaboração do Mapa da Fome. A elaboração desse estudo foi solicitada pelo sociólogo Herbert de Souza, representando o Movimento pela Ética na Política. Entre outras contribuições, ajudou a difundir o tema da “segurança alimentar”, que havia sido introduzido no Brasil em meados da década de 1980 pelo Ministério da Agricultura, centrado em dois grandes objetivos: atender às necessidades alimentares da população e atingir a autossuficiência nacional na produção de alimentos (VASCONCELOS, 2005). A publicação do Mapa da Fome foi considerada de grande relevância para o país. Segundo noticiou o Boletim Informativo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), à época, foi “a pesquisa que comoveu o País e estimulou a mais empolgante reação do Governo e sociedade”. Com a informação de que 32 milhões de pessoas passavam fome no Brasil, o tema entrou na agenda dos debates nacionais. “Esse é um dado de mobilização, uma informação para mexer com a sociedade”, e foi o que aconteceu (SOUZA apud PELIANO, 2010). O mapa foi elaborado pelo IPEA em parceria com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), que forneceu a metodologia utilizada em seus estudos sobre pobreza, que consistia em levantar o custo, por região, de uma cesta básica de alimentos necessária para satisfazer as necessidades nutricionais das famílias e, então, identificar quantas famílias tinham renda que permitia adquirir essa cesta básica (IPEA, 1993). As pessoas que viviam em famílias com uma renda igual ou inferior ao valor da cesta básica de alimentos eram, então, incluídas no grupo das que passavam fome. Isso porque parte da renda das famílias precisaria atender outras despesas, além da alimentação, como moradia, transporte, saúde, educação, vestuário etc. Com essa concepção se chegou ao número de 32 milhões de pessoas no Brasil que não tinham renda para garantir a sua alimentação nos níveis recomendados internacionalmente. No entanto, apesar de o estudo ter sido bem acolhido nos mais diversos segmentos da sociedade, também foi objeto de contestação por parte de órgãos técnicos e da mídia nacional, inclusive do próprio IPEA que, invocando razões de ordem técnica, 59 indicavam que as estimativas estariam superestimadas. Medições alternativas foram contrapostas, algumas das quais chegavam a sustentar patamares de indigência 50% menores (PELIANO, 2010). Uma comissão mista com técnicos do IPEA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da CEPAL foi constituída para refazer os cálculos, porém, embora trabalhando por um longo período, não chegou a um consenso. Tempos depois, técnicos do IPEA que participaram dessa comissão publicaram um novo estudo no qual reconheciam que o número de indigentes para o mesmo ano de 1990 era da ordem de 31 milhões de pessoas (PELIANO, 2010). Mas o Mapa da Fome não se restringia ao dimensionamento da pobreza, uma vez que produziu um mapeamento da produção agrícola do país e apresentou sugestões para o enfrentamento do problema da insegurança alimentar no Brasil. Ressaltava que a disponibilidade interna dos alimentos era superior às necessidades diárias de calorias e proteínas de uma população equivalente à brasileira. Na época, o Brasil dispunha de 3.280 kcal e de 87 gramas de proteínas per capita/dia para uma recomendação de 2.242 kcal e 53 gramas de proteínas, respectivamente. O documento recomendava que, de imediato, a atuação do governo, com vistas ao atendimento dos objetivos de erradicação da fome e de melhoria dos padrões nutricionais, deveria se concentrar em duas providências complementares: de um lado, enfatizar a prioridade nas estratégias de política econômica voltadas para o combate ao desemprego, à retomada do crescimento e à melhoria dos padrões de remuneração do trabalhador, parcialmente já contempladas a nova legislação da política salarial; do outro, adotar medidas urgentes para reduzir a enorme distância que separava o preço recebido pelos produtores dos custos de aquisição dos alimentos básicos na rede do comércio local (IPEA, 1993). O relatório do Mapa fazia ainda sugestões para a questão do abastecimento alimentar e defendia ações complementares de assistência alimentar para regiões extremamente pobres e para grupos específicos da população, além do reforço e aprimoramento dos programas destinados ao grupo materno-infantil, de estudantes e de trabalhadores. O “Plano Nacional de Combate à Fome e à Miséria: Princípios, Prioridades e Mapas das Ações de Governo”, documento final relativo à demanda do Movimento da Ação da Cidadania, que foi entregue ao Presidente da República em abril de 1993, propunha como princípios, a solidariedade, a parceria e a descentralização, aspectos que 60 seriam posteriormente absorvidos na própria práxis da política externa brasileira. Tratava-se de um plano ambicioso que buscava envolver toda a administração pública federal e que descrevia as ações de todos os Ministérios, em que se definiam objetivos, mecanismos operacionais e metas relacionadas à questão alimentar. Entretanto, nem o CONSEA e nem o IPEA, que funcionava como uma secretaria executiva “informal” do CONSEA, conseguiam coordenar e acompanhar as ações propostas. Foi daí que surgiu a sugestão de selecionar um elenco bem menor de programas diretamente relacionados à alimentação e à nutrição e concentrar neles os esforços de aprimoramento, fortalecimento, acompanhamento e controle (VASCONCELOS, 2005). Assim, foram destacados como prioridades os seguintes programas: Combate à Desnutrição Materno-Infantil, Merenda Escolar, Alimentação do Trabalhador, Distribuição Emergencial de Alimentos, Assentamentos de Trabalhadores Rurais e de Geração de Renda, seguindo uma tendência internacional estabelecida desde os anos 1980. De fato, em 1983, a FAO lançou um novo desafio para a segurança alimentar, abrangendo não só a questão da oferta adequada de alimentos em termos de qualidade e quantidade, mas também a da estabilidade dos mercados e a da segurança no acesso aos alimentos ofertados. Essa abordagem foi ratificada no Brasil em 1986, quando foi realizada a I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição (VASCONCELOS, 2005). Entretanto, como foi visto, a ideia de segurança alimentar só começou a ser difundida nos anos de 1990, a partir da publicação do Mapa da Fome e da criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar CONSEA (1993), culminando com a realização da I Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN), em 1994.Portanto, o CONSEA foi criado como espaço de interação entre o governo e a sociedade, do qual participavam ministros de Estado e personalidades notáveis, identificadas com vários setores da sociedade civil e indicadas pela Ação da Cidadania. Com o CONSEA foi inaugurada uma nova forma de articular as políticas públicas, ampliando a participação social nas ações governamentais. Os principais resultados do Conselho foram no campo da assistência alimentar, o que pode ser auferido pela enorme mudança que os programas sofreram no período da sua vigência (1993/1994): a distribuição de leite, totalmente descentralizada e 61 focalizada em crianças e gestantes em risco nutricional, associada a ações de saúde; a distribuição também descentralizada da merenda escolar; e a distribuição de estoques de alimentos do governo para mais de dois milhões de famílias atingidas pela seca. Em 1994, os recursos financeiros destinados aos programas, em relação a 1993, haviam mais que dobrado, alcançando valores próximos a meio bilhão de dólares (VASCONCELOS, 2005). No II Balanço das Ações de Governo no Combate à Fome e à Miséria (1994), elaborado pelo IPEA, concluía-se que a Ação Contra a Fome era credora de três grandes contribuições para tornar a sociedade brasileira mais democrática e justa: a) ter politizado o problema da fome; b) ter logrado uma mobilização da sociedade civil que encontrava poucos antecedentes na história recente; e c) ter ampliado, por meio do CONSEA, a participação cidadã na formulação e controle das políticas públicas (IPEA,1994). Não obstante, percebeu-se que essas contribuições estiveram quase que exclusivamente limitadas à esfera das políticas compensatórias, especialmente a distribuição de alimentos. Essa característica pode ser lida de maneira ambivalente. A primeira, positiva, salienta que essa distribuição rompeu a inércia secular da sociedade brasileira diante do problema da fome e, paralelamente, permitiu dar uma resposta, ainda que parcial e de curtíssimo prazo, ao flagelo da falta de alimentação das populações miseráveis. A segunda leitura enfatiza o lado negativo dessa concentração em políticas compensatórias. Não se teria utilizado a mobilização da sociedade civil e a influência lograda pelo CONSEA na ação governamental, para a formulação de políticas que gerassem mudanças estruturais e que permitissem reduzir a necessidade de políticas compensatórias. Como foi afirmado na apresentação do documento em tela, toda conquista social é relativa: “avançou-se, mas poder-se-ia ter avançado mais” (IPEA, 1994). A evolução da temática alimentar na agenda doméstica brasileira desde as décadas de 1980 e 1990 possibilitou tanto a institucionalização de ações e planos concretos, bem como respaldou o papel do CONSEA em influenciar a política externa brasileira nas décadas seguintes. 62 2.2. A INSTITUCIONALIZAÇÃO ALIMENTAR NO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA BRASIL Os debates sobre segurança alimentar parecem ser recentes na política nacional. De fato, os diálogos com a sociedade civil sobre o tema datam do fim dos anos 1980 e início dos 1990. No entanto, algumas políticas já haviam sido implementadas anteriormente, sendo como tantas outras políticas, medidas tomadas de cima para baixo, sem a participação da sociedade. Como veremos a seguir, o processo de redemocratização vivido na década de 1980 também é um dos motivos da ascensão das temáticas sociais no início dos anos 1990. Para Maria Peliano, a história das políticas de alimentação e nutrição no Brasil evolue ao logo de quatro atos: o primeiro é o mais longo, se inicia nos anos quarenta e se estende até meados dos anos setenta com a aprovação do II Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN II); o segundo é o mais turbulento e se estende até o final dos anos oitenta; o terceiro se desenrola na década de noventa; e o quarto ato se centra no primeiro decênio do século 21, já sob a égide do governo Lula (PELIANO, 2010, p. 27). Nos anos de 1930, podem-se identificar antecedentes de políticas públicas que afetavam direta ou indiretamente a segurança alimentar no país. Em 1939, foi criada a Comissão de Abastecimento, que tinha por objetivo regular tanto o comércio como a produção de alimentos, combustíveis e medicamentos. Entre as iniciativas da Comissão destaca-se a criação mecanismos de incentivos à produção agrícola (GODINHO, 2007). Neste contexto, Josué de Castro idealizou e elaborou o que veio a ser o Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), viabilizado pelo Decreto-Lei nº. 2.478, de 1940, que ganhou visibilidade pela instauração dos primeiros restaurantes populares. Para propiciar aos trabalhadores alimentação adequada e barata, o governo instalou e fez funcionar restaurantes destinados aos trabalhadores e tornou obrigatório às empresas o fornecimento de refeições e a instalação de refeitórios. O SAPS, ao encarar o problema da alimentação do povo brasileiro, mais precisamente do trabalhador urbano, procurou estudar as condições de nutrição, a situação econômica, os hábitos alimentares do indivíduo e as particularidades bioquímicas dos elementos integrantes da alimentação (VASCONCELOS, 2005). Das atividades desenvolvidas pelo SAPS originaram-se muitos dos programas de assistência alimentar vigentes nos dias atuais. Dentre eles, cabe destacar: a) a criação de 63 restaurantes populares; b) o fornecimento de uma refeição matinal para os filhos dos trabalhadores (embrião da merenda escolar); c) um auxílio alimentar durante o período de 30 dias ao trabalhador enfermo ou desocupado (transformado em auxílio-doença); d) a criação de postos de subsistência para venda, a preços de custo, de alguns gêneros de primeira necessidade; e) o serviço de visitação domiciliar junto à residência dos trabalhadores; e f) os cursos para visitantes e auxiliares técnicos de alimentação (VASCONCELOS, 2005). No entanto, ao fim do primeiro governo Vargas (1945), o SAPS entrou em crise, foi se esvaziando progressivamente e suas funções foram transferidas para a Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL), criada em 1962 (PELIANO, 2010). Em 1943, com o país envolvido na Segunda Guerra Mundial, o Coordenador da Mobilização Econômica, Ministro João Alberto, considerando a extraordinária importância que envolvia na ocasião o problema da alimentação coletiva e a necessidade de que fosse estabelecido, para todo o país, um plano de economia alimentar cientificamente dirigido, criou o Serviço Técnico da Alimentação Nacional (STAN), sob a direção geral do Dr. Josué de Castro, com a competência para tomar as providências indispensáveis à realização de determinações governamentais. O STAN também foi incumbido de realizar estudos, trabalhos e pesquisas concernentes ao problema da alimentação, sugerindo as medidas técnicas para a melhoria das condições de nutrição do povo brasileiro (VASCONCELOS, 2005). Subordinado ao Serviço Técnico da Alimentação Nacional e sob sua direta orientação, por iniciativa de industriais brasileiros ligados à indústria de alimentos, foi criado o Instituto de Tecnologia Alimentar, em 1944, com a finalidade de realizar pesquisas e estudar problemas tecnológicos referentes a esta indústria. Ao fim da guerra, esvaiu-se o interesse governamental pelo STAN. No entanto, permaneceu o Instituto de Tecnologia Alimentar, que manteve seus objetivos, custeados, em parte, pelo seu próprio patrimônio e, em parte, por contratos lavrados com entidades públicas e privadas (VASCONCELOS, 2005). Foi nesse contexto que Josué de Castro publicou a Geografia da Fome (1946), e buscou romper o tabu que até então envolvia o fenômeno da fome. Josué desenvolveu seu trabalho a partir da constatação de que, em um mundo onde não se conseguisse obter condições de vida similares para todos os homens, consequentemente seriam 64 gerados grandes contrastes nos futuros níveis de saúde e capacidade intelectual dessas populações (CASTRO, 2010, p. 20). Josué de Castro compreendeu que era imprescindível aumentar a renda do trabalhador, e foi um dos precursores na defesa do salário mínimo. Sabia dos males que a nutrição deficiente nas crianças poderia acarretar e ajudou a formular a política de merenda escolar. Entendeu que estava na agricultura familiar a melhor forma de manter o homem no campo e possibilitar sua alimentação. Assim, combateu o latifúndio e defendeu a reforma agrária. O comando da política de alimentação se transferiu no pós Segunda Guerra para a Comissão Nacional de Alimentação, criada no âmbito do Ministério da Saúde. A CNA foi substituída pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), em 1972, que, por sua vez, foi extinto em 1997. Coube, assim, ao setor da saúde, por meio da CNA, a elaboração e aprovação, no início dos anos de 1950, do Primeiro Plano Nacional de Alimentação e Nutrição no Brasil. A responsabilidade da área de saúde pela elaboração e coordenação dos programas de alimentação e nutrição permaneceu até os anos de 1990 (VASCONCELOS, 2005). Em todos os planos e programas elaborados desde então, já estão delineadas as origens estruturais do problema alimentar e nutricional e a necessidade de mudanças no modelo de desenvolvimento econômico e social do país. Houve também a identificação de um foco central de atuação, com ênfase, inicialmente, na educação alimentar, no pressuposto de que a desnutrição poderia ser significativamente reduzida mediante a difusão do conhecimento das regras básicas de uma alimentação adequada. Além de se destacar no nível nacional por seus estudos e sua atuação política como deputado do Congresso brasileiro entre 1955 e 1963, Josué de Castro projetou o Brasil e o tema alimentar no exterior quando presidente da FAO entre 1952 e 1956, e em 1960, presidindo a Campanha de Defesa contra a Fome, promovida pelas Nações Unidas (GODINHO, 2007). Em 1951, o governo brasileiro concentrou seus esforços no abastecimento, com a criação da Comissão Federal de Abastecimento e Preços (COFAP). A Comissão tinha o papel de fiscalizar e controlar canais de comercialização. Na década de 1960, a rede de fiscalização de abastecimento se ampliou e a tendência se manteve a partir do empenho político que modificaria a estratégia mais para o fornecimento de alimentos a preços reduzidos do que ao combate à fome (GODINHO, 2007). 65 Portanto, a atenção voltou-se para o enriquecimento de produtos alimentícios e o apoio às indústrias de alimentos especialmente formulados, de alto valor nutricional, com base na suposição de que a dieta básica da população necessitava ser reforçada no tocante ao seu valor proteico. Tal suposição foi contestada pelo Estudo Nacional de Despesas Familiares – (ENDEF) que identificou na alimentação do brasileiro a predominância de déficit calórico (IBGE, 1974/1975). Isto é, dada a composição da dieta da população, aqueles grupos que atingiam níveis de consumo adequados, em termos quantitativos, não apresentavam déficit proteico, ou seja, o brasileiro em geral não se alimentava mal, e sim, se alimentava pouco (VASCONCELOS, 2005). Dessa constatação decorreu, no período seguinte, uma rejeição aos programas de educação alimentar. Eles eram associados a “professoras nas escolas ensinando crianças pobres a se alimentarem de forma variada, incluindo carnes, frutas e verduras, as quais não tinham condições financeiras de adquirir” (PELIANO, 2010, p. 28). Obviamente, a questão alimentar tornou-se muito mais complexa e, nos dias de hoje, em um momento em que cresce a obesidade entre famílias pobres, o tema teve que ser revisto, aprimorado e fortalecido. Um dado importante a enfatizar nos resultados do ENDEF foi a presença, nos anos de 1970, de algum grau de desnutrição infantil, que atingia 46% das crianças menores de 5 anos (medido por cálculo de relação peso/idade) (IBGE,1974/1975). Ainda na década de 1970, criou-se o INAN (Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição) com o objetivo de formular uma política de alimentação e nutrição, o qual integrava o I PRONAN (Programa Nacional de Alimentação e Nutrição), inserido na proposição do I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). A abrangência de suas ações incluía o sistema de produção e distribuição de alimentos básicos e o fornecimento de suplementação alimentar a parcelas de população de baixa renda (HIRAI; ANJOS, 2007). Com a aprovação do II PRONAN, em fevereiro de 1976, houve uma reviravolta na concepção dos programas de alimentação. Por isso, esse plano foi considerado um marco na política de alimentação e nutrição do país e, por isso, é considerado como a segunda fase (PELIANO, 2010). Com o II PRONAN, a ênfase voltou-se para a utilização de alimentos básicos nos programas alimentares e o apoio aos pequenos produtores rurais, com vistas à elevação da renda do setor agrícola e ao aumento da produtividade da agricultura 66 familiar. O diagnóstico era o de que a agricultura brasileira respondia satisfatoriamente aos estímulos de mercado, verificando-se, à época, uma expansão muito grande na produção de produtos exportáveis em detrimento dos alimentos de consumo interno, cuja produção estava estrangulada pelo baixo poder aquisitivo dos trabalhadores urbanos, inviabilizando a melhoria dos preços para os produtores rurais (VASCONCELOS, 2005). Propôs-se, então, a criação de um mercado institucional mediante a unificação das compras de alimentos de todos os programas governamentais de distribuição de alimentos para o grupo materno infantil e a merenda escolar em uma única instituição, no caso a COBAL, hoje Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Esse mercado institucional, de grande porte, teria como objetivo estimular a produção e garantir a aquisição dos alimentos, a preços remuneradores, diretamente dos pequenos produtores, cooperativas e pequenas agroindústrias mais próximas das áreas rurais (PELIANO, 2010, p. 28). Nessa fase, o que se verificou, na prática, foi a implantação de um conjunto diversificado de programas de alimentação e nutrição que contemplava a distribuição gratuita de alimentos, com enfoques distintos e nem sempre compatíveis com as diretrizes das políticas defendidas nos planos oficiais. Coube à extinta Legião Brasileira de Assistência (LBA), na vigência do II PRONAN e até o início da década de 1990, promover a distribuição de alimentos nutricionalmente enriquecidos adquiridos diretamente do setor industrial. O programa da merenda escolar manteve a distribuição de alimentos enriquecidos e, somente em meados dos anos 1980, passou a adquirir, parcialmente, os alimentos básicos adquiridos pela CONAB (VASCONCELOS, 2005). O INAN foi a única instituição que buscou associar o abastecimento e a distribuição de alimentos em periferias urbanas pelo Programa de Abastecimento de Alimentos Básicos em Áreas de Baixa Renda (PROAB) ao apoio à agricultura familiar, por meio do Projeto de Aquisição de Alimentos em Áreas Rurais de Baixa Renda (PROCAB), realizado em parceria com a CONAB. Para isso, foram criados polos de compras para escoamento da produção em áreas rurais com concentração de pequenos agricultores em estados do Nordeste. Entretanto, recursos insuficientes e descontinuidade na distribuição de alimentos, entre outros problemas, inviabilizaram o dinamismo inicialmente preconizado para os pequenos produtores (PELIANO, 2010). 67 Com uma sistemática inovadora que buscava a integração intersetorial, o II PRONAN encontrou severas resistências junto à maioria dos ministérios envolvidos. Contudo, teve sucesso ao fortalecer os programas de suplementação alimentar das esferas do MEC (merenda escolar) e do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS). No entanto, na medida em que essas instituições se limitaram à distribuição de produtos industrializados e formulados, passaram a contrariar as diretrizes que justificaram a própria elaboração do II PRONAN (VASCONCELOS, 2005). Avaliações realizadas ainda no início dos anos 1980 atribuíram as deficiências de implementação das políticas de alimentação, assim como das demais políticas sociais, ao fato de que elas refletiam, em grande parte, a desigualdade de forças de pressão dos diferentes grupos envolvidos nos programas sociais, que determinam que os benefícios sejam, com frequência, apropriados pelos segmentos mais próximos aos centros de decisão. Em outro estudo, do período 1980-1984, é assinalado que a análise do volume de recursos alocados aos programas de alimentação e nutrição poderia indicar o fortalecimento progressivo do setor. Esses recursos responderam, entretanto, por um gasto, no nível federal, equivalente a apenas 0,03% do PIB em 1980, elevando-se para 0,10% em 1984, coincidentemente durante o processo de redemocratização (INAN/IBGE/IPEA, 1990). Esse aumento de recursos foi, paradoxalmente, acompanhado de uma deterioração no atendimento, à medida que o volume de alimentos distribuídos per capita e, portanto, a complementação nutricional, foi sendo reduzida de forma progressiva. Tal fato pode ser atribuído, especialmente, a pressões políticas para expansão do número de beneficiários, o que ocorreu muitas vezes a partir de critérios, na visão de Maria Peliano (2010), demagógicos e clientelistas, em detrimento da qualidade dos programas. De qualquer forma, os recursos destinados ao setor, ainda que crescentes, estiveram sempre aquém das reais necessidades da população brasileira, se dimensionados em relação ao déficit alimentar dado pelo nível do poder aquisitivos da classe trabalhadora. Para Maria Peliano, o impacto dos programas específicos de alimentação, como instrumentos de redistribuição de renda, foi absorvido pela “política de desalimentação”, decorrente de ajustes implementados no setor econômico que deterioravam o poder de compra daqueles que recebiam os benefícios (2010, p.30). 68 As primeiras referências à expressão “segurança alimentar” como parte da esfera política surgem ao final de 1985 por meio do Ministério da Agricultura, que previa uma Política Nacional de Segurança Alimentar cujo objetivo era atender às necessidades alimentares da população e atingir a autossuficiência nacional na produção de alimentos. Formulada por uma equipe de técnicos, a convite do Ministério da Agricultura, ela trouxe consigo, à época, poucos desdobramentos. A utilização da noção de segurança alimentar limitava-se, até então, em avaliar o controle do estado nutricional dos indivíduos, sobretudo a desnutrição infantil, sob a égide da Vigilância Sanitária (MALUF et al, 1996). A proposta de elaborar uma política de Segurança Alimentar também contemplava a criação de um Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) que deveria ser presidido pelo Presidente da República e composto por Ministros de Estado e representantes da sociedade civil. Esse tema foi retomado durante a I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição (CNAN), realizada em 1986, a qual colocava a alimentação como um direito básico (MALUF et al, 1996). O conceito de Segurança Alimentar ampliava-se, incorporando às esferas de produção agrícola e abastecimento as dimensões do acesso aos alimentos, das carências nutricionais e da qualidade dos alimentos. Começava-se, então, a utilizar no discurso político brasileiro o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (VALENTE, 1995). Com a Constituição de 1988, deu-se um grande passo pelo reconhecimento da alimentação escolar como um direito fundamental constitucional. Esse ato fortaleceu na sociedade o entendimento de que a merenda escolar não era apenas uma opção dos governantes, mas uma obrigação legal (PELIANO, 2010). Aproveitando-se dos avanços alcançados com a redemocratização e a instalação da chamada Nova República, o presidente José Sarney lançou, em 1986, o Programa Nacional de Leite (PNL). Mais conhecido como o Tíquete de Leite, o Programa era destinado às crianças de até sete anos de idade de famílias com renda mensal de até dois salários-mínimos e tinha como principal objetivo distribuir um litro de leite por dia, por meio de tíquetes com os quais a família poderia comprar o produto no comércio varejista local (COHN, 1995). A concepção do programa contrariava os princípios defendidos pelos especialistas da época. Ele era centralizado, no sentido de que os recursos eram repassados do governo federal diretamente para associações comunitárias, dissociado de qualquer outra intervenção na área da saúde ou produção agrícola, e superpunha-se aos 69 demais programas, sem qualquer esforço de integração. Para Peliano (2010), o programa parecia ser uma política populista que criava uma lógica perversa de dependência e desvirtuamento. Por exemplo, os cupons costumavam ser utilizados como moeda paralela, vendidos no mercado com deságio (COHN, 1995). O programa começou operado pela Secretaria Especial de Ação Comunitária (SEAC), órgão que passou pela Presidência da República, Secretaria de Planejamento, Ministério do Interior e Ministério da Ação Social, terminando a década de 1980 vinculado à Legião Brasileira de Assistência (PELIANO, 2010. p. 31). No final dos anos 1980, o governo federal operava 12 programas de alimentação e nutrição que juntos gastaram mais de 1 bilhão de dólares, em 1989. (BEGHIN; PELIANO, 1994). Durante a década, os investimentos nessa área apresentaram uma tendência de crescimento. Entretanto, o maior aporte de recursos não foi acompanhado de um aprimoramento, ou racionalização da intervenção estatal. Por exemplo, chegaram a coexistir 4 programas distintos de distribuição gratuita de alimentos, apenas para o grupo de crianças menores de 7 anos, que absorviam 2/3 dos recursos financeiros (INAN/IBGE/IPEA, 1990). Várias comissões foram criadas para discutir os programas de alimentação e nutrição em curso e sempre chegavam às mesmas recomendações: evitar paralelismos e superposição dos programas, unificar as ações e os recursos, de forma a reduzir os gastos administrativos e aumentar sua eficiência e eficácia; privilegiar o grupo maternoinfantil, associando a distribuição de alimentos às ações de saúde; e, concentrar o atendimento na Região Nordeste. Essas recomendações não foram acatadas e, por fim, o que se tinha era um quadro de total confusão administrativa e um alerta de que 31% das crianças brasileiras menores de cinco anos ainda apresentavam desnutrição, sendo que 5% sofriam de desnutrição moderada ou grave (INAN, IBGE, IPEA, 1990). No início dos anos de 1990, com o governo de Fernando Collor de Melo, houve a extinção de quase todos os programas de alimentação e nutrição então existentes. Em 1992, os recursos para a área estavam reduzidos a 208 milhões de dólares. O Programa da Merenda Escolar foi limitado a um atendimento de cerca de 30 dias, quando a meta era de 180 dias/ano. Em uma ação pontual, durante alguns meses, entre 1991 e 1992, a CONAB distribuiu cestas de alimentos para cerca de 600 mil famílias carentes do Nordeste, vítimas da seca, por meio do Programa Gente da Gente (PELIANO; BEGHIN, 1994). 70 Na área do abastecimento popular, os programas foram sendo gradativamente reduzidos e a CONAB mantinha apenas o Programa Rede Somar de Abastecimento que foi perdendo força e terminou sendo oficialmente extinto em 1997. Naquela ocasião, sucessivas críticas aos programas de alimentação levaram a questionamentos sobre sua validade e a justificativas para a sua extinção (PELIANO; BEGHIN, 1994). Em 1992, o IPEA publicou uma análise dos programas de alimentação e nutrição, no qual era assinalado que o setor público, além de ter o dever de contribuir para a melhoria dos padrões alimentares por meio da distribuição gratuita ou subsidiada de alimentos, teria que observar o cumprimento das diretrizes recomendadas e das metas anunciadas. Além disso, deveria mobilizar os recursos financeiros e dar o suporte político necessário, o que claramente não vinha sendo feito (PELIANO; BEGHIN, 1994). Com o impeachment do presidente Collor, assume o governo Itamar Franco (1993-1994), que promove uma guinada na questão das políticas de alimentação e nutrição. De imediato, criou um grupo para redesenhar o antigo Programa do Leite do governo Sarney e iniciou um processo de descentralização da merenda escolar num acordo estabelecido com a Frente dos Prefeitos (PELIANO, 2010). Em 1993, foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), precedido pelo movimento social da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, iniciado em 1991, às margens do governo Collor (VALENTE, 1995). O CONSEA foi criado como órgão de aconselhamento da Presidência da República e compunha-se de Ministros e representantes da sociedade civil. A instituição do CONSEA introduziu a questão alimentar como tema prioritário na agenda nacional. A partir de então, as políticas de produção, comercialização, distribuição e consumo adotaram uma perspectiva de descentralização e diferenciação regional. Em paralelo, foram adotadas uma série de medidas emergenciais contra a fome. Várias ações governamentais de controle de qualidade e estímulos às práticas alimentares saudáveis foram implementadas e ampliaram a noção de segurança alimentar no início dos anos 1990 (VALENTE, 2004). A partir de 1994, após a eleição de Fernando Henrique Cardoso, foi instituída, como compromisso de campanha, a Comunidade Solidária, com foco mais centrado no combate à pobreza. Para conduzir a estratégia prevista, foi criada uma Secretaria Executiva, vinculada à Casa Civil, e um Conselho composto majoritariamente por 71 membros da sociedade civil, com a atribuição de estimular o diálogo entre governo e sociedade (VASCONCELOS, 2005). Havia a preocupação em se evitar o surgimento de uma estrutura autônoma, que operasse à margem da administração direta. A Secretaria Executiva não executaria quaisquer programas ou projetos, sendo seu papel o de capacitação dos agentes e de indução, articulação, acompanhamento e coordenação das políticas de combate à fome e à miséria implementadas por outras instituições. Caberia aos próprios ministérios setoriais, ou às entidades a eles vinculadas, a responsabilidade pela gestão técnica e financeira dos programas. Uma das principais justificativas para essas decisões foi a crença de que o rompimento do círculo viciosos da pobreza somente se daria com a adequada implementação de políticas sustentáveis ao longo do tempo (PELIANO; BEGHIN, 1994). Assim foi que a Comunidade Solidária incorporou todos os programas definidos como prioritários no CONSEA e ampliou o leque para incluir programas na área da saúde (combate à mortalidade infantil e saúde da família); da educação (reforço da merenda escolar, saúde dos estudantes, fornecimento de transporte e material didático); da moradia (habitação e saneamento); do desenvolvimento rural (apoio à agricultura familiar); e da geração de renda (qualificação profissional e crédito a micro empreendedores) (PELIANO; BEGHIN, 1994). No conjunto, foram selecionados 16 programas que fizeram parte da chamada Agenda Básica. No primeiro ano do programa, foram aplicados cerca de 1,1 bilhão de dólares, elevando-se para 2,6 bilhões, aproximadamente, no final dos primeiros quatro anos. Os programas de assistência alimentar foram todos ampliados e a estratégia adotada de integrar esforços em municípios mais pobres tem muita semelhança com o programa Territórios da Cidadania (VASCONCELOS, 2005). Em substituição ao CONSEA foi instituído o Conselho da Comunidade Solidária que, entre outras atividades, promoveu um amplo debate com organizações da sociedade civil, universidades, organismos internacionais e órgãos do governo sobre o tema da segurança alimentar, da reforma agrária, entre outros. Para registrar o processo de debates e encaminhamentos das propostas, foram publicados pelo IPEA os Cadernos Comunidade Solidária. No estudo que trata da segurança alimentar encontrava-se assinalado que a segurança alimentar e nutricional não se constituía em objetivo estratégico do governo. Entretanto, seria tratada em diferentes âmbitos nos quais se fazia presente a Comunidade Solidária. Ou seja, de diversas formas, por aproximações 72 sucessivas, a Segurança Alimentar e Nutricional iria progressivamente “contaminando” as políticas públicas (PELIANO; BEGHIN, 1994). Assim, verificam-se várias iniciativas diretamente voltadas para a questão da segurança alimentar e nutricional: a estratégia de combate à fome e à miséria implementada pela Secretaria Executiva da Comunidade Solidária; a constituição de um Comitê Setorial de Segurança Alimentar no âmbito do Conselho; a organização de um Comitê Técnico Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional; e a participação do Brasil no World Food Summit organizado pela FAO, em novembro de 1996, em Roma (VASCONCELOS, 2005). Muitos criticaram a substituição do CONSEA e o esvaziamento das políticas específicas de segurança alimentar nesse período. Mas, apesar de os temas da fome e da segurança alimentar terem sido diluídos na proposta de combate à pobreza, eles permaneceram presentes no leque das atividades do Programa. Em 1997/1998 foi criado, no âmbito da Secretaria Executiva, um grupo para a construção de um primeiro sistema de indicadores de segurança alimentar, com a participação do IPEA, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e da Ação Brasileira pela nutrição e Direitos Humanos (ABRANDH) (PELIANO; BEGHIN, 1994). Na área do trabalho foi consolidada a proposta do programa de microcrédito com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que havia sido concebida, em 1994, pelo CONSEA, iniciada na Comunidade Solidária e, posteriormente, fortalecida no governo Lula. Outro exemplo de aprendizagem e continuidade: o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que foi desenhado e iniciado pelo Ministério da Agricultura, em parceria com a Secretaria Executiva do Comunidade Solidária, posteriormente fortalecido no governo Lula (PELIANO, 2010). Entre 1990 e 1999, um contingente de 8,2 milhões de brasileiros havia saído da condição de indigentes e 10,1 milhões da condição de pobreza. Mas, sem dúvida, a principal política que contribuiu direta e indiretamente com a luta contra a fome e a pobreza foi a estabilização da moeda ocorrida em meados dos anos 1990, o que reforçaria a tese de que os ganhos mais efetivos em termos de melhoria da renda e da alimentação da população passam, fundamentalmente, pelas políticas da área econômica (VASCONCELOS, 2005). Não obstante, sob a ótica das políticas sociais de alimentação e nutrição, a década deixou um legado de experiências que também reforça a visão de que a melhoria 73 dos programas de alimentação e nutrição requer integração e convergência das diversas políticas públicas; descentralização da execução dos programas; eliminação de superposições; mobilização, participação e controle social. Isto porque a fome se confunde com a pobreza. No entanto, a fome é a manifestação mais crítica da pobreza e causa problemas graves de desnutrição, com impactos nos índices de mortalidade infantil, na longevidade e na aquisição de doenças crônicas por parte da população. Ao se combater a pobreza por meio de programas de transferência de rendas uma parte do caminho já estaria percorrido, mas alguns críticos dessa abordagem afirmam que o melhor atalho para reduzir o número de famintos seria a busca de instrumentos de política que incidam diretamente sobre as questões de segurança alimentar (BELIK, 2006). No campo dos programas federais muitos avanços foram observados, tanto na redução das superposições quanto na descentralização e convergência de esforços intersetoriais. Assim é que foi concentrado no Ministério da Saúde o atendimento aos grupos da população em risco nutricional, universalizando o acesso e acoplando o repasse de recursos para os municípios às transferências do Sistema Único de Saúde (SUS) (VASCONCELOS, 2005). O combate à desnutrição, efetuado no âmbito local, foi submetido ao controle dos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde. O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação (FNDE), descentralizou o programa da merenda escolar até o nível da transferência direta de recursos para as escolas que eram controladas pelos Conselhos da Merenda Escolar, dos quais participavam pais de alunos (VASCONCELOS, 2005). No Ministério da Agricultura, a CONAB estimulou a integração da assistência alimentar às famílias de baixa renda, nos municípios mais pobres, às demais ações de caráter social. As Comissões Comunitárias, exigidas pelo programa de distribuição de cestas básicas, se constituíram em um espaço de parceria entre o governo local e as comunidades para a implantação de programas inovadores. O uso dos estoques governamentais de alimentos e a compra de produtos diretamente às regiões produtoras, em caráter incipiente, renovaram as esperanças de se utilizar os programas de alimentação como instrumento de apoio ao setor agrícola (VASCONCELOS, 2005). Avaliação realizada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), nos municípios mais pobres atendidos pela Comunidade Solidária, apontou, ainda, avanços na convergência e integração intersetorial de programas, especialmente 74 entre as áreas de alimentação, saúde e educação. Por exemplo: distribuição de cestas básicas associada à manutenção das crianças na escola e à vacinação infantil em dia. É a essa integração que se creditou, em grande parte, os resultados obtidos, por exemplo, nos municípios da Comunidade Solidária na área de nutrição: uma queda de 54% das internações e de 68% nos óbitos de crianças menores de 5 anos por deficiências nutricionais, no período 1994/1997 (BELIK, 2006). A década de 1990 se encerrou testemunhando várias das dificuldades tradicionais, entre elas, a falta de prioridade política efetiva, recursos insuficientes para garantir um atendimento mais adequado à população carente, descontinuidade de programas em andamento de uma política mais agressiva na área do abastecimento popular. Apesar dos avanços, persistia a falta de flexibilidade administrativa para atender às demandas das comunidades, desrespeito às diferenças regionais e locais, além de dificuldades de promover o monitoramento e a avaliação de resultados e um efetivo controle e participação das comunidades (PELIANO, 2010. p.39). De fato, alguns autores apresentam avaliação crítica em relação ao período que corresponde aos governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2002) no tocante às políticas públicas sociais, em especial as de combate à fome. Rodrigo Godinho afirma que houve ausência de referencial e de parâmetros unificados às políticas públicas de combate à fome, considerando que o Conselho da Comunidade Solidária reorientou as políticas sociais, reduzindo a ênfase no conceito de segurança alimentar e nutricional e focando-se no combate à pobreza (GODINHO, 2007). Para Flávio Valente (2004, p. 2;6), a partir de então, foi adotada uma “zelosa resistência dos controladores da política econômica”. Valente considera o Programa Comunidade Solidária um “risco de concepção e de possível retrocesso no trato da questão alimentar” Mas o que teria acontecido? Poucos dias após a posse de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, o CONSEA foi extinto, sendo substituído pelo Conselho Consultivo da Comunidade Solidária que passaria a atuar prioritariamente em ações pontuais contra pobreza. Além disso, observou-se uma fragmentação das políticas públicas de combate à fome, havendo inclusive a extinção do INAN, em 1997. Portanto, a extinção do CONSEA e a criação do Conselho Consultivo da Comunidade Solidária acarretaram a indefinição da Política Nacional de Segurança Alimentar, afetando amplos setores da sociedade como os pequenos e médios produtores, deixando, assim, de cumprir as diretrizes básicas anteriormente formuladas. 75 A proposta de Política Nacional de Segurança Alimentar elaborada pelo CONSEA defendia que esse tema deveria ser um dos eixos centrais de uma estratégia de desenvolvimento humano sustentável, permeando as diferentes políticas econômicas e sociais. A sua extinção significou um retrocesso que só não foi agravado porque houve a manutenção do programa de distribuição de cestas básicas e, a partir do segundo mandato, FHC promoveu algumas mudanças institucionais (HIRAI & ANJOS, 2007). O papel de coordenar e integrar as ações de combate à pobreza em áreas de extrema vulnerabilidade passou do Comunidade Solidária para o Projeto Alvorada. O Programa Comunidade Solidária passou a ter como objetivo induzir experiências de desenvolvimento sustentável, por meio do Comunidade Ativa. Um marco desse período foi a aprovação, em 1999, da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) por parte do Ministério da Saúde, o que na verdade representava mais uma contribuição setorial da saúde ao problema da fome e da desnutrição do que de fato uma política nacional (GODINHO, 2007). Segundo Belik, Silva e Takagi, o governo adotou então uma nova estratégia: a de transferir gradativamente as famílias beneficiadas por algum programa social anterior para os novos programas criados em 2001, como o Bolsa-Alimentação e o BolsaEscola, os quais foram implantados pelo Ministério da Educação com recursos provenientes do Fundo de Combate à Fome (BELIK; SILVA; TAKAGI, 2001, p. 23). Como observa Rodrigo Godinho (2007), o período que corresponde ao governo FHC não apresenta indícios de que o desenvolvimento no âmbito internacional, em termos de debate e ações, possam ter impulsionado as políticas domésticas de combate à fome. Os impactos da participação nos principais eventos internacionais do período (CMA de 1996 e CMA+5 de 2002) foram relativamente modestos no Brasil (2007, p. 249). Por pressão da sociedade civil o tema voltou à agenda política nacional de forma gradual. No entanto, a crise social no final do segundo mandato FHC, ensejou o debate da campanha eleitoral de 2002. Segundo Valente (2004, p. 2), o sucesso eleitoral de Lula teria sido resultante da inépcia política da gestão Cardoso em responder efetivamente “à questão da fome, da miséria e da desnutrição, e a do associado e consequente profundo agravamento da violência e da insegurança de toda a população”. Em que pese todos os avanços mencionados, o Brasil entrou no século 21 com um contingente elevado de 23 milhões de pessoas que ainda não possuíam renda para garantir uma alimentação adequada (FAO, 2012). 76 Em 2003, Lula criou o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA), seguido pela reativação do CONSEA. Em 2004, a II Conferência Nacional de Segurança Alimentar foi convocada, com o objetivo de propor diretrizes para o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Além de avaliar ações e experiências, também foi deliberado sobre a lei que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA, s/d). Os programas de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), que sucedeu ao extinto MESA, foram iniciativas do programa denominado de Fome Zero, que buscava erradicar a fome e suas consequências imediatas para o conjunto da população mais pobre. Na prática, foram ações e programas que seguiriam os preceitos da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, envolvendo a atuação dos governos estaduais, ministérios e sociedade civil em geral (CONSEA, 2007). No campo das políticas governamentais, foram criados, retomados, aprimorados ou fortalecidos diversos programas considerados, historicamente, como fundamentais para uma política de alimentação e nutrição, a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), fortemente defendido por aqueles envolvidos com a proposta de associar os programas públicos de abastecimento alimentar com programas de apoio à agricultura familiar. Mais um passo nessa linha foi a aprovação, no âmbito da merenda escolar, do que viria a ser o maior e mais antigo programa de alimentação do país, de uma lei que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo governo federal para a compra de produtos da agricultura familiar, com prioridade para assentamentos rurais, comunidades indígenas, tradicionais e quilombolas (PELIANO, 2010. p.39). Em suma, os programas executados pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) são: acesso à alimentação e à educação para a alimentação saudável; gestão da política de segurança alimentar e nutricional; construção de cisternas; programa de aquisição de alimentos; programa do leite; restaurante popular; cozinha comunitária e popular; banco de alimentos e colheita urbana; hortas comunitárias; consórcio de segurança alimentar e desenvolvimento local (CONSAD); educação alimentar; apoio às comunidades quilombolas; apoio às comunidades indígenas e atendimento emergencial. Todos esses programas contemplam distintos projetos, sendo que o Programa Fome Zero possui um conjunto de 25 políticas 77 e 60 programas que atendem a duas dimensões: estruturais e emergenciais (CONSEA, 2007). Em julho de 2007, foi realizada a III CNSAN, com o objetivo de propor diretrizes e prioridades da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), a implementação e normatização do SISAN e também a incorporação da Segurança Alimentar e Nutricional nos eixos estratégicos de desenvolvimento do país e da sua inserção internacional (CONSEA, s/d). Como visto, a partir de 2003 foram adotados novos princípios por meio da reorientação e da especialização das políticas sociais, na medida em que o governo procurou definir o combate à fome e à pobreza como prioridade da agenda política nacional. O que o passado e o presente nos ensinam é que o sucesso de iniciativas voltadas para garantir a segurança alimentar das populações pobres depende de o tema estar contemplado na estratégia de desenvolvimento do país. Combater a fome significa, acima de tudo, combater as causas do subdesenvolvimento (PELIANO, 2010, p. 26). A análise dos programas aponta importantes mudanças, sobretudo depois da metade dos anos 1980. A partir desse período, a política de combate à fome no país transitou do planejamento autoritário ao participativo; da centralização à descentralização administrativa; da universalização à focalização de benefícios; do controle estatal ao social; da distribuição de alimentos à transferência de renda em dinheiro; do financiamento público à parceria entre público e privado, entre sociedade civil e Estado. A análise da política de alimentação e nutrição no Brasil, ao longo da trajetória examinada, aponta não apenas as mudanças, rupturas, retrocessos e avanços ocorridos na forma de concepção, orientação, gerenciamento e implementação da política e dos programas de combate à fome. Além dessas alterações, identificam-se aquelas que se processaram na conformação do tecido social e na forma e conteúdo do Estado brasileiro. Nesse sentido, também é possível afirmar que ao longo do processo de construção, desconstrução e/ou reconstrução da política social de alimentação e nutrição acompanharam-se, de forma articulada, as mudanças ocorridas ao longo desses 70 anos de modernização da sociedade brasileira. 78 O informe final da 30ª Conferência Regional da FAO para a América Latina e Caribe, em abril de 2008, afirmou que, entre 2003 e 2007, a América Latina e Caribe experimentaram um rápido crescimento econômico generalizado. Esse crescimento influenciou na redução de quase um terço da população que vive em extrema pobreza na região. O número de pessoas subnutridas caiu em 7,3 milhões, mas a região ainda está longe da cumprir a Meta nº 1 da Cúpula do Milênio, que é a redução pela metade do número de pessoas subnutridas até 2015. Em 2008, cerca de 52,1 milhões, 10% da população regional, ainda passava fome (FAO, 2008). Pode-se observar que, no Brasil, o processo de institucionalização das políticas públicas voltadas à segurança alimentar evoluiu nas últimas décadas, sendo marcado por erros e acertos nas abordagens ao tema. Considera-se, nesse sentido, que o Brasil conseguiu desenvolver uma expertise no combate à pobreza e na construção da segurança alimentar, obtendo como resultados concretos uma melhor distribuição de renda e a diminuição do contingente populacional classificado como pobre e vulnerável às mazelas da fome. Se por um lado, o Brasil ainda está longe de ser considerado um país igualitário e com um nível de segurança alimentar modelar, por outro, construiu uma imagem internacional positiva de nação, cujas ações tornaram-se exemplares para outros países e regiões do mundo. E é justamente esta expertise que outros países, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, procuram quando estabelecem parcerias com o Brasil na área de combate à fome e à pobreza, assunto que será trabalhado no próximo capítulo. Antes, contudo, vale a pena compreender de maneira mais detalhada como o CONSEA passou a refletir ideias e interesses na política externa brasileira. 2.3. O PAPEL DO CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR (CONSEA) A formulação das diretrizes e princípios nacionais sobre a segurança alimentar é elaborada no âmbito do CONSEA, órgão de aconselhamento da Presidência da República. Em 2004, o CONSEA manifestou seu interesse em participar das decisões do governo brasileiro em relação às negociações comerciais internacionais que 79 poderiam gerar impactos na segurança alimentar e nutricional do Brasil, 15 no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e da União Europeia, a despeito de eventuais repercussões negativas sobre a segurança alimentar e nutricional no ambiente nacional. Além disso, o CONSEA tem sido convidado a participar de missões internacionais de cooperação na área de agricultura e segurança alimentar, apoiando, por exemplo, o Brasil na Missão de Estabilização das Nações Unidas para o Haiti (MINUSTAH). Dessa forma, a preocupação com a segurança alimentar passaria a compor a tomada de decisão sobre a inserção do Brasil no meio econômico internacional. Saraiva afirma que “a política externa do Brasil está deixando de ser mero assunto de Estado para ser também uma matéria da nação” (2002, p. 6). Se considerarmos que, por meio do CONSEA, as mais variadas vozes da sociedade brasileira passam a ser levadas em consideração, quando da formulação das decisões em matérias de negociações internacionais, então, a participação do CONSEA pode ser um exemplo dessa evolução da política externa brasileira 16. Em maio de 2005, o CONSEA elaborou documento que teve como referência as deliberações aprovadas na II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em Olinda (PE), em Março de 2004. Esse documento, apresentado à Presidência da República, continha recomendações sobre o modelo de inserção do conceito de segurança alimentar nas negociações e acordos dos quais o Brasil participa ou é signatário. Tais recomendações serviriam de parâmetro para 15 Em outubro de 2004, a plenária do CONSEA abordou a agenda internacional de Segurança Alimentar e Nutricional com as presenças do Presidente Lula, do Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias de Sousa, do Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e do Secretário Geral da Presidência da República, Luiz Soares Dulci. Naquele momento, o CONSEA foi incluído entre os participantes das consultas realizadas pelo Governo Brasileiro junto a diversos setores da sociedade brasileira a propósito das negociações econômicas internacionais. CONSEA. “Considerações de segurança alimentar e nutricional nas negociações internacionais integradas pelo Brasil”. Proposta da Plenária do CONSEA à Presidência da República. Maio de 2005. Disponível em: www.presidencia.gov.br/CONSEA. Acessado no dia 20 de abril de 2010. 16 Neste ponto cabe uma consideração em relação à composição e função do CONSEA. O Conselho é composto por representantes da sociedade civil, do governo federal e também por instituições que participam como observadores. O Consea serve como instrumento de articulação entre governo e sociedade civil na proposição de diretrizes para as ações na área da alimentação e nutrição. O Conselho tem caráter consultivo e funciona como uma assessoria à Presidência da República na formulação de políticas e na definição de orientações para que o país garanta o direito humano à alimentação. Pela sua natureza consultiva e de assessoramento, o Conselho não é, nem pode ser, gestor nem executor de programas, projetos, políticas ou sistemas (CONSEA, 2013). Para verificar as instituições que possuem representação no Conselho, ver APÊNDICE A, p.143. 80 negociações que, de alguma forma, possuíssem impacto na segurança alimentar nacional17. A partir de então, a dimensão internacional passava a ser parte integrante da equação de combate à fome e à pobreza, ao incorporar a questão da soberania à noção de segurança alimentar e nutricional. As recomendações de política doméstica à política externa brasileira implicariam a atenção aos seguintes elementos: a) valorização das dimensões social, ambiental e cultural da produção própria de alimentos; b) ampliação do acesso pela população a alimentos de qualidade, de modo coordenado com o apoio às formas equitativas e sustentáveis de produção agroalimentar; e c) estimulação da diversidade de hábitos alimentares, paralelamente à promoção de práticas alimentares saudáveis. Dessa forma, a inserção internacional do Brasil passou a levar em conta o princípio da soberania alimentar, prevista pelo art. 5° da Lei Orgânica de Segurança Alimentar: “a consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos” (BRASIL, 2006, art. 5°). O princípio da soberania alimentar significa que cada país tem o direito de definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantissem o direito à alimentação para toda a população, respeitando as múltiplas características culturais dos povos (CAISAN, 2009. p.47). Segundo a recomendação do CONSEA à Presidência da República, As estratégias de enfrentamento da problemática alimentar devem considerar o contexto de sociedades e economias mais abertas ao exterior, porém, sem comprometer o exercício soberano de políticas de apoio à produção e de abastecimento alimentar que se sobrepõem à lógica mercantil estrita. Reconhecer a importância do comércio internacional não implica desconhecer o papel estratégico em termos econômicos, sociais, culturais e ambientais cumprido pela produção doméstica de alimentos (CONSEA, 2005). No âmbito das negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC), o CONSEA (2005) sugeria, ainda, que o Brasil constituísse disciplinas para o que foi estabelecido no acordo-quadro de Julho de 2004 da OMC em relação à categoria dos “produtos especiais”. Foi acordado que os países em desenvolvimento teriam 17 “Considerações de segurança alimentar e nutricional nas negociações internacionais integradas pelo Brasil”. Proposta da Plenária do CONSEA à Presidência da República. Maio de 2005. Disponível em: www.presidencia.gov.br/CONSEA. Acessado no dia 20 de abril de 2010. 81 flexibilidade para designar um apropriado número de produtos como “produtos especiais”, baseados no critério de segurança alimentar, defesa dos meios de subsistência e necessidades de desenvolvimento rural. O CONSEA recomendava, também, a operacionalização dos mecanismos de “salvaguarda especial” para uso dos países em desenvolvimento. Segundo o CONSEA (2005), enquadrar-se-iam na condição de produtos especiais aqueles produtos fundamentais para o consumo alimentar da maioria da população brasileira e que, ao mesmo tempo, são relevantes como fonte de renda para a agricultura familiar e têm relação com programas de desenvolvimento rural. A seleção dos produtos especiais deveria levar em conta a circunstância do comércio internacional dos produtos em questão (participação comercial brasileira, existência de um mercado internacional constituído, presença de subsídios, entre outros fatores). Resumindo, o CONSEA elaborou nesse mesmo documento três pilares estratégicos da atuação do Brasil nas rodadas de negociação da OMC: Primeiro pilar, referente ao “acesso a mercado”, concernia em implementar disciplinas para definição de critérios e identificação dos produtos especiais; definir critérios e listas dos produtos tropicais; e estabelecer disciplinas para o mecanismo de salvaguardas especiais para países em desenvolvimento. Segundo pilar, sobre subsídios às exportações, seguir com a demanda pelo fim imediato dos subsídios às exportações e todas as outras medidas equivalentes, com vistas à proteção da renda dos agricultores familiares. Terceiro pilar, de apoio interno, em duas vertentes: a) Caixa Verde: sugerir alterações que permitam aquisições subsidiadas de alimentos para efeito de segurança alimentar, desde que adquiridos de agricultores familiares em países em desenvolvimento; e b) Caixa Amarela: assegurar a manutenção do limite para apoios mínimos (cláusula de minimis, art. 6.4) e do atual tratamento diferenciado para países em desenvolvimento referente a políticas de crédito em investimento e em custeio (art.6.2). As negociações no âmbito da OMC são as que manifestam maiores preocupações no âmbito do CONSEA, que considera as decisões tomadas nesta organização de alto teor de reflexos diretos nas políticas públicas de segurança alimentar no Brasil. Assim sendo, o Conselho procurou se posicionar e emitir proposições quando as reuniões da OMC estavam em fase preparatória. 82 Dessa forma, em 2008, ao mesmo tempo em que a crise mundial dos alimentos parecia se disseminar de forma a atingir o Brasil, foi convocada a Reunião Ministerial da OMC na qual se pretendia definir os termos centrais do acordo da Rodada Doha de negociações. O CONSEA, então, emitiu novas proposições; segundo o então presidente do Conselho, Renato Maluf, “específicas e fundamentais” (2008), que deveriam ser assumidas pelo governo brasileiro. As proposições18 do Conselho eram de que: a) O regramento do novo acordo sobre agricultura da OMC deveria isentar completamente de compromissos de redução ou limites de gastos as compras públicas de alimentos oriundos da agricultura familiar, tais como aquelas efetuadas no âmbito do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) ou para a formação de estoques estratégicos. Nesse sentido, acreditava o CONSEA que não deveriam ser estabelecidos limites em relação ao preço diferenciado que poderia ser pago pelo produto de agricultura familiar. b) Além disso, o mandato negociador da Rodada Doha estabelecia que os países em desenvolvimento teriam direito a designar um número apropriado de itens, como produtos especiais, baseados em critérios de segurança alimentar, defesa dos meios de subsistência e necessidades de desenvolvimento rural. Assim, o CONSEA julgava necessário proteger os produtos essenciais do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional da população brasileira na negociação da OMC. c) Por fim, o CONSEA entendia que deveria ser garantida, no acordo na OMC, a instituição de Mecanismos de Salvaguarda Especial que fossem realmente capazes de lidar com os surtos de importação, os quais desestruturam a produção interna dos países em desenvolvimento. Para tanto, era fundamental que não houvesse restrições, como a vinculação da tarifa adicional do instrumento a um teto máximo equivalente à tarifa de importação consolidada pelo país na Rodada Uruguai. Como visto, o CONSEA passou a procurar participar ativamente na formulação das posições a serem adotadas pelo Brasil nas negociações internacionais que pudessem influenciar direta ou indiretamente na segurança alimentar nacional. Sendo este um dos canais mais evidentes da participação da sociedade brasileira nas escolhas internacionais do Brasil. 18 As proposições encontram-se na “Exposição de Motivos nº 006-2008/CONSEA”, elaborada em plenária no dia 02 de julho de 2008 e enviada pelo presidente do CONSEA, Renato Maluf, ao Presidente Lula, no dia 04 de julho de 2008. Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/consea/internacional/documentos. Acessado em 20 de outubro de 2011. 83 Pode-se observar que as diretrizes formuladas pelo CONSEA em 2008 foram similares às de 2005, significando que existe uma continuidade nas proposições formuladas no âmbito do Conselho, e também que existem dificuldades inerentes ao processo negociador, pois a demandas apresentadas em 2005 ainda se perpetuam nas negociações de 2008. De fato, as negociações no âmbito da OMC são lentas, já que os interesses dos países em desenvolvimento são diretamente conflitivos com os interesses dos países desenvolvidos. Ilustra isso, o trabalho do Grupo dos 20, coalizão de países em desenvolvimento liderado pelo Brasil, constituído em 2003, nas reuniões preparatórias para a V Conferência Ministerial da OMC realizada em Cancun, que tem demonstrado forte peso nas negociações dentro da OMC. O grupo concentra sua atuação em agricultura, o tema central da Agenda de Desenvolvimento de Doha. Segundo Vizentini (2006), desde a Conferência Ministerial anterior (Doha, em 2001), os países membros da OMC tentavam, sem sucesso, chegar a algum acordo a respeito da agenda decidida na capital do Qatar, cujo eixo era precisamente o desenvolvimento e a questão agrícola. Entre 2007 e 2008, as crises alimentar e econômica se sobrepuseram, passando a ocupar grande espaço nos debates do Conselho. Como resultado, elaborou-se um diagnóstico19 apontando para a natureza sistêmica da crise e a importância do enfrentamento do tema de forma global, inclusive em razão da repercussão internacional das decisões nacionais. Reconhecendo a intersetorialidade da segurança alimentar no contexto da crise alimentar e energética, o CONSEA também elaborou, em 2008, documento intitulado “Modelo agroalimentar e a produção de agrocombustíveis: questões e impactos na Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional”, para aconselhamento da presidência (CONSEA, 2008). Ademais, em 2008, o CONSEA emitiu documento à presidência e ao MRE que seria a agenda de atuação, contendo detalhes sobre os eixos prioritários a serem trabalhados pelo Conselho. A atuação internacional do CONSEA desdobrava-se em três eixos de ação: a) integração regional com foco no MERCOSUL; b) regimes internacionais e; c) cooperação Sul-Sul e atuação junto aos organismos multilaterais. 19 Documento intitulado “A segurança alimentar e nutricional com base no respeito à soberania alimentar e na promoção do direito humano à alimentação no âmbito internacional: proposta de agenda de atuação para o CONSEA e o Governo brasileiro”. Documento debatido e aprovado na plenária de 10 de dezembro de 2008. Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/consea/internacional/documentos. Acessado em 20 de outubro de 2011. 84 Dentro do primeiro, que tem como foco o MERCOSUL, o CONSEA vem participando da criação de instâncias nacionais e regional de participação social na área de segurança alimentar nos Estados Membros e Associados ao bloco. Para isso, o Conselho promoveu a Reunião de Ministros e Autoridades do Desenvolvimento Social do MERCOSUL e Estados Associados (RMADS) e realizou o primeiro Seminário sobre SAN no MERCOSUL em Brasília, em 2008, reunindo representantes dos governos e também do CONSEA, tendo gerado um conjunto de propostas de diretrizes na área de SAN a serem consideradas no Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL. O Conselho também promoveu e participou da Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do MERCOSUL (REAF), com o objetivo de fortalecer a integração regional por meio da promoção de políticas públicas para o setor e facilitação do comércio dos produtos da agricultura familiar (CONSEA, 2008). No segundo eixo, que trata dos regimes internacionais, o CONSEA tem englobado o conjunto de questões estratégicas para a SAN relacionadas com as negociações, que geram acordos e normas internacionais. Para o Conselho, esses espaços são fundamentais para garantir ao Brasil plena soberania na formulação dos instrumentos que possam viabilizar sua política de segurança alimentar e combate à pobreza. Nesses termos, o CONSEA propôs a adoção das seguintes medidas específicas: a) A consolidação de uma Lista Nacional de Produtos de Segurança Alimentar, os quais devem receber tratamento especial e diferenciado frente às demandas de abertura comercial no âmbito dos acordos comerciais internacionais negociados pelo Brasil, sendo esses produtos efetivamente excluídos da negociação comercial; b) O estabelecimento, no âmbito da Organização Mundial do Comércio - OMC, de um mecanismo de salvaguarda especial para os produtos produzidos pela agricultura familiar e importantes para a segurança alimentar do país. Tal mecanismo teria o objetivo de conter os surtos de importação ou acentuadas quedas de preço; c) A isenção completa das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e de desenvolvimento rural do Brasil de compromissos de limitação e/ou redução, no âmbito dos acordos econômico-comerciais internacionais. Destacando-se, especialmente, a necessidade de preservação plena, frente aos tratados, da efetiva capacidade do Estado brasileiro de implementação das ações relativas à reforma agrária, aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar - PAA, seguro agrícola e crédito diferenciado aos pequenos agricultores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Além da prerrogativa soberana do Estado de estabelecer regulamentações à aquisição de terras rurais por estrangeiros, 85 em conformidade com os seus objetivos nacionais, assim como de poder definir a forma de indenização pela desapropriação de terras rurais para fins de reforma agrária (CONSEA, 2008). É importante observarmos que as recomendações feitas pelo Consea, muitas vezes, não encontram correspondência com as ações do governo brasileiro na realidade. As ideias debatidas no âmbito do Conselho são, justamente, as demandas dos grupos organizados da sociedade civil que lá estão representados. Por isso, o ideal de “reforma agrária”, de “seguro agrícola e crédito diferenciado aos pequenos agricultores”, de “regulamentações à aquisição de terras rurais por estrangeiros”, por exemplo, em um primeiro momento, pode parecer apenas propaganda de governo, mas não é. Na verdade, esses ideais são os temas que essas representações sociais querem e buscam inserir na agenda governamental, principalmente no ambiente doméstico, mas também em relação a qualquer compromisso que o Brasil firme internacionalmente. No terceiro eixo de prioridades determinados pelo CONSEA, apresenta-se a Cooperação Sul-Sul e a atuação junto aos organismos multilaterais, que destaca que além da atuação prioritária junto ao MERCOSUL e à América Latina e Caribe, as iniciativas em outras regiões do mundo deveriam privilegiar a cooperação Sul-Sul, em especial, com a África e com os países em desenvolvimento integrantes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CONSEA, 2008).20 Sobre a atuação junto à FAO, o CONSEA vê com interesse o fortalecimento do Comitê de Segurança Alimentar Mundial sediado na FAO para que cumpra seu mandato de fórum mundial sobre segurança alimentar e nutricional dos países membros, assegurando espaços efetivos de participação de representações da sociedade civil desses países. Por tanto, o CONSEA solicitou ao Ministério das Relações Exteriores a continuidade da defesa da participação da sociedade civil no referido Comitê no âmbito da FAO (CONSEA, 2008). Como representante do Brasil na Aliança Internacional contra a Fome (IAAH), o CONSEA atuou no sentido de ampliar o diálogo com outros países membros para fortalecer a troca de informações e levar a experiência brasileira, especialmente em relação ao papel da sociedade civil (CONSEA, 2008). No tocante à assistência humanitária internacional e às ações pós-emergenciais de reestruturação dos países atendidos, o CONSEA considera que o modelo do 20 A CPLP foi criada por ocasião da Conferência de Chefes de Estado e de Governo realizada em Lisboa no ano de 1996, conferindo institucionalidade e estreitamento às relações entre os países de língua portuguesa. 86 Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) representa importante contribuição para o mundo. Nesse sentido, propôs ao governo brasileiro a defesa desse e de outros modelos de políticas públicas na Junta Executiva do Programa Mundial de Alimentos - PMA. O CONSEA propôs-se ainda a analisar a iniciativa “Purchase for Progress”, lançada pelo PMA em setembro de 2008, bastante semelhante ao PAA em sua concepção (CONSEA, 2008). O CONSEA tem exercido papel importante no sentido de levar à Presidência da República e ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) demandas que visam defender os interesses nacionais do ponto de vista da segurança alimentar, subsidiando, assim, determinadas posições adotadas pelo Brasil nas negociações internacionais. Segundo Amado Cervo, “a penetração de agentes, ou seja, de forças sociais, no processo decisório e na negociação, que existe obviamente em determinado grau, contribui para adequá-los aos fins da política exterior” (2008, p, 11). Dessa forma, ao se pensar em política externa brasileira de segurança alimentar é necessário levar em consideração a história do tema no meio doméstico, as experiências bem e mal sucedidas, o know how adquirido no âmbito de políticas públicas, o papel da sociedade brasileira em determinar a inserção do combate à fome na agenda política nacional e sua consequente institucionalização. Além disso, o fato de o CONSEA poder emitir orientações e recomendações para a Presidência da República, tanto sobre os assuntos internos quanto para as matérias de negociações internacionais que possam interferir, de alguma forma, na segurança alimentar nacional, é inovador e se consolida como um canal de diálogo entre governo e sociedade, se traduzindo na consolidação das práticas democráticas no país. Todos esses elementos são essenciais para compreender como a política externa brasileira de segurança alimentar foi moldada desde os anos 1980, pela transformação do quadro político interno, em especial o processo de redemocratização, bem como pelas modificações no caráter global da política entre as nações. Todos esses processos influenciaram diretamente na inserção do tema nas estratégias de política externa brasileira e também na forma como o Brasil se posiciona internacionalmente nas temáticas sociais, em especial, o combate à fome e à pobreza. 87 CAPÍTULO 3 A SEGURANÇA ALIMENTAR NA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA O terceiro capítulo tem o objetivo de descrever os canais pelos quais a política externa brasileira age no combate à fome e à pobreza, fornecendo um mapeamento das ações internacionais do Brasil ao longo do governo Lula (2003-2010). Também será dado destaque à atuação da Representação do Brasil junto à FAO, a qual é percebida pela chancelaria brasileira como principal lócus internacional da área de segurança alimentar. Além disso, em um último tópico, serão abordados as alianças internacionais, as parcerias bilaterais e coalizões que foram estabelecidas com o objetivo de enfrentar a insegurança alimentar global. 3.1. TRÊS DIMENSÕES DA SEGURANÇA ALIMENTAR NA PEB (2003-2010) Entende-se que os estudos de política externa são englobados pelos estudos de relações internacionais, sendo este último um conceito mais amplo. A vida internacional é complexa e se desenvolve pela interação de diversos atores, cada um com natureza própria; de diversos temas, cada um com suas especificidades; de diversas variáveis, cada uma com sua própria intensidade. O Estado, como ator das relações internacionais, externaliza-se por meio de seu corpo diplomático que, por sua vez, obedece às diretrizes e princípios estabelecidos pela política externa. Nas palavras de Amado Cervo: A política exterior fornece o conteúdo da diplomacia, sendo responsável por seus erros e acertos (...). Cabe à política exterior agregar os interesses, os valores e as pretendidas regras do ordenamento global, da integração ou relação bilateral, isto é, prover o conteúdo da diplomacia desde uma perspectiva interna, quer seja nacional, regional, quer seja universal (CERVO, 2008, p. 8). 88 A política externa brasileira possui uma forte característica de tradição. Cinco princípios do acumulado histórico da diplomacia brasileira têm norteado a ação externa do Brasil ao longo dos últimos séculos: o Realismo, o Pragmatismo, o Jurisdicismo, o Pacifismo e o Universalismo (CERVO, 2008). O realismo significa uma visão imparcial e desideologizada das relações internacionais. Os dois melhores exemplos da história das relações internacionais do Brasil são a 2ª Guerra Mundial (equidistância pragmática) e a Guerra Fria (período pósCastelo Branco). O pragmatismo caracteriza-se pelas iniciativas de caráter prático que visam maximizar os ganhos do país. O jurisdicismo versa o total respeito aos Tratados e Acordos internacionais. O pacifismo diz respeito à não utilização de meios violentos para a consecução de objetivos internacionais. Além disso, preza pelo respeito ao princípio da autodeterminação e pela solução pacífica de controvérsias. O universalismo é a atuação abrangente e não restritiva nas relações internacionais, o que significa a liberdade de escolha e a determinação da natureza e dimensão dos contatos internacionais do país (CERVO, 2008). A cristalização desses princípios na prática da política externa são elementos importantes para o entendimento das ações da PEB no período em voga neste estudo. Além disso, a tradição confere ao Brasil uma imagem de um Estado estável e com posições coerentes, nas palavras de Barros: A pendularidade, o recurso a decisões de impacto, as flutuações ideológicas e o oportunismo diplomático tendem a corroer a confiança junto aos demais países e a minar a credibilidade externa. Um dos patrimônios do Itamaraty e da diplomacia brasileira é o legado (Rio Branco) de uma atuação fundada em valores permanentes, que conferem regularidade ao comportamento externo do País e, portanto, à sua própria respeitabilidade como interlocutor de seus parceiros (BARROS, 1996). O caráter duradouro e, às vezes, até permanente desses princípios exercem, segundo Amado Cervo, duas funções: a) dão previsibilidade à ação externa aos observadores internos e externos; b) moldam a conduta externa dos governos, impondose às sucessões e às mudanças de regime político (2008, p. 26). Dessa forma, os novos temas de política externa, como o combate à fome e à pobreza, que se conformam como desafios políticos internacionais do século 21, são guiados e incorporados à prática política, alicerçados em princípios já consolidados ao longo da história das relações internacionais do Brasil. 89 Em 2003, foi a criada a Coordenação Geral de Apoio às Ações de Combate à Fome (CGFOME) no Ministério das Relações Exteriores, como uma maneira de internalizar as forças sociais na diplomacia e de fazer representar e institucionalizar a vontade política de inserir o tema do combate à fome como uma nova linha de ação internacional do Brasil (MRE, 2012). A CGFOME tem promovido internacionalmente a estratégia de dupla tração, em consonância com o que estipula o programa Fome Zero internamente: ações emergenciais para o combate à fome, e políticas públicas como o fomento à agricultura familiar e a estruturação de programas públicos de grande abrangência como aqueles de alimentação escolar. Por meio da vertente estrutural, busca promover o modelo de segurança alimentar e nutricional adotado pelos programas socioeconômicos do Brasil (desenvolvimento econômico, crédito rural, infraestrutura, assistência técnica, seguro, armazenamento, política de preços mínimos, comercialização, matriz agroecológica, entre outras), com participação social em sua formulação, execução, acompanhamento e avaliação (MRE, 2012). O Ministério das Relações Exteriores, por meio da CGFOME, promove reuniões do Grupo de Trabalho Interministerial para a FAO (GTI-FAO), encabeçado pelo MRE/CGFOME e formado por instituições governamentais e representantes da sociedade civil, nas quais são feitas a coordenação e a preparação da delegação brasileira para as Sessões do Comitê de Segurança Alimentar e Conferências da FAO. O GTI-FAO também constitui espaço de discussão de temas afins e de compartilhamento de experiências que as diversas instituições brasileiras vêm desenvolvendo junto à Organização nas áreas de segurança alimentar, desenvolvimento agrário, alimentação escolar, meio ambiente, pesca e desenvolvimento sustentável (MRE, 2012). O Brasil tem sido considerado um dos países mais atuantes no combate à fome no mundo na última década. A chegada do presidente Lula à presidência, no ano de 2003, é um marco da inserção do tema na política externa brasileira. O combate à fome e o desenvolvimento social passaram a ser bandeira da atuação do Brasil no meio internacional. Como vimos anteriormente, não foi por acaso que isso aconteceu. Essa inserção é o reflexo de décadas de tentativas de inserir o combate à fome nas preocupações políticas nacionais; da crescente institucionalização das políticas públicas de segurança alimentar e das demandas da sociedade civil por respostas governamentais mais eficientes. 90 A participação do Brasil na Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) aumentou em número e grau. Ademais, outros espaços também foram mais valorizados como meios de busca pela segurança alimentar, como o FIDA (Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola), o PMA (Programa Mundial de Alimentos), o IBAS (Índia, Brasil e África do Sul), os BRIC’s (Brasil, Rússia, Índia e China), o Mercosul, o CARICOM (Caribbean Community), a União Africana, o Banco Mundial, o Banco Interamericano para o Desenvolvimento (BID), além de iniciativas bilaterais. Amado Cervo (2008, p. 496) defende a ideia de que, a partir de 2003, a política externa brasileira passou a operar por meio do “multilateralismo de reciprocidade”, ao inserir-se internacionalmente de forma mais madura, orientado pelo paradigma logístico, buscando “democratizar a globalização” através da participação ativa na confecção das regras internacionais. Cervo (2008) observa três linhas de frente que pretenderiam corrigir os rumos do governo Lula em relação ao seu antecessor: 1) transição do multilateralismo utópico para o multilateralismo de reciprocidade; 2) enfrentamento das dependências estruturais com o fim de atenuá-las; 3) ideia de reforçar a América do Sul como polo de poder e plataforma política e econômica da realização dos interesses brasileiros. Em uma ordem marcada pela globalização e interdependência, pelas crises energética, ambiental e de alimentos, a inserção do combate à fome e à pobreza nas ações da política exterior do Brasil, para Amado Cervo, representam a adição de “uma pitada de moral” (2008, p. 493, 494). Nesse caso, a busca pela segurança alimentar seria uma forma de resgatar valores morais que, classicamente, eram dissociados da prática política, com a humanização dos objetivos de política externa. O antigo problema brasileiro de desigualdade social, pobreza e fome só começou a ganhar espaço significativo na mídia, nas universidades, nas organizações não governamentais e nos governos a partir do final da década de 1980. Gradativamente o tema também passou a fazer parte das preocupações da chancelaria brasileira (PENNA, 2006). Com a chegada de Lula ao poder, existia uma tendência de valorização dos temas sociais na agenda política nacional. Dessa forma, a política externa transformouse em instrumento para promover tais questões. Segundo Pio Penna (2006, p. 356), “Ao lado dos temas considerados estratégicos, como a integração sul-americana e o acesso 91 ao Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro pleno, o governo Lula tentou capitalizar apoio internacional para suas propostas de cunho social”. De fato, o Brasil foi grande captador de financiamento e catalizador da cooperação com instituições internacionais. No início do governo Lula, foi montado um grupo de transição de governo que trabalhou com uma comissão composta por membros do Banco Mundial, do BID e da FAO. Este grupo avaliou as possibilidades de atuação dentro do Programa Fome Zero (PFZ), e cada uma das instituições ficou responsável pelo financiamento e incentivo de setores específicos do grande projeto de combate à fome brasileiro. A estratégia do BID no Brasil enfatizava a reforma e modernização do setor público nos níveis federal, estadual e municipal; a maior competitividade por meio do apoio financeiro a pequenas e médias empresas, e à reabilitação da infraestrutura básica e modernização dos setores produtivos; e a redução da desigualdade social e da pobreza, dando prioridade à educação e saúde e buscando associações com a sociedade civil. Por outro lado, a estratégia do Banco Mundial no Brasil dava prioridade às políticas públicas que contribuíssem diretamente para a redução da pobreza. De fato, duas categorias deveriam ser priorizadas: aumento da produtividade em áreas rurais, com especial apoio à agricultura familiar; e fortalecimento do sistema de proteção social (FAO, 2003). O apoio da FAO ao Programa Fome Zero foi embasado no fato de os conceitos incorporados pelo programa estarem consistentemente de acordo com o Plano de Ação de Roma de 1996. O documento de prestação de contas elaborado pela FAO mostra que o apoio da organização ao PFZ se deu através do Programa Especial para a Segurança Alimentar da FAO. Além da captação de financiamento para os programas nacionais, a política externa brasileira buscou entre 2003 e 2010, por meio de três canais principais, estabelecer comprometimentos mútuos que engendrassem planos e programas no combate à fome. Portanto, destacam-se três dimensões de ação da PEB na promoção da Segurança Alimentar e Nutricional: a) negociações internacionais; b) cooperação SulSul na área de segurança alimentar, nutricional e de desenvolvimento agrícola; c) assistência humanitária (CAISAN, 2009. p.47). A seguir, serão detalhados os mecanismos desses três eixos, bem como será feita uma análise crítica dos pontos controversos: 92 a) Negociações Internacionais Ao longo do governo Lula, observou-se a tentativa de colocar o combate à fome e à pobreza como pauta das agendas de negociação multilaterais. OMC, Assembleia Geral das Nações Unidas, Cúpula Ibero-Americana, Banco Mundial, todos esses espaços foram utilizados pela diplomacia brasileira para conferir maior visibilidade ao tema. Em janeiro de 2004, o presidente Lula, juntamente com o presidente francês Jacques Chirac, o presidente chileno, Ricardo Lagos e o então Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, reuniram-se e assinaram uma declaração com 15 pontos a respeito de temas sociais e econômicos globais, chamada “Ação contra a fome e a pobreza”. Nesse encontro, foi estabelecido um grupo técnico com o objetivo de se fazer um estudo de diferentes propostas para, entre outros, “(...) explorar meios pelos quais agências especializadas da ONU e o PNUD possam complementar a ação da FAO, do PMA, do FIDA e de outros programas das Nações Unidas, na identificação, disseminação e promoção de boas práticas no combate à fome e à pobreza”. Além disso, o grupo técnico ficou responsável por elaborar um relatório sobre Mecanismo Inovadores de Financiamento, que seria apresentado na reunião de Nova York (CHIRAC; LAGOS; LULA, et al., 2004). O mais simbólico dos eventos foi a convocação, pelo próprio presidente Lula, de reunião com líderes de países para o estabelecimento de uma Ação Contra a Fome e a Pobreza, realizada em 20 de setembro de 2004, às vésperas da 59ª Assembleia Geral das Nações Unidas. 21 Ainda que criticada por ter sido pouco efetiva, a Declaração de Nova York sobre a Ação contra a Fome e a Pobreza foi politicamente simbólica, sendo assinada por mais de 100 países. De fato, houve uma mobilização em torno da convocação brasileira, pois os representantes dos países encontraram-se nessa reunião para debater uma preocupação comum, além de reafirmar o compromisso estabelecido em outros fóruns destinados a esse tema22. 21 “Declaração sobre fontes inovadoras de financiamento ao desenvolvimento”. Nova York, 14 de setembro de 2005. Disponível em: http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1052. Acessado no dia 20 de outubro 2012. 22 Idem. 93 Além disso, na ocasião da reunião, foi assinado relatório elaborado pelo Grupo Técnico que havia sido criado na reunião que instituiu a Ação Contra a Fome e a Pobreza, de proposição dos Presidentes, Lula da Silva, Ricardo Lagos, Jacques Chirac e o Secretário das Nações Unidas, Kofi Annan. Os chamados “Mecanismos Financeiros Inovadores”, segundo os presidentes, poderiam desempenhar papel importante para incrementar e suplementar as fontes de financiamento tradicionais da Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) (CHIRAC; LAGOS; LULA, et al., 2004). Além disso, por vezes, o Brasil inseriu nas negociações das quais participou outros temas, que eram de interesses essencialmente comerciais, a pretexto da busca por segurança alimentar, como a temática de biocombustíveis e das barreiras comerciais impostas aos produtos agrícolas de países em desenvolvimento. A diplomacia brasileira utilizou-se de um discurso quase obstinado para acabar com as barreiras impostas aos produtos agrícolas dos países em desenvolvimento e pouco desenvolvidos para dar celeridade a seus pleitos sobre a segurança alimentar nas diferentes arenas internacionais. Com o argumento de que tais barreiras prejudicam a conformação do quadro de segurança alimentar nos países em desenvolvimento e pouco desenvolvidos, já que os impossibilita de concorrer igualitariamente no comércio internacional, como mostra a fala do então Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim: O acesso a mercados pode abrir caminho para que os países em desenvolvimento erradiquem a pobreza e a fome (...). A eliminação, por parte dos países ricos, de subsídios agrícolas à exportação e de medidas de apoio interno que distorcem o comércio teria impacto importante na capacidade dos países pobres de sair da recessão por meio do comércio. Também daria contribuição eficaz para a segurança alimentar dessas nações (AMORIM, 2009). No entanto, é sabido que os produtos agrícolas brasileiros destinados à exportação são provenientes do agribusiness que, por sua vez, não faz parte do modelo de segurança alimentar que se pretende implementar nacionalmente, caracterizado pelo incentivo aos pequenos produtores na forma da agricultura familiar, modelo historicamente voltado para o abastecimento local. Logo, podemos inferir que, em determinados momentos, eram os interesses dos grandes produtores agrícolas brasileiros que estavam sendo respaldados pelo discurso de segurança alimentar no meio internacional. 94 No caso dos biocombustíveis, em especial o etanol, o governo brasileiro defende que estes não constituem ameaça à produção de alimentos. No Brasil, a não concorrência entre as culturas destinadas à produção de alimentos e a de biocombustíveis se baseia em dados apresentados por diferentes instituições. Defendese que a área destinada à produção de biocombustíveis, em especial ao etanol, é relativamente pequena em relação à área agrícola total do país. Segundo o IBGE, a área plantada de cana-de-açúcar no ano de 2008 foi de 9.418.425ha, o que equivale a menos de 20% da área de cultivo de grãos e pouco mais de 4% da área de pastagens no Brasil (CAISAN, 2009. p.48). Dentro da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), discute-se documento elaborado pelo Corpo Técnico da Convenção das Partes, que contém diretrizes para que o uso e a produção de biocombustíveis ocorram de maneira a potencializar os impactos positivos e minimizar os negativos. Para ser considerada sustentável, a CBD recomenda a não produção de biocombustíveis em áreas de biodiversidade elevada (florestas) ou em áreas de importância para a produção de alimentos (CAISAN, 2009. p.48). Logo, a elaboração do chamado “zoneamento agroecológico da cana” foi uma das maneiras pelas quais o governo respondeu às suspeitas sobre a sustentabilidade do etanol brasileiro. Em relação ao impacto na produção de alimentos, tanto o governo como o empresariado tem respondido que o Brasil possui 100 milhões de hectares disponíveis longe da Amazônia, que a produtividade de alimentos no país vem crescendo, não existindo, portanto, motivo para alardes. Ainda assim, as críticas emergiriam: “como em um passe de mágica, o governo brasileiro abdicou das pretensões de internacionalizar a bandeira do “Fome Zero”, foco da sua agenda internacional em 2003, tornando-se o paladino mundial dos agrocombustíveis” (CORDEIRO, p. 10, 2008). Essa postura do governo tornou-se ainda mais enérgica a partir de 2007, quando a elevação dos preços dos alimentos, e o peso atribuído aos biocombustíveis nesses aumentos, levantaram dúvidas sobre a sua viabilidade. Desde então, o governo e setores do empresariado brasileiro passaram a travar uma batalha ostensiva para limpar a imagem do etanol e conseguir quebrar barreiras protecionistas que impendiam a ampliação das exportações para os Estados Unidos e Europa. Ainda que, atualmente, não haja motivos mais concretos para duvidar da capacidade de o Brasil garantir o abastecimento interno de etanol e de alimentos, o 95 mesmo não pode ser afirmado em relação às pretensões de o país atender à demanda mundial de etanol, mesmo que apenas parte dela. O fato de o Brasil possuir a fonte de produção de etanol mais barata do mundo tem atraído grupos investidores de toda parte e, segundo Angela Cordeiro (2008), as projeções governamentais que vêm sendo feitas raramente partem da avaliação da capacidade de suporte do país em absorver esta demanda em bases sustentáveis e sem concorrência com a produção de alimentos. Segundo a pesquisa “Perspectivas para o etanol no Brasil”, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), as projeções de crescimento da demanda externa, ainda que condicionadas às barreiras tarifárias e às metas de inclusão do etanol na matriz energética de cada país, apontam para uma média de exportação de 63,9 bilhões de litros de etanol em 2017 (EPE, 2008). Esse volume exigirá 9 milhões de hectares exclusivamente para a produção de etanol, se mantidos os rendimentos médios de produção sugeridos pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), de 85 toneladas de cana/ha e de 82 litros de etanol/tonelada de cana (MAPA, 2007). Há que se considerar também que, além do etanol, a área plantada tem que atender à produção de açúcar, tanto para consumo interno quanto para exportação. Além desses aspectos, existem outros fatores que tornam esta temática ainda mais controversa. A produção da cana-de-açúcar para a fabricação do etanol é tradicionalmente feita nas grandes propriedades, o que é contrário ao ideal de reforma agrária e incentivo ao pequeno produtor, que é uma das diretrizes do Plano Nacional de Segurança Alimentar. As monoculturas de larga escala, com grande aporte de insumos químicos e mecanização são consideradas como imperativo para a eficiência e desenvolvimento da agricultura brasileira. Segundo Angela Cordeiro (2008), este tipo de visão subtrai da agricultura a sua dimensão natural e minimiza as suas inter-relações com o meio-ambiente. Este conjunto de elementos traduz uma percepção do território agrário como espaço unicamente produtivo, com o mesmo status que um “chão de fábrica”. No caso dos biocombustíveis ficam mais evidentes as incoerências do governo, que se posicionou e se dividiu entre o modelo idealizado para a construção da segurança alimentar nacional e o modelo que parece ser economicamente mais atraente. Dessa forma, ao se propor como defensor internacional dos biocombustíveis, o Brasil se colocou em posição contraditória, na qual ao mesmo tempo em que encontra respaldo dos grandes produtores de cana-de-açúcar, defende um modelo contraproducente perante os objetivos estabelecidos de segurança alimentar. 96 b) Cooperação Sul-Sul na área de segurança alimentar, nutricional e de desenvolvimento agrícola Apesar de alguns temas serem aliados à temática da segurança alimentar, na tentativa de respaldar interesses de outros setores, o Brasil tem investido fortemente nas cooperações técnicas e de desenvolvimento agrícola com os países do Sul, direcionando-se em especial aos países africanos, sul-americanos e caribenhos. A Assembleia Geral da ONU cunhou o termo “cooperação técnica” em 1959 para substituir a expressão “assistência técnica”, julgando-o mais propício para definir uma relação que tanto pressupõe a existência de partes desiguais, quanto uma relação de trocas, de interesses mútuos entre as partes23. Na época citada foi detectada a carência de instituições capacitadas para o planejamento e a execução das atividades de cooperação internacional. Por isso, optouse pelo investimento na capacitação institucional. A constituição de instituições nacionais capacitadas (em administração pública, em planejamento, em ciência e tecnologia, em gestão de programas governamentais, etc.) tornou-se essencial para a continuidade dos esforços e para o alcance da autonomia por parte dos países recipiendários (MRE, 2012). Não obstante a evolução das políticas de cooperação internacional nas últimas décadas, o conceito inicial de “ajuda para o desenvolvimento” ou “ajuda para a autonomia” permanece vivo até os dias atuais. As especificidades de cada modalidade de cooperação (financeira, técnica, científica, tecnológica) determinaram o uso dos mecanismos de apoio. No caso da cooperação técnica internacional (CTI), dada a sua característica de transferir conhecimentos, não comercialmente, enfatizou-se a consultoria especializada, o treinamento/capacitação de pessoal e a complementação da infraestrutura disponível na instituição recipiendária24. Na última década, algumas instituições nacionais passaram a ser crescentemente demandadas por países interessados no acumulado de experiências brasileiras, em especial, nas áreas de pesquisa agropecuária, técnicas de plantio, treinamentos 23 Notas conceituais do Itamaraty sobre “Cooperação Internacional” e “Cooperação bilateral prestada”, publicada nos Balanços de Política Externa (2003-2010). Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-externa-2003-2010/7.1.1-cooperacaointernacional-cooperacao-bilateral-prestada. Acessado no dia 30 de outubro de 2012. 24 Idem. 97 laboratoriais para pesquisa agrícola e melhoramento genético, programas de distribuição de renda, de combate à desnutrição infantil e alimentação escolar (MRE, 2010). Conhecido internacionalmente como uma potência agrícola, o Brasil recebe demanda na área de cooperação técnica agrícola de vários países em desenvolvimento. Além do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, diversas outras instituições brasileiras, federais e estaduais, públicas e privadas, são responsáveis pela implementação de projetos de cooperação técnica em outros países (MRE, 2010). A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) possui acordos com países, instituições estrangeiras de pesquisa e organismos internacionais para parceria em pesquisa e transferência de tecnologia, e se configura como um dos principais atores na cooperação sul-sul brasileira. Além de laboratórios virtuais 25 nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha e Coréia do Sul, a Embrapa possui projetos com escritórios na África e na América Latina (Gana, Moçambique, Mali, Senegal, Venezuela e Panamá), os quais implementam programas de cooperação técnica por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação (MRE, 2010; EMBRAPA, 2012). c) Assistência humanitária A prestação de assistência humanitária pelo Brasil a outros países se baseia nos princípios tanto da “não indiferença”26 quanto da “não ingerência”27. O governo brasileiro presta assistência humanitária mediante solicitação expressa do país 25 Os Laboratórios Virtuais da Embrapa no Exterior (LABEX) são um instrumento de cooperação internacional em áreas estratégicas de pesquisa agrícola. Os laboratórios buscam reduzir tempo e custo no desenvolvimento da pesquisa, para tanto, realizam intercâmbio de pesquisadores seniores da Embrapa com instituições de excelência de diferentes países. O primeiro Labex foi criado em 1998, nos Estados Unidos, em parceria com o Serviço de Pesquisa Agrícola (ARS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos – USDA. Fonte: LABEX USA. Disponível em: http://embrapa-labex-usa.com. Acessado no dia 20 de janeiro de 2013. 26 “Elaborado em solo africano, com base no conhecimento popular que advertia não ser possível resignar-se diante do sofrimento alheio, esta nova doutrina pode ser compreendida, dentro da sociologia das ausências e emergências, como alternativa ao princípio que, até então, havia figurado como cláusula pétrea nas Relações Internacionais: a Não-Intervenção. Apesar de não haver sido mencionado acima da linha do Equador, onde ainda é inexistente, as necessidades que levaram à adoção deste novo paradigma também são sentidas para além mar, chegando ao Brasil e à América Latina no momento em que se percebe que o desenvolvimento "ilhado" já não é mais possível” (SEITENFUS, ZANELLA & MARQUES, 2007, p.7). 27 Não ingerência ou não intervenção significa que: “Nenhum Estado ou grupo de Estados tem o direito de intervir direta ou indiretamente, seja qual for o motivo, nos assuntos internos ou externos de qualquer outro. Este princípio exclui não somente a força armada, mas também qualquer outra forma de interferência ou de tendência atentatória à personalidade do Estado e dos elementos políticos, econômicos e culturais que o constituem” (CARTA DA OEA, art. 19, 1948). 98 recipiendário, que pode tanto ser recebida bilateralmente quanto por intermédio de apelos humanitários elaborados em conjunto com o sistema das Nações Unidas 28. A assistência humanitária brasileira é operacionalizada principalmente por intermédio de contribuições voluntárias a fundos e organismos internacionais, compras locais nos países afetados por calamidades e envio de doações por via terrestre, aérea e marítima desde o Brasil (MRE, 2010). Com a criação do Grupo de Trabalho Interministerial sobre Assistência Humanitária Internacional (GTI-AHI), em 2006, o Brasil intensificou substancialmente a prestação de assistência humanitária. Entre junho de 2006 e junho de 2009, mais de 35 países receberam assistência humanitária do governo brasileiro (MRE, 2010). A assistência humanitária brasileira vem adicionando às ações emergenciais uma dimensão estruturante, na medida em que busca promover tanto a segurança alimentar e nutricional de populações vulneráveis quanto a prevenção e a redução de riscos de desastres. A maioria das vezes a assistência humanitária prestada pelo Brasil tem como base a experiência da estratégia Fome Zero – a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (MRE, 2010). Com uma melhor coordenação desses esforços e, posteriormente, com o aumento da demanda por assistência, os trabalhos nessa área ganharam proporções inéditas. A exemplo disso, no contexto do aumento dos preços dos alimentos, a Diretora-Executiva do PMA solicitou, em março de 2008, ajuda do governo brasileiro para cobrir o déficit orçamentário causado pela crise (MRE, 2012). Inaugurou-se nesse momento, uma nova colaboração com o Programa Mundial de Alimentos. As doações para o programa cresceram em quantidade como resposta a crises humanitárias. Ademais, a parceria do Brasil com o Programa Mundial de Alimentos viabilizou o desenvolvimento de aspectos logísticos de operações humanitárias de grande porte. A exemplo disso, no início de 2009, foi utilizado mecanismo como o “Multi Donor Trust Fund”, com o propósito de viabilizar o recebimento e o armazenamento de assistência humanitária brasileira a países do Caribe e da América Central que foram afetados por ciclo de furacões na segunda metade de 2008 e tiveram parte considerável de sua safra agrícola destruída. A operação foi 28 As informações apresentadas sobre a prestação de serviços humanitários pelo Brasil a outros países foram retiradas de documentos oficiais disponibilizados pelo site do MRE. Portanto, caracterizam o discurso oficial, sem deixar, contudo, de oferecer informações pertinentes ao assunto. Será feito, na medida do possível, um esforço analítico crítico e interpretativo a partir das fontes levantadas. 99 considerada uma das melhores feitas com a participação do PMA nos últimos dez anos (MRE, 2012). 3.2. O BRASIL NA FAO: OS GANHOS DA PRÓ -ATIVIDADE A segurança alimentar, como visto, é um tema recente na política nacional e, mais ainda, na política externa brasileira. No entanto, essa temática ganhou espaço institucional no meio internacional a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, quando o sistema das Nações Unidas foi criado. Em outubro de 1945, a FAO foi fundada como um organismo especializado da ONU (FAO, s/d). Em agosto de 1947, a FAO convocou a “Conferência de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas”, na qual Josué de Castro comandou a delegação brasileira. Em 1952, foi eleito Presidente do Conselho Executivo da FAO. Reeleito por unanimidade pelos delegados dos países que formam o Conselho das Nações Unidas, Josué permaneceu no cargo até o final de 1956 (CASTRO, 2002). No exercício da Presidência do Conselho da FAO, impulsionado pelo sucesso de seus livros Geografia da Fome (1946) e Geopolítica da Fome (1951), além da ampla aceitação de suas posições científicas, Josué de Castro capitalizou apoio e empreendeu uma série de trabalhos no combate à fome no mundo, buscando unir conhecimentos científicos e ação (CASTRO, 2002). Josué de Castro passou os dois mandatos como presidente do conselho da FAO tentando criar uma reserva internacional contra a fome, a qual aproveitaria o excedente de alimentos das nações ricas, que serviria de socorro para abastecer os países que – em razão de crises econômicas, guerras ou desastres ambientais – estivessem sofrendo com a escassez de comida. A ideia nunca pôde ser levada à prática, por absoluta falta de interesse das nações ricas. No discurso de despedida, em 1956, Josué se disse “decepcionado” com o resultado obtido: “Não fomos suficientemente ousados, não tivemos a coragem suficiente para encarar, de frente, o problema e buscar as suas soluções” (CASTRO, 1956 apud SANTIAGO, 2011). Ao deixar a FAO, em 1957, Josué de Castro fundou a Associação Mundial de Luta Contra Fome - ASCOFAM, visando despertar a consciência do mundo para o 100 problema da fome e da miséria, além de promover projetos demonstrativos de que a fome pode ser vencida e abolida pela vontade dos homens (GODINHO, 2007). Nos anos seguintes, destacaram-se mais as ações da FAO no Brasil, que iniciara suas atividades no país em 1949, quatro anos depois de sua criação. O escritório regional da FAO para América Latina foi oficialmente inaugurado em 1951, embora já realizasse atividades antes disso. Na década de 1950 o escritório teve intensa atividade técnica e interação com técnicos e autoridades de todo o Brasil, especialmente dos estados da Amazônia legal (inclusive com um subescritório em Belém), Bahia, Paraná e Rio de Janeiro, em atividades de silvicultura, agricultura, pesca e nutrição (FAO, 2012). Foram realizados diversos projetos conjuntos FAO/Brasil, formalizados em inúmeros Acordos e Acordos Suplementares, os quais inclusive redundaram no primeiro inventário florestal brasileiro. Entre 1951 e 1971 foram recebidas mais de 80 missões de curta duração. Mas devido às dimensões continentais do Brasil, ao potencial vasto do setor agrícola e às possibilidades de desenvolver um programa de cooperação e assistência técnica com o governo, foi decidido, em 1971, que o escritório sub-regional seria exclusivo no país (FAO, 2012). Assim foi criado o escritório da Representação AAP/FAO no acordo UNDP/FAO. Este escritório foi estabelecido no Rio até 1973, quando foi transferido para Brasília. Neste período, o foco da Organização foi o programa de irrigação do Rio São Francisco. Nos anos de 1972 a 1978 foram realizadas mais de 90 missões de curta duração e implementados 27 projetos29 (FAO, 2012). Durante a década de 1980, a atuação da FAO foi marcada pelo enfoque no desenvolvimento florestal, os principais projetos foram: BRA/045 (PRODEPEF) Projeto de Desenvolvimento e Pesquisa Florestal; BRA/82 Desenvolvimento Florestal no Brasil; e TCP/BRA/2202 Desenvolvimento Florestal no Nordeste do Brasil. Dentro dos métodos estabelecidos pela FAO, a cooperação nessa área se mostrava profícua, até que houve a extinção da Lei de concessão de incentivos fiscais para o reflorestamento30. Segundo a FAO, foi quando surgiu “a pressão dos grupos 29 Os projetos mais importantes da época foram: BRA 69/543 – Pesquisa da Pesca e Desenvolvimento; BRA 69/535 – Aumento na Produção do trigo e Desenvolvimento; BRA 71/552 – Desenvolvimento da produção animal no Nordeste; BRA 71/545 E BRA 76/027 – Pesquisa de Floresta e Desenvolvimento; BRA 71/553 E BRA 77/002 – Planejamento agrícola e treinamento (FAO, 2012). 30 Os incentivos fiscais para o reflorestamento foram extintos por meio da Lei nº 7.714, de 29 de dezembro de 1988. 101 ambientalistas no sentido de valorizar os recursos florestais dentro de uma ótica preservacionista e não mais utilitarista” (2012, p. 21). Então houve uma reorientação nos projetos apoiados pela FAO na década de 1990, os projetos passaram a enfocar a conservação dos recursos florestais. De 1994 a 2003, o programa mais importante da FAO no Brasil foi o Projeto Nacional de Geração de Emprego e Renda (PRONAGER) na Amazônia e Nordeste, e que tinha os seguintes objetivos: a) combater o desemprego e subemprego em população urbana pobre e comunidades rurais; b) fortalecer a organização social e econômica no nível comunitário e individual c) melhorar a qualidade de vida dos membros da comunidade; c) aumentar as ações por outros programas envolvidos na luta contra a pobreza; d) promover desenvolvimento local sustentável (FAO, 2012). Já a partir do início dos anos 2000, ficou mais clara a importância dada pela política externa brasileira aos fóruns multilaterais (CERVO, 2008. p.105). Nesse sentido, a FAO tornou-se um importante espaço de atuação para o governo Lula, movimento que corroborou com o protagonismo da temática de segurança alimentar no ambiente nacional, desde sua campanha em 2002. Os compromissos assumidos no âmbito da FAO estavam relacionados com o engajamento brasileiro na conformação de um regime de segurança alimentar e a tendência mais geral da diplomacia brasileira de instrumentalizar sua adesão a regimes internacionais a fim de ampliar “sua influência sobre estruturas, agentes e processos políticos internacionais” (ROCHA, p.76, 2006). Assim sendo, várias noções como o próprio conceito de SAN, foram sendo internalizadas politicamente e traduzidas em uma série de programas e de políticas públicas que buscam a configuração de um quadro nacional de segurança alimentar, institucionalmente chamado de Sistema Nacional de Segurança Alimentar (SISAN). A participação brasileira junto à FAO aumentou substancialmente. Primeiramente, o Brasil catalisou apoio da Organização para os projetos nacionais de combate à fome. À medida que os programas nacionais se concretizaram, o Brasil passou a atuar ativamente nas negociações e na busca por cooperação para os países e regiões mais sensíveis em relação à insegurança alimentar. Essa participação, que antes 102 se mostrava tímida, rendeu ao Brasil a imagem de um país ativo em relação ao combate à fome. A experiência brasileira adquirida com o acumulado de políticas públicas implementadas desde a década de 1930 e, mais recentemente, a execução dos programas do Fome Zero no setor agrícola, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos e sua interconexão com o Programa Nacional de Alimentação Escolar; com as políticas de crédito para agricultura familiar e desenvolvimento rural e programas de geração de renda, como o Bolsa Família, contribuíram para o desempenho de um novo papel internacional do Brasil, superando a dicotomia doador-receptor de assistência internacional para as relações de parceria, principalmente na área de alimentação e agricultura, e redefiniu o diálogo com as Nações Unidas e com a FAO. Como resultado dessa mudança de perfil, o Brasil passou a buscar o fortalecimento das ações empreendidas com a FAO e outros organismos do sistema ONU, ao priorizar a estratégia de dupla tração, fundamento do Fome Zero: ações emergenciais acompanhadas de ações estruturantes. Nesse sentido, buscou-se reavaliar as perspectivas de atuação junto à FAO, por meio de maior participação nos fóruns políticos e de defesa de mais espaço para a participação de países em desenvolvimento e da sociedade civil. O Brasil procurou estabelecer com a FAO acordos de cooperação Sul-Sul, especialmente pelo aporte de recursos para constituições de fundos fiduciários. Na ocasião da visita do então Diretor Geral da FAO, Jacques Diouf, ao Brasil, em março de 2009, foi assinado acordo de cooperação, no valor de 2 milhões de dólares, em parceria com o FNDE/MEC (Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação – Ministério da Educação) para o fortalecimento de programas nacionais de alimentação escolar em países em desenvolvimento, dando seguimento ao primeiro aporte realizado em 2008, no valor de 500 mil dólares31. Em abril de 2008, foi assinado Memorando de Entendimento para realização de atividades e projetos em países em desenvolvimento da América Latina e Caribe objetivando a promoção da agricultura familiar, da reforma agrária e do desenvolvimento rural sustentável, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Foram destinados cerca de 1 milhão de dólares a projetos de 31 Relatório de Gestão relativa ao processo sucessório do Diretor-Geral da FAO, Jacques Diouf. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO), Telegrama 673 de 12 de agosto de 2010. Relat7Diouf. Reservado. Arquivo do Ministério das Relações Exteriores (doravante AMRE). 103 cooperação Sul-Sul na América do Sul, Haiti e Nicarágua. Em 29 de dezembro de 2009, o Governo brasileiro instituiu fundo fiduciário com a FAO no contexto da Iniciativa América Latina e Caribe sem Fome, no valor de 750 mil dólares, para atender situações de emergência humanitária. Os projetos financiados pelo Brasil, em parceria com a FAO, já envolveram Haiti, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, República Democrática do Congo, Chile, Nicarágua e Guatemala (MRE, 2012). A diplomacia brasileira viu no processo de reforma da FAO, que começou a ser debatido em 2004, a oportunidade de fortalecer essa agência do sistema das Nações Unidas, com reflexos positivos para o funcionamento do próprio sistema multilateral. Segundo o embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, “sem organismos internacionais fortes e atuantes em suas áreas de mandato, a multilateralidade poderia ver-se crescentemente preterida por mecanismos políticos de concertação seletivos e paralelos ao sistema das Nações Unidas” 32. Com esse pensamento a Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO) atuou estrategicamente nas negociações mantidas durante a 34ª Sessão da Conferência para assegurar a aprovação do orçamento que vinha sendo debatido, como “moeda de troca” para a continuidade da reforma. Embora fosse totalmente favorável ao seguimento do processo de reforma, a REBRASFAO reuniu o G-77/China em torno da proposta de correção orçamentária e manobrou para inverter a agenda da Comissão II da Conferência 33. A delegação brasileira defendeu que o seguimento da reforma e a aprovação do orçamento seriam decisões indissociáveis, sob risco de os países desenvolvidos – EUA, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Suíça, refratários à correção orçamentária – imporem unilateralmente a agenda da reforma e adiarem a decisão do orçamento. Embora durante o processo negociador, países em desenvolvimento tenham relatado dificuldades em apoiar incrementos orçamentários, tendo em vista questões econômicofinanceiras internas, todo o esforço da REBRASFAO concentrou-se em evitar divisão entre os países em desenvolvimento, “o que teria enfraquecido a posição e, possivelmente, prejudicado a negociação”34. De qualquer modo, embora firme em seu propósito de prover recursos adicionais à FAO, a atuação da REBRASFAO buscou o entendimento, aproveitando-se de certa 32 Relatório de Gestão relativa à AEI e ao processo de reforma da FAO. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 657 Relat1Reforma de 12 de agosto de 2010. Reservado. AMRE. 33 Idem. 34 Relatório de Gestão relativa à AEI e ao processo de reforma da FAO. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 657 Relat1Reforma de 12 de agosto de 2010. Reservado. AMRE. 104 coincidência de interesses entre o G-77/China e a União Europeia, cujos países se mostravam menos refratários à proposta orçamentária de manter o nível programático da Organização35. No entender da REBRASFAO, a FAO carecia de reformas que trouxessem maior eficiência e capacidade operacional. O processo requeria, no entanto, compromissos financeiros, sem os quais a FAO não teria condições de cumprir eficazmente suas principais funções de foro de debate intergovernamental, de agência de promoção de políticas e projetos para o desenvolvimento e de organismo facilitador na elaboração de instrumentos normativos36. A REBRASFAO manifestou à época a opinião de que a Organização saíra fortalecida da 34ª Sessão da Conferência, encerrando longo período de crise financeira e instabilidade, com o provimento dos meios financeiros e da estabilidade necessários ao processo de renovação. O processo de reforma mobilizou quase que totalmente o esforço dos Estados Membros e da Administração da FAO. Tema central da discussão no biênio 2008-2009, a reforma pressupôs compromisso político, disposição para negociar e habilidade para alcançar entendimentos. A atuação da REBRASFAO no processo de reforma da FAO foi pautada pelos seguintes princípios: (i) a crescente participação dos países em desenvolvimento na governança de temas de interesse mundial; (ii) o fortalecimento do multilateralismo do sistema das Nações Unidas como o locus democrático e participativo de diálogo; (iii) o fortalecimento da FAO e a reafirmação de sua centralidade na governança mundial em alimentação e agricultura; e (iv) a crescente presença do Brasil nas Agências especializadas das Nações Unidas com sede em Roma. 37 O orçamento com correções incrementais foi aprovado por 124 votos a favor, uma abstenção e quatro votos contrários. Absteve-se a Austrália por razões internas político-eleitorais daquele momento, e manifestaram-se contrárias as delegações dos EUA, Canadá, Japão, países mais resistentes ao aumento das contribuições regulares, até por serem os maiores contribuintes da Organização, e Coreia do Sul, sem razão apresentada. O orçamento aprovado elevou os ingressos regulares da Organização, no biênio 2008-2009, para US$ 929,8 milhões, ou seja, US$ 101,8 milhões superior em 35 Idem. Op. cit. 37 Relatório de Gestão relativa à AEI e ao processo de reforma da FAO. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 657 Relat1Reforma de 12 de agosto de 2010. Reservado. AMRE. 36 105 termos nominais ao orçamento do biênio anterior, 2006-200738. Como resultado do processo de negociação da reforma da FAO, desde 2009 vem sendo, paulatinamente, implementado o Plano Imediato de Ação para a Renovação, o qual possui um leque de ações internas para aumentar a eficiência das atividades da organização. Outro tema caro à diplomacia brasileira que atua permanentemente na FAO é o Codex Alimentarius, que foi criado pela Assembleia Mundial da OMS, em maio de 1963, e pela Conferência da FAO, em novembro de 1963. Ele estabelece normas sanitárias que facilitam o comércio de alimentos e protegem a saúde dos consumidores. Surgiu como tentativa para centralizar diversas iniciativas de padronização dos códigos, legislações sanitárias e normas mínimas para a qualidade dos bens alimentícios. O estabelecimento do Codex decorreu, em grande parte, da crescente demanda de consumidores e de produtores por padrões mínimos, para salvaguardar a inocuidade e qualidade dos alimentos, sem que implicasse a imposição de barreiras não-tarifárias disfarçadas de preocupações com a saúde pública 39. A estrutura do Codex Alimentarius é “sui generis” em sua organização e reflete mais o contexto em que foi criado do que necessidades presentes e reais de eficácia e de inclusão. A definição inicial de onde os Comitês seriam sediados explica-se, em parte, pela participação que os diferentes países tinham no comércio internacional no início dos anos de 1960. Observa-se que a maior parte dos países anfitriões dos Comitês eram países desenvolvidos, muitos com tradição no consumo e na produção dos referidos bens. Em contrapartida, atualmente, apenas quatro encontram-se sediados em países em desenvolvimento (dois na China, um na Malásia e um no México)40. A importância do Codex é ilustrada pelo seu reconhecimento como “standardsetting body” na Organização Mundial de Comércio (mais especificamente, no Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias) e, consequentemente, como referência normativa para julgamentos do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. Observa-se, ademais, que o aumento do comércio internacional de commodities e de alimentos processados tem-se diversificado nas últimas décadas na medida em que os 38 Idem. Relatório de Gestão referente ao Codex Alimentarius e à campanha liderada pelo Brasil para a maior participação dos países em desenvolvimento nas reuniões do Codex. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 675 Relat9CODEX de 12 de agosto de 2010. Reservado. AMRE. 40 Relatório de Gestão referente ao Codex Alimentarius e à campanha liderada pelo Brasil para a maior participação dos países em desenvolvimento nas reuniões do Codex. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 675 Relat9CODEX de 12 de agosto de 2010. Reservado. AMRE. 39 106 países em desenvolvimento ganham crescente competitividade e participação nesses setores41. Tendo em vista a relevância do Codex para o comércio internacional de alimentos, o Brasil defende a ideia de que seria essencial que os países em desenvolvimento tivessem participação mais frequente e efetiva nos Comitês e nos Grupos Técnicos em atividade, com o objetivo de, segundo o Embaixador José Antônio de Carvalho (2010), “reforçar a legitimidade, eficiência e caráter democrático do Codex”. Segundo a REBRASFAO, a ausência do processo normativo internacional impossibilita os países de contribuir para que a decisão reflita as suas realidades e pode comprometer a capacidade de tais países internalizarem as normas acordadas. 42 Os países em desenvolvimento contam com crescentes interesses relacionados à produção, exportação e consumo de bens agrícolas e, por isso, buscam se posicionar no centro do processo de normatização. A Secretaria de Estado das Relações Exteriores (SERE) e a REBRASFAO começaram a empreender campanha em favor da reestruturação do Codex Alimentarius a partir de 2007. Segundo a REBRASFAO, a urgência de repensar a operacionalização do Codex foi confirmada após a participação do Brasil em reunião do Grupo de Trabalho para Samonella e Campylobacter em frango, sob a custódia do Comitê do Codex de Higiene dos Alimentos (CCFH), realizada em Uppsala, Suécia. Naquela ocasião, verificou-se a enorme disparidade no grau de participação dos países em desenvolvimento, além de falta de transparência nos procedimentos decisórios43. Para a REBRASFAO, elemento preocupante, diagnosticado naquela reunião, foi o fato de que “as delegações dos países da OCDE consideravam como normal e previsível a baixa e desqualificada presença de delegações dos países do G-77/China”, mesmo quando as negociações envolviam produtos de valor estratégico tanto para o setor exportador daqueles países quanto para as suas políticas de vigilância sanitária 44. Dentre outros temas de preocupação da Representação brasileira na FAO, sublinham-se os debates sobre recursos fitogenéticos. Criada inicialmente para tratar apenas de recursos fitogenéticos, em 1983, a então Comissão de Recursos Fitogenéticos foi ampliada, em 1995, para todos os tipos de recursos genéticos, passando a 41 Idem. Ibidem. 43 Relatório de Gestão referente ao Codex Alimentarius e à campanha liderada pelo Brasil para a maior participação dos países em desenvolvimento nas reuniões do Codex. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 675 Relat9CODEX de 12 de agosto de 2010. Reservado. AMRE. 44 Idem. 42 107 denominar-se Comissão de Recursos Genéticos para a Alimentação e Agricultura (CRGAA). A CRGAA constitui um dos órgãos mais relevantes da FAO para os interesses do Brasil. O país tem atuação tradicionalmente destacada na CRGAA, devido tanto à enorme biodiversidade brasileira (agrícola ou não), quanto ao fato de o Brasil ser potência produtora/exportadora agrícola 45. O interesse brasileiro na CRGAA deve-se, sobretudo, ao fato de o Brasil dispor de avançados sistemas de pesquisa e produção agrícola (Embrapa, Emateres, universidades, etc). Atualmente, o Brasil não é um grande produtor mundial de pescado, sendo ultrapassado por países como Chile e Peru. Apesar disso, existe a perspectiva de crescimento da participação do Brasil no mercado internacional no futuro próximo, já existindo na REBRASFAO a preocupação em atender o aumento de interesses de exportadores brasileiros em acessar os mercados dos principais países importadores. 46 Quando dos debates sobre aquicultura, o Brasil manifestou no Committee on Fisheries (COFI) seu especial interesse na criação de uma rede de aquicultura na América Latina e no Caribe. As várias tentativas de criação de uma rede regional de aquicultura na América Latina e no Caribe esbarraram em dificuldades financeiras. O Brasil, liderando os esforços de estruturação de uma Rede de Aquicultura das Américas, contribuiu financeiramente para a sua criação, concretizada em Brasília, em 23 de março de 2010, contando com a adesão de 17 países47. Além disso, não seria do interesse brasileiro que sejam criadas normas internacionais de regulação do setor pesqueiro com o potencial de afetar negativamente a atividade pesqueira no país. A REBRASFAO entendia, portanto, que a participação ativa do Brasil nos foros internacionais de negociação em pesca e aquicultura era fundamental para criar quadro normativo internacional que corresponda aos interesses brasileiros de longo prazo no setor.48 O esforço da REBRASFAO se concentrou em apoiar iniciativas e cooperar para alcançar resultados que ajudassem no fortalecimento da FAO como foro apropriado e 45 Relatório de Gestão relativa aos recursos genéticos. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 679 Relat13Genéticos de 12 de agosto de 2010. Reservado. AMRE. 46 Relatório de Gestão relativa à pesca. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 680 Relat14Pesca de 12 de agosto de 2010. Reservado. AMRE. 47 Idem. 48 Relatório de Gestão relativa à pesca. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 680 Relat14Pesca de 12 de agosto de 2010. Reservado. AMRE. 108 reconhecido pela comunidade internacional no tratamento dos temas da alimentação e da agricultura. Dessa forma, a Representação acompanhou as atividades da organização, com trabalhos de negociação, aproximação de posições, costura de acordos e defesa de temas do interesse brasileiro. Durante o processo de reforma da FAO, lançado formalmente em 2005, o Brasil presidiu o Comitê do Conselho para Avaliação Externa Independente (CC-AEI), que objetivava identificar deficiências e propor medidas para reforma e fortalecimento, em momento em que a organização sofria críticas por perda de capacidade operacional e de retração do orçamento real. As negociações e o trabalho de coordenação realizados pela Representação contribuíram para a incorporação de importantes propostas no Plano Imediato de Ação da FAO, que define as novas prioridades, os reajustes orçamentários, melhorias de eficiência dos comitês e demais órgãos gestores, em especial o Comitê de Segurança Alimentar (CSA)49. Se o Comitê de Segurança Alimentar foi criado como parte da resposta à crise dos alimentos na década de 1970, outra crise, em 2008, motivou a sua reforma. A exemplo de 1974, a crescente insegurança alimentar no contexto da crise alimentar de 2008 despertara o interesse e a preocupação da comunidade internacional com o flagelo da fome e da desnutrição (CFS, 2012). Conforme dados divulgados pela FAO, a crise de 2008 acrescentara, somente nesse ano, 75 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e elevara o contingente mundial de famintos para 925 milhões, movimentando discussões sobre a necessidade de renovação do Comitê (CFS, 2012). O impacto da crise instalara a segurança alimentar no alto da agenda de foros internacionais e mecanismos de consulta, cada qual buscando propor estratégias e métodos próprios para o enfrentamento da crise, como no caso da Força Tarefa de Alto Nível das Nações Unidas para a Crise de Segurança Alimentar Mundial, lançada pelo Secretário-Geral Ban Ki-moon, e da Parceria Global em Agricultura, Segurança Alimentar e Nutrição, proposta pelo Presidente da França, Nicolas Sarkozy, durante a 49 Relatório de Gestão relativa à reforma do AEI e ao processo de reforma da FAO. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 677 Relat 11 CSA de 12 de agosto de 2010. Reservado. AMRE. 109 Conferência de Alto Nível sobre Segurança Alimentar e endossada, em seguida, pela Cúpula do G-8 em Hokkaido50. O assunto tornou-se ainda mais premente com os resultados da Reunião de Alto Nível sobre Segurança Alimentar para Todos, de Madri, que instou a Força Tarefa de Alto Nível a coordenar consultas para a formação da Parceria Global. Eram sinais evidentes da preferência dos países desenvolvidos por esquemas alternativos de gestão e encaminhamento de soluções para a crise, sem considerar o CSA e a FAO para a tarefa. Dessa forma, a resposta aventada por parte da comunidade internacional, em particular os países da OCDE, em boa medida ignorava a FAO, desacreditada junto à boa parte dos doadores tradicionais, e procurava, sem muita clareza, esboçar alternativas51. Reagindo a essa situação, o Diretor-Geral da FAO, Jacques Diouf, lançou a ideia da renovação do CSA para melhor enfrentar a crise e seus desdobramentos e, ao mesmo tempo, assegurar que o debate e a coordenação das ações se mantivessem dentro da FAO. O processo de revitalização do CSA surgiu, portanto, em resposta à crise alimentar e ao receio da FAO em relação às “forças centrífugas” que ameaçavam sua liderança. Em discurso pronunciado na abertura da 34ª Sessão do CSA, em outubro 2008, Jacques Diouf propôs instalar de imediato o processo de consultas para revisão da estrutura e do funcionamento do Comitê 52. O contexto em que se dava o processo de negociação da reforma oferecia ao Brasil oportunidade única não apenas de preservar e reforçar o sistema multilateral, como também de avançar no compartilhamento internacional da experiência brasileira de combate à fome e promoção do direito à alimentação adequada. No caso da reforma do CSA, em particular, as experiências brasileiras consideradas mais relevantes são no tema da governança, em particular a coordenação multissetorial e a participação social na formulação e implementação de políticas de segurança alimentar e nutricional, simbolizadas pela Câmara Interministerial para a Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) e pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), respectivamente. 50 Idem. Ibidem. 52 Relatório de Gestão relativa à reforma do AEI e ao processo de reforma da FAO. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 677 Relat 11 CSA de 12 de agosto de 2010. Reservado. AMRE. 51 110 Então a REBRASFAO, com o apoio do MRE, em consulta com o CONSEA, elaborou e apresentou no Grupo de Contato53 uma proposta abrangente e detalhada de reforma do CSA, incorporando os princípios de abrangência, participação, multissetorialidade e dinamismo intersecional. Inspirada no próprio CONSEA, embora adequada ao contexto da FAO e das Nações Unidas, a proposta brasileira, intitulada “A Comprehensive Draft One Proposal for the CFS Reform”, procurou ainda incorporar de forma consistente, na medida do possível, as diversas propostas suscitadas pelos países e organizações membros do Grupo de Contato. A proposta brasileira cumpriu seu objetivo inicial de despertar e focalizar as negociações, chegando a ser adotada como texto de base, a partir da qual as partes propunham alterações54. Se por um lado, a crise dos alimentos de 2008 fez com que se visse a necessidade de reforma do CSA, por outro, enxergou-se o momento oportuno para a realização de uma Cúpula com os chefes de estado. Proposta pelo Diretor-Geral da FAO, a Cúpula Mundial sobre Segurança Alimentar, de 2009, visava reunir, em Roma, número expressivo de Chefes de Estado e de Governo com vistas a obter amplo consenso sobre a rápida e definitiva erradicação da fome no mundo. Seria uma nova oportunidade para a FAO de convocar e mobilizar a comunidade internacional em torno do tema da fome, de impulsionar compromissos financeiros para o incremento da produção e da produtividade agrícolas e o desenvolvimento da infraestrutura nos países pobres, além de reafirmar seu papel central na condução das questões em alimentação e agricultura. Inicialmente, a Cúpula buscaria alternativas para mobilizar US$ 30 bilhões anuais para investimentos em infraestrutura rural e incremento da produção e produtividade agrícolas nos países em desenvolvimento (FAO, 2009). Dois propósitos centrais motivaram a proposta da Cúpula. De um lado, manter a segurança alimentar no alto da agenda política mundial, contribuindo para preservar a atenção da comunidade internacional, desviada em parte pela crise financeiroeconômica do segundo semestre de 2008, e buscar fórmulas e compromissos para a erradicação da fome. De outro lado, assegurar que a condução do debate e das respostas à crise alimentar fosse mantida no âmbito das Nações Unidas e sob a égide da FAO. 53 O Grupo de Contato constituía mecanismo aberto, informal e transitório de discussão para estabelecer amplo processo de consultas e estudar fórmulas e alternativas de revitalização do Comitê. 54 Relatório de Gestão relativa à reforma do AEI e ao processo de reforma da FAO. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 677 Relat 11 CSA de 12 de agosto de 2010. Reservado. AMRE. 111 No entanto, vimos que a Cúpula não foi tão bem sucedida devido à ausência dos chefes de Estado do G8 que, em certa medida, esvaziou as propostas que seriam endossadas na declaração final da Cúpula e dependiam fortemente do comprometimento financeiro dos países ricos. Em 2010, o Brasil encontrava-se engajado nas principais instâncias da FAO. O alto perfil da atuação de Representação brasileira junto à FAO encontrou correspondência na presença do Brasil nos órgãos gestores da FAO e das Agências com sede em Roma dedicadas à alimentação e à agricultura. Pela primeira vez, o Brasil ocupava, concomitantemente, assento no Conselho da FAO, na Junta Executiva do Programa Mundial de Alimentação e na Junta Executiva do FIDA. Integrava, ainda, a Mesa do Comitê de Segurança Alimentar (CSA) e o Comitê da Conferência para o seguimento da Avaliação Externa Independente (CoC-AEI), o qual seguiria em suas atividades de monitoramento da implementação do Plano Imediato de Ação no biênio 2010-201155. Em 2007, 2008 e 2009, o Diretor-Geral da FAO, Jacques Diouf, realizou visitas ao Brasil, tendo sido recebido em audiência pelo presidente Lula nas três ocasiões. Em 2010, Diouf participou em Brasília da Reunião de Ministros da Agricultura BrasilÁfrica. 56 A sucessão de Diouf reacendeu o debate em torno da necessidade de contar com um diretor-geral disposto a concluir o processo de reforma da FAO e de promover uma administração aberta, transparente, participativa, descentralizada e eficiente, motivando a comunidade internacional para a questão do combate à fome e do desenvolvimento agrícola e rural. Chegou-se, em determinado momento, a especular em Roma sobre eventual candidatura do presidente Lula, muito embora o próprio mandatário brasileiro tenha manifestado publicamente não pretender concorrer a organismos internacionais ao término de seu mandato. Pelo rodízio entre os grupos regionais, a vaga de Diretor-Geral deveria caber, em 2011, a um representante do Grupo da América Latina e do Caribe, o que reforçaria à época a possibilidade de candidatura da região e a do Brasil, em particular.57 55 Relatório de Gestão relativa ao processo sucessório do Diretor-Geral da FAO, Jacques Diouf. Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 673 Relat7Diouf de 12 de agosto de 2010. Reservado. AMRE. 56 Idem. 57 Ibidem. 112 Além das já formalizadas candidaturas da Indonésia e do Iraque, que já dividiam o G-77/China, havia especulações sobre as eventuais candidaturas chinesa e norteamericana. Os norte-americanos, embora não descartassem totalmente a hipótese, deram sinais de que a candidatura brasileira pesaria na decisão de não apresentar candidato. 58 José Graziano da Silva que, no ano de 2001, coordenou a elaboração do Programa Fome Zero, em 2003 foi nomeado Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, assumindo a tarefa de implementar o Programa. Posteriormente, assumiu o cargo de Representante Regional da FAO para América Latina e Caribe, em 2006, e em 2009, já aparecia como forte candidato para concorrer ao cargo de Diretor da FAO. Em 2010, Graziano foi lançado como candidato brasileiro e, em 2011, foi eleito. Essa foi considerada uma conquista do Brasil, por ter desenvolvido papel pró-ativo dentro da FAO, se mostrando um dos países mais dispostos a se comprometer financeiramente nos programas, além de ter participado ativamente na reforma da instituição em 2008. O fato de ter coordenado a elaboração e a implementação do programa “Fome Zero” no Brasil, influenciou muito na vitória de Graziano, pois o programa brasileiro ficou conhecido e respeitado mundialmente, pelos resultados sociais obtidos nacionalmente. Ademais, observamos que a eleição de Graziano se deu, em grande medida, em função da postura pró-ativa assumida pelo Brasil na FAO. As possibilidades da gestão de Graziano na FAO foram vistas com otimismo. Segundo Santiago (2011), o Brasil tornou-se um dos novos players da geopolítica internacional e, por isso, Graziano teria a capacidade de tonar as propostas mais densas, além de chegar acompanhado do prestígio que o ex-presidente Lula conquistou no exterior. Santiago lembra ainda que os resultados de hoje são o legado deixado pelo pioneirismo de Josué de Castro: o Brasil tornou-se nos últimos anos referência mundial em políticas públicas de combate à fome e redução da pobreza – acumulou uma série de experiência que servem como uma espécie de portfólio sobre medidas para tratar o problema. Quem abriu essa trilha foi um brasileiro, nascido e criado à beira dos mangues recifenses: o médico e geógrafo Josué de Castro (SANTIAGO, 2011). 58 Opus Citatum. 113 Além de assumir a presidência da FAO durante um período de crise financeira internacional, Graziano ainda enfrentaria alguns desafios relativos aos mecanismos internos da Organização, considerada demasiadamente burocrática. 3.3. ACORDOS BILATERAIS, ARRANJOS INTER-REGIONAIS E COALIZÕES : FRONTS DO COMBATE À FOME Dentro de um conjunto de iniciativas brasileiras, paralelo a atuação em foros multilaterais, foram observados alguns canais principais pelos quais fluem a vontade política de consolidar o tema no ambiente internacional. Os acordos bilaterais firmados na área podiam ser específicos sobre segurança alimentar ou podiam aparecer dentro de acordos guarda-chuva. Os arranjos entre regiões visavam estabelecer um diálogo mais amplo e que proporcionasse visibilidade às ações empreendidas pelo Brasil. Já as coalizões, funcionaram como lócus para estabelecimento de fundos de financiamento às pesquisas e aos programas de segurança alimentar e de desenvolvimento agrícola. Por meio de acordo de cooperação, na Venezuela, a Embrapa e o Ministério da Agricultura daquele país, desenvolvem trabalhos nas áreas de produção de sementes de grãos e pasto, sanidade animal, melhoramento de bovinos, produção de frangos e agricultura familiar, com expansão da superfície cultivada. A renovação do acordo em abril de 2010, demonstra os avanços obtidos por essa cooperação, como puderam verificar em El Tigre, Estado Anzoátegui, em outubro de 2009, quando ocorreu a primeira colheita de soja no marco do Projeto Agrário Socialista “José Inácio de Abreu e Lima”, que permitiu a transferência de tecnologia de produção agrícola e representa o núcleo impulsor do desenvolvimento do cultivo de soja na Venezuela (BRASILVENEZUELA, 2010. p. 3). Outro exemplo é o projeto para apoio à criação e à consolidação de uma instituição pública de pesquisa agropecuária na Bolívia. Criado com o apoio da Embrapa, o Instituto de Investigación Agropecuária y Forestal (INIAF) contribui para a solução do abastecimento alimentar boliviano. O projeto inicial foi concluído em abril de 2009, com a elaboração do Plano Estratégico para o Instituto. Em setembro do mesmo ano, o governo boliviano manifestou interesse em continuar a receber apoio brasileiro para o fortalecimento do órgão, o que ensejou o desenvolvimento de dois 114 novos projetos complementares, nas áreas de sistemas de sementes e de recursos genéticos (MRE, 2012). Em agricultura, a cooperação brasileira promove projetos de extensão rural, como fruticultura tropical e temperada; pecuária; pesca; vitivinicultura, com especial atuação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Salienta-se, nesse âmbito, o projeto “Assistência Técnica para a Produção de Soja em Cuba”, concluído no segundo semestre de 2009, que apoiou o desenvolvimento, naquele país, de técnicas modernas de cultivo da oleaginosa para a produção em larga escala de alimentos ricos em proteína vegetal (MRE, 2012). Desde 2005, a cooperação técnica na área de alimentação escolar, com o apoio do PMA, da FAO e da ABC/MRE desenvolveu-se e ampliou-se para vários países: Bolívia, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Haiti, Nicarágua, Panamá, Suriname, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor Leste e Palestina. Nesse sentido, o vem oferecendo capacitação a técnicos estrangeiros tanto no Brasil, como no exterior. Entre 2008 e 2009, foi promovido treinamento na área de sementes e hortaliças, ministrada pela Bionatur (cooperativa de agricultores familiares do Rio Grande do Sul); participaram técnicos equatorianos, venezuelanos, haitianos e nicaraguenses (CAISAN, 200 9. p.49). Dentre as iniciativas regionais, foi lançada pelo Brasil e Guatemala, em 2005, a Iniciativa América Latina e Caribe sem Fome - 2025 (ALCSF), que conta com o apoio da FAO para que todos os países da região possam ter seu próprio programa nacional de Segurança Alimentar com base em quatro estratégias essenciais: transferência de renda para a população mais pobre; integração entre iniciativas rurais e urbanas; participação e parceria com a sociedade civil; e criação de sistemas de avaliação e monitoramento em Segurança Alimentar e Nutricional (FAO, 2012). No encontro de Cúpula Brasil-CARICOM 2010 (Caribbean Community), ficou estabelecido a instalação do Escritório Regional para a América Central e o Caribe da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, em parceria com o Instituto Caribenho de Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola - CARDI, que deverão levar ao estabelecimento de acordo para o desenvolvimento de pesquisas conjuntas e o intercâmbio de técnicos (BRASIL-CARICOM, 2010. p. 6). Além disso, a implementação de bancos de leite humano em doze países das Américas do Sul e Central e do Caribe, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) também merece ênfase. Os bancos são instalados em hospitais localizados 115 em pontos estratégicos, de forma a possibilitar sua reprodução em outras regiões dos países-alvo, e a criação de redes nacionais que fortaleçam as ações dos programas de atendimento à saúde materna e infantil. A implementação de redes de bancos de leite humano é estratégia de baixo custo, mas de elevado impacto social, como confirmou a experiência no Brasil, onde as ações tiveram grande impacto na redução da mortalidade infantil (MRE, 2012). Em julho de 2009, foi celebrado com a União Africana – UA, Acordo de Cooperação Técnica entre o Brasil e a Comissão da União Africana para a Implementação de Projetos nas Áreas de Agricultura e Pecuária. Em maio de 2010, foi realizado o “Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural”. O evento propiciou uma discussão de temas e de propostas de cooperação entre o Brasil e a África no campo da agricultura e segurança alimentar. Foram anunciadas novas iniciativas de cooperação, como o Centro de Estudos Estratégicos e de Capacitação em Agricultura Tropical da Embrapa, além de dez Projetos-Piloto do Programa de Aquisição dos Alimentos na África (BRASIL-ÁFRICA, 2010. p.2). O IBAS, coalizão formada por Índia, Brasil e África o Sul se assenta em três pilares: concertação política, cooperação setorial e o Fundo IBAS. O agrupamento foi concebido para ser o guarda-chuva de inúmeras iniciativas diplomáticas. Ademais, o IBAS projeta com mais ênfase as posições individuais de Índia, Brasil e África o Sul, coordenando-as politicamente, o que se expressa em foros multilaterais como a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) e o Conselho de Direitos Humanos (CDH) (MRE, 2011). A cooperação setorial abriga 16 Grupos de Trabalho, dentre eles, um de agricultura e um de desenvolvimento social. O Fundo IBAS para o Alívio da Fome e da Pobreza foi criado, em março de 2004, pelos chefes de Estado do IBAS. O Fundo objetiva apoiar projetos viáveis e replicáveis que, baseados nas capacidades disponíveis desses países, e em suas experiências bem-sucedidas, contribuam com as prioridades nacionais de países de menor desenvolvimento. Cada um dos três países do IBAS comprometeu-se a destinar 1 milhão de dólares anuais ao Fundo. Os recursos do Fundo IBAS são administrados pela Unidade Especial de Cooperação Sul-Sul (UECSS) do PNUD. Até o ano de 2012, o Fundo IBAS concluiu projetos em cinco países (Burundi, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Haiti e Palestina); financia projetos, em fase de 116 implementação, em outros sete países (Cabo Verde, Camboja, Guiné-Bissau, Laos, Palestina, Serra Leoa e Vietnã) (MRE, 2011). Em junho de 2009, quando os preços dos alimentos persistiam em altos níveis, os países da Coalizão BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), se reuniram e emitiram uma declaração conjunta sobre a segurança alimentar global, a qual enfatizava o caráter complexo e sistêmico da segurança alimentar e sublinhava a necessidade de ações firmes e coordenas entre governos e agências internacionais. Segundo os BRIC, os países desenvolvidos e em desenvolvimento devem abordar a segurança alimentar de acordo com o princípio da responsabilidade compartilhada, mas diferenciada. Dessa forma, os países desenvolvidos deveriam fornecer apoio financeiro e tecnologia para países em desenvolvimento em matéria de capacidade de produção de alimentos e medidas de adaptação para minimizar os impactos das adversidades climáticas e da insegurança alimentar (BRIC, 2009). Além da declaração de 2009, em abril de 2010, os bancos estatais de desenvolvimento59 dos BRIC assinaram memorando para a cooperação em diversas áreas, inclusive para o financiamento de estudos sobre a redução da pobreza (BRIC, 2010). Segundo o então Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, “esse conjunto de iniciativas (...) revela a disposição do Brasil de colocar-se como um país que quer, e pode, contribuir ativamente para a construção da paz e da segurança entre as nações e o desenvolvimento econômico com justiça social” (AMORIM, 2005. p. 245). É importante ressaltar que a agenda de visitas do presidente Lula e do Ministro Celso Amorim aos países em que foi instituída parceria nas áreas de segurança alimentar, era acompanhada da exploração de outros temas de interesse brasileiros. As equipes de empresários que acompanharam o presidente e o ministro estabeleciam primeiros contatos, ou fortaleciam parcerias comerciais já estabelecidas nos países em que os investimentos se mostravam interessantes. Daí o caráter pragmático da política externa brasileira do período. Os interesses dos grupos comerciais brasileiros estiveram respaldados por essa estratégia de política externa ao longo do governo Lula. E é exatamente disso que trata o paradigma logístico, o qual Amado Cervo defende ser o modelo explicativo mais adequado para o período. Seria a inteligência de aliar os interesses econômicos brasileiros às ações políticas internacionais, carregando em cada 59 O Memorando foi assinado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) do Brasil, o China Development Bank Corporation da China, o Export-Import Bank of India da Índia e o State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) da Rússia. 117 missão diplomática e presidencial uma pasta de temas a serem negociados com os países parceiros ou potenciais parceiros. Virgílio Arraes, ao tratar das opções político-econômicas do Brasil e a opção de Lula por encabeçar um “Fome Zero Mundial”, afirma que o programa internacional seria a universalização do programa nacional. Segundo Arraes, o Fome Zero se caracteriza por “programas sociais compensatórios destinados a permanecer indefinidamente, a despeito de, em seu início, terem sido acompanhados da rubrica emergencial” (2008, p.162). O autor aponta para o fato de que, apesar da importância do tema para os países em desenvolvimento ou pouco desenvolvidos, a proposta do Fome Zero Mundial não desperta muita atenção dos países desenvolvidos. Entretanto, o que observamos é que, além dos planos de ação estabelecidos em âmbito multilateral, o Brasil optou por fortalecer parcerias na área de cooperação técnica agrícola e de programas de combate à fome com os países da América do Sul, Caribe, África e até da Ásia, no caso da Índia. Na maioria desses acordos, o Brasil transfere tecnologia e expertise na produção agrícola. Nesse caso, os programas estabelecidos pelo Brasil se caracterizam por uma mescla de combate emergencial à fome e de projetos estruturantes, e não somente por programas sociais compensatórios. Novas e renovadas tendências são observadas na PEB a partir dos anos 2000. Nas palavras de Thiago Gehre: Da análise e interpretação histórica do presente percebem-se cinco tendências que se cristalizaram entre 2000 e 2010: valorização das grandes linhas da PEB, reorientação da PEB como vetor de desenvolvimento, revisão do papel internacional do Brasil, renovação conceitual da diplomacia brasileira e a democratização da formulação da PEB (2009, p.143). Aqui destacamos as três últimas tendências. A terceira trata da “revisão do papel internacional do Brasil”, e apesar de o autor se referir especialmente ao contexto sulamericano e ao reforço da ideia de integração, sublinha-se também o combate à fome e a forte atuação do Brasil nos países mais vulneráveis, em projetos de cooperação técnica agrícola. Dada a expertise desenvolvida no Brasil no setor agrícola, o país deixou de ser um receptor e passou a transferir tecnologia a países pouco desenvolvidos, renovando seu papel nos fluxos de cooperação internacional. (...) ficaria a dúvida quanto à postura de política externa adotada pelo governo Lula, que claramente erigiu o combate à fome como eixo principal de sua política governamental. Não obstante, os eventos imediatamente 118 posteriores a sua posse, bem com a resposta afirmativa do governo, parecem ser animadores do ponto de vista do engajamento com a imagem de um Brasil atuante na cena internacional (GEHRE, 2009, p.157). A quarta tendência fala da renovação conceitual da diplomacia brasileira. Segundo Gehre, a postura adotada pelo Brasil ao fazer reverberar nos fóruns internacionais o conceito de América do Sul, fez com que se afirmasse o seu significado e sua representatividade política diante do mundo. Mas, dentro dessa tendência, outros aspectos podem ser acrescentados. Note-se a adoção de um novo princípio de política externa durante esse período. O princípio da não-indiferença, que corrobora também a revisão do papel internacional do Brasil. Ao não ignorar os problemas de outros países, estabelecendo por meio do diálogo algum tipo de contribuição, o Brasil adota o princípio da não-indiferença como guia de suas ações no meio internacional, fortemente evidenciado na luta contra a fome e a pobreza. Quanto à quinta tendência, que trata da democratização da formulação da PEB, observa-se que o papel desempenhado pelo CONSEA reafirma essa tendência. Nos assuntos que afetam direta ou indiretamente a segurança alimentar, é notável que a sociedade civil, através de seus representantes naquele Conselho, tenha a possibilidade de participar da formulação das posições adotadas pelo Brasil nas negociações internacionais. De fato, a formulação de política externa no Brasil acompanha o processo de democratização vivido pelo país. As renovações conceituais, a democratização da formulação da PEB, e uma nova auto-imagem que revela a possibilidade de o Brasil ter um novo papel nas relações internacionais, convergem no sentido de renovar as possibilidades brasileiras internacionalmente. Dessa forma, observa-se que a segurança alimentar se insere nas tendências que Gehre (2009) aponta, as quais vêm se cristalizando na política externa. Ao depararmo-nos com isso, percebemos que, ainda que o combate à fome e à pobreza como bandeira da ação internacional do Brasil esteja ligado à figura do presidente Lula, a segurança alimentar ainda fará parte das atividades diplomáticas e da cooperação técnica prestada pelo país por um bom tempo, considerando o número e os mais variados parceiros com os quais o Brasil assinou acordos e firmou compromissos. 119 CONSIDERAÇÕES FINAIS A essência desta dissertação foi baseada na História das Relações Internacionais, cujos métodos, ideias e conceitos, permearam toda a análise e interpretação das fontes, bem como o desenvolvimento da narrativa. O uso da história das relações internacionais como ferramenta interpretativa auxiliou no entendimento do conceito de segurança alimentar, suas modificações ao longo do tempo e sua inserção como referência de organismos internacionais e governos nacionais. Ademais, permitiu desenvolver uma narrativa em três tópicos principais, com o intuito de contemplar a complexidade intrínseca ao objeto. Primeiramente, foi feita uma análise histórica das ideias, fenômenos e conceitos atrelados à segurança alimentar e relações internacionais. Paralelamente, um diálogo entre os estudos e teorias de Relações Internacionais com o tema da segurança alimentar. Além disso, desenvolveuse um breve debate sobre os desafios da atualidade ao sistema alimentar global. No segundo tópico, foram abordados os movimentos sociais que determinaram a inserção e consolidação da segurança alimentar na agenda política nacional. Terceiro, o enfrentamento da insegurança alimentar global pela política externa brasileira. Após a Primeira Guerra Mundial, a expressão segurança alimentar passou a ser utilizada, pois a traumática experiência da guerra sublinhou o fato de que um país poderia dominar outro por meio do controle do suprimento alimentar, tornando-se essa uma arma poderosa. O abastecimento alimentar tornou-se matéria da segurança nacional e a ideia de soberania adquiriu novo significado dependendo de uma nação ser capaz, ou não, de autoprover-se de alimentos e matérias-primas. Após a Segunda Guerra Mundial, a criação da FAO marcou um novo momento do conceito de segurança alimentar, com duas ramificações: proteção de consumidores e produtores diante das severas flutuações de preços e de produção; e utilização dos excedentes para ajudar as nações com déficit de produção. A missão da nova organização era garantir que todas as pessoas tivessem a alimentação necessária para viver saudavelmente. 120 Em 1974, a I Conferência Mundial de Segurança Alimentar promovida pela FAO, realizada em Roma, rompeu o paradigma da “segurança alimentar como função de produção e estoque de alimentos”, e lançou a Declaração sobre a Erradicação da Fome e da Subnutrição, que se tornaria referência para as décadas subsequentes. Novos compromissos políticos foram assumidos durante a Cúpula Mundial da Alimentação (1996), na Cúpula do Milênio das Nações Unidas (2000), na Cúpula Mundial da Alimentação + 5 (2002) e a última Cúpula Mundial da Alimentação (2009). A declaração do Milênio se tornou o marco internacional mais relevante ao estabelecer oito metas de desenvolvimento do milênio, sendo a primeira, a de erradicar a pobreza extrema e diminuir pela metade o número de pessoas que passam fome no mundo até 2015. Além disso, esforços políticos têm sido feitos no sentido de firmar um compromisso dos países desenvolvidos de repassar 0.7% de seus respectivos PIB’s, até 2015 para a Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) direcionado aos países em desenvolvimento, bem como ampliar de 0.15 para 0.2 o percentual do PIB a ser repassado para os países menos desenvolvidos. Pode ser apreciado que, ao longo dos anos, o conceito de segurança alimentar ganhou novos aspectos, não se restringindo apenas à questão estratégica do abastecimento. A melhor distribuição, o acesso físico, social e econômico e a estabilidade passaram a integrar as preocupações que giram em torno da questão alimentar. Os aspectos nutricional e cultural também foram inclusos, adicionando-se, assim, o fator qualitativo aos aspectos quantitativos que já faziam parte do conceito. Além disso, um traço identitário mais plural foi agregado ao conceito, advindo da necessidade de renovar os esforços de organizações internacionais, da cooperação intergovernamental, da assistência humanitária, da maior participação da sociedade civil e do setor privado, em atuar conjuntamente e de maneira mais incisiva para enfrentar o problema da fome e da pobreza no mundo. Vimos também que as teorias de Relações Internacionais mais disseminadas não contemplam o tema da fome, isso porque elas são justamente determinadas pelas realidades de seus lócus de criação, que são os países desenvolvidos. Estes últimos possuem uma agenda de desafios teóricos diferenciados dos desafios que determinam a agenda dos países em desenvolvimento ou pouco desenvolvidos, por isso, concluímos que a realidade desafia constantemente o alcance das teorias. 121 Então, considerando a persistência dos problemas de segurança alimentar nos níveis global, regional e local, nos questionamos por que, apesar da significativa quantidade de organizações, alianças, fundos e ações globais, a insegurança alimentar continua a ser um problema tão complexo e sem soluções óbvias. Parece que, da mesma forma que no ambiente acadêmico, a questão da fome no mundo não desperta grandes preocupações no meio político internacional, ou mesmo que desperte, essas preocupações não parecem demasiado fortes a ponto de gerar um verdadeiro comprometimento com a questão. Dentre as questões da atualidade, vimos que as crises financeiras têm efeitos perversos para a segurança alimentar global, pois ressaltam as sensibilidades e vulnerabilidades do sistema alimentar global; aprofundam as relações entre alimentos e energia, pois os preços do petróleo e dos biocombustíveis interagem e criam volatilidade e novas tensões; intensificam as relações entre alimentos e mudanças climáticas, pois os desequilíbrios ambientais são ameaças diretas à cadeia produtiva alimentar; revelam as ligações intrínsecas entre insegurança alimentar e pobreza, pois os mais atingidos pela crise nos preços dos alimentos são as pessoas mais pobres, que veem seu poder de compra ser corroído pelos altos preços. Algumas tendências são observadas em relação ao modelo do atual sistema alimentar global: a) acentuação dos danos ecológicos causados pelo uso de combustíveis químicos e fósseis no ciclo da cadeia produtiva; b) a rápida degradação dos solos devido à prática da agricultura intensiva; c) a forte consolidação, integração horizontal e vertical, dos inputs e setores de processamento no sistema de produção alimentar; d) os pequenos produtores cada vez mais integrados ao agribusiness, frequentemente, sob contrato para a larga integração das corporações produtoras de carnes; e) o papel das sementes geneticamente modificadas na consolidação do controle corporativo sobre o setor de inputs; f) as dificuldades apresentadas pelos países de terceiro mundo em função das diretrizes de comércio da OMC; g) a massiva migração dos camponeses para o meio urbano, onde poucos empregos estão disponíveis; h) a contradição entre a enorme produção e a falta de acesso para grande parte da população. Diante do quadro histórico que alcança a atualidade é possível verificar a magnitude do desafio que se impõe ao Brasil e à sua política exterior. Portanto, o objetivo principal deste trabalho foi estabelecer um nexo entre segurança alimentar e política externa com fins de compreender como o quadro de insegurança alimentar 122 nacional redefiniu a agenda brasileira de relações internacionais. A observação acurada dos anos do governo Lula (2003-2010) foi especialmente profícua para o entendimento sobre a valorização inédita dessa temática como forma de inserção internacional do Brasil. À priori, a hipótese de que o governo brasileiro absorveu o conceito de segurança alimentar nos anos 2000, como uma forma de qualificar sua inserção internacional, que teria o objetivo de construir uma nova imagem do Brasil no cenário internacional, ligada ao combate à fome e à pobreza, serviu como guia e parâmetro desta investigação. De fato, a modificação na ênfase internacional brasileira, com uma inserção pautada nas demandas sociais de combate à fome e à pobreza, buscou reconstruir a imagem do país no mundo. O Brasil sempre foi um país que tinha como estigma as enormes disparidades sociais, agravadas pela pobreza extrema em certas regiões do país, e uma persistente apatia política e social em relação a esse assunto. Contudo, a segurança alimentar ganhou densidade na agenda política nacional por uma mescla entre pressões sociais no início dos anos 1990 e 2000, e ativismo dos homens de Estado que, por meio da diplomacia presidencial ou de Cúpula, fortaleceram o tema da segurança alimentar como linha da política externa brasileira. Outra conclusão importante, desenvolvida no segundo tópico desta dissertação, se refere ao papel dos movimentos sociais das décadas de 1980 e 1990 em influenciar a inserção e consolidação da segurança alimentar na agenda política nacional. Por meio do histórico das políticas públicas nacionais destinadas à área alimentar, desde a década de 1930 até os dias atuais, observou-se a mudança de ênfase e a evolução dessas políticas. Foi observado que o período de redemocratização experimentado pelo Brasil na década de 1980 foi essencial para que a sociedade brasileira tivesse mais oportunidades de participação na elaboração dessas políticas. Neste caso, a criação do CONSEA, em 1993, representou tanto a institucionalização desse diálogo do governo com a sociedade, como se tornou ponta de lança nas consultas realizadas pelo governo brasileiro no que diz respeito às negociações internacionais que poderiam interferir na construção da segurança alimentar em âmbito doméstico. 123 Ainda que seja uma observação passível de investigação mais aprofundada, poder-se-ia inferir que o diálogo estabelecido no âmbito do CONSEA, que pode emitir orientações e recomendações para os executores da política externa, representou uma maior abertura para a sociedade brasileira dos temas de política externa. Além da possível democratização da formulação da PEB, observou-se que o engajamento na luta contra a pobreza e a fome confere um grau de humanização aos objetivos de política externa, agregando assim valores morais à prática política. No último tópico da narrativa tratou do enfrentamento da insegurança alimentar global pela política externa brasileira. Viu-se que a PEB incorporou a segurança alimentar por meio de três dimensões. A primeira dimensão da política externa de combate à fome e a pobreza se manifesta nas negociações internacionais. Para tanto, a criação do CGFOME significou a atualização institucional necessária a consolidação da segurança alimentar como uma nova linha de ação internacional do Brasil. Ademais, a FAO, que já era espaço importante de atuação do Brasil em temáticas sociais, desde a sua criação com a liderança de Josué de Castro na delegação brasileira na Conferência de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (1947), até a eleição de José Graziano para Diretor Geral (2011), passou a ser o principal espaço multilateral de atuação para a defesa dos interesses brasileiros e para o engajamento em iniciativas de combate à fome e à pobreza. Foram discutidos, por meio da leitura e análise dos relatórios de gestão da Representação do Brasil junto à FAO, os temas tidos como prioritários para o Brasil naquela organização. Assim, à medida que os programas nacionais se concretizaram, o Brasil passou a atuar ativamente nas negociações e na busca por cooperação com os países e regiões mais sensíveis em relação à insegurança alimentar. Essa participação, que antes se mostrava tímida, rendeu ao Brasil a imagem de um país ativo em relação à luta do combate à fome. Logo, com base nas fontes analisadas, ficou mais claro que a postura proativa do Brasil, ao longo do governo Lula, buscou capitalizar votos a favor da eleição de Graziano como forma de fortalecer a posição do país na construção da agenda internacional de combate à fome e a pobreza. Além disso, gestão da REBRASFAO nos assuntos internos à FAO evidenciou a disposição do país em se se comprometer financeiramente nos programas da Organização ao mesmo tempo em que projetou as iniciativas brasileiras já em curso no país. 124 A segunda dimensão da PEB de combate à fome e a pobreza está ligada ao advento da cooperação sul-sul na área de segurança alimentar, nutricional e de desenvolvimento agrícola. O principal eixo de atuação do Brasil na temática foi a Cooperação Sul-Sul, e se fixou na transferência de tecnologia e know-how em produção agrícola, como demonstrado com os acordos de cooperação com países da África, do Caribe e da América do Sul. É importante ressaltar que as agendas de visitas do presidente Lula e do Ministro Celso Amorim aos países em que foi instituída parceria nas áreas de segurança alimentar, foram acompanhadas da exploração de outros temas de interesse brasileiro. As equipes de empresários que acompanharam o presidente e o ministro estabeleciam primeiros contatos, ou fortaleciam parcerias comerciais já estabelecidas nos países em que os investimentos se mostravam interessantes. Daí o caráter pragmático da política externa brasileira do período. Os interesses dos grupos comerciais brasileiros estiveram respaldados por essa estratégia de política externa ao longo do governo Lula. Seria a inteligência de aliar os interesses econômicos brasileiros às ações políticas internacionais, carregando em cada missão diplomática e presidencial uma pasta de temas a serem negociados com os países parceiros ou potenciais parceiros. A terceira dimensão da PEB de combate à fome e a pobreza diz respeito ao estímulo às assistências humanitárias. Neste ponto procurou-se apresentar as principais ações e discutir criticamente as contradições da diplomacia brasileira em temas específicos. Contudo, pode-se perceber que as iniciativas brasileiras no combate à fome e à pobreza, tanto no meio nacional, quanto no internacional, são inovadoras e influenciam na configuração de uma nova imagem ao Brasil, de um país atuante nas causas sociais, preocupado com a boa governança do mundo e os novos desafios do século 21. Entretanto, é preciso aguardar o acesso às fontes primárias para constatar com exatidão se as mudanças implementadas durante o governo Lula provocaram de fato mudanças profundas nas estruturas sociais internas e nos diálogos internacionais sobre o assunto. Neste momento será possível afirmar ou refutar com certeza as nossas percepções sobre o que ainda é um passado recente. O que as fontes puderam informar é que, apesar de ser bandeira política e agenda partidária, o combate à fome e à pobreza redefiniu a ação internacional do Brasil a partir de 2003. Além disso, é possível afirmar que a segurança alimentar ainda fará parte das atividades diplomáticas e da cooperação 125 técnica prestada pelo país por um bom tempo, considerando o número e os mais variados parceiros com os quais o Brasil assinou acordos e firmou compromissos. À guisa de conclusão, pode se dizer que paira sobre o Brasil um dilema: como continuar avançando na luta contra a fome e a pobreza no mundo, despendendo recursos e concentrando energias em investidas no meio internacional, enquanto o país ainda é considerado desigual e com sérios problemas sociais associados à fome e pobreza? A dissertação procurou mostrar que o governo brasileiro tende a ver este dilema como algo que se resolverá no futuro, na medida em que o país supere seus problemas internos, mas que não pode deixar de atuar internacionalmente pela superação da insegurança alimentar global. Neste caso, o Brasil se tornou referência internacional por sua expertise em programas e projetos de enfrentamento da fome e da pobreza, o que construiu uma imagem internacional positiva de nação, cujas ações tornaram-se exemplares para outros países e regiões do mundo em desenvolvimento e menos desenvolvido, estimulando novas parcerias e novas oportunidades de negócio para o país em suas relações internacionais. 126 FONTES E BIBLIOGRAFIA Documentos oficiais AAHM. The Alliance Against Hunger and Malnutrition Story. Alliance Against Hunger and Malnutrition (AAHM), 2012. Disponível em http://www.theaahm.org/about-aahm/history/en/. Acessado no dia 10 de outubro de 2012. BANCO MUNDIAL. Estratégia de parceria com o Brasil. Relatório do Banco Mundial para o período 2008-2011. BRASIL, Lei nº 11.346/2006, de 15 de setembro de 2006. Lei que cria o Sistema nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11346.htm. Acessado no dia 25 de novembro de 2009. BRASIL-ÁFRICA. Diálogo sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural – Documento Final, Brasília 13 de maio de 2010. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/cooperacao-tecnica/agricultura . Acessado no dia 19 de maio de 2010. BRASIL-CARICOM . Declaração de Brasília - Reunião de Cúpula BrasilCARICOM. Brasília, 26 de abril de 2010. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/2010/04/26/reuniao-decupula-brasil-caricom-2013-declaracao-de-brasilia-26-de-abril-de-2010. Acessado no dia 19 de maio de 2010. BRASIL-VENEZUELA. Comunicado Conjunto - Reunião Presidencial. Brasília, 28 de abril de 2010. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-aimprensa/visita-ao-brasil-do-presidente-da-venezuela-hugo-chavez-2013-brasilia-28-deabril-de-2010-2013-comunicado-conjunto Acessado no dia 19 de maio de 2010. BRIC. Brics’ Joint Statement On Global Food Security. Agreed by the national authorities in advance of the BRIC Summit and issued in Ekaterinburg, Russia, on June 16, 2009. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas-mais-informacoes/saibamais-bric/documentos-emitidos-por-altas-autoridades/brics-joint-statement-on-globalfood-security/view. Acessado no dia 05 de fevereiro de 2013. BRIC. Memorandum on Cooperation Among Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES and China Development Bank Corporation and ExportImport Bank of India and State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank). Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas-mais-informacoes/saiba-mais-bric/documentosemitidos-por-altas-autoridades/memorando-on-cooperation-among-development-banksof-bric-countries/view. Acessado no dia 05 de fevereiro de 2013. 127 CAISAN. Subsídio para Balanço das Ações Governamentais de Segurança Alimentar e Nutricional e da Implantação do Sistema Nacional. Documento elaborado pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar (CAISAN). Edição da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), 2009. CFS. The CFS Framework. Committee on World Food Security (CFS), 2012. Disponível em http://www.fao.org/cfs/en/ Acessado no dia 10 de outubro de 2012. CNSAN. 3ª Conferência Nacional de Segurança alimentar e nutricional. Por um Desenvolvimento Sustentável com Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Documento final, 2007. COEP. Históricos das Reuniões do Conselho Deliberativo do COEP. Comitê de Entidades Públicas no Combate à Fome e Pela Vida, 1993. Disponível em: http://www.coepbrasil.org.br/portal/publico/apresentarConteudo.aspx?CODIGO=C2008 12311110640. Acessado no dia 21 de março de 2013. CONSEA. A segurança alimentar e nutricional com base no respeito à soberania alimentar e na promoção do direito humano à alimentação no âmbito internacional: proposta de agenda de atuação para o CONSEA e o Governo brasileiro. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2008. Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/consea/internacional/documentos. Acessado em 20 de outubro de 2011. CONSEA. Considerações de segurança alimentar e nutricional nas negociações internacionais integradas pelo Brasil. Proposta da Plenária do CONSEA à Presidência da República. Maio de 2005. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Disponível em: www.presidencia.gov.br/CONSEA. Acessado no dia 20 de abril de 2010. CONSEA. Exposição de Motivos nº 006-2008/CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2008. Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/consea/internacional/documentos. Acessado em 20 de outubro de 2011. CONSEA. A Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à Alimentação Adequada no Brasil Realização - Indicadores e Monitoramento - da Constituição de 1988 aos dias atuais. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2010. CONSEA. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/consea/consea-2. Acessado no dia 22 de março de 2013. CONSEA. III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: Por um Desenvolvimento Nutricional Sustentável com Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Documento Final, 2007. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Disponível em http://www.planalto.gov.br/consea. Acessado no dia 15 de outubro de 2009. CONSEA. Lei de Segurança Alimentar e Nutricional: Conceitos. Lei nº 11.346/2006, de 15 de setembro de 2006. Edição: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Governo Federal, s/d. 128 CONSEA. Princípios e Diretrizes de uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Textos de Referência da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Brasília, Julho de 2004. EMBRAPA. Labex e Projetos no Exterior. Embrapa. Disponível em: http://www.embrapa.br/a_embrapa/labex . Acessado 20 de janeiro de 2013. EMBRAPA. LABEX USA. Disponível em: http://embrapa-labex-usa.com. Acessado no dia 20 de janeiro de 2013. EPE. Perspectivas para o etanol no Brasil. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília: Ministério de Minas e Energia, 2008. FAO; BID; BM. Projeto Fome Zero - Report of the Joint FAO/IDB/WB/Transition Team Working Group. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Banco Interamericano para o Desenvolvimento e Banco Mundial, 2003. FAO. 1.02 billion people hungry - One sixth of humanity undernourished - more than ever before. Relatório da FAO 2009. Disponível em: http://www.fao.org/news/story/en/item/20568/icode/. Acessado no dia 13 de julho de 2011. FAO. Declaration of The World Summit On Food Security. Rome, 16-18 November 2009. Disponível em: http://www.fao.org/. Acessado no dia 25 de novembro de 2009. FAO. Goal 1: Eradicate Extreme Poverty And Hunger. Fact Sheet. Disponível em: http://www.fao.org/mdg/goalone/en/. Acessado no dia 13 de julho de 2011. FAO. FAO no Brasil: Memória de Cooperação Técnica. Representação da FAO no Brasil. Disponível em: https://www.fao.org.br/download/LivroFAOBrasilMemoriaCooperacaoTecnica.pdf. Acessado em 20 de outubro de 2012. FAO. Informe Final da 30ª Conferência Regional da FAO para a América Latina e Caribe. Brasília, 2008. Disponível em: https://www.fao.org.br/download/informeFinal.pdf. Acessado no dia 21 de março de 2013. FAO. Projeto Fome Zero. Report of the Joint FAO/IDB/WB/Transition Team Working Group. 2003. Disponível em: www.fao.org. Acessado no dia 20 de abril de 2010. FAO. The State of Food Insecurity in the World: economic crises - impacts and lessons learned. Relatório de 2009 da FAO. FAO. The State of Food Insecurity in the World: How does international price volatility affect domestic economies and food security? Relatório 2011 da FAO. Disponível em: http://www.fao.org/docrep/014/i2330e/i2330e.pdf. Acessado no dia 12 de dezembro de 2011. IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Segurança Alimentar: 2004. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Coordenação de Trabalho e Rendimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2006. 129 IBGE. Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF) 1974-1975, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1975. IFAD. Who we are. International Fund for Agricultural Development (IFAD). Disponível em: http://www.ifad.org/governance/index.htm. Acessado no dia 10 de outubro de 2012. INAN; IBGE; IPEA. Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília, Março de 1990. IPCC. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IIPCC). Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 582 pp. Disponível em: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#SREX. Acessado no dia 10 de outubro de 2012. IPEA. O Mapa da Fome: subsídios à formulação de uma política de segurança alimentar. Documento de Política, n. 14. Brasília: IPEA, mar. 1993. MAPA. Balanço nacional da cana-de-açúcar e agroenergia. Brasília: MAPA/SPAE, 2007. MRE. Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul – IBAS. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/mecanismos-inter-regionais/forum-ibas. Acessado no dia 18 de novembro de 2011. MRE. Assistência humanitária. Balanço de Política Externa (2003-2010). Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/acaocontra-a-fome-e-assistencia-humanitaria/assistencia-humanitaria/view. Acessado no dia 18 de novembro de 2011. MRE. Assistência Humanitária. Balanço de Política Externa (2003-2010). Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-externa-2003-2010/7.1.10assistencia-humanitaria/view. Acessado em 20 de outubro de 2012. MRE. Segurança Alimentar e Nutricional. Balanço de Política Externa (2003-2010). Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-externa-20032010/7.1.6-seguranca-alimentar-e-nutricional/view. Acessado em 20 de outubro de 2012. MRE. Cooperação Internacional e Cooperação bilateral prestada. Balanço de Política Externa (2003-2010). Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-externa-2003-2010/7.1.1cooperacao-internacional-cooperacao-bilateral-prestada.Acessado no dia 30 de outubro de 2012. MRE. Cooperação Técnica –Agricultura. Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/cooperacao-tecnica/agricultura. Acessado no dia 18 de novembro de 2010. MRE. Declaração sobre fontes inovadoras de financiamento ao desenvolvimento. Nova York, 14 de setembro de 2005. Disponível em: 130 http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1052. Acessado no dia 20 de outubro 2012. MRE. Segurança Alimentar – FAO. Balanço de Política Externa (2003-2010). Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-externa-20032010/7.1.7-seguranca-alimentar-fao/view. Acessado em 20 de outubro de 2012. MRE. Segurança Alimentar – FIDA. Balanço de Política Externa (2003-2010). Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-externa-20032010/7.1.8-seguranca-alimentar-fida/view. Acessado em 20 de outubro de 2012. MRE. Segurança Alimentar – PMA. Balanço de Política Externa (2003-2010). Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-externa-20032010/7.1.9-seguranca-alimentar-pma/view. Acessado em 20 de outubro de 2012. MRE. Relatório de Gestão relativa aos recursos genéticos. Ministério das Relações Exteriores, Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 679 Relat13Genéticos. Distribuição: DEMA/DPAD/CGFOME/DNU/DPB. Classificação: PEMU – FAO. Caráter: Reservado. Índice: FAO. Relatório de Gestão XIII. Recursos Genéticos de 12 de agosto de 2010. Arquivo do Itamaraty. MRE. Relatório de Gestão relativa ao processo sucessório do Diretor-Geral da FAO, Jacques Diouf. Ministério das Relações Exteriores, Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 673 Relat7Diouf. Distribuição: CGFOME/DNU/DPB/DTS. Classificação: PEMU-FAO. Caráter: Reservado. Índice: FAO. Relatório de Gestão VII. O processo sucessório de Jacques Diouf de 12 de agosto de 2010. Arquivo do Itamaraty. MRE. Relatório de Gestão relativa à AEI e ao processo de reforma da FAO. Ministério das Relações Exteriores, Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 657 Relat1Reforma. Distribuição: CGFOME/DNU/DPB/DTS. Classificação: PEMU-FAO. Caráter: Reservado. Índice: FAO. Relatório de Gestão I. A AEI e o Processo de Reforma da FAO de 12 de agosto de 2010. Arquivo do Itamaraty. MRE. Relatório de Gestão referente ao Codex Alimentarius e à campanha liderada pelo Brasil para a maior participação dos países em desenvolvimento nas reuniões do Codex. Ministério das Relações Exteriores, Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 675 Relat9CODEX. Distribuição: DPB/CGC/DACESS/CGFOME/DNU/DTS. Classificação: PEMU-EAGR-FAO. Caráter: Reservado. Índice: FAO/OMS - Relatório de Gestão IX. Codex Alimentarius de 12 de agosto de 2010. Arquivo do Itamaraty. MRE. Relatório de Gestão relativa à pesca. Ministério das Relações Exteriores, Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 680 Relat14Pesca. Distribuição: DEMAE/DPB/CGFOME/DNU. Classificação: PEMU – FAO. Caráter: Reservado. Índice: FAO. Relatório de Gestão XIV. Pesca de 12 de agosto de 2010. Arquivo do Itamaraty. MRE. Relatório de Gestão à reforma do AEI e ao processo de reforma da FAO. Ministério das Relações Exteriores, Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 677 Relat 11 CSA. Distribuição: CGFOME/SGAPI/DNU/DTS/ABC/DPB/DPAD. Classificação: PEMU-FAO. Caráter: Reservado. 131 Índice: FAO. Relatório de Gestão XI. Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CSA) de 12 de agosto de 2010. Arquivo do Itamaraty. MRE. Relatório de Gestão relativa à Conferência de Alto Nível sobre Segurança Alimentar: os Desafios das Mudanças Climáticas e Bioenergia. Ministério das Relações Exteriores, Representação do Brasil junto à FAO (REBRASFAO). Telegrama 670 Relat4Conf2008. Distribuição CGFOME/DNU/DPB/DTS. Classificação: PEMUFAO. Caráter: Reservado. Índice: FAO. Relatório de Gestão IV. A Conferência de Alto Nível sobre Segurança Alimentar de 12 de agosto de 2010. Arquivo do Itamaraty. WFP. World Food Programme. Fighting hunger worldwide. WFP, 2012. Disponível em: http://www.wfp.org/about. Acessado no dia 10 de outubro de 2012. Discursos AMORIM, Celso. Discurso do Ministro das Relações Exteriores na Conferência das Nações Unidas sobre a Crise Financeira e Econômica Mundial e seu Impacto sobre o Desenvolvimento. Nova York, 26/06/2009. Disponível em: http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_ DISCURSO=3504. Acessado no dia 27 de outubro de 2009. CHIRAC, Jacques; LAGOS, Ricardo; LULA, Luiz Inácio Lula da Silva & ANNAN, Kofi. Declaração dos Presidentes e do Secretário-Geral das Nações Unidas em Genebra, 30/01/2004. Ação Contra a Fome e a Pobreza. Disponível em:http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp? ID_DISCURSO=2314 Acessado no dia 13 de setembro de 2009. LULA, Luiz Inácio Lula da Silva. Discurso do Presidente da República na Sessão de Posse, no Congresso Nacional. Brasília, 01 de janeiro de 2003. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/discursos-artigos-entrevistas-e-outrascomunicacoes/presidente-da-republica-federativa-do-brasil/Discurso-do-SenhorPresidente-da-Republica-Luiz acessado no dia 05 de dezembro de 2010. LULA, Luiz Inácio Lula da Silva. Discurso do Presidente da República na cerimônia de celebração do 60º aniversário da FAO. Disponível em: http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_ DISCURSO=2709 Acessado no dia 31 de agosto de 2010. LULA, Luiz Inácio Lula da Silva. Discurso do Presidente da República na reunião de Alto Nível da FAO sobre Segurança Alimentar, Mudanças Climáticas e Bioenergia - Roma, Itália, 03/06/2008. Disponível em: http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_ DISCURSO=3318. Acessado no dia 29 de outubro de 2010. LULA, Luiz Inácio Lula da Silva. Discurso do Presidente da República na Cerimônia de Lançamento Institucional do Programa Fome Zero e Instalação do Consea em 30/01/2003. Disponível em: http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_ DISCURSO=2037. Acessado no dia 13 de setembro de 2009. 132 LULA, Luiz Inácio Lula da Silva. Discurso do Presidente da República na abertura da Conferência do Banco Mundial sobre Combate à Pobreza em Xangai, China, 26/05/2004. Acessado em: http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_ DISCURSO=2366. Acessado no dia 13 de setembro de 2009. Matérias de Jornais e Revistas ACTIONAID. Lula rebebe prêmio contra a fome da ActionAid na Cúpula Mundial da Alimentação. 17 de novembro de 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/consea/exec/noticias.cfm?cod=27277. Acessado no dia: 17 de novembro de 2009. AGÊNCIA EFE. Cúpula contra fome da FAO divide países pobres e ricos. Publicada no dia 17 de novembro de 2009. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1382388-5602,00CUPULA+CONTRA+FOME+DA+FAO+DIVIDE+PAISES+POBRES+E+RICOS.htm l. Acessado no dia 20 de novembro de 2011. BBC Brasil. Ajuda humanitária em alimentos é a menor em 50 anos, diz ONU. 2008. Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/06/080610_onu_ajudaaliment arrg.shtml.Acessado no dia 12 de dezembro de 2011. BBC Brasil. Crise alimentar 'não tem vilões nem mocinhos', dizem especialistas. 2007. BBC Brasil. Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/06/080605_fatorescrisefao_av .shtml. Acessado no dia 12 de dezembro de 2011. BLANCHART, Eulalia. Fracasso ameaça cúpula da FAO sobre segurança alimentar. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL13824545602,00FRACASSO+AMEACA+CUPULA+DA+FAO+SOBRE+SEGURANCA+ALIMENT AR.html Acessado no dia 17 de novembro de 2009 às 15h. CONSEA. Com grande votação, PEC Alimentação é aprovada pela Câmara dos Deputados. 03 de novembro de 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/Consea/exec/index.cfm. Acessado no dia 13 de janeiro de 2010. FAO. FAO initiates debate on declaration for World Summit on Food Security: Calls for eradication of hunger by 2025 and for more investment in agriculture. FAO MEDIA CENTRE. Disponível em: http://www.fao.org/news/story/en/item/29219/icode/. Acessado no dia 20 de outubro de 2012. FAO. Meeting in Brazil to boost Regional Parliamentary Front against hunger. Escritório Regional da FAO para a América Latina e Caribe. 2009. Disponível em: http://www.rlc.fao.org Acessado no dia 20 abril de 2010. 133 LE MONDE. Brasilia mise sur laide au developpement pour etendre son influence le monde. 18 de agosto de 2010. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/sala-deimprensa/artigos-relevantes/brasilia-mise-sur-laide-au-developpement-pour-etendreson-influence-le-monde-18-8-2010. Acessado no dia 04 de dezembro de 2010. LE MONDE. Le Brésil de Lula sur tous les fronts le monde. 25 de maio de 2010. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/artigos-relevantes/lebresil-de-lula-sur-tous-les-fronts-le-monde-25-5-2010. Acessado no dia 04 de dezembro de 2010. LE MONDE. Le Brésil de Lula: ‘une diplomatie imaginative’. 04 de outubro de 2010. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/artigosrelevantes/le-bresil-de-lula-le-monde-04-10-2010. Acessado no dia 04 de dezembro de 2010. THE NEW YORK TIMES. Boom Times for Brazil’s Consumers. 24 de maio de 2008. Disponível em: http://www.nytimes.com/2008/05/24/business/worldbusiness/24brazil.html?pagewanted =2&ref=luiz_inacio_lula_da_silva. Acessado no dia 29 de novembro de 2010. THE NEW YORK TIMES. Embracing Lula's Pragmatic Legacy. 04 de novembro de 2010.Disponível em: http://www.nytimes.com/2010/11/05/opinion/05ihtedbremmer.html?scp=2&sq=luiz%20inacio%20lula%20da%20silva&st=cse Acessado no dia 29 de novembro de 2010. THE NEW YORK TIMES. Get Bold, Barack. 01 de novembro de 2010. Disponível em: http://www.nytimes.com/2010/11/02/opinion/02ihtedcohen.html?scp=8&sq=luiz%20inacio%20lula%20da%20silva&st=cse. Acessado no dia 29 de novembro de 2010. THE NEW YORK TIMES. Man in the News; Workingman President, Maybe Luiz Inácio Lula da Silva. 08 de outubro de 2010. http://www.nytimes.com/2002/10/08/world/man-in-the-news-workingman-presidentmaybe-luiz-inacio-lula-da-silva.html?pagewanted=3. Acessado no dia 29 de novembro de 2010. THE NEW YORK TIMES. Luiz Inácio Lula da Silva. 26 de julho de 2010. Disponível em: http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/d/luiz_inacio_lula_da_silva/i ndex.html?scp=7&sq=brazil&st=cse Acessado no dia 29 de novembro de 2010. AMARAL, Cristina. Entrevista à BBC. Crise alimentar 'não tem vilões nem mocinhos', dizem especialistas. 2007. BBC Brasil. Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/06/080605_fatorescrisefao_av .shtml. Acessado no dia 12 de dezembro de 2011. TIRABOSCHI, Juliana. Biocombustível ou comida? Revista Galileu. Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDR83925-7837,00.html Acessado no dia 01 de dezembro de 2011. Livros 134 ALTVATER, E. O Preço da Riqueza. São Paulo: Unesp, 1995. ARRAES, Virgílio. Relações Internacionais: o desgaste da nova ordem mundial. Brasília: Editora UNIVERSA - UCB, 2008. BUZAN, Barry. From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalisation. United Kingdom: Cambridge University Press, 2004. BUZAN, Barry. WAEVER, Ole e WILDE, Jaap. Security: a new framework of analysis. USA Linne Rienner Publishers, 1998. CARR, Edward Hallet. Vinte anos de Crises 1919 – 1939. Brasília: Editora UnB, 2001. CASTRO, Anna Maria de. Trajetória do combate à fome no Brasil. In: Fome Zero: Uma História Brasileira. Organizadora: Adriana Veiga Aranha. Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Assessoria Fome Zero, v. 1, p 18-25, 2010. CASTRO, Josué de. Fome: um tema proibido. CASTRO, Ana Maria de (org.) Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. CASTRO, Josué de. Geografia da Fome. O dilema brasileiro: pão ou aço. 10ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. CERVO, Amado Luiz. Inserção Internacional: formação dos conceitos brasileiros. São Paulo: Saraiva 2008. CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro A. Metodologia Científica. 5ª edição. São Paulo: Editora Pearson Prentice Hall, 2002. CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. 3ª edição. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008. DUROSELLE, Jean-Bapstiste; RENOUVIN, Pierre. Introducción a la historia de las relaciones internacionales. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2000. DUROSELLE, Jean-Baptiste. Todo Império perecerá. Brasília: Editora da Universidade de Brasília: São Paulo: Impressa Oficial do Estado, 2000. ERICKSEN, John; BOHLE, Hans-Georg; STEWART, Beth. Vulnerability and Resilience of Food Systems. Cap. 5, p. 68- 77. In: INGRAM, John; ERICKSEN, Polly; LIVERMAN, Diana (ed.). Food Security and Global Environmental Change. London: Earthscan, 2010. GADDIS, John Lewis. Paisagens da história: como os historiadores mapeiam o passado. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003. GEHRE, Thiago. América do Sul: a ideia brasileira em marcha. Curitiba: Juruá, 2009. GOLDSTEIN, Judith; KEOHANE, Robert O. Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework. In: GOLDSTEIN, Judith; KEOHANE, Robert O. Ideas and Foreign 135 policy: beliefs, institutions, and political change. New York: Cornell University Press, 1993. cap. 1. p. 3-30. IPEA. II Balanço das Ações de Governo no Combate à Fome e à Miséria – 1994. PELIANO, Anna Maria (Org.) Brasília : Ipea, 1994. Keohane, Robert, e Nye, Joseph. Power and Interdependence. 2. ed. New York: Harper Collins, 1989. KING, Garry; KEOHANE, Robert; VERBA, Sidney. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. New Jersey: Princeton University Press, 1994. KUBÁLKOVÁ, Vendulka. Foreign Policy, International Politics, and Constructivism. In: KUBÁLKOVÁ, Vendulka (ed.). Foreign policy in a constructed world. New York: M. E. Sharpe. 2001. cap. 1. p. 15-37. LIVERMAN, Diana; KAPADIA, Kamal. Food Systems and Global Environment: an overview. Cap. 1, p. 3 -23. In: INGRAM, John; ERICKSEN, Polly; LIVERMAN, Diana (ed.). Food Security and Global Environmental Change. London: Earthscan, 2010. MAGDOFF, Fred; TOKAR, Brian. Agriculture and food in crisis: conflict, resistance and renewal. New York: Monthly Review Press, 2010. McDONALD, Bryan L. Food Security. Cambridge: Polity Press, 2010. NOGUEIRA, João Pontes; MESSARI, Nizar. Teoria das Relações Internacionais: correntes e debates. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2005. PELIANO, Anna Maria Medeiros. Lições da história: avanços e retrocessos na trajetória das políticas públicas de combate à Fome e à pobreza no Brasil In: Fome Zero: Uma História Brasileira. Organizadora: Adriana Veiga Aranha. Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Assessoria Fome Zero, v. 1, 2010. PELIANO, Anna Maria; BEGHIN, Nathalie. Brasil: Os programas federais de alimentação e nutrição no início da década de 90. IPEA, Brasília, abril de 1994. PROCÓPIO, Argemiro. Destino Amazônico: devastação nos oito países da hiléia. São Paulo: Hucitec, 2005. PUTNAM, Robert; EVANS, Peter; HAROLD, Jacobson. Double Edged Diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics. University of California Press, 1993. ROSENAU, J. N.; CZEMPIEL, Ernst-Otto. Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000. SCHILPZAN, Rutger; LIVERMAN, Diana; TECKLIN, David; et.al. Governance beyond the State: Non-state Actors and Food Systems. Cap. 18, p. 273-300. In: INGRAM, John; ERICKSEN, Polly; LIVERMAN, Diana (ed.). Food Security and Global Environmental Change. London: Earthscan, 2010. 136 SKINNER, Quentin. Conventions and the understanding of speech acts. The Philosophical Quarterly. Vol. 20, n. 79, Philosophy of Language Number april,1970, p. 118-138. Published by Blackwell Publishing. THOMAS, Caroline. Poor, development and Hunger. In BAYLIS, J.; SMITH, S.; OWENS, P. The Globalization of World Politics: An introduction to international relations. 4ed. New York: Oxford University Press, 2008. TICKNER, Arlene B.; WAEVER, Ole. Introduction: geocultural epistemologies. In: ______ (orgs.). Intenational Relations Scholarship Around the World. London: Routledge, 2009. TRACHTENBERG, Marc. The Craft of international history: a guide to method. Princenton University Press, 2006. VIOTTI; KAUPPI. International relations theory: realism, pluralism, globalism, and beyond. Third edition. Allyn and Bacon, 1999. Artigos ALENCAR, Álvaro Gurgel de. Do conceito estratégico de segurança alimentar ao plano de ação da FAO para combater a fome. Revista Brasileira de Política Internacional. Vol.44 (1) Brasília 2001. AMORIM, Celso. Política Externa do Governo Lula: os dois primeiros anos, 2005. In Política Externa Brasileira Volume II. Discursos, Artigos e entrevistas do Ministro Celso Amorim (2003-2006). Ministério das Relações Internacionais. Brasília, 2007. BARELLI, Walter. História de Vida – Walter Barelli. DIEESE Disponível em: http://memoria.dieese.org.br/museu/nossas_historias_menu/walter-barelli. Acessado em 21 de março de 2013. CNPq. Currículo Lattes –Walter Barelli. Disponível em: http://lattes.cnpq.br/4184613623839750. Acessado em 21 de março de 2013. BARROS, Sebastião do Rego. A execução da política externa brasileira. Escola Superior de Guerra. Rio de Janeiro, 31 de maio de 1996. BELIK Walter; DEL GROSSI, Mauro. Brazil’s Zero Hunger Program in the Context of Social Policy. Paper to the 25th International Conference Of Agricultural Economists In Durban, South Africa, August, 2003. BELIK, Walter. As várias dimensões da Fome. Jornal da Unicamp, 12 a 25 jun. 2006, p. 2. Disponível em: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/jornalPDF/ju327pg02.pdf. Acessado no dia 20 de novembro de 2010. BELIK, Walter; SILVA, José Graziano da; TAKAGI, Maya. Políticas de Combate Fome. São Paulo: Perspectiva. v. 15. n. 4, 2001, p. 119-129. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/viewFile/2322. Acessado no dia 20 de novembro de 2010. 137 BROWN, Lester R. The New Geopolitics of Food. Foreign Policy. Disponível em: http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/25/the_new_geopolitics_of_food. 27 de maio 2011. Acessado no dia 12 de dezembro de 2011. COHN, Amélia. Políticas sociais e pobreza no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, n. 12, jun./dez. de 1995. CORDEIRO, Angela. Etanol para Alimentar Carros ou Comida para Alimentar Gente? In: Impactos da indústria canavieira no Brasil. IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (ed.) Plataforma BNDES, 2008. Disponível em: http://www.ibase.br/pt/wp-content/uploads/2011/06/extr-impactos-daind%C3%BAstria-canavieira-no-brasil-plataforma-bndes-2008.pdf. Acessado no dia 23 de março de 2013. FAO. A História da FAO - Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. s/d. Disponível em: http://www.rlc.fao.org/pr/quienes/sesenta.html. Acessado no dia 31 de agosto de 2010. HIRAI, W. G.; ANJOS, F. S. Estado e segurança alimentar: alcances e limitações de políticas públicas no Brasil. Revista Textos & Contextos. Porto Alegre v. 6 n. 2 p. 335-353. jul./dez. 2007. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/viewFile/2322/3251 Acessado no dia 20 de novembro de 2010. HULME, Mike. Abrupt climate change: can society cope? Tyndall Centre for Climate Change Research. Working Paper 30, 2003. LE MONDE. Vers un bouleversement de notre modele alimentaire. L’Atlas environnement. Le monde, 2008a. LE MONDE. Agrocarburants, un remede quei aggrave le mal ? L’Atlas environnement. Le monde, 2008b. LULA, Luiz Inácio da Silva. Investindo no B do BRIC. 03 de janeiro de 2009. Disponível em: http://mundorama.net/2009/01/03/artigo-do-presidente-da-republicaluiz-inacio-lula-da-silva-publicado-na-edicao-especial-527-a-da-revista-carta-capitalintitulado-investindo-no-b-do-bric-brasilia-df-03012009/. Acessado no dia 05 de dezembro de 2010. MALUF, Renato S.; MENEZES Francisco; VALENTE Flávio L.. Contribuição ao Tema da Segurança Alimentar no Brasil. Revista Cadernos de Debate. Vol. IV. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da UNICAMP, páginas 66-88, 1996. NEWMAN, EDWARD. Critical human security studies. Review of International Studies, 36, 77–94 British International Studies Association, 2010. OSÓRIO, Rafael Guerreiro; SOARES, Sergei Suarez Dillon Soares; SOUZA, Pedro Herculano. Erradicar a Pobreza Extrema: um objetivo ao alcance do Brasil. Texto para Discussão 1619, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2011. OXFAM. Global food prices in 2011: Questions & Answers. 2011. Disponível em: http://www.oxfam.org/en/campaigns/agriculture/food-price-crisis-questions-answers. Acessado no dia 12 de dezembro de 2011. 138 PELIANO, Anna Maria. Os Programas de Alimentação e Nutrição para Mães e Crianças no Brasil. Texto para Discussão nº 253. IPEA. Brasília. Abril de 1992. PELIANO, Anna Maria; BEGHIN, Nathalie. A Descentralização da Merenda Escolar. IPEA, Brasília, outubro de 1992. PENNA FILHO, Pio. Estratégias de desenvolvimento social e combate à pobreza no Brasil. In ALTEMANI, H.; LESSA, A. C. Relações Internacionais do Brasil: temas e agendas. v2. São Paulo: Saraiva, 2006. ROCHA, Antônio Jorge Ramalho da. O Brasil e os Regimes Internacionais. In: Relações Internacionais do Brasil: temas e agendas, v.2 / Henrique Altemani de Oliveira e Antonio Carlos Lessa (Org.). São Paulo: Saraiva, 2006. SARAIVA, José Flávio Sombra. O desafio africano. Revista Brasileira de Política Internacional. 45 (2): 5-25, 2002. SEITENFUS, Ricardo Antônio da Silva. ZANELLA, Cristine Koehler. MARQUES Pâmela Marconatto. O Direito Internacional repensado em tempos de ausências e emergências: a busca de uma tradução para o princípio da não-indiferença. Revista Brasileira de Política Internacional. 50 (2): 7-24, 2007. SILVA. Robson Roberto da. Principais políticas de combate à fome implementadas no Brasil. Revista Virtual Textos & Contextos PUC/RS, nº 5, nov. 2006. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/viewFile/1014/794 STEINBERG, Stefan. Financial speculators reap profits from global hunger. Global Research, April 24, 2008. Disponível em: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8794. Acessado no dia 12 de dezembro de 2011. TANNO, Grace. A contribuição da Escola de Copenhague aos Estudos de Segurança Internacional. Revista Contexto Internacional. Rio de Janeiro, vol. 25, n° 1, pp 47-80, janeiro/junho 2003. THOMAS, Caroline. Poor, development and Hunger. In BAYLIS, J.; SMITH, S.; OWENS, P. The Globalization of World Politics: An introduction to international relations. 4ed. New York: Oxford University Press, 2008. VALENTE, Flávio Luiz Schieck. A evolução, conceito e o quadro da segurança alimentar dos anos 90 no mundo e no Brasil. 1995. Disponível em: www.sept.pr.gov.br/conselhos/consea/artigos. Acesso em: abril de 2010. VALENTE, Flavio Luiz Schieck. A política de insegurança alimentar e nutricional no Brasil de 1995 a 2002. 2004. Disponível em: www.fomezero.gov.br/donwload/pol_inseg_alimentar_Flavio_Valente.pdf VASCONCELOS, Francisco de Assis Guedes de. Combate à fome no Brasil: uma análise histórica de Vargas a Lula. Rev. Nutr. vol.18 no.4 Campinas July/Aug. 2005. VIZENTINI, Paulo Fagundes. O G-3 E O G-20: o Brasil e as novas coalizões internacionais. In ALTEMANI, Henrique. LESSA, Antônio Carlos. (org.) Relações Internacionais do Brasil: temas e agendas. São Paulo: Saraiva, 2006. 139 Teses e Dissertações GODINHO, Rodrigo de Oliveira. Normas internacionais e distribuição: caminhos da política redistributiva em jogos de dois níveis. Tese de doutorado em Relações Internacionais. Brasília: Universidade de Brasília, 2007. GOMES, Newton Narciso Júnior. Segurança Alimentar e Nutricional como Princípio Orientador de Políticas Públicas no Marco das Necessidades Humanas Básicas. Tese de Doutorado em Política Social. Universidade de Brasília 2007. KORNIJEZUK, Nádia Bandeira Sasenco. Segurança Alimentar e Nutricional, uma questão de direito. Dissertação de Mestrado. Centro de Desenvolvimento Sustentável. Universidade de Brasília 2008. ROCHA, Eduardo Gonçalves. Direito à alimentação: políticas públicas de segurança alimentar sob uma perspectiva democrática e constitucional. Dissertação de Mestrado em Direito, Estado e Constituição. Universidade de Brasília 2008. 140 APÊNDICE A 1. Conselheiros – Sociedade Civil: Representantes das seguintes associações: Pastoral da Criança; Confederação Nacional da Agricultura (CNA); Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco); Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme); Articulação Nacional de Agroecologia (ANA); Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag); Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN); Rede Evangélica Nacional de Ação Social (Renas); Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq); Instituto de Estudos Socieconômicos (Inesc); Agentes de Pastoral Negros (APN); Rede de Mulheres Negras para a Segurança Alimentar e Nutricional (Mulheres Negras SAN); Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU); Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (Fetraf); Rede Nacional de Mobilização Social (Coep); Cáritas Brasileira; Coordenação Nacional de Pastorais Sociais; Ação da Cidadania; Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab); Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (Arpinsul); Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (Assema); Conselho Nacional das Populações Extrativistas; Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar (FBSSAN); Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia); Associação Brasileira de Supermercados (Abras); Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos (Abrandh); Rede de Informação e Ação pelo Direito a se Alimentar (Fian); Articulação no Semi-árido Brasileiro (ASA); Rede Nacional de Religiões Afro-brasileiras e Saúde; Comissão Nacional da Rede da Educação Cidadã; Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra); Movimento de Mulheres Camponesas (MMC); Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA); Fórum Brasileiro de Economia Solidária; Central Única dos Trabalhadores (CUT); Conselho Federal de Nutricionistas (CFN); Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB); Ana Maria Segall Especialista/pesquisadora Unicamp; Írio Luiz Conti - Especialista/pesquisador IFIBE; Elisabeta Recine - Especialista/pesquisadora Especialista/pesquisadora Nova Fapi; Elza UnB; Theonas Maria Gomes Franco Pereira Braga - 141 Especialista/pesquisadora UFCE; Emma Siliprandi – Especialista/pesquisadora Unicamp; Sílvia do Amaral Rigon - Especialista/pesquisadora UFPR; Luciene Burlandy Campos de Alcântara - Especialista/ pesquisadora UFF. 2. Conselheiros - Governo Federal: Os Ministros das seguintes pastas: Ministério da Pesca e Aquicultura; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Educação; Ministério da Integração Nacional; Ministério da Fazenda; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Saúde; Secretaria Geral da Presidência da República; Ministério do Meio Ambiente; Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; Secretaria de Políticas para Mulheres; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Secretaria de Direitos Humanos; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Casa Civil; Ministério das Cidades; Ministério da Ciência, da Tecnologia e Inovação; Ministério das Relações Exteriores. 3. Observadores: Actionaid Brasil; Assessoria Especial da Presidência da República; Caixa Econômica Federal; Confederação das Mulheres do Brasil; Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Cdes); Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf); Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES); Conselho Nacional de Saúde; Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama); Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional Nacional; Fundação Banco do Brasil; Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); Heifer do Brasil; Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA); Itaipu Binacional; Ministério Público Federal; Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco); Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO); Organização Panamericana da Saúde (Opas); Oxfam Internacional; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud); Relatoria do Direito Humano à Terra, ao Território e à Alimentação; Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço Social do Comércio (Sesc); Talher Nacional. 142 4. Presidentes do CONSEA durante o governo LULA (2003-2010): Luiz Marinho - Presidiu o Consea de 2003 a 2004. Foi o primeiro presidente do Consea após a reativação do órgão. Metalúrgico, sindicalista, com atuação no ABC Paulista, foi presidente da Central única dos Trabalhadores (CUT) e Ministro do Trabalho e Emprego e da Previdência Social. Francisco Antonio da Fonseca Menezes (Chico Menezes) - Presidiu o Consea no período de gestão 2004-2007. Economista, mestre em desenvolvimento agrícola, pesquisador e diretor do Insituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e integrante do FBSSAN. Renato Sérgio Jamil Maluf - Presidiu o Consea nos períodos de gestão 2008-2009 e 2010-2011. Doutor em Ciências Econômicas, professor da Universidade Federal do Rui de Janeiro, integra o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN). É um dos 15 integrantes do Painel de Alto Nível de Especialistas do Comitê de Segurança Alimentar da FAO. Presidiu o Consea em dois mandatos, de novembro de 2007 a março de 2012. Fonte: Informações retiradas do site oficial do http://www4.planalto.gov.br/consea; http://www4.planalto.gov.br/consea/quem-e-quem/conselheiros; http://www4.planalto.gov.br/consea/quem-e-quem/governo-federal; http://www4.planalto.gov.br/consea/quem-e-quem/observadores; http://www4.planalto.gov.br/consea/quem-e-quem/Renato. Acessado no dia 22 de março de 2013. CONSEA: 143
Download