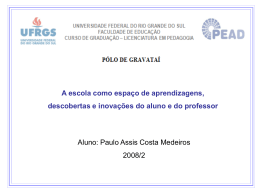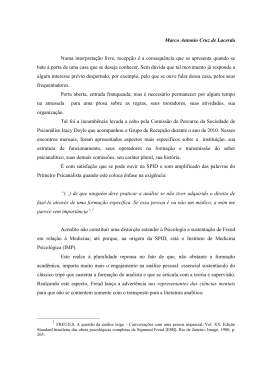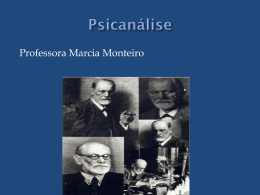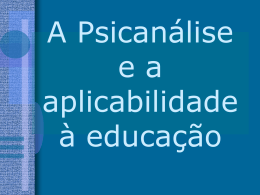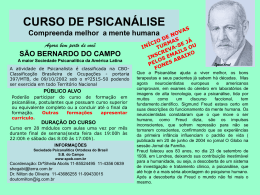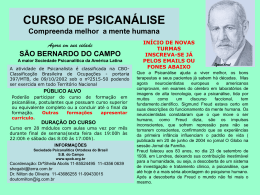Afinal, o que querem as mulheres? Paulo Massey 1. Esta pergunta, envolta em mistérios e não menos enigmática do que aquela que interroga pelo sentido da vida ou pela origem do universo, perseguiu o incansável Dr. Freud por toda a vida. Logo cedo, ele compreendeu que suas pacientes histéricas e obsessivas não sofriam por causa de alguma degeneração moral ou dos nervos, comoqueria fazer crer a medicina da época assim como a de hoje. Desconfiado, Freud interpelava suas pacientes como se estas estivessem escondendo algo, como se soubessem exatamente o que lhes causava tais sofrimentos, mas não tinham nem consciência nem coragem de admiti-lo. Tratava-se, por isso, de uma força contrária à sua vontade, algoque ignoravam ou, por assim dizer, algo inconsciente. Aos poucos, no entanto, ele percebeu que quanto mais insistisse em trazer essa verdade à tona, maior seria a resistência contra ele – uma resistência, às vezes, furiosa e descabelada, outras vezes, fria e silenciosa. Despiu-se, então, de sua autoridade médica e mesmo de seu orgulho masculino, para simplesmente ouvir o que tinham a dizer essas mulheres. Ouvi-las, aliás, revelou-se um gesto maior de inteligência, humildade e grandeza, pois, a um só tempo, permitiu-lhe encontrar um estratégia para a interpretação dos sintomas das pacientes, reconhecer a complexidade do universo feminino e, sobretudo, desafiar aquelas mulheres a se libertarem da opressão moral a que eram submetidas e da censura que impunham a si mesmas. Era preciso, pois, deixá-las falar livrementepara que falassem a verdade, para que pudessem dizer o que queriam e, enfim, para que deixassem falar o próprio desejo. Mas saber o que querem as mulheres requer, antes de tudo, saber o que é uma mulher. Digo isso porque não me parece nem um pouco evidente o que sejaeste modo de ser em questão. Como diria Simone de Beauvoir: “não se nasce mulher, é preciso tornar-se”. Então resta claro que essa não é uma condição dada naturalmente, assim como não há apenas umaforma de efetivação deste ideal de “tornar-se mulher”. Talvez isso explique a condição aventureira de nossas questões.Freud se referia à mulher como sendo um “continente negro” - desconhecido e, por isso, perigoso. Creio que a imensidão da metáfora ainda não basta. É necessária uma imagem que dê forma ao infinito do desejo. Prefiro pensar a mulher como um oceano, sem fundo e sem fim! O complexo de Édipo, muitos sabem, foi a forma imaginada por Freud para dar sentido a um não-saber sobre a origem do mundo civilizado bem como sobre os primeiros anos de nossa própria história enquanto sujeitos que se individualizam a partir do recalque das pulsões sexuais e da consequente simbolização em torno da falta. Isso que está perdido para sempre, que é impossível de recuperar, de conhecer, só pode ser pensado na forma do mito. É por meio deste recurso, portanto, que Freud estabelece as bases de sua teoria da sexualidade e da constituição do masculino e do feminino. O menino e a menina, na mais tenra idade, mantêm-se de tal modo unidos à mãe que só a presença de um terceiro, a figura paterna, poderá separá-los. Freud imagina dois destinos possíveis para esse conflito. No caso do menino, este terá que abandonar a mãe como objeto de amor e satisfação erótica, prazerosa, cedendo ao domínio do pai, acatando a sua lei e interiorizando sua imagem como referência ideal – como um ideal de eu.Tudo isso em virtude daquilo que Freud chamará de angústia de castração. Ou seja, na tentativa de explicar a diferença anatômica, genital, o menino imagina que a mãe foi castrada pelo pai, por tê-lo, talvez, desafiado. Temendo o mesmo, o menino desiste da mãe e logo terá de encontrar objetos substitutivos que preencham sua falta, como os sons, as palavras e os brinquedos. Se for bem sucedido, na vida adulta poderá escolher uma mulher como objeto de amor, sobre a qual projetará, provavelmente, suas fantasias infantis acerca da imagem da mãe. E no caso da menina, o que ocorre? Como pode sofrer com a angústia de castração se ela já seria supostamente castrada? É simples: a menina substituirá a mãe pelo desejo de ter um filho e o filho, por sua vez, preencherá o próprio vazio da castração. Como dirá Freud: “ela abandona seu desejo de um pênis e coloca em seu lugar o desejo de um filho; com esse fim em vista, toma o pai como objeto de amor. A mãe se torna objeto de seu ciúme. A menina transformou-se em uma pequena mulher". Em Totem e tabu (1913), Freud retoma uma ideia de Darwin sobre o estágio primitivo das sociedades humanas, baseada na noção de um pai primevo, ciumento e violento, que reservava as fêmeas para si e expulsava da comunidade ou punia severamente os filhos que ousassem contrariá-lo. Na sequência dessa especulação, um recurso a que Freud chamou de “mito científico”, os irmãos, expulsos pelo pai violento e temido, retornam, matam-no e o devoram, colocando fim à horda patriarcal. Consuma-se, portanto, o parricídio – o assassinato do pai, um ato criminoso que, paradoxalmente, dá origem a uma ordem social, fundada em restrições morais sobre as pulsões e na religião que cultua o Totem, representação simbólica do pai que fora morto. O ato de devorar o pai, comprovado pelos registros arqueológicos de rituais totêmicos, consuma a identificação dos irmãos com ele e com o lugar que ocupa, pois ao comer suas partes, adquirem parte de sua força, permitindo-se, pois, gozar dos privilégios irrestritos do patriarca. Depois de toda a orgia e desordem que se seguem à morte do pai, advém o arrependimento dos irmãos, pois a afeição com “o amável tirano” produz um enorme sentimento de culpa, de desamparo, já que a filiação, antes de tudo, proporcionava um lugar no mundo, um destino para as pulsões e, portanto, um sentido para a existência, ainda que isso implicasse renúncia ao gozo. Com a morte do pai, abre-se uma perspectiva ameaçadora da possibilidade do gozo irrestrito, diante da qual cada um se vê prestes a ser abusado ou violentado pelos outros. Surge, então, entre os irmãos, um ideal que restaura, na forma de uma autoridade simbólica, o poder soberano do pai primevo, estabelecendo uma interdição sumária: a proibição do incesto. O acesso a todas as mulheres seria permitido, exceto à genitora – a mulher do pai. Como diz Freud, o tabu do incesto materno é a única interdição comum a todas as civilizações, justamente por que é a renúncia a esse excesso de gozo (que separa mãe e filho) que faz com que os homens saiam dos estágios de selvageria e barbárie e adentrem no universo da civilidade. O parricídio, portanto, funda uma ordem social, a partir de uma interdição ou Lei simbólica que não está escrita em lugar algum, mas que é consentida por todos, restringindo o gozo absoluto e, consequentemente, condenando os homens à liberdade e à necessidade de falar, de comunicar aos outros a diferença que os singulariza, pois deixam de integrar a massa indiferenciada de filhos e passam à comunidade de irmãos.Essa diferença que os singulariza está na base da diferença entre o homem e a mulher, ou melhor, entre o masculino e o feminino. Isso se faz por meio da apropriação do significante puro, daquele que é signo da ausência e da presença e que, portanto, permite a elaboração simbólica como forma de superar o horror da diferença anatômica, do real do sexo – irredutível e excessivo. É fato que a condição de reprodutora sempre esteve ligada à mulher e ainda o está. Para a maioria delas, a maternidade é a forma plena de experimentar essa condição. A maternidade sempre fez par com a fertilidade, sendo comum no imaginário de várias culturas a condição natural da maternidade e a imagem da natureza como uma mãe. O próprio Freud supõe que a saída do complexo de Édipo requer, para a menina, o desejo de ter um filho, o que condenaria a uma condição biológica “o tornar-se mulher” - um processo estritamente subjetivo, lastreado não na natureza, e sim na cultura. É curioso como, na mitologia grega, a condição reprodutiva da mulher está representada de modo trágico na figura de Métis - a primeira esposa de Zeus, deusa da astúcia e das habilidades, capaz de se transformar em tudo que imaginasse. Segundo a profecia de Gaia, Métis geraria dois filhos, cuja força e sabedoria os colocariam à altura de Zeus. Temendo tal infortúnio, Zeus decide engolir Métis. Para tanto, pede que ela se transforme em um leão feroz, dando prova deste seu poder de se metamorfosear. Em seguida, pede-lhe que se transforme numa gota d’água. Ao fazê-lo, Zeus então a sorve para dentro de sua barriga. Como não pode engravidar, Zeus mantém Métis dentro de sua cabeça que cresce na proporção do útero da deusa, poisa mesma agora está grávida de Atenas. Prometeu, com seu machado, abre com um golpe a enorme cabeça de Zeus que grita fortemente ao senti-la partida como se fossem, por assim dizer, as dores de um parto. Eis que Atenas salta de dentro da cabeça de seu Pai já adulta e armada para a guerra, herdeira da astúcia materna. É claro que esse mito é a expressão maior de uma ordem patriarcal, a representação plena de uma sociedade onde é retirada da mulher até mesmo a condição de reprodutora - essa que seria uma condição natural. Não por outro motivo, Atenas tem de nascer adulta, para que restem evidentes o quão desnecessários são os cuidados da mãe na formação da filha. 2. “A mulher não existe”, disse certa vez Jacques Lacan, o psicanalista francês. Dita desta maneira, a frase parece arrematar o destino trágico da deusa Métis. Mas não se trata disso. Para Lacan, a mulher não existe inteiramente, completa, toda. Em vez de padecer em virtude da falta, da suposta perda do falo suplantada pelo desejo do filho, como queria Freud, a mulher é essa incompletude do ser, um não-ser todo, sempre reinventado, insatisfeita, desejosa. A feminilidade é, nesse sentido, uma figura da indeterminação, do que é impossível de conter, do que sempre escapa. Talvez por isso, a mulher tenha sido frequentemente tomada como símbolo da perdição, do pecado, do desvio, do desvario. Na idade média, lembre-se, a Igreja as condenou à fogueira como bruxas, criaturas possuídas pelas forças do mal. Condenou também sua nudez e seu riso como sinais de possessão. Um estigma marcado no tempo, na carne, carregado até os dias de hoje. Nas sociedades da primeira e da segunda revoluções industriais, do trabalho e do progresso material das classes médias até a primeira metade do século XX, a posição da mulher sempre esteve relegada ao lar, aos cuidados com a casa e com a preservação da família. Esse modo de vida burguês, no entanto, apesar da aparente tranquilidade, acumulava por trás de si os sentimentos mais heteróclitos, como a dominação autoritária do macho, sua liberdade de transgredir as leis do casamento e sua permanente desconfiança acerca da fidelidade da mulher. Ninguém melhor do que Nelson Rodrigues para dizê-lo. Suas personagens, mulheres, estão sempre às voltas com esse passado infame e cruel, condenadas à incompreensão, à submissão e ao juízo moral alheio. Diante do noivo que exige a certeza de que o amor jamais perecerá, uma dessas personagens diz sussurrando: “as mortas não traem”. Outra dessas mulheres, personagens de Nelson,trai o marido com ele mesmo, tomando-lhetambém por amante, já que se negaa seguir a obrigação de se manter absolutamente fiel por meio da castidade.São essas mulheres - que não amam por obrigação, que não cedem de seu desejo, que não se enganam quando amam - são elas, pois, que são tachadas de vadias quando passam na rua, à mercê do decote ou da calça marcada; é sobre elas que as bocas miúdas, alcoviteiras, inventam histórias imorais; são elas que sofrem com o assédio no ônibus e no trabalho e é por elas que os jovens solteiros tremem à noite quando encontram essas deusas em seus melhores sonhos. As línguas maledicentes e injuriosas, assim como os mais cínicos, atribuem à mulher a responsabilidade por todo esse infortúnio. Se foi traída, a culpa é sua. Se foi assediada, a culpa é sua. Se foi desonrada, a culpa é sua. Se foi violentada, a culpa é sua. Por acreditar nisso, ela sofria, punia-se e tentava de todo modo enganar-se, esquecer-se de si, de sua verdade, de seu desejo. O amor tinha de se reduzir ao compromisso. Um compromisso que se tornava cada vez mais insustentável à medida que a mulher conquistava espaços, posições estratégicas, poder e autonomia. O homem, ameaçado, reagia em vão. Já era tarde. As ruínas do patriarcalismo desabavam indiferentes aos protestos machistas e aos arroubos de seu ideário. Quando as operárias e as estudantes se juntaram às demais feministas no “maio de 68”, em Nanterre e Paris, ficou evidente que a políticahavia se tornado a forma mais adequada de responder às questões que levantamos no início: o que querem as mulheres? O que é uma mulher? 3. Desde então, a luta por direitos tem marcado o campo do feminino. Ser mulher é ser de luta, é não se submeter, não se calar diante das injustiças. Ser mulher é rebelar-se: contra a autoridade, contra o poder dos homens, contra o sistema dominador, contra as tentativas de reduzir sua condição feminina, sua condição de gênero e sua sexualidade ao mutismo de seu sexo biológico, incapaz de dizer algo sobre seu desejo. Um desejo que, agora, não teme dizer seu nome; que não se contém, não se reprime. Um desejo de amar uma outra mulher, um desejo de, nascido homem, tornar-se mulher; um desejo de não se definir, de transcender uma e outra posição, de não ser apenas mulher ou apenas homem; um desejo, enfim, de ser livre e feliz. O fato de que a mulher tem ocupado espaços tradicionalmente masculinos é, por certo, digno de reconhecimento e louvor. Diante de tarefas que exigem a força física, ela demonstra a força de sua inteligência. Quando assume funções de direção, em vez de personificar o poder, fazendo da autoridade um exercício de autoritarismo, ela consegue a adesão de seus pares por meio da sutileza que lhe é própria. Em vez da barganha e da corrupção, dá lugar a gentileza e ao exemplo que estimula. A mulher ocupou esses espaços, reinventou suas formas e funções, e ainda conseguiu manter seus papéis tradicionais de ser filha, ser mãe e esposa. Talvez por isso seja herdeira da astúcia da deusa Métis, que tinha a capacidade de se transformar em tudo. No entanto, é necessário ponderar sobre a ilusão que se produziu em torno deste ideal da feminização do mercado de trabalho. A mim me parece que a reinvenção operada pela mulher no mundo do trabalho tem claros limites sistêmicos, ou seja, nos momentos decisivos, de crise e ou de aproximação aos limites estruturais da sociabilidade burguesa, o poder de resistência da mulher, isoladamente, é tão inócuo quanto o do homem. Diante da dominação sistêmica do capitalismo ambos são meras personificações das figuras do capital e do trabalho. Para superar essa forma social de exploração, fetichista e cada vez mais violenta, é preciso a unidade de homens e mulheres, com um grau de cumplicidade e solidariedade que faria dessa relação política uma relação, por assim dizer, amorosa. Pois o amor é um sentimento revolucionário. E é justamente no campo das relações amorosas, afetivas, que a mulher, ao que parece, tem se deixado consumir por esse ideal de ocupar o lugar do homem, reproduzindo-o mecanicamente, sem qualquer reinvenção substantiva, como se quisesse impingir a ele uma espécie de vingança por toda a dominação simbólica sofrida. A mulher, com isso, reproduz a forma masculina deassumir a posição ativa do desejo, fazendo com que o homem perca sua virilidade, intimidando-o diante de tão gigantesca necessidade de satisfação e autoafirmação. A fala que, vez ou outra, toma a boca da mulher é uma fala machista, e não uma prova da liberação do desejo feminino supostamente reprimido. Quando ela diz que “pode e quer ficar com todos, beber até cair e que não deve satisfação a ninguém” é o desejo do homem que fala por ela. E isso é apenas mais uma forma da dominação simbólica exercida pelo falo-centrismo, não no sentido de que essa seja uma dominação apenas simbólica, mas no sentido lacaniano, de estruturação da compreensão e simbolização do real traumático, da diferença pura, sem sentido próprio, que é preciso, pois, inventar – a diferença entre o masculino e o feminino. Para finalizar, devo dizer apenas que, ao contrário do que se supõe predominantemente, uma relação livre entre homem e mulher não pressupõe a igualdade na forma de um reconhecimento jurídico-político, tal como defende, por exemplo, o movimento feminista; ao contrário, a igualdade não está no início e sim no final: uma igualdade que só se realiza por meio da diferença radical, irredutível, portanto, da diferença pura - o que torna a exigência do reconhecimento da igualdade uma formalidade sintomática da não realização desta verdadeira diferença. A diferença pura remete ao vazio criador, à negação e, portanto, à liberdade efetiva. Se não é possível dizer o que é exatamente uma mulher e, portanto, o que ela deseja, que ela, pelos menos, não seja igual ao homem para que se complementem a partir de suas diferenças e insuficiências. Para que experimentem o maior dos sentimentos que é o amor. Esse que é, por sua vez, a forma mais expressiva e marcante, tragicamente sedutora, de explicitação da monstruosidade recôndita do afeto, no sentido daquilo que afeta, faz doer e domina. Isso porque o amor não é a força redentora que resiste ante a destruição. O amor não é piedoso, não perdoa nem se compadece. O amor é frio, é mais frio que a morte, pois a contém em seu interior. Ele traz em si a própria destruição, à qual resiste para que se mantenha vivo. Frente à mulher que ama, o homem salta no abismo sem desespero, sem fé. O abismo é a mulher. Salto e queda se confundem. Sou um amante, e digo tudo isso em queda livre, suspenso no ar, sem asas, pois, só quando pude encontrar esse abismo que é a mulher, encontrei-me, enfim, como homem. Como diria novamente Nelson Rodrigues, “quem nunca desejou morrer com o ser amado, não amou nem sabe o que é ser amado”.
Download