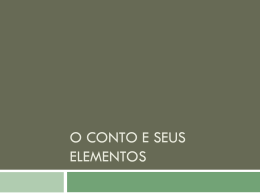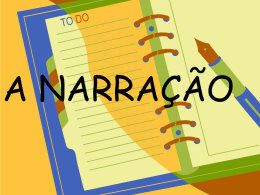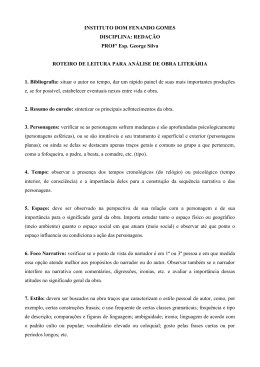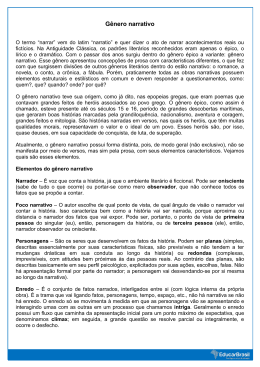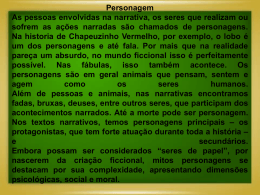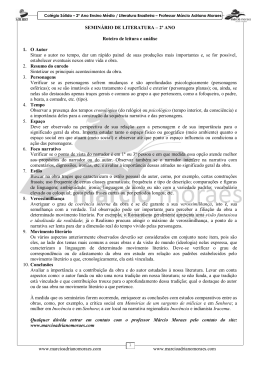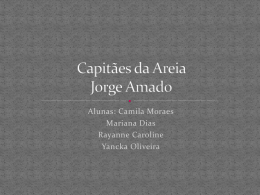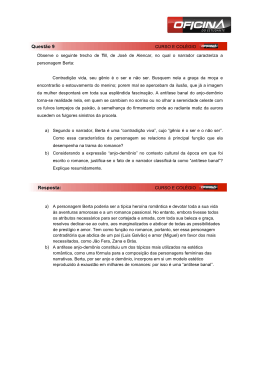UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CRISTIANE TEIXEIRA DE AMORIM RAIMUNDO CARRERO: a estética do redemunho RIO DE JANEIRO 2013 CRISTIANE TEIXEIRA DE AMORIM RAIMUNDO CARRERO: a estética do redemunho Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Letras Vernáculas, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutora em Literatura Brasileira. Orientadora: Professora Doutora Rosa Maria de Carvalho Gens RIO DE JANEIRO 2013 RAIMUNDO CARRERO: A ESTÉTICA DO REDEMUNHO Cristiane Teixeira de Amorim Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Letras Vernáculas, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutora em Literatura Brasileira. Orientadora: Professora Doutora Rosa Maria de Carvalho Gens Aprovada por: _________________________________________________ Presidente, Professora Doutora Rosa Maria de Carvalho Gens Faculdade de Letras – UFRJ __________________________________________ Professora Doutora Eleonora Ziller Camenietzki Faculdade de Letras – UFRJ __________________________________________ Professora Doutora Elódia Xavier Faculdade de Letras – UFRJ __________________________________________ Professor Doutor Godofredo de Oliveira Neto Faculdade de Letras – UFRJ __________________________________________ Professor Doutor Paulo César de Oliveira Faculdade de Letras – FFP UERJ Suplentes: __________________________________________ Professora Doutora Luci Ruas Pereira – Faculdade de Letras UFRJ __________________________________________ Professora Doutora Martha Alkimin Vieira – Faculdade de Letras PUC/RJ RIO DE JANEIRO Fevereiro de 2013 C314am Amorim, Cristiane Teixeira de. Raimundo Carrero: a estética do redemunho / Cristiane Teixeira de Amorim. – Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. xi, 426f.: il..; 31 cm. Orientador: Rosa Maria de Carvalho Gens Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Riode Janeiro, Faculdade de Letras, Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas, 2013. Bibliografias: f. 413-426. 1.Carrero, Raimundo, 1947- Crítica e interpretação. 2. Literatura brasileira. I. Gens, Rosa Maria de Carvalho. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras. CDD:B869.35 A Raimundo Carrero Agradecimentos Aos que foram lançados comigo neste desmedido redemunho. RESUMO Resumo da Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Letras Vernáculas, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutora em Literatura Brasileira. AMORIM, Cristiane Teixeira de. Raimundo Carrero: a estética do redemunho. Rio de Janeiro, 2013. Tese (Doutorado em Literatura Brasileira) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. A tese “Raimundo Carrero: a estética do redemunho” tem como corpus as obras do escritor pernambucano, publicadas no período de 1975 a 2007, com exceção apenas de duas narrativas destinadas ao público infantojuvenil. A pesquisa, que compreende onze títulos, apresenta um painel da ficção carreriana a partir do enfoque de questões pertinentes a cada romance, novela ou conto (com utilização de base crítica e teórica correspondente), sem privilegiar de antemão um tema comum. Essa linearidade, no entanto, é quebrada na medida em que o avanço das análises revela similitudes e diferenças entre os textos. O cotejo dos títulos evidencia ainda elementos recorrentes na prosa de Raimundo Carrero assim como novidades temáticas e/ou estruturais, possibilitando a visão do percurso que por vezes coincide com a própria trajetória da literatura contemporânea. Verifica-se que a forma espiralada das narrativas harmoniza-se com a agonia das personagens que remoem incessantemente suas dores. Essa estética em redemunho compreende temas que se repetem, relações inter e intratextuais (retomada da voz do outro e da própria voz), simultaneidade de planos (giro ao redor do tempo sob diversas perspectivas, recuperação das mesmas cenas), micro e macro estruturas circulares (eterno retorno), estilhaços do passado (instantes que voltam e se fazem presentes), imagens que ressurgem, inevitáveis destinos em eco, universos paralelos (espelhos de múltiplas projeções), identidades fragmentadas, fusionadas e recuperadas etc. A prosa ruminante se conforma, enfim, ao movimento repetitivo, rotatório do mundo e à concepção de que o homem de todos os tempos é sempre o mesmo, culpado e inocente, presa dos redemunhos da alma. Palavras-chave: Raimundo Carrero. Literatura Brasileira. Ficção contemporânea. ABSTRACT Abstract da Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Letras Vernáculas, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutora em Literatura Brasileira. AMORIM, Cristiane Teixeira de. Raimundo Carrero: the esthetics of the whirlwind. Rio de Janeiro, 2013. Tese (Doutorado em Literatura Brasileira) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. The thesis “Raimundo Carrero: the esthetics of the whirlwind” has as its corpus the works of this writer from Pernambuco, published between 1975 and 2007, with the sole exception of two narratives that aimed at children. The research, which comprises eleven titles, presents a panorama of Carrero’s fiction, focusing on relevant questions for each novel, novella or short story (using the corresponding critical and theoretical basis), without giving previous privilege to any common theme. That linear aspect, however, is interrupted as the analyses reveal similarities and differences between the texts. The comparison of the titles shows also recurrent elements in Raimundo Carrero’s prose as well as thematic and structural novelties, enabling one to see a course which frequently coincides with the trajectory of contemporary literature. One verifies that the form in spiral of the narratives is in harmony with the agony of the characters, who incessantly ruminate their pain. That whirlwind esthetics comprises themes that repeat themselves, inter and intratextual relations (return of the voice of the other and of their own voice), simultaneity of shots (turn round time from different perspectives, reoccurrence of scenes), micro and macrostructures (eternal recurrence), splinters from the past (moments that come back to become present), images that reappear, inevitable destinies in echo, parallel universes (mirrors of multiple projections), fragmented, fused, and recovered identities, etc. The ruminating prose conforms at last to the repetitive, rotating movement of the world and to the conception according to which the man of all times is always the same, guilty and innocent, prey to the whirlwinds of the soul. Key-words: Raimundo Carrero. Brazilian Literature. Contemporary Fiction. RÉSUMÉ Résumé de la thèse de Doctorat présentée au Programme de Spécialisation en Lettres Vernaculaires, Faculté de Lettres de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, comme une partie des conditions nécessaires au titre de Docteur en Littérature Brésilienne. AMORIM, Cristiane Teixeira de. Raimundo Carrero : L’esthétique du tourbillon. Rio de Janeiro, 2013. Thèse (Doctorat en Littérature Brésilienne) Faculté de Lettres, Université Fédérale de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2013. La thèse « Raimundo Carrero : l’esthétique du tourbillon » a comme corpus les œuvres de l’écrivain brésilien natif de la ville de Pernambuco publiées entre la période de 1975 à 2007, à l’exception seulement de deux narratives destinées au publique enfantin-jeune. La recherche, qui a onze titres, présente un tableau de la fiction de Carrero à partir du relief donné aux questions pertinentes à chaque roman, feuilleton ou conte (avec l’utilisation d’une base critique et théorique correspondante), sans privilégier avant tout un thème en commun. La comparaison des textes met en évidence encore les éléments qui se répètent dans la prose de Raimundo Carrero ainsi que des nouveautés thématiques et/ou structurelles qui rendent possible la vision du parcours qui plusieurs fois coïncide avec la trajectoire de la littérature contemporaine elle-même. On vérifie que la forme spiralée des narratives est harmonisée avec l’agonie des personnages qui endurent leurs souffrances. Cette esthétique dans le tourbillon a des thèmes qui se répètent, relations inter et intra-textuelles (reprises de la voix de l’autre et de sa propre voix), simultanéité de plains (un tour autour du temps sous plusieurs perspectives, récupération des mêmes scènes), micro et macro structures circulaires (éternel retour), éclats du passé (moments qui retournent et qui se font présents), images qui ressurgissent, inévitables destins en éco univers parallèle (miroirs de multiples projections), identités fragmentées, fusionnées et reprises etc. La prose ruminante se conforme, enfin, au mouvement répétitif, rotatoire du monde et à la conception que l’homme de tous les temps est toujours le même, culpabilisé et innocent, prisonnier des tourbillons de l’âme. Mots-clés : Raimundo Carrero. Littérature Brésiliènne. Fiction Contemporaine. LISTA DE ABREVIATURAS Bernarda Soledade As sementes do sol A dupla face Viagem Maçã Sinfonia Somos pedras As sombrias ruínas Ao redor do escorpião O amor A história de Bernarda Soledade: a tigre do sertão As sementes do sol: o semeador A dupla face do baralho: confissões do comissário Félix Gurgel Sombra severa Viagem no ventre da baleia Maçã agreste Sinfonia para vagabundos: visão em preto e branco para sax tenor Somos pedras que se consomem As sombrias ruínas da alma Ao redor do escorpião... uma tarântula? Orquestração para dançar e ouvir O amor não tem bons sentimentos SUMÁRIO 1 Introdução 11 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 A história de Bernarda Soledade: a tigre do sertão (1975) Tornado sertanejo As insígnias: questão Armorial O sertão de Bernarda Soledade: prosa regionalista? Tragédia sertaneja O recado dos nomes Bernarda Soledade: “donzela-guerreira” ou “mandona desabusada”? Erotismo, religiosidade e loucura nas terras de Puchinãnã 18 18 26 33 37 41 44 50 3 3.1 3.2 3.3 3.4 As sementes do sol: o semeador (1981) Círculos de vento O livro das traições Intertextualidade antroponímica As cantigas de Lourenço 58 58 72 77 87 4 4.1 4.2 4.3 A dupla face do baralho: confissões do comissário Félix Gurgel (1984) O elíptico e ziguezagueado universo de Félix Gurgel A dupla face dos risos (e sorrisos) Nomes e outros índices nas confissões de Gurgel 94 94 104 114 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Sombra severa (1986) A obra secular de Raimundo Carrero A simbologia sacra Cartas e Números: marcas da inevitabilidade do destino? O jogo embaralhado dos afetos Linearidade vertiginosa 130 130 138 144 154 163 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.3 Viagem no ventre da baleia (1986) Carrero no ventre da história política e social brasileira Romance histórico e/ou político? De novo, o regionalismo Uma viagem apocalíptica no ventre do pós-modernismo Extração histórica de teor crítico: a paródia Citações: munição intertextual das batalhas ideológicas Romance autobiográfico? O embrião metalinguístico Viagens mise en abyme Perspectivas em redemunho Novos nomes e outros recados na viagem carreriana 173 173 176 186 189 194 201 204 207 208 212 215 7 7.1 7.2 7.3 Maçã agreste (1989) Intertexto e intratexto: raízes e frutos da ficção carreriana O insólito universo dos afetos Os multíplices ângulos da maçã 221 221 235 247 8 8.1 8.2 8.3 Sinfonia para vagabundos: visões em preto e branco para sax tenor (1992) Os instrumentos de uma (rotatória) regência A orquestra literária A sinfonia do excesso: um mais além real 261 261 274 282 9 9.1 9.1.1 9.2 9.3 Somos pedras que se consomem (1995) A “centrífuga desesperada” (ainda) na teia do pós-modernismo Devorados pela esfinge Prazer e dor: corpos que se consomem Literatura e vagabundagem: pedras carrerianas 289 289 297 300 314 10 10.1 10.2 10.3 As sombrias ruínas da alma (1999) A dimensão lírica: palavras em redemunho Os múltiplos correlatos da ficção O sentido da arquitetura e a arquitetura do sentido 321 321 333 342 11 352 11.1 11.2 11.3 Ao redor do escorpião... uma tarântula: orquestração para dançar e ouvir (2003) Ao redor do escorpião... uma teia de vozes Trama de ressonâncias simbólicas e surrealistas O incessante rodopiar das letras nas sinuosas linhas do romance 352 360 367 12 12.1 12.2 12.3 O amor não tem bons sentimentos (2007) O duplo nas veredas da prosa: bifurcações Estilhaços do eu no redemunho da memória Vínculos ficcionais e a genealogia do incesto 376 376 385 392 13 Conclusão 402 Referências 413 1 Introdução Os teóricos da literatura desenvolveram vários métodos de análise ficcional oferecendo uma significativa contribuição para os estudos literários. Todavia, embora a importância das inúmeras correntes de pensamento seja incontestável, porque cada novo ponto de vista contribuiu para o enriquecimento das pesquisas, não se pode negar que, por vezes, adotar um ângulo significou abdicar dos demais, constituindo, sem dúvida, um prejuízo na qualidade e no alcance da visão crítica. Bakhtin, nos apontamentos de 1970-1971, parece antecipar uma perspectiva que só anos mais tarde e de maneira tímida alcançaria as análises literárias. O linguista russo não recusa as várias vertentes cientificistas nem conclama a fusão das mesmas. Ao contrário, apenas anseia pelo aproveitamento dos saberes: Nenhuma corrente científica (nem charlatona) [il.] é total, e nenhuma corrente se manteve em sua forma original e imutável. Não houve uma única época na ciência em que tenha existido apenas uma única corrente (embora quase sempre tenha existido uma corrente dominante). Não se pode nem falar de ecletismo: a fusão de todas as correntes em uma única seria mortal para a ciência (se a ciência fosse mortal). Quanto mais demarcação, melhor, só que demarcações benevolentes. Sem brigas na linha de demarcação. Cooperação. Existência de zonas fronteiriças (nestas costumam surgir novas correntes e disciplinas). (2006, p.372) Em cada novo estudo, o filósofo da linguagem se transmutou, opondo-se cada vez mais ao espírito dogmático: O sujeito da compreensão enfoca a obra com sua visão de mundo já formada. Em certa medida, essas posições determinam a sua avaliação, mas neste caso elas mesmas não continuam imutáveis: sujeitam-se à ação da obra que sempre traz algo novo. Só sob uma inércia dogmática da posição não se descobre nada de novo em uma obra (aí, o dogmático continua com o mesmo conhecimento que já possuía, não pode enriquecer-se). O sujeito da compreensão não pode excluir a possibilidade de mudança e até de renúncia aos seus pontos de vista e posições já prontos. No ato da compreensão desenvolve-se um luta cujo resultado é a mudança mútua e o enriquecimento. (ib., p.378) Esse pensamento com ênfase no “sujeito da compreensão” parece ecoar no polêmico e corajoso A literatura em perigo, de Tzvetan Todorov, publicado na França em 2007. Embora o objetivo do ensaio seja pôr em evidência o ensino de literatura, equivocadamente cada vez mais afastado da relação texto/mundo, o teórico termina por defender também uma abordagem crítica menos reducionista: O que devemos fazer para desdobrar o sentido de uma obra e revelar o pensamento do artista? Todos os “métodos” são bons, desde que continuem a ser meios, em vez de se tornarem fins em si mesmos. (2009, p.90) Todorov parece ampliar dessa maneira a ideia de cooperação proposta por Bakhtin: Aquilo de que nos damos conta, gradualmente, é que todas essas perspectivas ou abordagens de um texto, longe de serem rivais, são complementares – desde que se admita de início que o escritor é aquele que observa e compreende o mundo em que vive antes de encarnar esse conhecimento em histórias, personagens, encenações, imagens, sons. Em outros termos, as obras produzem o sentido, e o escritor pensa; o papel do crítico é o de converter esse sentido e esse pensamento na linguagem comum do seu tempo – e pouco nos importa saber quais os meios utilizados para atingir seu objetivo. O “homem” e a “obra”, a “história” e a “estrutura” também são bem-vindos! (ib., p.91) Deve-se ainda considerar, entretanto, que Massaud Moisés, no didático A análise literária, com primeira edição em 1969, já defendia que o texto sem o contexto corria “o risco de permanecer impermeável às sondas analíticas” (1991, p.17) e o procedimento a adotar nas pesquisas deveria ser decretado pela própria obra. Logo, as formas de conhecimento necessárias para compreensão da narrativa só poderiam ser conhecidas a partir da própria narrativa e, então, todas, do âmbito da história ou da filosofia, por exemplo, confluiriam para o bem do processo de análise. O fato é que este início de século parece marcar uma nova concepção para os estudos literários. O pesquisador deve-se ater à ficção e levar em conta ainda a importância primeira da composição do romance, mas a escolha dos instrumentos para escavar o texto já não é prescritiva e, ainda que haja – inevitavelmente – ideia (s) preconcebida (s), recomenda-se uma postura aberta para que o universo literário promova as mutações necessárias ao enriquecimento da análise e do próprio analista: ver, enfim, para além do que se pressupunha visível. José Maurício Gomes de Almeida, na introdução à obra A tradição regionalista do romance brasileiro, ressalta como primordial a intensa relação entre o pesquisador e seu objeto de pesquisa: [...] nenhuma metodologia substitui a intuição crítica, a sensibilidade do analista diante da expressão artística, qualquer que seja a arte em que esta se manifeste. [...] apenas o convívio íntimo com as obras abre o caminho para um conhecimento mais profundo e uma avaliação mais justa. (1999, p.14) Objetivando seguir essas perspectivas, a elaboração da tese “Raimundo Carrero: a estética do redemunho” se estruturou sobre as seguintes diretrizes: nenhuma temática foi (de antemão) privilegiada, ou seja, cada obra foi analisada individualmente e cotejada com as demais conforme o andamento do trabalho; todo o instrumental teórico foi selecionado a partir de cada texto, com o intuito de dar conta dos principais aspectos suscitados pela leitura aprofundada; procurou-se, enfim, demonstrar o alinhamento entre forma e conteúdo; entre, portanto, a estética do redemunho e a atmosfera tormentosa da ficção carreriana (a arquitetura espiralada em harmonia com o “eu” agônico). Esse redemunho se evidencia nos inúmeros temas recorrentes na obra do ficcionista sertanejo, tais como loucura, incesto, culpa, suicídio; nas múltiplas relações intertextuais, endo ou exaliterárias, e intratextuais; na fusão de personagens (seres que são desdobramentos de outros seres, identidades fragmentadas); nos planos simultâneos (vários “enquantos” narrativos, tempo “fixo” retomado por diversas perspectivas); na recuperação da mesma cena vista por diferentes ângulos, discurso que narra n vezes o que ocorreu uma vez, no qual a compreensão do todo se dá pela sobreposição das partes; nas obras cíclicas nas quais o fim retoma o princípio (que é fim); na alternância veloz das vozes (polifonia que dissolve o conceito de verdade, enfraquece a atuação do narrador e a capacidade de julgamento moral do leitor); na temporalidade subjetiva em giro, estilhaços de passado, de memória, remoídos – e reconstruídos – incessantemente por indivíduos atormentados (ruminar espiralado dos mesmos fatos sob o olhar, comumente mutável, da personagem, voltado para trás e para dentro); nos vários registros textuais que por vezes dão corpo às tramas narrativas; no ressurgimento das imagens no interior do romance ou ao longo da obra; na eterna correspondência dos eventos no tempo e no espaço, planos sincrônicos, universos paralelos nos quais os destinos se repetem para defender a tese implícita de que o homem de qualquer lugar ou era é sempre o mesmo, culpado e inocente, em luta consigo mesmo, com os outros homens e com Deus; no confronto de pontos de vista (olhares díspares do indivíduo sob o mesmo fato – conflito interno – e/ou choque entre várias perspectivas – conflito externo, campo de batalhas ideológicas); na reunião de elementos históricos, sociais, filosóficos, literários (incluindo crítica e teoria), biográficos, políticos; na profusão de estilos e gêneros etc. É preciso ainda citar o próprio redemunho semântico (pelo viés lírico, já que as palavras perdem o sentido usual na criação de metafóricas imagens), fonológico, sonoro (se for considerada, como ocorre em Ao redor do escorpião..., a retomada constante dos fonemas nos processos de aliteração, assonância, sibilação) e sintático (ecos das mesmas estruturas), além do jogo embaralhado dos afetos em que o amor, por exemplo, é uma espécie de mosaico de maus sentimentos, composto de inveja e ódio. Bem e mal, portanto, amalgamados. Objetivando apresentar um painel da obra do escritor pernambucano, todos esses elementos que confluem para a edificação de uma estética em permanente redemunho são analisados lado a lado com as questões mais pertinentes a cada uma das narrativas carrerianas, independente de manterem entre si relações significativas. Deve-se levar em conta que qualquer método de trabalho implica ganhos e perdas. Se fosse escolhido um ponto sobre o qual analisar a obra, por exemplo, o domínio sobre ele seria superior e, portanto, o trabalho ganharia consistência teórica ao optar por um estudo vertical: mergulho profundo nos contos, novelas e romances a partir de um aspecto comum a que os demais estariam de alguma maneira interligados, embora não recebessem grande atenção. O ponto negativo: em uma obra tão extensa, dificilmente o aspecto mais relevante em determinada narrativa teria a mesma importância em outra. E ainda: enfocar questões imprescindíveis em certo texto deixaria de ter sentido pela ausência de correlação com a – talvez – temática selecionada, ou seja, elementos inerentes à literatura carreriana seriam negligenciados. Se fosse escolhida a loucura como base do estudo, por exemplo, o Movimento Armorial, em A história de Bernarda Soledade, tão atrelado à concepção da “novela”, possivelmente ficaria à margem da pesquisa. Como Raimundo Carrero ainda é nome pouco comum nas faculdades de Letras, sobretudo do sudeste do país, a análise sobre um ponto da obra, por mais preponderante que fosse, também não cumpriria a função de revelar o autor para futuros estudiosos. Seria ainda mais dificultoso demonstrar a evolução dos textos carrerianos e a multiplicidade de estilos erigida por seus atormentados personagens. A tese painel aqui proposta, contudo, ganha em horizonte, mas perde em verticalidade. Se cada ficção é analisada a partir do que grita (ainda que o grito, por vezes, emane do silêncio) para ser explorado, avaliado, dissecado, a gama de temas e aspectos se amplia de tal modo que o aprofundamento teórico ideal se torna tarefa impossível, no tempo de que dispõe o analista. É preciso, inevitavelmente, selecionar, para cada um desses elementos, um número limitado de textos, que sejam capazes de oferecer respaldo às diversas pesquisas. Por outro lado, e considerando que ainda há pouquíssimas pesquisas sobre Raimundo Carrero, um estudo em ângulo máximo permite uma apresentação mais fiel da obra, abrindo caminho para novos trabalhos a partir das direções apontadas. Há assim uma ampliação do olhar (porque não se privilegiou de antemão um plano em detrimento dos demais), contribuindo para uma visão aberta, não pré-concebida, do texto. Sem dúvida, o respeito à obra literária se amplia quando a pesquisa se desenvolve a partir dos elementos evocados pela leitura crítica. Willian Van O’Connor do mesmo modo observou a dificuldade no estudo da obra faulkneriana: Talvez a melhor maneira de generalizar a respeito dos temas de Faulkner seria dizer que ele aceita as virtudes elementares cristãs, desde que se esclareça, logo, que algumas normas de conduta advogadas por ele em alguns romances seriam consideradas perversas ou más pela maioria dos cristãos ortodoxos. Um método justo e imparcial de escrever sobre a carreira de Faulkner – e esse é o método seguido neste ensaio – consiste em analisar, um de cada vez, seus livros mais importantes, resumindo a ação, selecionando os temas e descrevendo [...] o método de narração. (1963, p.25) Esse método selecionado por O’Connor, diante da impossibilidade de escolher um aspecto específico em Faulkner é, grosso modo, o mesmo aqui empregado. O sucesso ou infortúnio infelizmente só pode ser avaliado ao fim do processo. Resta apenas a convicção de que as demais possibilidades foram analisadas e excluídas por não darem conta da obra e, se esta metodologia não se mostra perfeitamente justa, certamente, foi, dentre todas, a que melhor se adéqua aos objetivos propostos. Vale ainda ressaltar que as leituras realizadas a partir de cada título são cumulativas e as obras finais, ao contrário das primeiras analisadas, se beneficiam desse aspecto. O movimento da pesquisa é, portanto, na medida do possível, de revisão e complementação. Ressalta-se também que os primeiros capítulos tratam de aspectos que, ao serem retomados nos demais, prescindem de uma abordagem tão ampla quanto a inicial. Logo, as análises desses primeiros títulos tendem a ter um número de páginas maior. A discussão teórica sobre o Regionalismo, no tópico sobre Bernarda Soledade, retorna em outros momentos ao longo da pesquisa sem a necessidade de repetir todos os conceitos já expostos, por exemplo. Deve-se levar em conta ainda que a extensão desse estudo (ao final com pouco mais de quatrocentas páginas) já estava prevista no projeto aprovado no início de 2008. O número de títulos (quinze oficiais até o momento) fez necessário, considerando o tempo disponível, o recorte do corpus. Todavia, há poucas razões que justificariam a retirada de um romance do conjunto a ser pesquisado. De toda maneira, não foram incluídos os contos avulsos, publicados em antologias ou na mídia impressa, a biografia de Orlando Parahym, as peças teatrais e as obras teóricas. O Senhor dos sonhos e Os extremos do arco-íris, classificados como literatura infantojuvenil, também não integram a pesquisa, assim como os dois títulos ficcionais lançados pelo autor após a aprovação do projeto (Minha alma é irmã de Deus e Seria uma sombria noite secreta), embora sejam recuperados quando necessários para iluminar as obras com as quais dialogam. Os onze títulos restantes são estudados na sequência em que vieram à luz, iniciando com A história de Bernarda Soledade, a tigre do sertão, de 1975, e finalizando com O amor não tem bons sentimentos, de 2007. Não há segmentação dos capítulos por temática ou característica comum, porque a divisão em grupos dificultaria a visão do percurso carreriano. E ainda: privilegiar os aspectos compartilhados terminaria por excluir os não pertencentes ao conjunto, mas de grande importância na avaliação das narrativas, de modo que o grupamento perderia o sentido. Poder-se-ia também optar pela junção em fases e talvez a ordem mais coerente fosse: sertaneja e/ou religiosa, político-social, “ultra-realista” e, na falta de nomenclatura adequada que desse conta dos demais títulos, Jabuti/pós-Jabuti. Todavia, a paisagem agreste ou, no mínimo, pouco urbana, é retomada, por exemplo, na obra de 2007, cujo enredo se desenrola, em parte, às margens do Capibaribe e na fazenda de Arcassanta, cenário também da segunda “novela” As sementes do sol (1981). É possível que Carrero nunca tenha tirado os pés do sertão mesmo em seus romances mais citadinos. Logo, essa subdivisão também não se justificaria. Haveria ainda a possibilidade de reunir os títulos Maçã Agreste (1989), Somos pedras que se consomem (1995) e O amor não tem bons sentimentos (2007) por compartilharem a mesma família incestuosa. E As sementes do sol (1981), Sombra severa (1986) e Viagem no ventre da baleia (1986) poderiam compor o conjunto de narrativas com intertextualidade bíblica mais acentuada. O problema é que não existiria motivo para agrupar os demais textos. Além disso, sob outra perspectiva, Viagem no ventre da baleia (1986), Maçã agreste (1989) e Sinfonia para vagabundos (1992) e, de certo modo, Somos pedras que se consomem (1995) são obras com traços sociais e/ou políticos. Nenhuma segmentação daria conta, portanto, do todo de modo satisfatório e sem interseções. Vale ressaltar que a fortuna crítica limitada – por vezes, quase nula – ou pouco acessível, por ter sido publicada em grande parte apenas em jornais nordestinos, torna a análise solitária, dificultosa. Todavia, o exercício crítico compensa, desafia, sobretudo pela alta carga intertextual e intratextual da obra carreriana e pela presença espiralada de diversas temáticas, pontos de vista e estruturas narrativas. A pesquisa sobre esse autor da longínqua Santo Antonio do Salgueiro é arriscada e pode conduzir sem dúvida a equívocos, seja pela extensão da obra, pelas inúmeras referências explícitas e implícitas, pela mutabilidade das narrativas (Carrero é sempre outro), pela carência de fortuna crítica ou pela dificuldade de falar do contemporâneo sobre o contemporâneo. Entretanto, mesmo após sucessivas quedas (e inevitáveis escoriações e fraturas) chega-se ao final do percurso com a certeza de enriquecimento artístico-literário, cultural e humano. E, sobretudo, com a expectativa de oferecer, nesta análise de obras carrerianas em angulação máxima, uma contribuição científica para os estudos literários além do vertiginoso prazer do encontro com a estética em redemunho de Raimundo Carrero. 2 A história de Bernarda Soledade: a tigre do sertão 2.1 Tornado sertanejo [...] é o vento que sopra agora açoitando a mata, assustando os fantasmas. (Carrero, 2005, p.33) O princípio norteador da tese é, como o próprio título assinala, a estética do redemunho carreriana, marcada pela alternância de vozes e tempos verbais; por um ir e vir constante, inclusive de nomes que aparecem e reaparecem em várias narrativas, fazendo da desordem a sua ordem. Embora outros aspectos sejam abordados, de acordo com a especificidade de cada romance, conto ou novela, o ponto pelo qual será iniciada a análise das obras se baseia na tentativa de compreensão do binômio forma/conteúdo. Não se pretende fazer uma análise formalista ou estrutural – o que seria anacrônico –, mas apenas valorizar a elaboração romanesca; verificar se personagens, ambientação, temporalidades, gêneros, pontos de vista e formas discursivas confluem para aferir o caráter harmônico da ficção. Em “Narrar ou Descrever”, Lukács ressalta que o escritor “precisa superar na representação a casualidade nua e crua, elevando-a ao plano da necessidade.” (1965, p.50). Logo, cabe ao crítico examinar em que medida os procedimentos adotados pelo autor possuem uma relação de pertinência na obra. Na primeira página, quase integralmente descritiva, da novela de estreia de Raimundo Carrero, A história de Bernarda Soledade, a tigre do sertão, o narrador abdica do pretérito – “tempo canônico da narração”, de acordo com Benedito Nunes (2000, p.37) – e privilegia o presente do indicativo. O cenário alia a fúria de cavalos selvagens ao vento zoomorfizado, “tão valente e brabo, igual aos animais” (Carrero, 2005, p.33) 1. Na caracterização cromática da paisagem, o vermelho é substituído pelo negro, simbolizando (e antecipando) todo o percurso narrativo em que erotismo e poder, emparedados e estimulados pelos laços consanguíneos, desembocarão em destruição e morte: “A Lua encarnada vai desaparecendo muito devagar, como se fosse a continuação do Sol, a continuação do fogo. [...] Escurece. A noite apreende os campos de Puchinãnã” (ib.). A casa-grande, túmulo em que a família se encerra, está tomada por trepadeiras, xiquexiques, flores do mato, plantas rasteiras; logo, por uma floração da decadência, que se 1 CARRERO, Raimundo. A história de Bernarda Soledade: a tigre do sertão. In: ___. O delicado abismo da loucura: novelas. São Paulo: Iluminuras, 2005. Nas próximas referências a essa obra, será indicado apenas o número da página. coaduna à penúria material e moral dos Soledade. Há um correlato objetivo, uma interação orgânica do espaço, já que ambiente e personagem mutuamente se explicam. Quase ao final da narrativa, ocorre uma espécie de fusão entre esses elementos narrativos, dando corpo, na voz de Bernarda, a uma imagem intensa e tormentosa: Cada dia que passa, o desespero e a danação crescem nesta casa. Não é possível mais lustrar os móveis, limpar as paredes. É preciso, agora, deixar que as plantas rasteiras tomem conta dela, subam pelas nossas pernas, embriaguem nosso sangue e nossos corações. Teremos, então, cabelos de folhas, mãos e pernas de árvores. (p.114) Em seguida à fala breve, marcada pelo travessão, ainda na primeira página da obra, “Vai chover, vai chover muito hoje!” (p.33) – prenúncio de grandes tormentos – o narrador retoma a palavra hic et nunc: “É Bernarda Soledade quem afirma acendendo uma vela.” (ib., grifo nosso). E, após a ambientação inicial externa, inicia-se a descrição do espaço interno e das personagens. Sem dúvida, a experiência de Carrero com o teatro teve influência significativa na produção desta “novela”. A presentificação, o gosto pelo descritivo, a necessidade de caracterizar os seres ficcionais num primeiro instante, quase como se intencionasse marcar posições no palco, conferem ao texto um caráter dramático. A sentença “Quem retorna é Bernarda” (ib.), por exemplo, flerta com a indicação roteirista. Haroldo Bruno, no ensaio “Dois nordestes: o real e o mítico”, corrobora a ideia de prosa teatralizada, ao vislumbrar nesta obra carreriana uma tentativa de “conciliação da arte dramática com a forma narrativa”: Insistimos: a narrativa de Raimundo Carrero está bastante compromissada com a arte dramática. Verificamos nela a ausência do componente descritivo que não seja funcional, o recorte sumário e nítido das personagens, a tensão psicológica e o ritmo emocional, que obedece a um crescendo, com a revelação paulatina de incidentes cujos indícios estão insinuados antecipadamente. (1980, p.80) No entanto, se for levado em conta que esta primeira publicação nasce imbuída do espírito Armorial, defensor do caráter visual, plástico, do texto literário, pode-se considerar que o arranjo cumpre o pressuposto de “prosa para ver”. Se a xilogravura, com sua ausência de profundidade, é o correspondente pictórico da literatura armorialista, o texto carreriano parece se acomodar à definição, com ênfase na pluralidade e mobilidade, dada por Benedito Nunes às artes visuais, ao afirmar que elas colocam-nos diante de algo estático, mas através de atos sucessivos de percepção, como os que posso endereçar a um quadro, passeando nele o meu olhar, ou a uma estátua, movimentando-me em torno dela. (2000, p.11) Esse caráter estático tanto das artes visuais quanto do texto descritivo é, então, de certa maneira, ilusório, porque se, no caso do espectador, há um movimento condicionado pelo seu próprio olhar, que engloba perspectivas diversas, na narrativa, essa “locomoção” contínua também existe, ainda que direcionada, sobretudo, pelo narrador, que atua como um guia visual. A história de Bernarda Soledade: a tigre do sertão se divide em duas partes. Na inicial, assinalada por algarismos romanos, há um “agora” decadente que é futuro da narrativa intercalada, marcada por letras. Em I, por exemplo, “Bernarda ajoelha-se, faz o Nome-do-Pai, começa o terço.” (p.34) e, em A, a tigre “vestida numa armadura de couro chicote na mão, comandava o trabalho dos homens no curral.” (p.35). A reza da personagem, embora presentificada, se situa, em relação à segunda parte, em um tempo muito posterior. E algumas circunstâncias, que são passado rememorado na primeira parte, constituem o presente ou o porvir da segunda, promovendo, por vezes, uma espécie de convergência textual, com alguns episódios retomados sob pontos de vista diversos. Interessa, neste momento, no entanto, o fato de que a “narrativa da decadência”, em onze trechos, de I a XI, em equilíbrio com a outra, de A a J, que totaliza dez fragmentos, possui em relação a esta um ritmo lento, marcado pela descrição e por certa inércia (exceto nos episódios rememorados) das personagens, que ganham maior dinamismo apenas a partir do tópico VIII, com a saída de Bernarda da casa rumo ao cemitério, o desaparecimento e a morte de Gabriela Soledade e o nascimento e assassinato do filho de Inês. Essa velocidade final dá a impressão de objetivar o encontro das narrativas, agora com compassos mais próximos. A questão é: por qual razão o narrador alonga a primeira narrativa, que, contraposta à segunda, ágil, veloz, torna-se ainda mais vagarosa? Osman Lins, em sua análise sobre a obra de Lima Barreto, destaca que, para Philippe Hamon, “leitor minucioso de Zola”, o problema do escritor realista está em compensar, dentro do possível, ao inserir no texto ficcional uma unidade descritiva (vazia), a reduzida eficácia da linguagem para a reprodução do estático, mesclando à descrição elementos dinâmicos (plenos)” (Lins,1976, p.81). No entanto, o que ocorre em Bernarda é bem distinto: a (pseudo) inércia, aqui, não é um equívoco estrutural. Ao contrário, o peso recai sobre a lenta narrativa da decadência – que quase não avança, mas recua insistentemente através das lembranças – porque a ruína, a devastação das almas, a agonia, o universo assombrado, e não a sucessão de eventos, constituem o leitmotiv da prosa carreriana. Aliás, o trançar da Tigre – “Bernarda inicia tristemente o crochê como se reconstituísse toda a vida, como se procurasse pontas de fios que pudessem fazer o tempo voltar, o tempo de Puchinãnã.” (p.55) – é não apenas uma tentativa de reconstituição do passado, mas, e talvez sobretudo, indício de que não há possibilidade de futuro – nem de presente. O suposto “vazio” se amolda a existências ocas, ao vácuo da ausência completa de perspectiva. A prosa in media res, repleta de analepses (retrospecção) e prolepses (prospecção)2, neste caso, privilegia o resultado das ações das personagens, o destino ao qual a sede de poderio da filha do coronel Pedro Militão arrastou tudo e todos. Por outro lado, esses trechos marcados por algarismos romanos, antecipatórios de alguns dados do enredo, ao mesmo tempo em que omitem tantos outros, terminam de maneira estratégica por aguçar, por elipses, o suspense narrativo que supostamente seria fragilizado pela revelação quase instantânea das mortes de Anrique, Imperador e Pedro Militão e da ruína das Soledade. A preponderância do presente cria ainda a ilusão de que o narrador perde de certa maneira sua onisciência, porque o uso do pretérito pressupõe a garantia do saber por aquele que narra: quem conta mormente foi espectador dos eventos. No entanto, em Bernarda, com alguma constância, o narrador não conhece e, assim, expõe, mas ele vê (“agora”) e relata. Esse recurso sugere que o conhecimento se restringe a esses presentificados “instantes visionários”, conforme o exemplo: O terço é iniciado. ‘Ave-Maria, cheia de graça...’ Com os lábios sangrando, Gabriela Soledade aproxima-se do Santuário e ajoelha-se. A chuva persiste muito forte. A água enfurece os cavalos [...] (p.45, grifo nosso). A escolha, sobretudo do gerúndio e do presente do indicativo, aventa que esse narrador não teria conhecimento sobre o futuro; ele dominaria apenas o que ocorre no momento em que relata. Porém, sua onisciência, embora implícita, se mantém. Essa suposta ignorância sobre o não visível ou audível é falaz: escolher ocultar não significa ausência de saber absoluto sobre todas as coisas. José Castello, em “Uma escrita só lâmina”, destaca que “Raimundo Carrero é, por certo, um seguidor aplicado da lição cabralina do “dar a ver” [...] 2 Terminologia usada por Gérard Genette. In: GENETTE, Gérard. Figuras III. Paris: Seuil, 1972, p.90-121. Enquanto narra, o jovem Carrero nos leva a ver o que narra. Sua estética manipula imagens concretas, que compactam o real [...]” (2005, p.15). Na categoria de Norman Friedman, pode-se afirmar ainda que o narrador possui uma onisciência neutra (Friedman, 1967, p.123), se for levada em conta a ausência de juízo sobre o comportamento das personagens: “o autor fala de modo impessoal na terceira pessoa”3 (ib.). No entanto, o termo “neutro” parece não se adequar com justeza a um elemento do discurso que, por exemplo, caracteriza os seres ficcionais e elege a matéria narrada. Ele também não está distanciado do universo no qual a história se passa. Em sua seleção vocabular, em seus enunciados, verifica-se que ele pertence a esse ambiente áspero, arcaico, ou por ele se deixou contaminar, como quando afirma: “A ventania uiva seus gritos danados” (p.34). Qual é, portanto, o resultado dessa escolha? O não julgamento explícito das figuras narrativas, de acordo com a proposta do romance moderno, já que não há mais verdades proclamadas, mas apenas pontos de vista a serem apresentados, e – o mais importante – a instauração de um ar misterioso envolvendo as personagens. Ora, ainda que o narrador descreva um ser amplamente ou recorra ao diálogo, algo revelador da natureza do indivíduo, a ausência de comentários sobre o que ele sente ou pensa lhe confere, por vezes, uma aura enigmática. Bernarda é valente e cruel, suas ações são justificadas pela ausência do macho nas terras de Puchinãnã, pelo aprendizado com os cavalos selvagens (“Enfrentando os cavalos selvagens, você percebe que ninguém na vida pode deixar de ser tirano.” (p.43)), mas não há, em nenhum instante, o respaldo analítico, crítico, daquele que narra. Como o texto faz pouco uso do indireto livre, restringindo o aprofundamento psicológico; a focalização externa se sobrepõe à interna; o diálogo entre os seres carrerianos, centrado, sobretudo, em fatos, é pouco revelador, por conta de uma secura agreste ou afetiva; e todos, primitivos, animalescos, agem impulsivamente, dominados por suas paixões, os Soledade permanecem nas sombras, obscuros. Ações e descrições, sem reflexão nem do narrador, nem das personagens, trazem certa insegurança ao analista, como se a superfície textual fosse movediça e o universo interior, de fato, indecifrável. A reunião desses elementos dá o tom arcaico ao romance que se harmoniza não apenas ao sertão, ao medievalismo nordestino, mas, sobretudo, a personagens que atuam no mundo de maneira instintiva, aquém – ou além? – da razão e da consciência (ou inconsciência) reflexiva. 3 The author speakes impersonally in the third person. Se o diálogo atravessa a segunda narrativa, na primeira, as personagens pouco conversam. Nela, somente nos momentos de rememoração, o discurso direto é retomado. Entre as três mulheres, apenas decrepitude e mutismo. Todavia, não há silêncio. É Bakhtin quem observa com propriedade a diferença entre silêncio e mutismo nos “Apontamentos de 1970-1971”: “No silêncio nada ecoa (ou algo não ecoa), no mutismo ninguém fala.” (2006, p.369). O trotar fantasmagórico de Imperador, o uivar permanente do vento, o gemido do enforcado Pedro Militão, a fúria dos cavalos selvagens confluem para uma sonoridade aflitiva e insólita e estabelecem uma “atmosfera angustiosa de casa assombrada” (Martins, 1976, p.57). Fazendo uso de versos gullarianos, Janilto Rodrigues de Andrade afirma que Carrero pertence a linhagem de “autores que povoam suas obras com ‘...pessoas que passam sem falar / e estão cheias de vozes / e ruínas’” (1994, p.37). O autor pernambucano elabora, portanto, uma trama sinestésica, calcada primordialmente em sons e imagens, que, fusionados, conferem à obra uma aura eróticotenebrosa. A narrativa marcada pelos algarismos romanos é, sem dúvida, a mais imagética. O temporal, o santuário e as rezas, a decadência da casa, o retorno dos mortos, o galo bordado por Inês são recorrentes. Esse re-surgir constante, como um colérico tornado, de elementos responsáveis pela atmosfera agônica, espelha, numa correlação sujeito-ambiente, a amargura e ruína das Soledade. Haroldo Bruno parece fazer coro com essa correspondência ao afirmar que “a intencionalidade do romancista foi sobretudo fixar, através das terras selvagens de Puchinãnã, um mundo de paixões e instintos desordenados.” (1980, p.80). Por conta da preponderância de imagens, pela alta carga simbólica e pela recusa ao encadeamento lógico antecedente-consequente, a “novela” carreriana flerta com o universo poético. Octavio Paz, ao analisar verso e prosa, afirma que “o prosista busca a coerência e a claridade conceptual. Por isso resiste à corrente rítmica que, fatalmente, tende a manifestar-se em imagens e não em conceitos” (2006, p.12). O escritor pernambucano escolhe a via oposta e, assim, funde o sabor de uma história bem contada à força lírica de quadros concretos e metafóricos. Em “A personagem do romance”, Antonio Candido retoma algumas teorias sobre os seres ficcionais: “na técnica de caracterização definiram-se, desde logo, duas famílias de personagens que já no século XVIII Johnson chamava ‘personagens de costumes’ e ‘personagens de natureza’” (2007, p.61). As personagens de costume possuem traços “fixados de uma vez para sempre” (ib.) enquanto que os de natureza são apresentados, sobretudo, “pelo seu modo íntimo de ser, e isto impede que tenham a regularidade dos outros” (ib, p.62). Em seguida, o crítico brasileiro expõe a nomenclatura de Forster. O teórico britânico subdivide as personagens em “planas”, porque permanecem inalteradas ainda que as circunstâncias se modifiquem, e “esféricas”, capazes, de acordo com Antonio Candido, “de nos surpreender” (ib., p.63). Nenhum analista teria desconfiança sobre a inflexibilidade e imutabilidade de Bernarda Soledade, a tigre. A problemática reside no fato de que, com o aprofundamento psicológico do romance moderno, a planificação ganhou um caráter pejorativo. Na verdade, tanto a definição dada por Johnson quanto por Forster parece emitir um juízo de valor negativo às personagens fixas, como se fossem menores, como se estivessem “fora de moda”. Agora, seria possível supor uma figura nordestina, sertaneja, domadora de cavalos selvagens, valente, cruel, primitiva, arcaica, animalesca, encourada, com uma existência profunda mutável ao sabor dos acontecimentos? Ou em processo analítico com crises e dúvidas existenciais? Chamar uma personagem plana – rasa, chã – não é, de alguma maneira, recusar a provável complexidade anímica do indivíduo que se comporta de maneira monolítica? Um ser ficcional incapaz de se vergar mesmo diante da mais completa ruína, permanecendo o mesmo, é simplesmente plano?! A força de Bernarda Soledade se encontra justamente na sua recusa em aceitar o destino. Uma mulher de punhos cerrados, pronta para duelar com a vida; um eu que (em princípio) não se questiona, apenas age ao sabor dos anseios mais secretos. E justamente por isso ela é escorregadia: as razões para a sede de domínio não são claras; o leitor não tem acesso, em geral, à interioridade da filha do coronel Pedro Militão por pensamentos ou sentimentos explicitados, mas por imagens. É quando fixa a bandeira em Puchinãnã no último instante narrativo, por exemplo, que se verifica, pela simbologia guerreira do galo no texto, que a Soledade mantém sua postura hierática. Se essa é a nomenclatura, sim, Bernarda é “plana” ou “de costume”, mas algo soa equivocado nesse leito de Procusto teórico. José Castello, ao analisar as três “novelas” de O delicado abismo da loucura, parece vislumbrar a impossibilidade de apreensão dos seres carrerianos: “Se esses personagens ainda despertam nossa piedade, é porque [...] surgem à nossa frente pessoas complexas e incompreensíveis” (2005, p.12, grifo nosso). Outra questão a ser levada em conta é o deslocamento contínuo do foco para Inês. Ela possui um amplo espaço na narrativa e, não se deve esquecer, é a irmã da tigre quem a trai arrastando Anrique para a emboscada – o que possibilita a invasão e destruição de Puchinãnã pelos homens de Santo Antonio do Salgueiro chefiados por Pedro. Vários episódios são rememorados por essa personagem e filtrados, portanto, pelo seu olhar. No âmbito literário, pouco afeito à obviedade, deve-se atentar que nem sempre a personagem presente na titulação da obra constitui o cerne da mesma. Sobre seu romance, Roderick Hudson, em que o protagonista se evidenciaria no título, Henry James, por exemplo, advertiu no prefácio: diante de todas as dificuldades e apesar do título do livro, meu assunto felizmente não era – ao menos de modo direto – a aventura de meu jovem escultor. Fora-o apenas indiretamente, pois, tanto em essência quanto em efeito final, o tema consistia na visão e na experiência que tinha dele outro homem, seu amigo e mecenas. (2003, p.127) Essa confissão convida ao questionamento: o centro de A história de Bernarda Soledade está nas ações da tigre, em sua ânsia de poderio, ou na consequência dessas ações para as demais personagens e, em especial, para Inês? Ou a “novela” carreriana abdica da centralidade em nome da pluralidade de pontos de vista, já que o foco se desloca continuamente entre os seres ficcionais, sobretudo entre a tríade de mulheres que habitam a decadente Puchinãnã? Na parte VIII (p.78-84), por exemplo, o narrador dirige seu olhar, grosso modo, inicialmente descritivo para Gabriela, depois, memorialístico, para as lembranças de Inês e, por último, factual, para a saída de Bernarda da casa-grande. Algumas cenas se repetem dando a conformação de prosa em giro, como bem salienta José Castello: “as mesmas cenas vão e voltam, girando em alta velocidade, desaparecem e reaparecem – como fantasmas. A narração se dá num rodopiar veloz [...] que [...] faz lembrar as experiências místicas” (2005, p.21). Outro ponto inerente à primeira publicação carreriana é sua categorização como novela. Massaud Moisés adverte sobre o equívoco frequente de classificar as formas em prosa a partir da extensão: “No terreno dos estudos literários, [o vocábulo novela] é empregado por vezes de modo defeituoso: rotularia, ao ver de alguns críticos, as narrativas com mais de cem e menos de duzentas páginas” (2006, p.103). Para o teórico, o que caracteriza esse gênero é, dentre outros fatores, a “pluralidade dramática” (ib., p.113) e do espaço (ib., p.117), o “dinamismo acelerado” (ib.), a linguagem simples em detrimento da metafórica ou figurada (ib., p.120), a “dualidade maniqueísta das personagens” (ib., p.123), a quase ausência de dissertação (ib., p.125) e as personagens planas e numerosas (ib.). De fato, em Bernarda Soledade, o narrador não disserta e as figuras narrativas não são “esféricas”. Há ainda um número considerável de personagens principais (por recorrência) – três vivos-mortos (Bernarda, Inês e Gabriela) e três fantasmagóricos mortos-vivos (Anrique, o cavalo Imperador e o coronel Pedro Militão) – e secundários, homens e mulheres de Santo Antônio do Salgueiro, mormente Pedro, os santos, os filhos das duas irmãs e – por que não? – os cavalos selvagens, com destaque para Estrela, o equino da tigre, e o simbólico galo. No entanto, não existem outras correspondências significativas. Embora seja possível afirmar que o enredo se estrutura em certa “pluralidade dramática” – a história “dinâmica”, “acelerada”, dos Soledade, a partir da invasão das terras por Bernarda, promovendo, assim, uma sucessão de traições e vinganças – o ponto culminante não se encontra na guerra, nos assassinatos, mas na decrepitude das três mulheres, marcada por uma quase inércia. É preciso considerar ainda que a temporalidade é extensa, a linguagem, simbólica, o espaço, restrito (boa parte da narrativa se desenrola na casa-grande de Puchinãnã) e a trama, segmentada, em ziguezague, frequentemente abdica do ritmo vertiginoso das ações pelo arrastar expiatório das almas. E, se há uma dualidade maniqueísta, sendo Bernarda, o mal, contraposta às demais personagens e, sobretudo, aos habitantes de Santo Antonio do Salgueiro, não se pode esquecer que a obra promove uma quebra do padrão da novelística ao fazer com que o leitor seja seduzido pela suposta “vilã” e lamente sua ruína. A história de Bernarda Soledade, portanto, não se enquadra com precisão nos limites da novela – sobretudo por dar ênfase à alongada narrativa da decrepitude, que se passa em apenas uma noite e um amanhecer – permanecendo híbrida, no flerte com a elaboração romanesca. Pode-se, então, finalmente inferir que essa primeira publicação carreriana segue um rígido princípio de composição, no qual personagens, temporalidade, gêneros, ambientação e formas discursivas interagem harmonicamente, constituindo a atmosfera agônica no ritmo em giro, tornado sertanejo na fictícia Puchinãnã. 2.2 As insígnias: questão Armorial E lá fora, o galo vermelho, o pano alvo, os ornamentos de prata, as marcas do sangue de Gabriela tremulam e estalam na ventania, como uma bandeira medonha. (Carrero, 2005, p.120) Raimundo Carrero nunca escondeu que foi apadrinhado por Ariano Suassuna. Sua “novela” de estreia, A história de Bernarda Soledade, a tigre do sertão, lançada em 1975, nasceu imersa no Movimento Armorial, encabeçado pelo autor de A pedra do reino. Em 1977, Suassuna publica um texto4 explicativo sobre o armorialismo e destaca suas linhas mestras no campo artístico. Se por um lado já haveria, precedente ao movimento, uma arte com traços armoriais, envolvendo pintura, escultura, cerâmica, tapeçaria, gravura, dança, arquitetura, literatura e cinema, por outro, é possível vislumbrar nesse “manifesto” do autor paraibano, sobretudo, uma ânsia de consolidação e ampliação das ideias que começara a difundir no final da década de cinquenta. Embora o princípio do armorialismo seja elaborar uma arte erudita a partir da incorporação e recriação das raízes populares da cultura brasileira, deve-se atentar que “cultura brasileira”, no texto de Suassuna, encontra-se quase como sinonímia de “cultura nordestina”. Há um esforço discursivo para abarcar o país, mas linhas e entrelinhas revelam a antiga concepção de que é no nordeste, no sertão, – pelo cultivo das tradições – que se pode vislumbrar a verdadeira nacionalidade. O autor de A pedra do reino não nega ainda o flerte com a Escola do Recife e, no tópico referente à literatura armorial, enfatiza sua forte ligação com o Romanceiro Popular Nordestino e a Literatura de Cordel, repleta de brasões, bandeiras, estandartes e imagens emblemáticas. No prefácio à obra de estreia do escritor pernambucano, intitulado “Carrero e a novela armorial”, Suassuna destaca os pontos de toque entre Bernarda e o armorialismo. O principal seria a íntima relação com o “espírito áspero e mágico do Romanceiro Popular do Nordeste, as quais ressaltam à primeira vista, deste o título de sua novela” (2005, p.25). Em seguida, esclarece que “no Sertão, a palavra tigre é feminina e designa a onça negra, como pode referir-se a uma mulher valente e cruel” (ib., p.26). Outro ponto seria “a forma de escrever emblemática” (ib.) de Raimundo Carrero. De acordo com o autor paraibano, ele utiliza imagens concretas, típicas da literatura armorial, aparentada não apenas com os monstros sagrados da Poesia, mas também com a gravura, a tapeçaria, a escultura e os estandartes armoriais, que pulsam, todos, em consonância com o espírito épico e emblemático do Povo Brasileiro e de sua Arte. (ib., p.28) Ressalta também que “Anrique”, uma das personagens da “novela” carreriana, é grafado conforme “a maneira medieval que se pronuncia o nome no Sertão nordestino” (ib., p.30). E, sobre esse suposto medievalismo d’A história de Bernarda Soledade, afirma que as imagens podem parecer “medievais” aos outros, mas que nós, nordestinos e armoriais, sabemos que se originam muito mais dos estandartes populares dos espetáculos do Povo do Nordeste, sendo por aí 4 SUASSUNA, Ariano. “O movimento armorial”. R. pernam. Devenv., Recife, 4 (1):30-64, jan./jun. 1977. que reencontram, de uma forma brasileira, certas formas e valores medievais ainda vivos aqui. (ib., p.29) As vinculações ao Movimento Armorial sem dúvida contribuíram para a divulgação de A história de Bernarda Soledade. Todavia, alimentaram uma crítica, à época de seu lançamento, que procurava, numa acepção reducionista, apenas apontar os pontos em comum entre a obra e o Movimento. Mario Martins, por exemplo, em texto crítico sobre a “novela” carreriana, publicado na Revista Colóquio/Letras, em 1976, após repetir um a um os elementos a que Suassuna faz referência no prefácio, inicia um detalhamento do que poderia ser armorial em Bernarda. Identifica, então, o bordado feito por Inês durante toda a parte da narrativa marcada por algarismos romanos, que se passa em um “agora” decadente anterior ao também “agora” da trama assinalada por letras: A literatura armorial, marcada pela heráldica nobre ou popular, exprime-se, pois, em símbolos vistosos, mas ao gosto da gente do Nordeste [...]. Literatura emblemática e alheia à abstração, tende ela a formular-se em símbolos sensoriais, como o galo vermelho, bordado por Inês. Este galo acompanha a novela, do começo ao fim, e dá-nos o pensamento cifrado desta história de sexo e de morte. (1976, p.58) Em seguida, Martins, como se procurasse a significação simbólica do galo na narrativa, pergunta: “Com que intenção bordava ela o galo vermelho?” (ib., p.59). Mais à frente, parece ensaiar uma resposta: “o amor e o sangue dominam as três mulheres, até a medula da alma” (ib.). De fato, se há uma dificuldade na compreensão do papel do galo na “novela” carreriana, é inegável a importância na obra desse tecido, sobretudo por tornar-se posteriormente uma espécie de sudário para a matriarca Gabriela e, logo após, a insígnia dos Soledade – fato que escapou a quase todos os críticos. Em um primeiro instante, o narrador afirma que Inês o bordava para dar a Anrique. Considerando a cor da ave, vermelha, pode-se inferir que era símbolo da relação erotismo/morte que envolvia tio e sobrinha. Bernarda, Inês e Anrique compunham uma tríade incestuosa, nutrida por desejo, traição e vingança. A altivez e o espírito combativo do galo podem ainda se associar à força e à coragem do irmão do coronel Pedro Militão. No entanto, mais adiante, o narrador revela que o galo “seria o presente para a menina que já morreu” (p.58). A menina era filha de Bernarda e Anrique e, apesar da doença, nunca chorara como uma verdadeira Soledade (p.83). Também nunca conheceu o pai e a mãe a renegou inicialmente porque queria um homem para comandar as terras de Puchinãnã. Neste caso, o galo parece simbolizar a valentia dessas mulheres envoltas, conforme o sobrenome atesta, em saudade e solidão. O galo de Inês também se contrapõe aos passarinhos criados pelo coronel Pedro Militão. Se aquele revela o vigor das Soledade, estes caracterizam a fragilidade ou, no mínimo, o comportamento antibelicista do pai de Bernarda, contrastando com seu título (coronel) e com seu nome (Pedro=pedra) e sobrenome (Militão), mescla de referência militar com a brutalidade do encontro vocálico (ão). Em outra referência à ave na narrativa, Inês alerta que “os galos da madrugada já não cantam mais” (p.78). Aqui fica evidente a simbologia mais corrente do animal, como “luz e ressurreição”, anunciador do “dia que sucede a noite” (Chevalier; Gheerbrant, 2005, p.458). Se Puchinãnã está envolta em sombras, escuridão, tempestades, a ausência do canto do galo indicia a impossibilidade de renovação, de Sol. Em verdade, o astro rei – grafado com maiúscula, sinal, talvez, de sua supremacia – surge na narrativa apenas por ocasião da morte de Gabriela, pisoteada pelos cavalos selvagens. O galo vermelho adornado de prata torna-se, assim, uma espécie de sudário que cobre o rosto esmagado da matriarca dos Soledade. A mãe de Bernarda, única mulher integralmente vítima da ânsia de poderio da filha, aproxima-se da figura de Cristo por carregar, sem culpabilidade, em sua via-crúcis, o peso das faltas alheias. Ela é iluminada pelo Sol. A única Soledade liberta, enfim. No último ato, o galo vermelho ornamentado de prata, com as marcas do sangue de Gabriela, em meio à tempestade, é fincado no pátio da fazenda como um estandarte, “uma bandeira medonha” (p.120). Tudo o que a ave representou no decorrer da narrativa – vigor, valentia, espírito bélico, desejo – se transmuta em sangue, em morte, mas permanece como insígnia de uma personagem toda luta, de uma personagem tigre, que não verga mesmo diante da mais completa ruína. As críticas à época do lançamento d’A história de Bernarda Soledade limitaram-se quase sempre a repetir em uníssono o prefácio de Suassuna ou, no máximo, a apontar aspectos armoriais sem especificar sua função, como se houvesse uma gratuidade no uso de tais “bandeiras” no texto. Affonso Romano de Sant’Anna, por exemplo, publica na revista Veja em 1976, uma avaliação da “novela” carreriana na qual contrapõe a ficção armorial aos romances de 30. Para Sant’Anna, os armorialistas se fecham numa visão especular, narcisista e imaginária de um passado fantasmático em vez de ingressarem num universo crítico e mais doloroso que constitui o nível artístico do simbólico. (p.114) Ao que parece, o crítico não penetrou o suficiente na narrativa para compreender o indubitável “nível simbólico”. Além disso, parece avaliar o Movimento Armorial a partir de uma perspectiva ou proposta do regionalismo de 30, o que não se justifica. Os caminhos de Bernarda Soledade são outros – questão que será posteriormente retomada. Na prosa carreriana, além do galo bordado por Inês, outra “imagem concreta” – Armorial, por ter suas raízes entranhadas na cultura popular nordestina – é corretamente apontada por Mario Martins: É precisamente a loucura amorosa da mãe de Gabriela que nos dá a página mais armorial da novela [...]. Lembra-nos quase uma tapeçaria de assunto nupcial, onde não faltam bandeiras, com desenhos simbólicos de toiros e pombas brancas, e até um estandarte vermelho, do noivo, com o galo de esporões de marfim. (1976, p.59) O analista, um dos poucos a tentar compreender a função que as imagens desempenham na narrativa, prossegue: Pela sua clareza, salta à vista o significado erótico dos toiros negros, desenhado nos estandartes dos cavaleiros, e das pombas de lábios bonitos e pintados, nas bandeiras vermelhas das donzelas. [...] E se os touros negros, nas bandeiras brancas, constituem como que o pano de fundo da obsessão masculina, naquela casa sem homens, o galo cravejado de ouro representa o noivo de Gabriela [...]. E o galo que Inês foi bordando pelo tempo fora símbolo da ânsia comum das três mulheres? (ib.) No delírio idílico de Gabriela, há, de fato, como em todo o percurso ficcional, um intenso potencial erótico. Após o cantar do galo (anunciador da vida, da alegria, da luz), cavaleiros e donzelas estarão preparados para as bodas: eles “empunharão bandeiras brancas com o desenho de um touro preto no centro, olhos de fogo e chifres de marfim” (56-7); elas “conduzirão bandeiras vermelhas com o desenho de uma pomba branca no centro. Essa pomba não terá bico, mas apenas lábios bem feitos e bem pintados” (p.57). O noivo “trará um estandarte, que é uma bandeira encarnada com um galo todo cravejado de ouro e dois esporões de marfim” (ib.). No encontro do touro com a pomba, em insígnias, a potência do macho e a pureza e sensualidade da fêmea se revelam envoltas numa aura “surrealista” de teor nordestino. Mario Martins aproxima ainda a ave, bordada na bandeira que o noivo ostenta, ao próprio noivo e, assim, termina por correlacionar o galo de Inês ao anseio da presença do varão numa terra habitada apenas por mulheres – o que constitui sem dúvida uma possibilidade interpretativa. Se a flâmula que Bernarda finca em Puchinãnã não tem como imagem uma feminina pomba, mas o galo, pode ser, como suspeita Martins, por representar a eterna busca das Soledade pelo macho. Todavia, é possível que simbolize, em verdade, a própria condição máscula, guerreira, despótica, da primogênita de Pedro Militão. Vale notar que a louca Gabriela é a única personagem que projeta um futuro (ainda que seja, em parte, réplica dos tempos idos); as demais, Inês e Bernarda, estão presas a um agora decadente ou, no caso da tigre, atrelada a um passado de glória que deseja reconstituir em seu bordar incessante. Esse “futuro”, repleto de musicalidade, festejos, erotismo, uma ode à alegria, contém certo apelo dionisíaco. Somente Gabriela é capaz de, por vezes, saborear a existência porque imersa nas teias da loucura: contraditoriamente aprisionada e livre. De todas as “imagens concretas”, a mais intensa – e talvez mais nordestina por conta da carga de religiosidade atrelada ao elemento mágico típico dos romanceiros – é a do Santo Guerreiro, de cujas feridas emana sangue durante todo o percurso da narrativa marcada por algarismos romanos. Sobre esses trechos, Suassuna observa que “dão a impressão de que não foram somente escritos, foram cortados a canivete, fazendo brotar da madeira, com os cortes, o vermelho do sangue” (2005, p.28-9). Também a sela que Anrique usava em Imperador assemelha-se a uma tapeçaria: era “de couro de bezerro, toda adornada de fios de ouro e prata, cheia de ramagens de seda com a figura de um tigre de cada lado” (p.51). A figura do tigre, “símbolo da casta guerreira” (Chevalier; Gheerbrant, 2005, p.883), que “evoca, de maneira geral, as ideias de poder e ferocidade” (ib.), parece, no entanto, revelar, sobretudo, a íntima ligação de Anrique e Bernarda (a tigre), que compartilhariam não apenas o mesmo sangue, mas a mesma selvageria instintiva. O próprio Carrero alerta sobre sua “novela”: “leia para ver, não para compreender” (Castello, 2005, p.18), ratificando a ideia de prosa visual, imagética. E, em CD-ROM sobre o armorialismo, o autor pernambucano afirma que, n’A história de Bernarda Soledade, assim como nos folhetos de cordel, não há penetração psicológica5. A narrativa se desenvolve com base em imagens, metáforas, insígnias. A ação, e não a explicação, constitui o cerne da “novela”. De fato, o narrador é, em verdade, um escultor. Não há princípio reflexivo ou crítico (ao menos, explícito): apenas fatos, entrecortados por alguns diálogos, sempre repletos de intensa carga visual. O discurso indireto livre aparece discretamente e as personagens, movidas pelo pathos, impulsionadas pela vontade, são imersas em certo primitivismo e, portanto, nada introspectivas. Porém, não se pode negligenciar que essas imagens são uma 5 NEWTON JÚNIOR, Carlos; TELES, Arlindo (orgs.). Movimento Armorial: Regional e Universal. Recife: Maga Multimídia. 1 CD-ROM, 2008. rica possibilidade de revelação do íntimo dos seres carrerianos e, de certa maneira, constituem, por vezes, uma forma simbólica de “penetração psicológica”, o que se verifica, por exemplo, no correlato objetivo espacial, entre a decrepitude da casa-grande e a decadência das Soledade, ou temporal, entre a tempestade que assola Puchinãnã e o tormento vivido por Bernarda, Inês e Gabriela. Outras imagens merecem ainda destaque como a do santuário refletido nos olhos de Bernarda: “Permanece ajoelhada, o santuário bem dentro dos olhos” (p.35). Aliás, esse templo é uma personagem com a qual as Soledade interagem do início ao fim da trama. A recorrência fantasmática – os gemidos do coronel Pedro Militão, enforcado no milharal, e o permanente cavalgar de Imperador, assassinado por Pedro, – num primeiro instante suporia um diálogo com a literatura latino-americana. Tomando como base a classificação de Todorov, em Introdução à literatura fantástica (2004), A história de Bernarda Soledade seria enquadrada no universo do maravilhoso, já que há uma aceitação, sem estranhamento, por parte das personagens e do narrador (e também do leitor) desses eventos e não é fornecida nenhuma explicação “racional” que justifique e/ou explique o sobrenatural. O único e breve espanto ocorre quase ao fim da narrativa quando Inês vê jorrar sangue do Santo Guerreiro. De acordo com o narrador, ela “não acredita que o sangue é verdadeiro” (p.113). Neste caso, a classificação seria fantástico-maravilhoso, por haver de qualquer forma uma admissão do extraordinário. Todavia, a fonte de Bernarda está, na verdade, em seu universo mais próximo: os folhetos de cordel. Haroldo Bruno, no ensaio “Dois nordestes: o real e o mítico”, verifica que Carrero “não perde de vista, no entanto, as raízes populares e tradicionais da novelística nordestina, e estas se refletem na visão mágica que invoca fantasmas, assombrações” (1980, p.80). Pode-se, então, afirmar que esse aproveitamento do elemento mágico dos romanceiros pelo texto literário também vai de encontro à proposta armorial, mormente ao criar belas imagens como a do fantasmagórico cavalo Imperador trotando no telhado da casa-grande. Na fala de Bernarda Soledade para a irmã, é possível vislumbrar uma outra imagem, já citada anteriomente, que flerta com o maravilhoso (seja ele latino-americano ou nordestino): é preciso, agora, deixar que as plantas rasteiras tomem conta dela [da casa], subam pelas nossas pernas, embriaguem nosso sangue e nossos corações. Teremos, então, cabelos de folhas, mãos e pernas de árvores (p.114). Como se pode verificar, a “novela” carreriana tem de fato uma ligação estreita com o Movimento Armorial, cuja base não é social, mas estético-cultural, porque busca nas raízes da cultura, sobretudo nordestina, embora com aspirações de valoração do nacional, uma forma elevada de expressão literária, de teor mágico e imagético. 2.3 O sertão de Benarda Soledade: prosa regionalista? Vamos comandar todas essas terras, meu Comandaremos Puchinãnã. (Carrero, 2005, p.47) pai. Em reportagem na revista Veja, de 25 de fevereiro de 2009, intitulada “Minha terra tem primores”, ficcionistas expõem suas restrições quanto ao termo “regionalista”. Para Milton Hatoum, “o conceito de regionalismo ficou datado e precisa ser revisado” (p.98). Após citar Raimundo Carrero e Ronaldo Correia de Brito como escritores que “também já protestaram contra o rótulo” (ib.), o autor da matéria, Jerônimo Teixeira, observa que curiosamente “a classificação que hoje parece pejorativa responde pelas melhores obras da ficção brasileira do século XX” (ib.). O jornalista acirra a polêmica ao apontar, de acordo com sua perspectiva, o desgaste de “certas marcas regionalistas”: “Junte um coronel, alguns retirantes, um ou outro jagunço, embale tudo em uma linguagem ‘oral’, e está pronto um romance nordestino” (p.98-9). Em seguida, assinala a imprecisão do termo e propõe a seguinte questão: Se qualquer lugar, afinal, pode ser uma “região”, por que as narrativas manauaras de Milton Hatoum seriam regionais, quando os contos cariocas de Rubem Fonseca ou curitibanos de Dalton Trevisan passam por “urbanos”? (p.99) Jerônimo Teixeira, embora não aborde a questão de forma acadêmica, científica, consegue na breve matéria tocar em muitos pontos que se tornaram polêmicos quando o assunto é Regionalismo. Ele ainda complementa: “Afirmar que a boa literatura não é regional, mas “universal”, não resolve a parada. “Universal” é um adjetivo ainda mais gasto e vago” (p.99). Janilto Rodrigues de Andrade, no texto “Ponto e contraponto na escritura de Raimundo Carrero”, ao avaliar a obra do escritor pernambucano, observa uma tendência dos pesquisadores a afastar o rótulo “regional” substituindo-o pelo de “universal”: “(Considero insulsa a crítica que, escorando-se em clichês carcomidos, nada acrescenta às obras às quais são aplicados. Coisas como: é escritor que transcende do regional para o universal [...])” (1994, p.37). Para Andrade, há na prosa carreriana “muito pouco de regionalista” (ib.). E, embora declare que o debate é fastidioso, lança a questão: “o que é regional não pode ser universal?” (ib.). O analista também toca em pontos polêmicos, mas não chega a dissecar o texto de Carrero de modo a compreender se há ou não marcas do regionalismo – única forma possível de pôr fim à discussão. Em “Dois nordestes: o real e o mítico”, Haroldo Bruno declara que o autor pernambucano “não está animado a fazer ficção regionalista” (1980, p.80). De acordo com o crítico, “A história de Bernarda Soledade lembra apenas a região, seus costumes, suas peculiaridades linguísticas. Embora não aliene inteiramente a paisagem natural, a trama poderia decorrer em qualquer localização” (ib.). Novamente, há uma análise rarefeita de tema tão controverso. É Mario Martins quem se esforça por buscar no texto, ainda que de maneira tímida, elementos que justifiquem a recusa do epíteto regional. Em “Uma novela armorial [crítica a A história de Bernarda Soledade: a tigre do sertão]”, ele ressalta que a narrativa “fala-nos de ‘guerreiros’, em vez dos habituais capangas, ‘cabras’ e cangaceiros das lutas sertanejas” (1976, p.57). Observa ainda que não há “quase nenhum folclore, pouca linguagem de sertanejo. Apesar disso, sentimo-nos situados no Nordeste áspero e sanguinolento do Brasil, à espera duma desgraça” (ib.). É possível citar ainda o próprio texto da orelha de O delicado abismo da loucura, no qual Samuel Leon, ao discorrer sobre a trilogia que compõe a obra, conclui que as “novelas” têm em comum a mesma geografia: Santo Antônio do Salgueiro. Essa marca de origem se constitui em uma referência fundamental para entender o Nordeste de Raimundo Carrero. Não há regionalismo na sua literatura. Há geografia [...]. Nada que não possa conter a literatura de 30, ou seus sucedâneos, que se integram como paisagem afetiva, como detalhe, nunca como centro. Esse equívoco de interpretação deve ser desmanchado, pois a narrativa de Carrero busca, em sua particularidade sertaneja, um sentido universal. Novamente a recusa do regional se dá através da sobreposição do universal – o que remete à questão proposta por Janilto Andrade. O próprio Carrero, no CD-ROM sobre o Movimento Armorial6, ratifica seu pertencimento a esta “escola” e frisa com certa insistência que o Armorialismo e o Regionalismo são completamente distintos, tendo em vista a preocupação estética do primeiro e o sentido, sobretudo, documental, sociológico, conteudista, do segundo. 6 Op. Cit. Em A tradição regionalista no romance brasileiro, obra de referência que procura compreender as controvérsias que envolvem o Regionalismo e suas raízes, José Maurício Gomes de Almeida desvela boa parte das conjecturas aqui expostas. O analista verifica que [...] a constante transformação que o romance regionalista vai experimentando no correr do tempo, atendendo a solicitações estéticoculturais diversas, leva-nos obrigatoriamente a refletir sobre o valor relativo e limitado de qualquer conceituação de regionalismo que se possa fixar. (1999, p.22) Esse alerta coloca em xeque os posicionamentos da crítica que, quando fala em Regionalismo, quase frequentemente se refere às obras produzidas pela geração de 30, como se houvesse um molde de ficção que definisse o movimento. Além do Regionalismo de caráter realista ou documental, há – ressalta José Maurício – um outro, o mítico, da linhagem de Guimarães Rosa e Adonias Filho (ib., p.20). O autor observa ainda que no Indianismo e, mais à frente, no seu desdobramento, o Sertanismo, se encontra a gênese do Regionalismo. A temática sertanista surge, no entanto, com o intuito de afirmação nacional e não regional. O sertanejo, mescla primordialmente do branco com o índio, habitante de áreas isoladas, seria mais autêntico, porque “fiel às tradições, aos costumes, à linguagem e a própria natureza do Brasil” (ib., p.39). Todavia, apesar da utilização de tipos regionais, essas obras da ficção romântica não podem ser consideradas regionalistas em sentido stricto senso justamente porque “nessa fase o escritor brasileiro está mais preocupado com uma afirmação nacional do que regional” (ib., p.55). José Maurício Gomes de Almeida procura apontar, então, os fundamentos do Regionalismo: De vez que região implica uma parte dentro de um todo mais amplo – o país como tal –, a arte regionalista stricto senso seria aquela que buscaria enfatizar os elementos diferenciais que caracterizariam uma região em oposição às demais ou à totalidade nacional. Existe latente em todo o posicionamento regionalista – manifeste-se ele no campo artístico-cultural ou político-social – uma consciência orgulhosa dos valores locais e um desejo de vê-los afirmados, reconhecidos, no plano nacional. [...] São as regiões que apresentam fisionomia cultural melhor definida e diferenciada que suscitam, em nível mais profundo e coerente, a consciência regionalista. (ib., p.54-5) Para o crítico pouquíssimas obras “urbanas” são regionalistas exatamente porque os elementos que constituem o urbano não diferenciam uma cidade de outra. Na verdade, costumam ser comuns aos grandes centros; não há, mormente, peculiaridades que caracterizem a região. Deve-se atentar ainda que, para ser regionalista, é preciso que a obra extraia “sua matéria e a sua substância na própria realidade físico-cultural da região [...]” (ib., p.186). Afinal, A história de Bernarda Soledade: a tigre do sertão é ou não obra regionalista? As propostas de Suassuana de valoração e/ou incorporação da cultura brasileira ligada às tradições são inegavelmente aparentadas às do sertanismo do séc. XIX. Regionalismo e Armorialismo, ao menos neste ponto, parecem flertar. De acordo com José Maurício Gomes de Almeida, “muitas são as razões que poderíamos encontrar para o surgimento da temática sertanista, mas todas têm raiz no mesmo sentimento de orgulho nacionalista que inspirava o indianismo” (ib., p.38, grifo nosso). No entanto, se, por um lado, a obra inegavelmente extrai suas bases da cultura popular nordestina, da literatura de cordel, das imagens sem perspectiva das xilogravuras, se é possível reconhecer o nordeste sem leis, áspero, arcaico, habitado por cavalos selvagens, fêmeas virgens e machos, se há a mescla tipicamente nordestina de religiosidade e espírito guerreiro, metaforizada em São Sebastião, e a narrativa tem como cenário a sertaneja cidade de Santo Antônio do Salgueiro, por outro lado, não há capangas, jagunços, e sim guerreiros – como bem observa Mario Martins –, o coronel é um criador de passarinhos incapaz de administrar as terras de Puchinãnã e de se impor diante da filha, chove torrencialmente e continuamente neste sertão carreriano e não há quase linguagem sertaneja (embora seja possível identificar no texto algumas marcas da fala nordestina, o que é, obviamente, natural). O desequilíbrio desta balança se dá ao levar em conta que o elemento motor da narrativa não é a realidade sociocultural da região, mas a sede de poder, de domínio, de Bernarda Soledade. Ela não é Bernarda, a tigre, porque algo típico da região em que vive a fez cruel, despótica. As razões fornecidas pela personagem são existenciais: a ausência do braço viril para comandar Puchinãnã, a solidão do corpo, porque nenhum homem a quis, e o aprendizado com os cavalos selvagens: um mundo dividido entre os dominantes e os dominados; um mundo em que os mais fortes devem comandar. É a natureza da filha de Pedro Militão que impulsiona o universo de ódio, traição e vingança nas terras do sertão. Ainda que possua marcas regionais, a obra não é, stricto sensu, regionalista. Não por conta da sua universalidade ou pela recusa imediata com base na crença (infundada) no caráter reducionista da classificação, mas apenas por não se relacionar intimamente com uma problemática (ou temática) específica do Nordeste, como ocorre, por exemplo, em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, romance no qual a seca é o motor das ações, e na obra de José Lins do Rego, Fogo Morto, em que a ruína dos engenhos é a ruína das personagens. Como atesta José Maurício Gomes de Almeida, não há motivo para ver o Regionalismo como uma pecha e, menos ainda, para opô-lo a universalismo: com freqüência vemos a classificação regionalista encarada por escritores e críticos quase como uma pecha, contra a qual alteiam-se vozes indignadas de defesa. Semelhante preconceito tem a sua origem em uma atitude equivocada, que vê no regionalismo um localismo redutor, antítese do universalismo e, conseqüentemente, um rebaixamento no valor estético e humano da criação. Grave engano: regionalismo coloca-se no pólo oposto a cosmopolitismo – que encerra uma conotação de desenraizamento cultural –, nunca a universalismo. Uma obra torna-se universal pelo seu significado e o fato de mostrar-se presa, em sua matéria narrativa, a um contexto cultural específico, que se propõe a retratar e onde vai haurir a sua substância, não a impede de adquirir sentido universal (1999, 311). A história de Bernarda Soledade, portanto, embora não apresente o principal elemento que caracteriza a obra regionalista (a geografia ditando os rumos da prosa), encontra-se embebida na alma, nas cores e, sobretudo, nas imagens do sertão nordestino de raízes “arcaicamente brasileiras”. 2.4 Tragédia sertaneja É uma tigre essa danada! Seus olhos sempre me disseram que pretendiam sangue, muito sangue. (Carrero, 2005, p.48) Samuel Leon, na orelha de O delicado abismo da loucura, afirma que o mundo de Carrero “é o universo da tragédia” (2005). Também nesse ponto insiste José Castello ao analisar os três primeiros títulos do escritor pernambucano: Raimundo Carrero escreve, podemos dizer, com a fúria grega [...]. Suas novelas são presididas por impasses e impossibilidades intoleráveis, por uma imensa ambigüidade de valores que se avizinham da tragédia tal qual os gregos clássicos a praticaram. (2005, p.11) Para o jornalista e crítico literário, a tragicidade na obra carreriana estaria ainda atrelada à incapacidade de os seres alterarem seus destinos (ib., p.17), à condição dupla das personagens, simultaneamente “prisioneiras” e “carcereiras” (ib., p.15), e à presença do coro, “como nas tragédias clássicas” (ib., p.17), que “decora a narrativa: a reza, a ladainha” (ib.). Já Haroldo Bruno, embora também ressalte o caráter trágico da região (1980, p.81) e o fato de que as personagens são regidas pelas leis “do sonho e da fatalidade” (ib., p.79), vê na prosa do escritor pernambucano, sobretudo na batalha entre Puchinãnã e Santo Antonio do Salgueiro (ou entre a tigre e seus inimigos), uma fusão dos gêneros épico, lírico e dramático: Nem, por ouro lado, A história de Bernarda Soledade se situa nos limites do realismo. Paralelamente ao sentido poético ou de gesta, os episódios guerreiros e heróicos esboçam as linhas da epopéia. As cenas de combate parecem tão convincentes quanto aquelas forjadas pelas exigências de canto primitivo, têm a mesma força dos trechos líricos, das recordações de violência, dos atos de danação, isto é, de situações individuais. Sobressaindo o clima dramático, impõe-se a expressão poética que dá às alternâncias do tempo narrativo a duração interior e fantasmagórica. O núcleo épico se dissolve na visão mística e lúbrica, numa tragicidade desenvolvida em zonas de alucinação e desespero, ilustradas pela seqüência de acontecimentos, cujo signo emblemático é o desenho do galo vermelho. (ib.,p.80) Não resta dúvida de que a narrativa, pela presença maciça de imagens, flerta com a poesia e, pelo uso do presente, a frequência dos diálogos, a descrição de espaços e personagens, a agilidade dos episódios marcados por letras, aproxima-se do texto dramático. Resta, então, apenas verificar em que medida A história de Bernarda Soledade pode (ou não) ser considerada uma obra de teor trágico. O teórico húngaro Peter Szondi, um dos fundadores do Departamento de Literatura Comparada da Universidade de Berlim, reuniu em Ensaio sobre o trágico, publicado em 1961, a visão de doze filósofos sobre esse gênero e analisou, em seguida, oito tragédias com o objetivo não exatamente de conceituação universal, tarefa escorregadia, mas de verificar o valor que o trágico assume em diversos pensamentos e obras. O estudo tem via dupla: se as teorias contribuem, por um lado, para a compreensão das peças, por outro, a análise dos textos dramáticos termina por estimular a elaboração de fundamentos teóricos. Assim, o ensaio distende a visão sobre o trágico, ao invés de promover o afunilamento conceitual. Desde o período helenista até o final do século XVIII, para Peter Szondi, há uma poética normativa, porque o intuito é ditar as regras que devem ser seguidas para escrever de acordo com cada gênero. Predomina nessa época a noção de mimese, como “origem da arte” (2004, p.23), e de catarse, “como efeito da tragédia” (ib.). Em A arte poética, por exemplo, Aristóteles defende que “a tragédia é a imitação de uma ação importante e completa [...]; ação apresentada [...] por atores, e que, suscitando a compaixão e o terror, tem por efeito obter a purgação dessas emoções” (2007, p.35). Posteriormente, no entanto, uma visão filosófica se sobrepõe à de teor prescritivo e o objeto de estudo passa a ser o texto com o intuito de extrair dele uma concepção do trágico. Szondi inicia, então, seu ensaio com a perspectiva de Schelling e destaca as palavras desse filósofo ao interpretar Édipo Rei: Muitas vezes se perguntou como a razão grega podia suportar as contradições de sua tragédia: Um mortal, destinado pela fatalidade a ser um criminoso, lutando contra a fatalidade e no entanto terrivelmente castigado pelo crime que foi obra do destino! (ib., p.29). Logo, pode-se inferir, a partir desse excerto, que, para um texto ser considerado essencialmente trágico, como o de Sófocles, é preciso, no mínimo, um herói digno, um destino contra o qual ele luta (em vão), o crime não intencional ou sem culpabilidade e o castigo, a expiação. Junito de Souza Brandão, em Teatro grego: tragédia e comédia, vê no ciúme divino do homem dionisíaco, herói desmedido e em êxtase, que comunga com a imortalidade, a origem da tragédia: Essa ultrapassagem do métron [a medida de cada um] pelo hypocrités [aquele que responde em êxtase e entusiasmo; o ator] é uma ‘démesure’, uma [...] ‘hybris’; isto é, uma violência feita a si próprio e aos deuses imortais, o que provoca a [...] ‘némesis’, o ciúme divino: o anér, o ator, o herói, torna-se êmulo dos deuses. A punição é imediata: contra o herói é lançada [...] ‘até’, cegueira da razão; tudo o que o hypocrités fizer, realizá-loá contra si mesmo (Édipo, por exemplo). Mais um passo e fechar-se-ão sobre eles as garras da [...] ‘Moira’, o destino cego. (2009, p.11) Ora, em A história de Bernarda Soledade, a protagonista não tem nobreza de caráter e age movida por suas paixões. Embora a “novela” seja perpassada pela ideia de que uma terra e um corpo destinados à ausência do macho levam a primogênita de Gabriela a ansiar pelo domínio dos cavalos selvagens, de Puchinãnã, da família, dos homens e da vida, essa destinação não tem laço íntimo, direto, com as ações da tigre. Em outras palavras, Bernarda, independente da natureza de suas motivações, não é levada a cometer o crime; ela escolhe o crime. Se há purgatório (sem perspectiva de paraíso), ele é fruto de seus atos e não de uma sorte cruel. A questão não se encontra na impossibilidade de escapar do destino, mas no absurdo de uma vontade de poder que abarca tudo e todos. Também não há a catarse aristotélica. O leitor não sai, ao final, purificado pelo terror ou pela compaixão ante o “homem que, não se distinguindo por sua superioridade e justiça, não obstante não é mau nem perverso, mas cai no infortúnio em consequência de qualquer falta” (Aristóteles, 2007, p.52). Embora o discípulo de Platão reconheça a variedade de textos trágicos, considera que, para uma tragédia ser bela, ela deve oferecer a mudança [...] da felicidade para o infortúnio, e isto não em conseqüência da perversidade da personagem, mas por causa de algum erro grave [...] visto a personagem ser antes melhor que pior (ib.). Todavia, na primeira publicação carreriana, é praticamente impossível não ser seduzido pela força de Bernarda Soledade, violenta, febril, despótica, dotada de um erotismo primitivo, bestial. Uma mulher que subjuga homens e cavalos, com seu desejo de dominar, na verdade, pelas rédeas, a própria vida e a daqueles que dela se aproximam. Colado à personagem, o leitor chega a lamentar sua ruína. Estar próximo a Bernarda, antagonista da própria existência, é, de certa forma, ser conivente com sua crueldade, como se o espectador da prosa visual carreriana abandonasse a esfera do racional, do ponderado, e se deixasse envolver pela tigre do sertão. Aqui impera o selvagem, na quase totalidade de suas acepções. Talvez haja nesse apreço pelo impuro, uma corrupção do conceito de catarse. O senso comum definiu o trágico com base, mormente, na presença de atos nefandos, mas se, por um lado, não há tragédia sem horror, por outro, tais atos não parecem sustentar exclusivamente o sentido do trágico. Porém, ao prosseguir em seu estudo, Peter Szondi alarga as fronteiras da definição. Para Goethe, por exemplo, a dialética trágica já não se dá entre homem e destino, mas “no próprio homem” (2004, p.49) e se encontra primordialmente no significado da despedida. E, ao analisar Otelo, o teórico húngaro conclui: “aquele que é arrebatado pelo ciúme é rotulado como herói trágico” (ib., p.103). Já em Fedra, de Racine, o dilema no qual está calcada toda a tragicidade da obra, de acordo com Szondi, é o fato de que a protagonista “não é capaz de abrir mão nem do amor, nem da fidelidade” (p.112). De maneira contrária a Édipo Rei, obra que carrega todos os constituintes do trágico, os demais textos parecem não se amoldar por completo à teorização, ganhando novos contornos. Deve-se atentar ainda para a posição do herói na tragédia grega sobre o qual Junito de Souza Brandão ressalta: há de ser, por conseguinte, consoante Aristóteles, o homem que, se caiu no infortúnio, não foi por ser perverso e vil, mas [...] ‘por causa de algum erro’. [...] Tal falta, hamartía, Aristóteles o diz claramente, não é uma culpa moral [...] (2009, p.14). Em Bernarda, o desequilíbrio não é fruto de um erro inconsciente. Essa obra, portanto, considerando os aspectos aqui expostos, não pode ser categorizada como trágica com base no conceito de tragédia grega, mas com ela flerta, em sentido amplo, se for considerada a força dessa anti-heroína, sua expiação e a atmosfera de horror que envolve os Soledade. Logo, se a “novela” carreriana não é trágica no molde helenista, não se pode negligenciar que suas raízes sertanejas estão imersas na tragicidade inerente à esfera do humano, cego em relação aos fundamentos de sua própria vontade e incapaz de escapar não do destino, mas de si mesmo. 2.5 O recado dos nomes Bernarda, encourada, olhos negros, fundos e duros [...] (Carrero, 2005, p.37) Ana Maria Machado publicou Recado do nome, um estudo sobre a obra de Guimarães Rosa “à luz do nome de seus personagens”, e, com isso, ofereceu, aos leitores e à crítica, novas e iluminadas perspectivas sobre os textos rosianos. No primeiro capítulo, introdutório sobre a questão onomástica, a autora afirma que seu objetivo é examinar a relação entre os nomes e a “estruturação da narrativa” (2003, p.23) e ressalta: [...] quando um autor confere um Nome a um personagem, ele tem uma idéia do papel que lhe destina. É claro que o Nome pode vir a agir sobre o personagem ou mesmo modificá-lo, mas, quando isso ocorrer, tal fato só vem confirmar que a coerência interna do texto exige que o Nome signifique. É lícito supor que, em grande parte dos casos, o Nome do personagem é anterior à página escrita. Assim sendo, ele terá forçosamente que desempenhar um papel na produção dessa página, na gênese do texto. Não vem ao caso discutir se esse desdobramento do Nome no texto é ou não consciente por parte do autor. Em primeiro lugar, porque, mesmo que não seja consciente, não é obra do acaso nem ocorrência acidental. (ib., p.28-9) Frequentemente Raimundo Carrero enfatiza em entrevistas a importância dos nomes não apenas em suas obras, mas na ficção de modo geral. Para o escritor pernambucano “o nome do personagem é fundamental. É a base da ficção. [...] Um nome monta, de imediato, uma estrutura psicológica [...]”7. Esse tópico, portanto, embasado na proposta de Ana Maria Machado e na visão carreriana sobre o papel imprescindível do nome na narrativa, tem como intuito analisar o recado antroponímico e toponímico d’A história de Bernarda Soledade. 7 CARRERO, Raimundo. Um discurso sobre o método. Entrevista concedida a Marcio Renato dos Santos. Disponível em: http://raimundocarrero.com.br/conversas_pt.php. Acesso em out.2010. Os campos de Puchinãnã merecem atenção. Há na Paraíba um município chamado Puxinãnã, grafado com x, nome de origem tupi. O dicionário de Antonio Geraldo da Cunha registra puxi, como “torpe, indecente” (1999, p.248). Já no de Luiz Caldas Tibiriçá, poxy significa “feio” e nã nã, “tantas vezes, i.é: muito feio, feíssimo” (2009, p.100). Se a ruína das terras de Bernarda Soledade, as relações eróticas e incestuosas e o universo de ódio e traição forem considerados, pode-se inferir que o significado da nomenclatura do espaço geográfico compartilha o mesmo tom da trama, mantendo o correlato objetivo anteriormente avaliado. Deve-se também atentar para o sobrenome da família: Soledade. O Houaiss oferece três acepções para essa palavra: do “lat. solìtas,átis 'solidão, desamparo'”, refere-se ao “estado de quem está ou se sente só; solidão”, a “lugar ermo, deserto, solitário; retiro” ou à “tristeza de quem está abandonado ou só; melancolia, saudade”8. Nota-se que as três mulheres, encerradas na desértica casa-grande, Bernarda sem Anrique, Gabriela sem o coronel Militão, Inês sem Pedro, e todas sem possibilidade de futuro, saudosas e solitárias, fazem coro ao sobrenome “Solidão”. Aliás, apesar da alta carga erótica, as personagens dessa família, mesmo nos tempos de glória, sob o domínio da tigre, sempre estiveram, de forma afetiva, sós, frouxamente atadas apenas pelos laços do desejo. Soledade, enfim, expressa a dor suprema da perda, pois se refere “à solidão em que se encontrou a Virgem Maria por ocasião da morte de Jesus” (Oliver, 2005, p.483). Bernarda é a forma feminina de Bernardo, proveniente do “germânico ber (urso) e hart (forte), sign. forte como um urso” (Oliver, 2005, p.102). Ela é ainda, a tigre, palavra que no Sertão “designa a onça negra, como pode referir-se a uma mulher valente e cruel. (Suassuna, 2005, p.26). A força e o poder destrutivo do urso, aliados à imagem misteriosa, fascinante e aterrorizante da onça, dão corpo a essa mulher-bicho, primitiva, arcaica. Não se pode negligenciar também a locução adjetiva “do sertão”, que remete à algo árido, seco, ermo, longínquo, em harmonia com o sobrenome da família. Já o nome Inês não parece ter sido escolhido por conta do seu significado – “do espanhol Inez, o mesmo que Agnes” (Oliver, 2005, p.420), “do grego hagnes, através do latim Agnes, lit. ‘pura, casta’” (ib. p.332) –, apesar da virgindade mantida até o estupro, mas eleito com a intenção de fazer par com Pedro. Inês de Castro e D. Pedro I, casal separado pela interferência familiar, são retomados de maneira metatextual na trama carreriana. Aqui é a obsessão de Bernarda que separa sua irmã do filho de Lucas Jeremias. Após a batalha, Pedro, 8 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 1.0. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. proibido de pisar nas terras de Puchinãnã, novamente se une a Inês (que intencionava vingar a morte do pai), para tramar a destruição dos Soledade. O nome da mãe da tigre, ao contrário, feminino de Gabriel, “do hebraico Gabriel, de gébher (homem) e El (Deus), sign. ‘homem de Deus’” (ib., 168), parece se amoldar ao caráter da mulher inteiramente vítima do desejo de poder de Bernarda. Gabriela enlouquece ante o horror do suposto suicídio do coronel Militão e morre pisoteada pelos cavalos selvagens. Seu rosto é coberto pelo pano com o galo bordado por Inês, que se assemelha, pelas marcas de sangue, ao sudário. Gabriela, “homem de Deus” ou “mulher de Deus”, ocupa o lugar, portanto, do Cristo crucificado. Em relação aos homens, destacam-se o coronel Pedro Militão, criador de passarinhos, e o valente Anrique. No primeiro, tanto a “patente”, quanto o antropônimo conferem à personagem um tom severo que contrasta com seu temperamento débil. A nomeação aqui é irônica: um coronel, comandado pela própria filha, sem poder político, social ou econômico, cujo nome é Pedro, “do grego Pétros, de petra, lit. ‘pedra” (ib., p.265), e o sobrenome, Militão, que sonoramente remete a militar ou àquele que milita, carregado ainda de rudeza pelo uso do encontro vocálico. Deve-se ressaltar também que a personagem, após a morte, em contraponto à fúria do cavalo Imperador, “geme” no quarto do milharal. A docilidade de seus passarinhos se opõe ainda à altivez do galo, insígnia de Bernarda. Já Anrique, maneira medieval que se pronuncia o nome no Sertão nordestino (Suassuna, 2005, p.30), provém “do germânico Hiamirich, de heim, hein (casa, lar, pátria) e rik (príncipe, senhor), sig. ‘príncipe (senhor) da casa (pátria)’” (Oliver, 2005, p.185). De fato, Anrique é o macho de Puchinãnã, ângulo principal na relação incestuosa e triangular, que envolve Inês e Bernarda. Todavia, ele nunca alçou o posto de senhor da casa-grande, sendo essa posição sempre da tigre. Talvez Carrero tenha escolhido o nome, sobretudo, por sua aridez sonora, na qual sobressai o fonema /r/ que arranha, fere, condizente com uma personagem que irá trair duplamente e, por fim, ser traído. Vale ressaltar que o fantasmagórico Imperador parece dialogar com a protagonista. Bernarda tem a “imperiosidade dos gestos” (Carrero, 2005, p.34) e, assim como o equino de Anrique, é forte, valente. Entre ambos, prevalece alta carga erótica. Restam ainda dois grupos de nomes: o dos santos e o dos combatentes do município de Salgueiro. Dentre o primeiro, sobressai o Santo Guerreiro para quem a tigre reza. Ele se opõe a Santo Antônio, padroeiro dos pobres (e dos injustiçados?), que protege Salgueiro. Pode-se inferir que a batalha também se dá, portanto, no âmbito religioso. Todavia, na narrativa, das feridas de São Sebastião emana sangue – o que é provavelmente índice da condenação das atitudes da tigre. Se nem o narrador nem o leitor julgam Bernarda Soledade, talvez o “autor implícito”9, para usar a expressão de Booth, metaforizado na dor do santo guerreiro, a culpe, fato que se confirma por ter escolhido a ruína como seu destino. Quanto ao segundo grupo, vale ressaltar que é composto, mormente, por nomes bíblicos (Lucas, Arimatéia, João, Pedro), símbolo, na obra, ao que parece, da luta do bem contra o mal, dos justos (os homens de Salgueiro) contra os injustos (os Soledade). Raimundo Carrero elaborou uma trama em que os nomes acrescentam, seja por afinidade ou por contraste, muito à natureza das personagens. À luz da onomástica é possível visualizar, portanto, com mais nitidez o texto ficcional e reduzir, um pouco, a atmosfera ensombrada de Bernarda Soledade. 2.6 Bernarda Soledade: “donzela-guerreira” ou “mandona desabusada”? Bernarda Soledade, vestida numa armadura de couro, grande chicote na mão, comandava o trabalho dos homens no curral. (Carrero, 2005, p.35) Os textos críticos sobre A história de Bernarda Soledade: a tigre do sertão relacionam a personagem carreriana comumente a três mulheres, duas da literatura brasileira – LuziaHomem, de Domingos Olímpio, e Dona Guidinha do Poço, de Oliveira Paiva – e outra do teatro espanhol, Bernarda Alba, de Frederico García Lorca. Em princípio, os quatro títulos parecem dar corpo ao mesmo perfil, por deslocarem a força, seja física ou psíquica, associada desde tempos imemoriais ao lugar do masculino, para a esfera do feminino, criando espécimes supostamente híbridos. No entanto, a análise dos textos conduz menos às similaridades do que às diferenças. Para Janilto Rodrigo de Andrade, a tigre é “da estirpe de Guidinha do Poço” e “herdeira de alguns traços de Luzia-Homem” (1994, p.41). Walnice Nogueira Galvão aproxima Margarida e Luzia ao considerar que o romance de Oliveira Paiva é o caso mais relevante em nossa literatura, pelo exame do percurso de uma mandona desde suas origens e formação até as últimas conseqüências. [...] Essas matronas cearenses, não se deixando de incluir aí a Luzia-Homem de Domingos Olímpio [...] têm um cunho de força da natureza, uma sexualidade marcante, uma independência, um comando de si e dos outros [...] (1998, p.212) 9 BOOTH, Wayne C. “Distance and point-of-view: an essay in classification”. In: STEVICK, Philip. The theory of the novel. New York: The free press, 1967. p.92 Todavia, Valdeci Batista de Melo Oliveira, em pesquisa orientada por Vilma Arêas, Figurações da donzela-guerreira, coloca em xeque algumas considerações da crítica acerca de Luzia e, assim, termina por afastá-la quase completamente de Guida. Num primeiro instante, ao estudar o tema da donzela-guerreira, Valdeci evidencia suas características mais marcantes: ela se traveste de rapaz para esconder sua identidade – o que inclui ocultar os seios e cortar os cabelos; sua orientação espaço-temporal distancia-se do universo contemporâneo e, sobretudo, urbano; seu lócus se harmoniza ao sertão intemporal; seu “palco” é o campo de batalha e a comunidade a que pertence se erige sobre o coronelismo em um contexto no qual vigora a cultura pré-letrada, e a ordem social estática é baseada em relações de dominação, parentesco, apadrinhamento. As mais das vezes são os laços familiares ou de compadrio que garantem a união dos grupos, ensimesmados por um conservadorismo severo e obstinado, dominando todas as áreas da atividade humana. (2005, p.21) A pesquisadora destaca ainda seu caráter estóico. Ela – Diadorim seria o exemplo exato – está sempre pronta para se abster de sua vontade, de suas paixões, em nome de uma causa ou do grupo em perigo, já que “se vê premida pela ausência de pai ou irmãos, mortos ou debilitados, que possam ser recrutados para ação guerreira” (ib., p.25). Sua origem é medieval; incorporado à tradição épico-popular da Península Ibérica, o motivo da donzelaguerreira chega, com a colonização, ao Nordeste, sendo amplamente disseminado pelos cordelistas, e mais tarde aproveitado pelas formas literárias eruditas. Considerando esses aspectos, Valdeci conclui, opondo-se à perspectiva de Walnice, que, apesar da força descomunal, Luzia é donzela, mas não guerreira no sentido estrito do termo, e jamais poderia sequer ser considerada exemplo de mandona desabusada, porque, diferentemente de Guida, é frágil, indefesa, em conformidade com o estereótipo do feminino. A personagem de Domingos Olímpio é capaz de carregar uma parede, tem pelos nos braços e no buço e, entretanto, no instante em que é atacada pelo Capriúna, preocupa-se em recompor os trajes rasgados pelo soldado. Valdeci atenta que “[...] cabe à delicada Teresinha, que era aberta dos peitos e cuspia sangue sempre que abusava dos seus delicados músculos, enfrentar bravamente o vilão, defendendo de si e a Luzia do perigo iminente” (ib., p.84). Dessa maneira, parece um despropósito aproximar Bernarda da mestiça de Domingos Olímpio, que, nas palavras da mãe, é “mulher e bem mulher, fraca como as outras [...]” (2003, p.167). A imperiosidade da tigre não advém de sua força física, mas de sua ânsia de domar o mundo; seu vigor é psíquico porque centrado na crença de que pode moldar o real de acordo com o seu querer. Ela é donzela, até o instante da relação incestuosa com o tio, e guerreira, pois de fato luta, porém seus propósitos não são nobres, o que a configura como anti-heroína. Sim, pode-se afirmar que a “novela” de Carrero tem algum paralelo com o motivo da donzela-guerreira: a trama se desenrola no sertão arcaico, intemporal, de contornos coronelistas, e traz à cena uma mulher valente que recusa o lugar do feminino. No entanto, ela é cruel, não esconde sua identidade, não corta os cabelos, e, apesar de se trajar usualmente como homem, encourada, a domadora de cavalos está envolta em um erotismo intenso e bestial. Deve-se considerar ainda que, se por um lado, o espaço em A história de Bernada Soledade é também o do campo de batalha, por outro, a casa decrépita, em paralelo com a ruína da família, tem peso preponderante. As informações sobre as origens medievais do tema da donzela-guerreira e sua porta de entrada no Nordeste brasileiro, absorvido pelo cordelistas e, em seguida, pelos romancistas, fazem com que essa pesquisa seja reconduzida à proposta Armorial, já que Suassuna apregoava justamente a revalorização das tradições através da elaboração de uma arte erudita a partir da incorporação e recriação das raízes populares da cultura brasileira. Como a “novela” carreriana nasce dentro dessa ótica, fica a pergunta: o escritor pernambucano foi ao encontro de uma proposta temática que se adequasse às diretrizes armoriais ou, homem do sertão, erigiu uma obra, sob influência dessas raízes populares da cultura – sobretudo, nordestina –, que de maneira casual se adequou ao projeto de Ariano? Talvez a resposta esteja numa espécie de comunhão de fatores e não na recusa de uma ou outra possibilidade. Retornando ao ponto central, pode-se concluir até então que Bernarda se afasta de Luzia (o “espírito” é completamente outro) e Luzia, apesar de sua nobreza de caráter, se distancia do motivo da donzela-guerreira, por sua natureza dócil, tímida. No entanto, a tigre dialoga com esse motivo num jogo de similaridades e diferenças. Já Guida, mulher casada e despótica que trai e, diante da intenção do marido de solicitar o divórcio, encomenda sua morte, parece, num primeiro instante, não ter nenhuma relação com a “novela” carreriana, já que as histórias não possuem base comum. Porém, Margarida, como observa Valnice, “é uma sertaneja bravia e voluntariosa, que busca atender apenas os ditames de sua própria vontade [...]” (1998, p.101). Ambas, Bernarda e Guida, possuem uma personalidade monolítica e não vergam mesmo diante da ruína. Seus autores escolheram para elas a degradação e, embora não se possa garantir que na obra do pernambucano tenha havido finalidade punitiva, interessa frisar que tanto uma quanto a outra – seres rijos, inflexíveis – mantém erguidas suas cabeças frente ao destino que erigiram com sangue. Todavia, enquanto a tigre age no mundo de maneira mais instintiva, mais brutal (em oposição à ardilosa irmã Inês), a esposa do major Quimquim é dissimulada, capaz de se aproximar, por exemplo, de Eulália apenas para ter controle sobre a namorada do sobrinho, conforme salienta o narrador: “Andava ela agora muito metida com a Lalinha, cujo amor fingia favorecer e cujo casamento com o Secundino parecia adotar” (2004, p.98). A força da personagem de Oliveira Paiva – deve-se destacar – se encontra atrelada a seu patrimônio. Todos a respeitam, a obedecem, a veneram até, como a um coronel. A domadora de cavalos selvagens não possui essa dualidade; ela não presta favores, embora também seja senhora das terras de Puchinãnã. Valdeci conclui que Margarida coincide em alguns aspectos com a donzela-guerreira, já que “ambas têm robusta determinação, ostentam fortes personalidades, cada uma a seu modo, elaboram projeto de vida fora do círculo patriarcal” (2005, p.124). No entanto, se for considerado o ponto primordial, a mandona desabusada, ao contrário da donzela-guerreira, não oculta sua “natureza feminina”, além de suas ações centrais não serem movidas por um caráter altruísta. De acordo com Valdeci, “a mandona faz os outros se sacrificarem por ela” (ib., p.126). Bernarda, novamente, portanto, se enquadra bem às palavras direcionadas a Guida do Poço. Vale ressaltar ainda que, se a donzela-guerreira, comumente órfã, não possui um pai ou irmão para ir à luta, a mandona desabusada costuma ter ao seu lado um homem frouxo ou ridículo, também fora do lugar destinado, no caso dessas tramas nordestinas, ao macho sertanejo. Guida era filha de um mandão, mas possui como marido o balofo major Quinquim, cujo nome – algo acriançado – já indicia seu caráter débil. A tigre tem como pai um criador de passarinhos totalmente desinteressado dos projetos de conquista de sua primogênita. Valdeci repara que o marido de Guida tem parentesco literário com Bovary, de Flaubert (ib., p.115). Os três – Charles, Quinquim e Pedro Militão – compõem, portanto, o mesmo tipo com variações. Não deixa de ser curioso o fato de que as mandonas aparentemente assim o são apenas por ausência do macho. Como não há o gênero tido como dominante, capaz de erguer seu império sobre o feminino, há uma suposta usurpação de poder que, na verdade, mantém implícita a ideia de que as desabusadas só existem por conta da existência primeira de perfis masculinos deslocados. A carência de pulso, em Bovary, no Major Joaquim ou no coronel Militão, não é fruto do comportamento de Emma (deve-se ressaltar que a personagem de Flaubert, em certa medida reprodutora do lócus do feminino, em nada se assemelha às aqui estudadas), Margarida ou Bernarda. Ao contrário, é, sobretudo, a natureza deles que possibilita a essas mulheres escapar do arquétipo feminino centrado em pureza, fragilidade e, por vezes, santidade. As palavras da personagem Miguel, de Dona Guidinha do Poço, se amoldam a essa proposição: “Ela [Margarida] podia dizer o que lhe viesse às ventas, porque naquela casa não havia ronco de homem” (2004, p.152). A construção dessas figuras femininas, fora do establishment, se por um ângulo espelha uma positiva deteriorização do simulacro que procura restringir o espaço ocupado pela mulher, por outro, evidencia – ao transportar o lugar do masculino, do mesmo modo culturalmente erigido e sedimentado, para essas personagens – que de alguma maneira o discurso da dominação se mantém, como se os autores não pudessem escapar ao círculo de giz a que estão, também eles, confinados. As categorias de gênero, na verdade, não se dissolvem: há apenas uma inversão de expectativas elaborada ainda sobre clichês socioculturais. Embora Pierre Bourdieu não se refira especificamente à questão da arte, suas palavras bem poderiam ser aplicadas à elaboração ficcional: Como estamos incluídos, como homem ou mulher, no próprio objeto que nos esforçamos por apreender, incorporamos, sob a forma de esquemas inconscientes de percepção e de apreciação, as estruturas históricas da ordem masculina; arriscamo-nos, pois, a recorrer para pensar a dominação masculina, a modos de pensamento que são eles próprios produto da dominação. (1999, p.13) Bourdieu ressalta ainda que na sociedade patriarcal “o homem ‘verdadeiramente homem’ é aquele que se sente obrigado a estar à altura da possibilidade que lhe é oferecida de fazer crescer sua honra buscando a glória e a distinção na esfera pública” (ib., p.64). Charles, Quinquim e Militão não ocupam, portanto, o lugar do masculino, assim como Mme. Bovary, Margarida e Bernarda Soledade recusam, cada uma a sua maneira (e de certo modo), o estereótipo do feminino. Em estudo sobre o corpo no imaginário feminino, nas obras Memorial de Maria Moura e As mulheres de Tijucupapo, Elódia Xavier ressalta que as protagonistas, Maria Moura e Rísia, representantes do “corpo violento”, “rompem com a idéia da ‘vitimização masculina’, mostrando que as mulheres podem ser tão violentas quanto os homens” (2007, p.129). Maria Moura compartilha ainda com Bernarda sua incapacidade “de conciliar a conquista do poder com suas necessidades afetivas” (Xavier, 1998, p.35). Deve-se salientar também que, enquanto o corpo másculo de Luzia tem uma raiz determinista, calcada na forma e nas condições em que fora criada (o pai se regozijava por sua filha ser “um homem como trinta” (2003, p.58)), assim como Guidinha do Poço tem na herança biológica paterna e na educação que recebera as razões de seu despotismo (“o pai tinha desgosto de que ela não fosse macho” (2004, p.16)), Bernarda foge às amarras naturalistas. Sua ânsia de poderio nasce de suas entranhas, e, apesar de ser justificada pela ausência de homens nas terras de Puchinãnã, é preciso desconfiar dessa afirmativa, já que, mesmo após deitar-se com Anrique, luta ao lado dele em Santo Antonio. Quanto à Bernarda Alba, Haroldo Bruno faz questão de frisar, provavelmente em decorrência dos frequentes cotejos, que a obra de estreia de Carrero é “uma das mais belas sagas de nossa literatura, pouco importa a influência que nela tenha exercido García Lorca com La casa de Bernarda Alba” (1980, p.81). Um dos críticos responsáveis pelas aproximações foi Mario Martins. Em 1976, após verificar que o cavalo Imperador “encarna a obsessão erótica que domina a solidão ansiosa daquelas mujeres sin hombres, para empregar a expressão de Lorca [...]” (p.57), inicia uma análise comparativa do drama espanhol com a “novela” carreriana. Para Martins, Inês permanece na casa, embora pudesse fugir, porque se encontra “emparedada em vida” (p.59), assim como as filhas da matriarca espanhola; ambas, a protagonista de Lorca e a de Carrero, transformam a morada em um “sepulcro de vivos” (ib.); há nos dois espaços a presença atormentadora e erótica do cavalo (p.60), embora, apenas na “novela”, ele seja fantasmático; Gabriela, a mãe de Bernarda Soledade, e Maria Josefa, mãe de Bernarda Alba, estão loucas e anseiam por laços matrimoniais (ib.); “tanto na casa-grande do escritor brasileiro quanto no drama de Lorca, predomina a mesma exclusão anormal do homem e igual tirania na mulher, embora com motivações diferentes” (ib.) e o resultado final é a ausência de esperança, como se o despotismo das personagens “prendesse as pessoas por dentro” (ib.). No entanto, após listar as similaridades entre as obras, Martins frisa que elas não impedem a originalidade do texto carreriano. Pode-se acrescentar que não a impedem inclusive porque há diferenças substanciais. Bernarda Alba, ainda que moureje como um homem (1988, p.72), é uma defensora da honra bem conformada ao “destino de mulher”. Em conversa com a filha Angústias sobre o noivo, por exemplo, adverte: “Não lhe deves fazer perguntas. E depois de casar, muito menos ainda. Responde quando ele te falar e olha-o quando ele te olhar” (ib., p.77). Em comum com a personagem do autor pernambucano, apenas seu caráter despótico. E, embora a “tragédia” nos dois títulos envolva um triângulo amoroso – no texto de Carrero entre Inês, Bernarda e Anrique e, no de Lorca, entre Angustias, Adela e Pepe – colocando em evidencia a disputa pelo macho, antes ausente, deve-se atentar que, na “novela”, sucumbe o tio, cumprindo o “destino” da terra sem homens, enquanto no drama espanhol, Adela se suicida. A estrutura também é outra: o ápice na peça coincide com o desfecho, a morte da menina seguida da ordem de Bernarda Alba sobre o que deve ser dito: “Morreu virgem! Ouviram?!” (ib., p.96). Já na obra do autor pernambucano, interessa a decrepitude da família Soledade após a sucessão de horrores decorrentes do desejo de poderio da filha do coronel Militão. E, ainda que reproduza essa necessidade histérica do macho, entranhada no inconsciente coletivo feminino, é Adela, na verdade, a personagem de maior força no drama, porque capaz de desafiar a mãe e o status quo. A filha da matriarca afirma: “O meu corpo háde-ser de quem eu quiser.” (ib., p.42). Seria justo aproximá-la da Teresinha, de Luzia-Homem, que abandonou a família em nome do amor, e, de maneira mais reticente, de Guida do Poço e Bernarda Soledade, já que ambas vão contra tudo e todos para saciar suas vontades. Pode-se, finalmente, concluir que, embora o cotejo das obras conduza a inúmeras revelações, descobertas, é preciso um exame mais acurado antes de apontar possíveis influências ou raízes. Bernarda Soledade não se enquadra nem no perfil da donzela-guerreira, nem do da mandona desabusada de maneira harmônica e as similitudes com Guida ou Bernarda Alba estão acompanhadas de dessemelhanças. O risco de “tipologizar”, portanto, é reconhecer o igual, o comum, esquecendo-se das especificidades de cada texto e, sobretudo, de cada personagem. 2.7 Erotismo, religiosidade e loucura nas terras de Puchinãnã A noite apreende os campos de Puchinãnã. (Carrero, 2005, p.33) O comportamento belicoso e viril de Bernarda é frequentemente justificado na narrativa pela ausência do macho na casa-grande. A tigre “comandava a domação de cavalos; substituía o homem que não nascera do ventre de Gabriela Soledade” (p.47). Em diálogo com o pai, a personagem revela: Em Puchinãnã, falta um homem de músculos fortes. Poderia sair do meu ventre. Entretanto, não passo de uma mulher seca. Nenhum homem quis pousar sobre o meu corpo alvo. E os cavalos serão a presença do macho. (p.47) Para o coronel, a solidão de sua filha reside no fato de ela ser uma “mulher com cheiro de cavalos selvagens” (p.48). A sentença promove uma inversão nas posições de causa e consequência. Ela é “encourada” por ninguém tê-la desejado ou ninguém a cobiçou porque é “encourada”? Bernarda espera ainda o retorno do tio assassinado para que desse enlace fantasmático “venha a nascer o homem, o homem que comandará Puchinãnã” (p.84). Ela renega após o parto a filha, que vestia como menino, e mata, possivelmente por inveja, o filho de Inês. Há ainda na tigre certa aversão ao lugar ocupado pela mulher, o que se confirma em trecho do monólogo proferido frente ao túmulo da menina que tivera com Anrique: Você parecia estar pedindo desculpas porque não era um homem e não podia, com os outros machos, caçar cavalos selvagens. Teria que ficar em casa, esquentando o ventre, as coxas e os seios para o primeiro que viesse. Para se deitar e deixar o sangue escorrer como uma assassinada. (p.83) Em diálogo com a irmã, a primogênita dos Soledade reafirma as razões de sua sede de domínio, utilizando-se de perguntas retóricas: “Você se esquece que sou domadora? Que fui eu quem sonhou com o mundo de Puchinãnã, porque tinha o ventre vazio, as mãos abandonadas?” (p.102). Inês profetiza, logo após o nascimento da filha de Bernarda, que “Puchinãnã nunca abrigará homens. Aqui está escrita a tragédia de todas as mulheres”. (p.83). E Bernarda, depois de afogar o filho de Inês, sentencia, ratificando o vaticínio da irmã: “Não quero nenhum homem povoando as terras de Puchinãnã” (p.119). A ânsia de posse da tigre sem dúvida está fundamentada nessa ausência do macho: o pai era apenas um criador de passarinhos, Gabriela não tivera filhos, ninguém (ao menos até o enlace com o tio) a desejava – constituindo neste caso uma espécie de deslocamento das pulsões eróticas relacionadas ao corpo do outro para a terra e, sobretudo, para os cavalos – e ela dá à luz uma menina. Todavia não se pode negligenciar que, mesmo após se deitar com o tio, Bernarda luta ao lado dele contra os homens de Salgueiro, deixando entrever que seu gosto pelo poder e pela guerra talvez estivesse bem acima da busca por um homem para finalidades sexuais, reprodutivas e/ou bélicas. Sua resposta à indagação de Anrique sobre as razões que a levaram a promover invasões e assaltos parece, portanto, se conformar mais adequadamente ao seu perfil de domadora: “Os mais fortes devem comandar” (p.61). Em outro diálogo com o tio, a tigre também justifica seu caráter despótico para além do fato de Puchinãnã ser terra sem varão: “Enfrentando os cavalos selvagens, você percebe que ninguém na vida pode deixar de ser tirano” (p.43). De toda maneira, o jogo erótico perpassa por completo a primeira “novela” carreriana e engloba o domínio do outro, da terra e dos cavalos, tendo como centro uma mulher deslocada do papel usualmente feminino. Para Bataille, o erotismo, relacionado à esfera religiosa, sustenta-se sob dois pilares principais: interdição e transgressão. Logo, não seria possível falar em erotismo entre animais, já que esses pólos dialógicos estão ausentes no coito: Antes de tudo o erotismo difere da sexualidade dos animais no que a sexualidade humana é limitada por interdições e no que o campo do erotismo é o da transgressão dessas interdições. O desejo do erotismo é o desejo que triunfa sobre a interdição. Ele supõe a oposição do homem a si mesmo. (2004, p.403) No entanto, ainda de acordo com o ensaísta, “a atividade sexual dos homens não é necessariamente erótica. Ela o é todas as vezes em que não for rudimentar, que não for simplesmente animal” (ib., p.46). Na “novela” carreriana, Anrique exige o curral, “entre os coices dos cavalos, entre os relinchados” (p.58), para se relacionar sexualmente com a sobrinha. Embora Bernarda relute num primeiro instante, pois preferia a cama de capim, em seguida assente, e se veste e adorna como mulher, escolhendo o vestido vermelho, cor símbolo do desejo. Ela é por ele equiparada à “égua de pradaria”, que necessita ser subjugada, num zoomorfismo que acentua a carga erótica. O sexo é, então, uma luta por poder, irmã do trato com cavalos selvagens, porque a tigre desejava um homem “que fosse, ao mesmo tempo, o domador e o animal, para que se sentisse domada e domadora” (p.60). Foram, então, brutos, feras, animais, enfim. Poder-se-ia inicialmente supor que essa relação animalesca, em princípio sem interditos, não é erótica, considerando o ponto de vista de Bataille. Entretanto deve-se considerar, embora a questão seja um tanto complexa e por vezes pareça controversa, que o erotismo, em seu conjunto, é infração à regra das interdições: ele é uma atividade humana. Mas, ainda que ele comece onde acaba o animal, a animalidade não deixa de ser seu fundamento. A humanidade se desvia desse fundamento com horror, mas ao mesmo tempo o mantém. A animalidade é tão bem mantida no erotismo que o termo animalidade, ou bestialidade, está a ele sempre ligado. (Bataille, 2004, p.146) Curiosamente, portanto, a maior de todas as transgressões talvez seja justamente a tentativa de “retorno à natureza, cuja expressão é o animal” (ib., p.146), porque o movimento carnal é singularmente estranho à vida humana: ele se desencadeia fora dela, com a condição de que ela se ausente. Aquele que se abandona a esse movimento não é mais humano, é uma violência cega, à maneira dos animais, que se reduz ao ímpeto, que goza por ser cega, e por ter esquecido. (ib., 165) O sexo sem interditos, à maneira dos animais, – mesmo que impossibilitado em sua plenitude, já que não há como desvencilhar-se por completo do que caracteriza o humano – constitui a transgressão suprema, porque o interdito cabal seria abolir toda e qualquer interdição e retornar ao princípio das coisas, o que talvez explique a alta carga erótica que emana da despudorada selvageria sexual entre tio e sobrinha em meio ao “perfume dos cavalos selvagens, do curral e do mato” (p.60). Bataille atenta ainda que através da história, a freqüência dos massacres deixa claro que em todo homem existe um possível assassino. O desejo de matar situa-se em relação à interdição de morte como o desejo de uma atividade sexual qualquer em relação ao complexo de interdições que a limita. (2004, p.110) Bernarda, entregue às pulsões, – e talvez por isso seja uma personagem tão cativante – transgride, portanto, todos os interditos: mata, rouba, ocupa o lugar destinado ao macho e tem uma relação incestuosa com o irmão do pai. A tigre é a encarnação do desejo sem coibições, espécie também de elo perdido: por um lado, primitiva, selvagem; por outro, a mais humana entre os humanos, porque o querer desmedido é próprio do homem e não do animal. É no processo de civilização, de socialização, que se produzem as interdições; a quase ausência dessas confere um caráter arcaico à “novela”. Puchinãnã é um mundo sem lei sob o comando do mais forte. Em As estruturas elementares do parentesco, Claude-Lévi-Strauss tenta compreender o mistério da proibição do incesto. Afirma que não há lógica na concepção de que sua origem estaria ligada aos “resultados nefastos dos casamentos consangüíneos” (2009, p.53), já que essa justificativa é recente e não poderia dar conta da razão desse interdito nas sociedades primitivas. Também não crê na “repugnância instintiva” (ib., p.55), porque as práticas incestuosas são, na verdade, frequentes. E, após analisar vários pontos de vista antropológicos e estudar a fundo várias comunidades, conclui que a proibição do incesto tem sua gênese no jogo de sociabilidade, que faz da troca, sobretudo das mulheres, o meio de passagem entre grupos “da hostilidade à aliança, da angústia à confiança, do medo à amizade” (ib., p.107). Para Lévi-Strauss, “o grupo biológico não pode mais estar só, e o vínculo de aliança com uma família diferente assegura o domínio do social sobre o biológico, do cultural sobre o natural.” (ib., p.522). Deve-se observar, entretanto, que, nesta “novela” carreriana, não há o horror ao incesto e a relação entre tio e sobrinha não engendra culpa ou traumas psíquicos. Ao contrário, quando Anrique e Bernarda copulam, eles estreitam os laços de sangue e decidem se unir contra os homens de Salgueiro. O antropólogo francês observa que unicamente no caso excepcional de sociedades altamente diferenciadas é que esta forma negativa [a endogamia] pode receber um conteúdo positivo, isto é, um cálculo deliberado para manter certos privilégios sociais ou econômicos no interior do grupo (ib., p.86). Laure Razon, em Enigma do incesto, aponta o paradoxo bíblico, no qual “as uniões incestuosas engendram a vida no Gênese mas incitam à morte todo aquele que tenta essa volta à origem” (2007, p.9). Ela parece ainda fazer coro de certa maneira às palavras de Strauss ao salientar que a organização familiar incestuosa “limita as trocas com a sociedade e, por conseguinte, a adaptação a seus ritos e leis. O corte entre o mundo exterior e o mundo familiar torna-se cada vez mais nítido” (2007, p.161). De fato, parece que essa família carreriana está atrelada a um tempo anterior à cultura, originário, compondo um circuito fechado em oposição ao mundo, embora seus membros também estejam constantemente em conflito. É Inês, por exemplo, quem seduz o tio com o intuito de traí-lo. Aliás, como bem salienta Castello, “o homem de Carrero está sempre traindo, nunca pára de trair e trair” (2005, p.20). Bernarda trai Militão, que só desejava criar passarinhos; Anrique trai o irmão (ao matá-lo), a tigre (e a família Soledade como um todo) ao se aliar aos homens de Salgueiro e os homens de Salgueiro ao se aliar a tigre e, por fim, novamente trai Bernarda ao se deixar seduzir por Inês; Pedro trai sua cúmplice ao estuprá-la e a primogênita de Gabriela trai sua própria irmã ao afogar seu filho e a família de maneira geral ao arrastar todos à ruína. Vale salientar sobre o estupro de Inês que ele engendra uma relação de raiz sádica e masoquista. Pedro sente prazer ao violentar sua ex-namorada e ela, apesar da dor – ou por conta dela? – se compraz do abuso: “Possuída, entrou na casa-grande e apenas vestiu a roupa. Não quis tomar banho para não perder o cheiro de Pedro, para não esquecer os beijos nos cabelos e nos seios, nas coxas e no ventre” (p.117). Para Haroldo Bruno, como já referido anteriormente, “a intencionalidade do romancista foi sobretudo fixar, através das terras selvagens de Puchinãnã, um mundo de paixões e instintos desordenados” (1980, p.80). Essa talvez seja a sentença mais precisa acerca de A história de Bernarda Soledade. Nesse universo povoado de fantasmas (de Imperador e do coronel), que simbolizam a incapacidade de o indivíduo se desvencilhar dos erros cometidos ficando, assim, por toda existência assombrado, os cavalos selvagens (substitutos do macho ausente) funcionam como metáforas da natureza indomável e da potência erótica da tigre do sertão. No entanto, ao fim da narrativa, Bernarda, a mulher toda luta, torna-se incapaz até de controlar a fúria de Imperador e dos animais que ainda restam na fazenda. Esse “primitivismo” atrelado à sexualidade animalesca, à naturalidade do incesto, ao círculo familiar fechado, à satisfação dos desejos e às transgressões ganha novos contornos se for considerado o binômio violência/religiosidade sobre o qual a narrativa também se assenta. Em O sertão arcaico do nordeste do Brasil, Nilton Freixinho, após estudar os fatos históricos ocorridos entre 1830 a 1938, conclui que a decadência econômica do nordeste em paralelo com as secas que assolaram a região e a presença maciça da religião católica desde o século XVIII contribuíram para formar no sertanejo dois tipos de comportamento: “de um lado, a religiosidade mística, na esperança do advento do sobrenatural [...]. De outro lado, como resposta aos desafios, o recurso à violência, fora e acima da lei [...]” (2003, p.40). Para o historiador, “o sertão prolongou, no tempo, sua situação de arcaico” (ib., p.66), por manter até as primeiras décadas do século XX, “modos de pensar e agir não muito ‘distantes’ da época em que os colonizadores portugueses lançaram-se ao desbravamento e à ocupação do interior nordestino” (ib., p.253). Embora o período, ao qual Freixinho se refere, termine no final da década de 30 e a “novela” carreriana tenha sido publicada em 1975, é inegável que o universo de Puchinãnã é arcaico, mergulhado em combates e rezas; Bernarda é uma espécie híbrida de coronel, por ser a Senhora da fazenda, e jagunço, por pegar em armas para roubar e matar. A questão ainda é a disputa por terras e quem faz a lei é o mais forte, sobretudo, economicamente. Tanto os homens de Salgueiro oram e matam, quanto as Soledade se ajoelham continuamente diante do altar. O santo que sangra e as velas que se apagam simbolizam na casa-grande a escuridão na qual as personagens estão mergulhadas, a ausência de esperança e uma desaprovação mística das ações familiares. Essa correlação entre violência e religiosidade pode ser ainda bem exemplificada na atitude de Pedro após a guerra: “Retirou uma bala brilhante que trazia no bolso da calça e colocou-a ao lado do terço” (p.108). É natural que esse universo irracional, de paixões incontidas, seja invadido pela loucura. Sem dúvida, Gabriela é a personagem explicitamente insana na “novela”. Após o assassinato do marido, ela enlouquece. Vestida e maquiada para o casamento, espera pelo noivo e sonha com a festa e as núpcias. Anatol Rosenfeld, em “Influências estéticas de Schopenhauer”, salienta que a teoria do recalque freudiana já havia sido formulada anos antes pelo “filósofo do pessimismo”. Num ensaio, o alemão afirma que a loucura se origina do violento ‘expulsar para fora da consciência’ de certos fatos insuportáveis, o que só é possível ‘pela inserção na consciência de qualquer outra idéia’ que não corresponde à realidade (Rosenfeld, 1991, p.175). A mãe de Bernarda recusa o real, marcado pela dor e pela angústia, e cria um novo espaço-tempo em que há esperança, futuro, e, sobretudo, alegria. Em Elogio da loucura, Erasmo de Rotterdam dá voz à Loucura, que louva a si mesma por manter “os homens na ignorância, na irreflexão, no esquecimento dos males passados e na esperança de um futuro melhor” (2004, p.44). Bernarda percebe a vantagem da perda do juízo e subverte a concepção de que o indivíduo endoidece pela ausência de controle sobre a mente ao afirmar que, após a morte de Anrique, não teve “forças para enlouquecer” (p.102). Essa loucura, em contraponto a tão propalada ideia de fragilidade psíquica, é, então, apenas para os fortes, que, como Gabriela, são capazes de transpor a barreira do real. Embora haja numerosos e díspares estudos sobre a insanidade e a obra de Erasmo tenha viés satírico, não se pode negar que a visão positiva da alienação, como a única apta a fazer com que o indivíduo não seja atormentado pelos males do mundo e de sua própria consciência, se amolda com perfeição à circunstância vivenciada pela matriarca dos Soledade. Além disso, de acordo com a Loucura, de Erasmo, há duas espécies de furor. Um vem do fundo do inferno e são as fúrias que o mandam para terra. Essas atrozes e vingativas divindades tiram da cabeça uma porção de serpentes e atiram suas escamas sobre os homens quando querem divertir-se em atormentá-los. Têm nisso as suas origens o furor da guerra, a devoradora sede do ouro, o infame e abominável amor, o parricídio, o incesto, o sacrilégio, o peso de consciência e todos os outros flagelos semelhantes de que se servem as fúrias para dar aos mortais uma amostra dos suplícios eternos. Existe, porém, outro furor inteiramente oposto ao precedente, e sou eu quem o proporciona aos homens, que deveriam desejá-lo sempre como o maior de todos os bens. Em que pensais que consista esse furor ou loucura? Consiste numa certa alienação de espírito que afasta do nosso ânimo qualquer preocupação incômoda, infundindo-lhe os mais suaves deleites. (ib., p.53). Se Gabriela sem dúvida experimenta esse último furor, Bernarda, com sua sede de poderio, se conforma perfeitamente ao primeiro, renegado pela Loucura, embora a “Moria” de Rotterdam reconheça que ele também lhe pertence. Desse modo, a primogênita dos Soledade seria tão ou mais insana que sua mãe por viver imersa em mil tormentos, incluindo a culpa por ter desejado tantas desgraças a sua filha com Anrique. Puchinãnã, terra primitiva, assolada por ventanias e tempestades, envolta em erotismo, religiosidade e loucura, é o reino arruinado da família Solidão. Para sua primeira protagonista, que almejou um mundo sob seu domínio, Carrero reservara apenas trepadeiras, xiquexiques e flores do mato. 3 As sementes do sol: o semeador 3.1 Círculos de vento E o homem não é o cemitério dos passados, dos vários e misteriosos passados? (Carrero, 2005, p.142) Raimundo Carrero publicou As sementes do sol seis anos depois (1981) de vir à luz A história de Bernarda Soledade (1975). Em inúmeras entrevistas o autor pernambucano atribui esse hiato à surpresa diante da repercussão de sua “novela” de estreia e à consequente expectativa quanto ao lançamento de novo título. Todavia a obra de temática bíblica não obteve por parte da crítica a atenção conferida à prosa da mulher-tigre, valente e cruel, talvez por sua completa desvinculação da proposta Armorial. Inegavelmente a imersão no armorialismo havia impulsionado o interesse pela primeira narrativa carreriana. Agora desaparece o romanceiro popular do nordeste com suas insígnias e brasões, o ambiente fantasmático e, sobretudo, a ausência de profundidade em harmonia com as xilogravuras. Carrero parece, então, trilhar uma nova vereda, de centro ainda menos nordestino, rumo a um universo mítico, embora mantenha seu gosto pela atmosfera profundamente agônica e ensombrada. Se público e crítica ansiavam pela continuidade, frustraram-se. O sertanejo camaleônico é quase integralmente outro: a “concretude” das imagens cede lugar ao mergulho na interioridade atormentada de suas personagens, através de recursos, antes pouco explorados, como o monólogo interior e o indireto livre. Carrero, ao ampliar a subjetivação do tempo e a interioridade do espaço, aproxima-se mais da proposta do romance moderno. No entanto, a obra também se passa de modo parcial em Santo Antônio do Salgueiro, novamente em um município fictício (Arcassanta substitui a Puchinãnã dos Soledade) e, de modo mais preciso, em uma casa-grande na qual outra família – Davino, Lourenço, Ester, Absalão, Mariana e Agamenon – se encontra encerrada. O autor, mais experiente, abre sua segunda “novela” com uma epígrafe antecipadora do teor narrativo: duas estrofes do poema drummondiano “Especulações em torno da palavra homem”. Essas especulações (existenciais, metafísicas) são marcadas por perguntas sem respostas em conformidade com as inúmeras indagações, sobretudo de Absalão, diante da vida e da impossibilidade de se esquivar do destino que faz de todos traídos ou traidores, incapazes de se desviar da culpa (e da punição) porque irremediavelmente atraídos pelo desejo da plenitude do conhecimento. Quando o eu-lírico se questiona “Mas que dor é homem? / Homem como pode / descobrir que dói?” não está apenas associando o homem à dor, mas afirmando que ele, o homem, é dor. Como, então, sendo a própria dor, pode sentir que dói, pode sofrer? Chateaubriand, em O gênio do cristianismo, afirma que “o nome genérico do homem, em hebreu” – espelho de sua sina – denota “febre ou dor”: Enosh, homem, tem sua raiz no verbo unash, estar perigosamente enfermo. Tal nome não o dera Deus ao nosso primeiro pai; nomeou-o posteriormente Adão, barro vermelho ou lodo. Depois do pecado é que a posteridade de Adão houve nome de Enosh, ou homem, que tão perfeitamente condizia com suas misérias, e que memorava tão eloquentemente a culpa e o castigo. (1970, p. 74-5) A estrofe seguinte, “Há alma no homem? / E quem pôs na alma / Algo que a destrói?”, além de enfocar a eterna dúvida com relação à suposta composição dual dos sujeitos, centrase neste “quem”, responsável pela condição de corrupção, não do corpo, mas da alma do homem. Essa temática da decrepitude imaterial permeia toda a segunda “novela” carreriana. E o jovem Absalão, embora receie blasfemar, não se abstém de inquirir Deus pelo “quem” e, mormente, pelo “por que”: [...] como os círculos de vento que fazem a volta do mundo e depois se reencontram, colocaste prostradas uma diante da outra a vingança e a traição. Como compreender este arbítrio? Como entender uma estrada tão enlameada de traições e de lutas entre irmãos? É assim que se assiste ao carrossel da História? (Carrero, 2005, p.211)10 O título da “novela” também antecipa o assunto da obra. Impossível não relacionar o “semeador” – vocábulo cuja última sílaba retoma o termo “dor” – à parábola bíblica presente em Mateus e Lucas, questão que será esmiuçada em tópico subsequente. Interessa aqui apontar o fato de o autor pernambucano ter correlacionado epígrafe e título ao texto, buscando, como em Bernarda, o caráter harmônico da ficção. Em diálogo intertextual com vários episódios do texto sagrado – especialmente os que envolvem a relação incestuosa entre os filhos de Davi (Amnom e Tamar) e o fratricídio de Amnom por Absalão – e, possivelmente, com o romance Absalom!Absalom! (1936), de Faulkner, de maneira, portanto, exoliterária e endoliterária, respectivamente, a prosa carreriana se enriquece e se amplia ganhando contornos que excedem o limite de suas próprias páginas. 10 CARRERO, Raimundo. “As sementes do sol: o semeador”. In: ___. O delicado abismo da loucura: novelas. São Paulo: Iluminuras, 2005. Nas próximas referências a essa obra, será indicado apenas o número da página. Se em A história de Bernarda Soledade havia motivos para supor algum envolvimento com o Regionalismo, em As sementes do sol o assunto perde por completo o fôlego. Não há dúvida de que a história se passa no sertão arcaico, religioso e violento, e muito bem se lhe ajusta, mas as personagens carrerianas (e, de certa forma, bíblicos e faulknerianos) são instrumentos para questionar a relação do homem consigo mesmo, com os outros homens, com o mundo e com Deus. Se Carrero situasse esses indivíduos em um espaço urbano, talvez a “novela” perdesse o diálogo com o princípio, com o gênesis, que se amolda com mais justeza a espaços ermos e seres menos envoltos na velocidade das cidades, pouco convidativa à reflexão. Talvez a crise religiosa de Absalão diante do prazer carnal soasse um tanto inverossímil, porém não seria tarefa custosa manter as grandes interrogações de base metafísico-religiosa sobre as quais a narrativa se desenvolve. De qualquer modo nada há específico do nordeste ou do sertão que seja mola propulsora da narrativa. Em análise sobre As sementes do sol, Janilto Rodrigues de Andrade ressalta que a obra “mesmo sem estar vazada no princípio clássico da “falha trágica” (poética grega), é [...] o texto mais dramático de Carrero” (1994, p.39). Embora o crítico tenha o cuidado de não correlacionar de maneira peremptória a ficção à tragédia nos moldes helênicos, é inegável que a segunda “novela” do autor pernambucano tem laços bem mais estreitos com esse gênero do que A história de Bernarda Soledade. Para Absalão inexiste a possibilidade de fugir do destino por mais que o indivíduo ambicione manter uma postura íntegra. A partir da expulsão do paraíso, da queda, do pecado original, todos estão fadados ao erro. A traição seria, dessa forma, o princípio pelo qual o universo gira a partir do Éden e a procura pelo conhecimento do bem e do mal, a matéria de que o homem se compõe: não há fuga possível; tudo se repete em círculos incessantes desde o início dos tempos. A personagem carreriana flerta, portanto, com o herói trágico se for considerada a sua vã tentativa de escapar ao que está de antemão, para além do seu controle, determinado. Ele é e não é culpado do crime, porque, apesar de cometê-lo de modo consciente, por outro lado, o filho de Davino e os seres de maneira geral são – de acordo com o ponto de vista implícito do assassino de Agamenon – peças incapazes de se apartar do movimento repetitivo e rotatório do mundo: A Bíblia, com seus enigmas e armadilhas, está sempre apontando para a estrela que trazemos na testa. O signo da traição. Há sempre um punhal brilhoso apontando para as nossas costas. No Velho e Novo Testamento a história da traição, da baixeza, da imensa mesquinharia humana está sempre se repetindo, como os dias e as noites, como o sol e a luz. (p.199) Absalão é Eva (que traiu Adão), Caim (que traiu Abel), Jacó (que traiu Esaú), Davi (que traiu Urias), Judas (que traiu Cristo) e, em certa medida, o próprio Absalão bíblico (que traiu Amnom), pois as personagens aparentemente mudam, mas são, na verdade, as mesmas, embrenhadas na teia universal dos assinalados. Se, tomando como base o estudo de Massaud Moisés, foi possível concluir que A história de Bernarda Soledade situa-se entre a novela e o romance, As sementes do sol, sob a mesma perspectiva, parece se aproximar deste ainda mais. A “pluralidade dramática” (Moisés, 2006, p.113) que caracterizaria o gênero novela está presente (triângulo amoroso, suicídio, incesto, assassinatos). Todavia, interessa a essa prosa carreriana não o crime, e sim a interioridade aflitiva que o antecede e precede; a narrativa, de base memorialística, mais retrocede, para explicitar pensamentos e sentimentos diante dos fatos do que avança. A trama se desenrola primordialmente na casa-grande, configurando um espaço mais singular, sem conformidade com a novelística. A linguagem é ainda mais metafórica que em Bernarda e, ao alternar planos simbólicos e míticos, aproxima-se da complexidade do romance. E, apesar de o segundo título de Carrero oscilar, como num pêndulo ininterrupto, entre o sagrado e profano, o divino e o mundano, o bem e o mal, a intenção não é ressaltar uma suposta dualidade maniqueísta. Ao contrário, a obra trata da impossibilidade de o homem se desvincular tanto do bem quanto do mal, da bipolaridade que o compõe. Comer da árvore do conhecimento é seu destino de pecador. Logo, não há personagens boas, de um lado, e perversas, de outro, como, de acordo com Massaud Moisés, as presentes comumente na novela (ib., p.123). Ao contrário, todos os seres de As sementes do sol são humanos, complexos, torturados pela vã tentativa de fugir de si mesmos. Ao que parece, a obra também obteve essa classificação levando em conta apenas o critério equivocado, de acordo com o teórico, da pouca extensão de páginas: cento e dezessete. Após esclarecer, grosso modo, algumas discussões frequentes sobre a ficção do autor sertanejo (As sementes do sol também não é regionalista; não pode ser considerada obra trágica de acordo com o modelo grego, mas com ele flerta; a narrativa ultrapassa, do mesmo modo que Bernarda, os limites da novela; e o envolvimento com a literatura armorial dissipou-se) nesse segundo título, é possível dar início a análise do texto levando em conta os elementos constitutivos da narrativa. Carrero mantém o narrador em terceira pessoa (ou heterodiegético, para usar a nomenclatura de Genette11), que não participa da matéria narrada. Todavia, a questão ganha 11 Terminologia usada por Gérard Genette. In: GENETTE, Gérard. Figuras III. Paris: Seuil, 1972, p.251-261 neste segundo título maior complexidade, pois inúmeras vezes essa voz cede lugar a voz das personagens de maneira mais ampla do que ocorre no uso do discurso direto, indireto ou mesmo do dual indireto livre e o fio que as une torna-se bastante tênue: o narrador “oficial” da narrativa “desaparece” por momentos longos o suficiente para criar no leitor a sensação de que o texto está em sendo narrado por várias primeiras pessoas. No capítulo XIV, por exemplo, a voz de quem narra, embora não se ausente por completo e esteja entremeada ao longo do monólogo interior do atormentado sobrinho de Lourenço, tem um peso sobremaneira menor do que a voz da personagem. Deitado na cama, diante da Bíblia, “os pensamentos [de Absalão] se misturavam” (p.197). Em seguida, as passagens de indireto livre parecem se dilatar para dar espaço ao fluxo de consciência, repleto de indagações, dúvidas, vaivéns reflexivos, como no trecho seguinte, em que o filho de Ester analisa de forma relativamente organizada a questão da mulher nos textos sagrados, oscilando entre culpa e reabilitação moral: A origem da tragédia humana está, justamente, nesta encruzilhada que Deus nos colocou sob o símbolo da serpente astuta, da maçã rubra e atraente da mulher. E não seria, então, a mulher, toda a origem da tragédia humana? Não foi ela quem nos impeliu para o conhecimento do Bem e do Mal? Que o Bem e o Mal representam, exatamente, a eterna luta do homem com a mulher? Ou Deus quis reparar o erro colocando-os todos sob a proteção do manto estrelado de Nossa Senhora? Não foi por acaso que a mulher se recuperou no Novo Testamento. Além de ser a mãe de Cristo, do Homem, do Salvador e da Igreja, teve papel decisivo e importante nas cenas da trajetória do Crucificado no mundo. Pois foram as mulheres, e não os apóstolos, que assistiram a todo o sofrimento do Senhor em Jerusalém. Que enxugaram a sua face. Que ouviram os insultos a ele dirigidos. E o viram pela primeira vez ressuscitado. E, mais do que isso, receberam a gloriosa incumbência de anunciar aos apóstolos, aos homens, a próxima aparição do Rejeitado. Da aparição gloriosa e triunfal da Galiléia. E elas foram? Cumpriram sua missão? Ou traíram? Mais uma vez as mulheres traíram. É duvidoso, sei. Um dos evangelistas, São Marcos, de propósito ou por omissão, disse que elas estavam sobressaltadas ou com pavor. E foi por pavor que não disseram nada a ninguém. (p.199-200) Ao planejar a morte de Agamenon, Absalão torna-se ainda mais atormentado e o monólogo consequentemente perde em lógica e coerência: Vou levar Agamenon para uma festa – foi o que disse a Davino. Disse ou diria? Disse, pelo mais exato, pela força da lembrança. Os olhos do pai foram de assombro. Seria o filho capaz de ir para uma festa desrespeitando uma família mutilada, coberta com as suas chagas e agonias? Não, meu filho. Se quiser promova a sua festa, mas não darei licença para que Agamenon e Mariana estejam presentes. Não, não é assim. Respondeu. Responderia? É uma festa no cabaré, lá não cabe Mariana. Não falei em Mariana. E não vou promover festa. Lá é festa todo dia. Não, mesmo assim não.Viva sua vida com Lourenço como quiser. Não vamos mais apertar o cinto do sofrimento. No entanto, mais tarde, percebendo que um homem não pode ser maior que o seu desespero, Davino sentenciou: Faça como quiser, meu filho. Absalão pôde ver com alegria dois olhos brilhosos que mais do que dois olhos eram duas brasas: vermelhas e incandescentes. (p.208) O pensamento se estende quase até o fim do capítulo XVII, quando, então, o filho de Davino, volta-se para Deus, instaurando um tu e marcando o início do solilóquio. Deve-se atentar que, no fragmento acima destacado, tanto as perguntas de Absalão quanto as respostas de Davino se passam na mente daquele e os verbos disse ou diria, por serem homônimos na primeira e na terceira do pretérito perfeito e do futuro do pretérito, podem marcar a voz da personagem ou do narrador. Assim como a dupla respondeu/responderia, por referir-se a palavra do pai, pode pertencer tanto ao discurso do irmão de Agamenon quanto ao do responsável pela matéria narrada. Apenas na última sentença desse excerto, que abre com “Absalão pôde ver [...]”, o leitor certifica-se da “retomada” do texto pelo narrador. Apesar de o trecho citado se passar indubitavelmente na consciência do irmão de Mariana, uma sombra da voz heterodiegética se mantém presente, provocando a dúvida sobre quem narra. Todavia, parece menos correto apontar o indireto livre – porque pressupõe uma dualidade proporcionada pelo narrador (ele discursa e repentinamente algo se diz que põe o leitor entre dois possíveis enunciadores) – e de maneira mais coerente considerar uma contaminação da voz narrativa “oficial” pelo discurso angustiado da personagem. A pergunta “Disse ou diria?”, se proferida pelo narrador, revelaria assim sua comunhão com o estado anímico da personagem. Seria uma espécie, então, de narrador oscilante, participativo (menos heterodiegético do que se imagina?!), capaz de outrar-se, porque seu modo de narrar estaria intimamente relacionado à interioridade dos indivíduos que povoam a obra. Também Mariana, torturada pela ideia de que o pai pudesse inquiri-la, termina por travar uma conversa imaginária, em monólogo interior, com Davino, do mesmo modo como Absalão constrói a “lembrança do futuro” do assassinato de Agamenon: O que foi que você disse? Perguntaria. Não, não disse nada. Que nervosismo é esse, menina? Não, não nada. O senhor está enganado. É só impressão. Escutei alguma coisa. Foi só uma tosse. Ora, a gente não pode mais nem tossir? Não, você não tossiu. Você falou. O senhor se engana. É engano besta. Fale, menina, fale logo. Você pensa que eu não vi? (p.194) Por outro lado, o capítulo XVIII é de modo integral um diálogo entre Lourenço e Davino. O narrador desaparece. O texto dramatiza-se. Há um “eu” e um “tu” que se alternam. Curiosamente, esse diálogo, por vezes, se transforma num monólogo a dois, já que um não retoma a palavra do outro. Ambos estão focados em seu próprio discurso; o interesse não é, então, escutar, dialogar, mas falar. Enquanto Davino expõe seu abdicado plano de matar o irmão, Lourenço conta seu infrutífero projeto de apunhalar Ester, compondo duas histórias intercaladas e, de certa forma, independentes. Vitor Manuel de Aguiar e Silva esclarece, em Teoria da Literatura, que Qualquer tipo de narrador, para além dos enunciados que, formal e funcionalmente, lhe devem ser explícita e imediatamente atribuídos, introduz no discurso narrativo outros enunciados que, na ficcionalidade do universo diegético, têm como sujeitos as personagens, podendo assim descrever-se no texto narrativo canônico como um concatenação de uma alternância de seqüências discursivas das personagens. A voz das personagens faz-se ouvir tanto em discurso direto, nos diálogos e nos monólogos, como em discurso indireto. Num caso como noutro, essa voz diferencia-se claramente da voz do narrador, quer pela sua “transcrição” com adequados indicadores grafémicos, quer pela sua introdução com verbos dicendi, quer pela sua caracterização com traços idioletais, socioletais e dialetais que não podem ser atribuídos ao narrador. No discurso indireto livre, porém, que aparece já com freqüência em diversos romancistas do século XIX e que se desenvolveu, sob formas refinadas, no romance do século XX, manifestamse mescladas, no mesmo enunciado, a voz do narrador e a voz da personagem, daí resultando, na elucidativa expressão de Roy Pascal, uma voz dual. (2007, p.764) No entanto, ainda que seja comum essa cessão da voz por parte do narrador, quando a terceira pessoa desaparece com uma frequência ostensiva, é preciso, no mínimo, atentar para a pluralidade dessas vozes. Talvez seja mais correto falar em multiplicidade de narradores e enfoques discursivos, embora ainda haja um narrador centralizante. A narrativa oscilaria, assim, tomando como base as categorias de Friedman, em “Point of View in Fiction” entre a onisciência neutra e a multi-seletiva (1967, p.127). Enquanto a primeira refere-se a um único narrador que tem o domínio sobre o que se passa internamente e externamente com as personagens, mas não comenta nem julga suas ações, pensamentos ou sentimentos, na segunda, o narrador desaparece e a história é contada pelas personagens. Novamente, há de se tomar cuidado com a nomenclatura. O termo neutro, como já referido anteriormente, é um tanto inapropriado para caracterizar aquele que define a matéria narrada e adjetiva seres e espaços. Assim como o vocábulo onisciente para definir o narrador de As sementes do sol parece inadequado. No capítulo III, por exemplo, diante da aparente pouca atenção dada pelo sobrinho ao tio, a voz narrativa pergunta: “Certo da necessidade de apenas escutar, Absalão continuava em silêncio? Escutaria em verdade?” (p.135). Talvez o narrador seja detentor das respostas (e, portanto, onisciente) e escolha não revelar objetivando, ao chamar a atenção do leitor com indagações, promover a dúvida e o suspense narrativo. Neste caso, a focalização se restringe: A focalização restritiva, fixa ou mutável [...], problematiza as personagens e os eventos diegéticos, obrigando o leitor a um esforço, árduo muitas vezes, para apreender o significado da narrativa. O narrador não dilucida tudo miudamente nem estabelece autoritariamente uma interpretação: há factos susceptíveis de várias interpretações, há dúvidas e equívocos que permanecem, há silêncios que ninguém revela... (Aguiar e Silva, 2007, p.779) Por outro lado, diluir esse saber absoluto (ele não seria, portanto, onisciente) levaria a supor que ninguém, nem mesmo o narrador, pode ter consciência, domínio pleno, sobre o que se passa com as personagens. Essa proposta estaria em paralelo com o romance moderno, mais propenso às incertezas, às possibilidades. Não se pode negligenciar, por conseguinte, a construção de um narrador que interroga incessantemente, ainda que suas inquirições sejam duais, porque quase sempre marcadas pela presença do indireto livre. Sem dúvida essa ficção carreriana não é completamente narrada por suas personagens (como em Enquanto agonizo, de Faulkner, por exemplo); o narrador heterodiegético ainda tem as rédeas, mas, considerando os exemplos já citados, pode-se concluir que há uma mescla dessa onisciência neutra com a multi-seletiva. Deve-se atentar também para o fato de que qualquer apropriação de termo teórico na análise literária suscita uma pequena elasticidade da teoria para que ela se molde à narrativa, já que o contrário seria um equívoco absoluto. A mudança constante de foco e a temporalidade ao sabor das reminiscências promovem o redemunho narrativo, próprio da prosa de Raimundo Carrero, com suas personagens à beira do delicado abismo da loucura. As sementes do sol está estruturada em vinte e três capítulos. O primeiro, posterior à morte de Ester, é marcado, na verdade, pela rememoração de Lourenço sobre o dia anterior ao suicídio da cunhada. O segundo trata do dia da morte, enquanto, em III, o tempo, apesar de aparentemente obedecer à cronologia, retrocede pela lembrança do corpo boiando nas águas, explicitada no diálogo de Lourenço com o sobrinho. Esse vaivém, repleto de elipses, que posteriormente, através da memória ou da fala das demais personagens ou mesmo do narrador, são desfeitas, permeia todo o texto: Estas elipses implícitas desempenham uma função muito importante no romance contemporâneo: já não se trata de aliviar o texto de pormenores diegéticos destituídos de interesse ou chocantes para o leitor, mas de elidir intencionalmente do discurso elementos diegéticos fundamentais, que o leitor terá de reconstituir, baseando-se nas informações fragmentárias que o texto lhe oferece. (Aguiar e Silva, 2007, p.757-8) Assim, vários episódios são retomados sob novo ponto de vista. Vitor Manuel de Aguiar e Silva aborda ainda a questão da frequência narrativa a partir da subdivisão proposta por Genette: o discurso pode narrar uma vez o que aconteceu uma vez (é esta a norma do texto narrativo, classificando Genette esta espécie de narrativa como singulativa); o discurso pode narrar n vezes o que aconteceu n vezes (trata-se ainda de uma narrativa singulativa, pois que, como Genette observa, esta defini-se “não pelo número de ocorrências de um lado e outro, mas pela igualdade do seu número”; o discurso pode narrar n vezes o que aconteceu uma vez (narrativa repetitiva); o discurso pode narrar uma só vez o que aconteceu n vezes (narrativa iterativa ou freqüentativa).(ib., p.758) Em As sementes do sol, destaca-se, como recurso literário, portanto, a narrativa repetitiva, de certa forma redundante, já que determinados acontecimentos são reintroduzidos na ficção por um novo olhar que vem, muitas vezes, diluir elipses. Em I, ocorre o diálogo entre Ester e Lourenço e, em XX, Davino revela que ouviu parte da conversa. De certa maneira, então, aquele diálogo entre os cunhados é retomado neste colóquio entre irmãos. Em VIII, o banho de Mariana no rio tem como foco inicialmente a perspectiva de Agamenon, o que ele vê, sente e pensa e, em XII, é ela quem rememora o mesmo fato. Em III, Lourenço fala com Absalão à beira do rio e, diante do silêncio do sobrinho, o narrador chega a perguntar se ele “escutaria em verdade” (p.135). Em XV, a dúvida se desfaz: o filho de Davino expõe, enfim, a sua visão. Os episódios citados já demonstram que a proposta de movimento circular, de algo que se repete desde o início dos tempos para além do arbítrio humano (a traição), se conforma a uma narrativa que também gira incessantemente num retorno contínuo dos eventos. Essa polifonia ou estereoscopia dissolve o conceito de verdade porque abre para a multiplicidade dos olhares: quanto ao incesto, por exemplo, são relatadas as perspectivas de Agamenon, Mariana, Davino e Absalão. E mais: o que Absalão pensa sobre os sentimentos da irmã em relação ao fato não coincide, obviamente, com a interioridade de menina. O leitor também possui maior dificuldade para julgar, seja porque o narrador não o faz, seja por ter acesso às motivações e angústias das personagens. Seria fácil condenar Agamenon, por exemplo, se houvesse apenas exposto o olhar de Absalão. Carrero também explora a simultaneidade de planos. Os capítulos X, XI e XII são marcados pelo “enquanto”. Enquanto, em X, Davino rememora sua vida com Ester (as lembranças são suscitadas pelo retrato da esposa que o transporta no tempo e no espaço, como o gosto da madeleine, em No caminho de Swann, de Proust, faz com que a personagem reviva outra época e lugar), em XI, Absalão está no cabaré, e, em XII, Mariana se encontra no quarto com Agamenon, o patriarca continua rememorando sua existência ao lado da mulher e o sobrinho de Lourenço se deita com Maria e recorda o dia anterior. As passagens de X e XI se fundem em XII. Apenas no capítulo XIII, porém, é possível verificar que houve um entrecruzamento dos planos: Davino havia visto Mariana e Agamenon. No tópico seguinte, surge a perspectiva da filha de Ester: ela sabia que estava sendo observada durante o ato incestuoso com o irmão. A simultaneidade, de certa forma, pára o tempo com o intuito de explorar o que se passa no mesmo instante com todas as personagens da narrativa. A perspectiva abarca, dessa maneira, o grau angular máximo, completando o círculo. O autor pernambucano na segunda “novela” explora ainda mais a técnica da expectativa iludida que confere à obra o clima permanente de suspense. O leitor, inicialmente, por conta da postura agressiva de Lourenço, é levado a suspeitar que o tio de Absalão fosse o assassino da cunhada. A guerra entre irmãos dá margem à hipótese de que a tragédia se abateria sobre eles. A proximidade entre tio e sobrinho suscita a teoria de que poderiam ser, na verdade, pai e filho. Nenhuma das possibilidades se confirma. Ao contrário, Davino e Lourenço tornam-se mais próximos ao fim da narrativa e este, o texto sugere, mata Absalão. Todavia, por conta da intertextualidade, o leitor já espera tanto o incesto quanto o homicídio presentes na história bíblica. Nessa nova narrativa, também in media res, as personagens ganham complexidade. É possível, sobretudo através dos monólogos e do indireto livre, ter acesso à interioridade dos seres e eles se revelam plurais. Mesmo Mariana, mais próxima do tipo, por se portar sempre da mesma maneira, com seu espírito constante, servil, surpreende o público ao oscilar entre a repulsa e o prazer que a relação incestuosa com o irmão lhe desperta: “Dizia: meu irmão: e era duplo o desejo. De afastá-lo e de aproximá-lo” (p.191). O que dizer ainda do religioso Absalão que se entrega à luxúria e ao crime? Davino diante do suicídio de Ester e do ato sexual entre seus filhos apenas observa e, ao mesmo tempo em que lamenta, admira. E o bêbado Lourenço, um Dionísio atormentado e, portanto, contraditório? Talvez Agamenon seja a personagem mais ensombrada e enigmática, mas também se equilibra entre a vontade e a culpa. Em A criação literária (Prosa II), Massaud Moisés disserta sobre prosa poética e expõe o que a caracterizaria: A intriga amortece, tornando-se muitas vezes um fio débil ou subterrâneo, opostamente ao enredo linear e explícito das narrativas realistas ou nãopoéticas. A primeira pessoa do singular, do narrador ou das personagens, comanda o espetáculo; mesmo quando o foco narrativo se localiza na terceira pessoa, o tom é o da primeira; A narrativa é um espetáculo rememorado, por entre névoas de incertezas, ou sutilezas oníricas, como se transcorresse no interior do “eu”: a narrativa se desdobra na mente de quem a vai tecendo, como se desfiasse o enredo da memória, se abandonasse ao devaneio ou pervagasse os confins do sonho; [...] A tessitura dos acontecimentos, por natureza extrospectiva, mergulha na introspecção, como se os estratos inconscientes aflorassem a cada noção da intriga; ou como se, afinal, o mundo de fora, o “não-eu”, e o mundo de dentro, o “eu”, de repente se coordenassem num só, anulando as diferenças em favor de uma unidade bifronte, formada pelo seu intercurso. (2006, p.29) Sem dúvida a intriga na segunda obra carreriana ainda tem peso considerável, mas o enredo não possui linearidade justamente por estar atrelado ao fio da memória. E, embora o foco da narrativa seja a terceira pessoa, as inúmeras primeiras afloram, sobretudo através do indireto livre e dos monólogos, dando a impressão de que há vários narradores. A interioridade dos sujeitos é, portanto, matéria primordial do texto; o que ocorre, por exemplo, com Absalão antes de matar Agamenon (a angústia que antecede o crime) e após o assassinato (o delírio agonizante que o precede) tem importância infinitamente superior ao crime, exposto em poucas linhas e também entremeado com o que se passa na mente do sobrinho de Lourenço. O texto, com olhos voltados para trás e para dentro, mergulha na introspecção. Todavia, para além de todos os dados expostos, a capacidade de criar imagens surpreendentes é indubitavelmente o que confere maior poeticidade à narrativa do autor sertanejo. As sementes do sol abre com uma analogia e duas comparações que antecipam a atmosfera sombria, irrequieta e intimista que permeará toda a obra: “A madrugada é o bordado das sombras – pensou. E dentro das sombras, como as abelhas no interior do enxame, os pensamentos. Ou como o sabor no segredo da fruta” (p.125). É também lírica a tentativa de compreensão da finitude por Lourenço: “Uma morte é o inverso da mágica, meu filho. Retirase da cartola a ausência” (p.138). Pode-se ainda afirmar que As sementes do sol é simbólica, não pela combinação de sentimentos e pensamentos em harmonia com uma proposta simbolista, mas por, a partir do intertexto bíblico, se transmutar em metáfora da traição eterna. Ao dialogar com Adão e Eva, Caim e Abel, Judas e Cristo, Davi e Urias, Esaú e Jacó e Absalão e Amnon, em torno de um ponto comum, a deslealdade, torna-se mítica. Janilto Rodrigues de Andrade ressalta ainda que Absalão, já antes do crime, sente que do “oco do mundo vinham os ruídos dos ventos...”. E são esses mesmos ruídos do oco do mundo que levam Mariana a dizer a Agamenon, quando este inicia a tocá-la: “não, meu irmão, não!” Esses ruídos aos quais o narrador se refere são os valores arquetípicos sedimentados na psique humana, de geração a geração (Jung), e que “forçam a saída” todas as vezes que são “acuados”. (1994, p.39) Outro ponto de grande importância na obra carreriana é a questão espacial. Claudia Barbieri no ensaio “Arquitetura literária: sobre a composição do espaço narrativo”, nota que apenas recentemente esse elemento da composição narrativa começou “a receber atenção por parte dos estudiosos das Letras” (2009, p.106). Também Ozíris Borges Filho, em “Espaço, percepção e literatura”, observa que muitos críticos e teóricos ignoraram a importância da construção do espaço no texto literário e quase nenhum se importou com o modo como as personagens se relacionam com esse espaço do ponto de vista sensorial. (2009, p.167) A obra de Osman Lins, Lima Barreto e o espaço romanesco, continua sendo assim uma das principais referências quanto a essa categoria, já que o crítico, objetivando analisar a ficção do autor carioca, termina por teorizar sobre lugar e ambientação. Para Lins, a narrativa é um objeto compacto e inextrincável, todos os seus fios se entrelaçam entre si e cada um reflete inúmeros outros. Pode-se, apesar de tudo, isolar artificialmente um de seus aspectos e estudá-lo – não, compreende-se, como se os demais aspectos inexistissem, mas projetando-o sobre eles: neste sentido, é viável aprofundar, numa obra literária, a compreensão de seu espaço ou do seu tempo, ou, de um modo mais exato, do tratamento concedido, aí, ao espaço ou ao tempo: que função desempenham, qual a sua importância e como os introduz o narrador. (1976, p.63-4) Em As sementes do sol, espaço e ambientação se fundem aos demais elementos estruturais para conferir à obra um clima, sobretudo, de agonia e solidão. Ao estudar a correspondência dos gradientes sensoriais (visão, audição, olfato, tato e paladar) com a obra literária, Ozíris Borges Filho verifica que “o silêncio, por exemplo, tanto pode ter uma conotação positiva, significando paz, relaxamento quanto uma conotação negativa, significando solidão, abandono” (p.176). As personagens carrerianas, pedras pontiagudas cuja proximidade fere, conversam pouco; são introspectivas, solitárias. Apesar de o espaço ter certa amplitude, a casa permanece como o ambiente de clausura. Sob o comando inicial de Davino, ela definha permanentemente, em paralelo ao seu poderio, de modo real ou aparente, e em sintonia com o íntimo dos seres ficcionais: [...] a lamparina a óleo expelia para o alto uma fumaça enegrecida que manchava as telhas e os caibros. Havia uma atmosfera que se assemelhava à do interior de um templo. Ou à de um nevoento campo de morte após a batalha (p.156). Em outro instante narrativo é a mesa, e não a casa, que ganha contornos bélicos e mórbidos: “A mesa, Absalão sabia, não era ali como um templo. Era uma arena. Uma luta.” (p.130). Claudia Barbieri compreende o sentido dual do espaço na narrativa, que pode “provocar determinados estados e sensações naquele que o percebe, como este pode atribuir sentidos e impressões para ele a partir de suas experiências. A percepção do espaço sempre passa pelo sujeito e, por isso, será sempre subjetiva” (2009, p.121). Assim, o confinamento, o isolamento da família na casa pode ser o elemento desencadeador do desejo (de Agamenon por Mariana) e consequentemente da sucessão de tragédias. Por outro lado, é a interioridade dos seres que projeta uma visão do ambiente correlativa, como se verifica nas palavras de Davino a Absalão: Esta casa desaba em ruínas. Já não podemos sustentar nenhuma de suas paredes. Apodrecem os alicerces, logo cairá o teto. (p.201) [...] Uma casa, meu filho, não se mantém em pé apenas pela aparência dos tijolos. Seu verdadeiro sustentáculo, seu alicerce são os homens. Não pelos ossos rijos dos seus ombros e pelos músculos fortes do seu peito e das coxas. Mas pela sua moral, pela sua honestidade. Uma casa não é sua aparência, mas suas entranhas. (p.202) E, considerando o espaço-cena (Barbieri, 2009, p.117) – composto pelos elementos cênicos, tais como objetos, luz, texturas, cheiros – na prosa carreriana, a sombra é o componente primordial (o vocábulo e seus derivados aparecem no texto de modo ostensivo). Seu jogo de claro/escuro se harmoniza com a narrativa na qual os duplos se fazem presentes: bem/mal, sagrado/profano, divino/mundano. Levando em conta que é a partir da luz projetada em um objeto que surge a sombra, sendo esse objeto o homem e a luz, o bem, pode-se inferir que não há bem (que incida sobre algo) dissociado da escuridão; o objeto, ao bloquear em si mesmo parte da fonte que o ilumina, gera a sombra. Logo, metaforicamente, só há sombra porque há homem. A luz absoluta seria, portanto, a iluminação integral do objeto ou o utópico bem supremo. O narrador expõe o pensamento de Absalão: “Foi que imaginou que assim era o destino humano: a busca do homem, esturrando, louco e abismado. Mas sem nunca, em momento algum, alcançar a Luz, o Supremo, o Alto, a Rainha do Sol” (p.185-5). Por outro lado, a simbologia da sombra, como algo ligado a sofrimento, angústia, parece também se amoldar com perfeição aos seres carrerianos. Obviamente, o ambiente ensombrado limita a percepção. Para Ozíris Borges Filho, [...] ao analisar o espaço do texto literário, deve-se perguntar pelo seu caráter de visibilidade/invisibilidade. [...] um espaço que se mostra pouco acessível à visão é um espaço que aparece geralmente sob o signo do medo, da desconfiança. (2009, p.171) É preciso ainda atentar para duas outras referências espaciais, Arcassanta e o Cabaré. Residir em uma arca, ainda que santa ou, sobretudo, porque santa, conota também clausura, e não proteção, como se poderia supor. O cabaré e as prostitutas ganham uma aura pobre, decadente e, por vezes, dual, contraditória, em harmonia com o binômio luxúria/ruína, que perpassa o texto: as mulheres tinham “melancólicos sorrisos suspensos nos lábios” (p.163); as palavras de Maria se confundiam “nos soluços de sua risada, tragicamente feliz” (ib.); a casa era “pequena e humilde” (ib.). Há ainda os espaços intertextuais que dialogam com a narrativa, questão que será retomada adiante. Interessa agora, e finalmente, os espaços do texto para a conformação do último capítulo. Já foi dito que Carrero trabalha com planos simultâneos. Após mostrar o que se passa com cada personagem no mesmo instante de modo segmentado, ele normalmente torna a reuni-los em tópico único, promovendo assim um jogo contínuo de afastamentos e aproximações. Essa técnica é condensada ao final da narrativa quando Lourenço vai ao encontro de Absalão e este, em fuga, decide retornar. Tio e sobrinho, antes afastados, vão se avizinhando. Enquanto o irmão de Davino avança, relembra a infância do menino. Enquanto o primogênito de Ester, já em desvario, faz o caminho de volta, vê o tio e pensa que ele pode ter matado alguém para defendê-lo. Lourenço, então, percebe que o sobrinho está armado. Absalão se esconde como fazia nos tempos de garoto. O tio atira. No momento de maior proximidade, eles se tornam, o texto sugere, eternamente distantes. A dissolução funesta da relação mais afetuosa da narrativa provoca comoção no leitor, porque pensamentos e lembranças de ambos corroboram o carinho que sentiam um pelo outro. Ozíres Borges Filho atenta para a questão das distâncias no espaço narrativo: As distâncias estabelecidas dependem do tipo de relação que se processa entre os sujeitos, do que sentem, do que pensam e do que estão fazendo em relação ao outro. (2009, p.185) Os membros da família de Arcassanta mantêm entre si uma proximidade física, mas uma grande distância afetiva. Apesar de se gostarem, se amarem ou até mesmo se desejarem, não há amabilidade, docilidade, no trato. Apenas Lourenço e Absalão parecem mais próximos e, justamente sobre eles, quebrando as expectativas, recai a desgraça. Curiosamente, a redução da distância, que ampliaria a visão, evitando equívocos, ao contrário, promove o erro. O destino se cumpre em círculos de vento. Mais uma vez morre nos arbustos o fratricida filho de Davi. 3.2 O livro das traições A traição foi o princípio [...] (Carrero, 2005, p. 198) De todas as correlações bíblicas presentes no segundo título de Raimundo Carrero, sem dúvida, a paródia da sentença sangrada “No princípio, era o verbo” (João 1,1) é a mais reveladora do sentido do texto. No evangelho de João, “verbo” simboliza a ideia, a palavra, a expressão de Deus. Sua transmutação em carne pode referir-se tanto a vinda do Filho quanto à própria Criação: o pensamento e a vontade do Pai concretizados. Todavia, o torturado Absalão, diante da impossibilidade de fugir do destino que se repete continuamente desde o início dos tempos, conclui com rancor que, no princípio, era a traição. Para embasar sua teoria, vai buscar nos Testamentos todas as passagens que fazem do homem o eterno assinalado, “gado marcado do demônio” (p.196): Abriu a Bíblia. [...] Começou a ler pelo Gênese. [...] Os homens iniciando sua batalha no mundo. Era terrível. Nem bem tinham duas pernas, já lutavam. Sem sossego, sem pausa. Um intervalo breve para respirar brancuras: Adão e Eva – a luta tenaz dos traidores. (p.198) [...] A traição é o fio mágico no qual nos apoiamos. Foi dela que nascemos com as nossas feridas e nossas pequenas e breves alegrias. [...] (ib.) No Velho e no Novo Testamento a história da traição, da baixeza, da imensa mesquinharia humana está sempre se repetindo, como os dias e as noites, como o sol e a luz. Não é sem razão que Eva traiu Adão, que Davi traiu Urias, que Judas traiu Cristo [...]. É muito estranho que todos os personagens bíblicos tragam atrás de si este signo. Ou traem ou são traídos. Estigma cruel e atormentador. (p.199) Tanto nos relatos bíblicos quanto na narrativa carreriana o desejo conduz à traição. Eva quer saborear o fruto da árvore do saber: ser conhecedora do bem e do mal (Genesis 2,17) e, por isso, transgride o interdito. Davi deseja a esposa de Urias e, então, planeja a morte do servo. Judas, por moedas de prata, faz, de Cristo, o crucificado. Em As sementes do sol, Davino trai Lourenço ao se casar com Ester (o desejo pelo desejo do outro): “‘Amo Ester’ – disse. E os lábios tremeram. Menos pela força da expressão e mais pela certeza de estar traindo” (p.143). Lourenço trai Davino ao cobrar da cunhada o pacto de morte (a esposa do irmão deveria se suicidar após o nascimento do primeiro filho) – o que caracteriza o desejo pela morte do ser amado na desesperada e vã tentativa de por fim a dor de desejar e o anseio dual, egoísta e punitivo, que ninguém mais possa desfrutar do objeto desejado. Agamenon trai a família ao se deitar com Mariana do mesmo modo que esta trai todos ao saborear e estimular o incesto (o desejo carnal alimentado pela interdição aos laços consanguíneos). Absalão trai o irmão ao matá-lo (o desejo de vingança). O primogênito de Ester reflete ainda sobre a provável culpabilidade da mulher pelo destino humano: A origem da tragédia humana está, justamente, nesta encruzilhada que Deus nos colocou sob o símbolo da serpente astuta, da maçã rubra e atraente da mulher. E não seria, então, a mulher, toda a origem da tragédia humana? Não foi ela quem nos impeliu para o conhecimento do Bem e do Mal? Que o Bem e o Mal representam, exatamente, a eterna luta do homem com a mulher? (p.199) Sem dúvida os Textos Sagrados, escritos por homens, numa época regida pelo masculino, só poderiam culpabilizar a mulher. Todavia, não há no Gênesis nenhuma menção à maçã, à sedução e ao pecado da carne. Se Eva pecou (e convenceu Adão a fazer o mesmo), foi por ambicionar o conhecimento pleno que apenas Deus possuía. Ela, a “suprema culpada”, come o fruto da árvore do saber, experimenta o Mal e condena toda a humanidade a viver fora do paraíso. No ensaio “Quem é bárbaro?”, Francis Wolff diz que, “a respeito da condição da mulher” (2004, p.32), seria possível afirmar que “os preceitos do Corão são especialmente iníquos e tirânicos” (ib.). Em seguida, após citar trecho de texto sagrado, marcado pela ideia de completa sujeição feminina ao homem, surpreende o leitor ao revelar que pertence não à “bíblia” islâmica, mas à Primeira Epístola aos Coríntios, de São Paulo, parte do Novo Testamento. Os livros sobre os quais o mundo cristão se erigiu, portanto, passam comumente ao largo da ideia de igualdade entre os seres. A imagem bíblica (e simbolicamente sedimentada) da fêmea, capaz de seduzir e desvirtuar, – o golpe mais violento do ocidente contra as mulheres – aflige o crédulo irmão de Mariana. Foucault, em História da sexualidade: o uso dos prazeres, expõe que foi, na verdade, o teólogo Clemente de Alexandria quem primeiro fez “certa associação entre atividade sexual e o mal” (1984, p.22). O filósofo observa ainda que, na Antiguidade, já havia uma moral, embora não prescritiva, e com objetivos diferentes da cristã, baseada no controle das paixões (e consequentemente das práticas sexuais) para o domínio de si mesmo. Embora, por conta do extenso paralelo com os livros sagrados, As sementes do sol pareça embebida da moralidade judaico-cristã, suas raízes podem, na verdade, ser outras, sobretudo se for considerado que inexiste no episódio bíblico do assassinato de Amnon justificativa para o fratricídio com base no incesto: o filho de Davi mata o irmão, na verdade, por ter estuprado e renegado Tamar. O rigor do Absalão carreriano é menos bíblico do que se poderia supor, ficando mais próximo, por exemplo, do pensamento de Agostinho, que “relacionou a concupiscência e o pecado original” (Vainfas, 1992, p.83) O religioso sobrinho de Lourenço pede para ser poupado e suplica a Deus pelo terceiro caminho: não ser nem Caim nem Abel. O narrador expõe essa aspiração utilizando-se de modo adaptado da palavra de Jesus ao Pai nos momentos que antecedem a crucificação: “Queria que também seu Cálice fosse afastado” (p.207). Absalão, embora receoso, aponta o dedo para o Criador ao analisar a querela entre os filhos de Adão: Porque do contrário Ele não teria escolhido Abel para o seu preferido, encolerizando Caim. Haverá assim algum arbítrio divino que faz com que os homens se atirem uns contra os outros, feras indomáveis? (p.210) Deus surge, nessa perspectiva, como o Traidor supremo (o grande Culpado, o Semeador?) ao promover a discórdia na Terra. A ideia de traição como princípio (vontade divina) ganha contornos ainda mais sólidos. Dessa maneira, seria impossível não repetir “o inevitável gesto de Caim” (p.217), não cumprir o “destino de Caim” (p.231), a que todos estão fadados porque nascidos a partir da mesma lama: “[Absalão] parecia ver a hereditariedade do sangue: Adão e Eva, Caim e Abel, Esaú e Jacó, Judas e Cristo” (p.233). A ciranda pouco a pouco se completa: o desejo leva à traição e esta à vingança, que é em si comumente uma reação também traiçoeira, de modo que traição gera traição (trair e ser atraiçoado), desde o princípio, ininterruptamente. Outra raiz que brota dessa árvore da perfídia é a culpa (o homem ciente da transgressão). A impossibilidade de fugir do destino, do pecado (todos são inocentes no carrossel da vida; o crime é inevitável; bem e mal são a matéria do homem) não elimina a culpabilidade dele decorrente (todos são culpados porque pecadores). Davino remói a sua inércia voyeurista diante da relação entre Mariana e Agamenon. A filha de Ester, embora também tenha se deliciado com as carícias fraternais, carrega o peso pelo ato libidinoso: “Não devia ter permitido que Agamenon agisse daquela forma” (p.194-5). E, ainda que Absalão considere o irmão culpado e, por extensão, o seu fatídico ato justo, o fratricídio o condena a carregar um “cavalo nas costas” (p.219). Não se pode, portanto, escapar do Erro nem da consciência atormentada. Moacir Scliar observa, em Enigmas da culpa, que as conseqüências da Queda não se restringem ao primeiro homem e à primeira mulher; pesarão sobre toda a humanidade. A noção de castigo, presente no Antigo Testamento, é incorporada ao cristianismo. A culpa agora passa a ser uma constante na condição humana [...]. (2007, p.77) Diante desse quadro, a morte surge como um bem (uma forma de alcançar Deus e abandonar a agonizante – e infernal – existência). Absalão conclui, talvez para se desvencilhar do remorso insustentável, que matar o outro é libertá-lo da vida e de si mesmo: Agora podia ver com clareza o obscuro da alma assassina. De uma alma assassina. O criminoso, assim como ele, o que era mesmo era uma criança: manipulada, comandada. Sentia mais as angústias e paixões humanas do que os outros. Tinha uma alma sobre o corpo: descoberta, ferida. Tanto sofria pelos outros que era preferível matá-los. Enviá-los para a face do Cordeiro. Sim, era isso. Precisava se convencer. Não fora por esta razão que matara Agamenon, o irmão? Somente e sobretudo por isso? Por que no íntimo, nos nervos do coração, o que tinha era uma imensa compaixão de Agamenon. Por ele sofria. Agamenon não haveria de ter sossego enquanto povoasse o dorso da fera. Enquanto caminhasse indeciso e impreciso sobre as feridas do mundo. No íntimo do seu sangue tivera compaixão. Foi isso, agora descobria. A compaixão que impele os homens para o crime. (p.234) Em seguida, o filho de Davino lembra que, em criança, visitou um preso na cadeia a quem as pessoas chamavam monstro e, ao refletir sobre o episódio, profere a pergunta retórica: “Pode ser fera o mensageiro da morte, aquele que antecipa as visões de Deus?” (p.235) Do mesmo modo, na perspectiva de Lourenço, são felizes (e livres) os suicidas: A morte mais iluminadamente bela: o suicídio, a coragem da morte, o desafio da morte, sobre a morte. [...] Compreendi, enfim, que há uma grande e incomensurável diferença entre a felicidade desgraçada dos homens comuns e a felicidade trágica e encantadora dos suicidas. (p.136) Todavia, deve-se questionar: o suicídio imposto pelo pacto não é, na verdade, assassinato? Lourenço, ao exigir e cobrar o acordo, não se torna desse modo homicida? O corpo de Ester nas águas, símbolo de morte e renascimento, ganha uma descrição erotizada; o morto parece vivificado e os vivos se tornam fantasmáticos: E quando a encontraram não era mais apenas uma mulher, estava além dos anjos. Boiava com os imensos cabelos soltos, os braços abertos em cruz, e a camisola branca, molhada, era uma bandeira que se despede em paz. Uma despedida aos solitários vivos que permanecem ainda mais solitários e mais mortos, mais mortos e mais desgraçados. (p.134) José Castello, na análise de O delicado abismo da loucura, verifica que o desejo toma forças monstruosas: conduz ao parricídio e ao incesto. No fecho das experiências extremas, encontramos sempre a culpa; um fecho que não fecha, solução sem solução, que vem só dar um nome a um impossível desejo de paz. Desejo de paz que é, por fim, um desejo de morte [...] (2005, p.18-9) Quanto à questão do incesto, se em Bernarda não estava bem marcado o binômio interdição/transgressão, em As sementes do sol, o erotismo sem dúvida se alimenta dessa relação. De certa forma, o desejo do filho de Davino é fruto do interdito, promessa de prazer e dor. Frente à imagem de Mariana despida sentiu “um soluço de pássaro solto e feliz atingido no vôo” (p.158). Seus pensamentos, à mesa, sobre a irmã são entrecortados pelo consumo da carne (“Agamenon estendeu a mão para se servir de um pedaço de carne” (p.157)), símbolo da cobiça, índice do pecado, “inimigo inato daqueles atormentados pela interdição cristã” (Bataille, 2004, p.144). O outro enlace amoroso é triangular, composto por Ester, Lourenço e Davino. Este conclui que os três juntos eram peças imprescindíveis para justificar a existência: “Se um dos três deixasse de existir, não haveria mais razão para galoparmos o dorso dessa fera, imunda e trágica, que é o mundo” (p.214). Logo, o suicídio da matriarca e a consequente dissolução do triângulo representam a morte em vida de todos os membros da família: “[...] já não era apenas ela que morria, mas todos nós” (p.225). No entanto, apenas desse modo, eles voltam a ser irmãos. Em seu ensaio “O triângulo, o ciúme e a inveja”, Dante Moreira Leite verifica que a estrutura triangular amorosa tente a se desfazer: o triângulo, sobretudo se apresentado no amor, tem qualidades dramáticas muito nítidas, pois é uma situação essencialmente desequilibrada e sem harmonia. Portanto o triângulo, nas relações interpessoais, contém os germes de sua destruição. (1979, p.15) Em As sementes do sol, Ester é a ovelha sacrificada, o autossacrifício; ela abdica de Lourenço e da própria vida para a dissolução do conflitante trilátero. No entanto, sua morte promove a ruína das bases familiares e conduz a uma sucessão de tragédias. Nesse mar revolto de desejo, traição, vingança, suicídio, assassinato, culpa, a loucura surge como elemento desencadeador (o delírio de Absalão o leva ao fratricídio) ou concludente (Mariana aproxima-se do delicado abismo da insanidade após o ato luxurioso), do qual a maioria das personagens não consegue escapar (Davino em seu martírio também pensa que está enlouquecendo). Todos esses temas reunidos e interligados, que edificam uma atmosfera tormentosa, em conformidade com os apavorantes redemunhos da alma, se harmonizam com a maneira de narrar cíclica e espiralada do “livro das traições” carreriano, em sua oscilação constante e veloz sobre as dualidades que compõem o humano. 3.3 Intertextualidade antroponímica Poupa-me. Retira-me deste drama enquanto a cortina não abre. Nem Caim nem Abel. E que outro caminho me mostras, mesmo depois do meu dilúvio? (Carrero, 2005, p.206) Willian Van O’Conner observa, ao analisar Luz em agosto, que “o nome de uma personagem na ficção de Faulkner é quase sempre uma parte integral da sua própria caracterização” (1963, p.50). A nomeação em Carrero também é significativa e muito diz sobre os seres que povoam seus títulos. Em As sementes do sol, a revelação contida nos antropônimos, todavia, não se encontra primordialmente nas origens etimológicas correspondentes, mas, sobretudo, no diálogo com o Velho Testamento e, de certa forma, com o romance Absalão! Absalão, de Faulkner, baseado nos mesmos episódios bíblicos de que a “novela” carreriana se nutre. Quando essa troca entre textos ocorre, tende-se a esmiuçar os elementos comuns às obras e negligenciar os aspectos divergentes, tão ou mais reveladores da natureza das personagens e do sentido da ficção. Em entrevista a Ana Valéria Sessa, o autor sertanejo revela que As sementes do sol: o semeador é uma remontagem de um episódio entre o rei Davi e Betsabé. Para recriá-los precisei de nomes pernambucanos e metafóricos. Assim, Davi é Davino, Amnon é Agamenon; e Tamar é Mariana. Somente Absalão continua Absalão por ter um nome mais universal. O nome da fazenda onde eles moram é Arcassanta – ou seja, a Arca Santa, à volta da qual Davi dançava.12 Carrero aponta, portanto, equivalências, mas omite as nuances que separam sua “novela” das narrativas bíblicas. Davino, por exemplo, nas palavras de Ester, era “severo, austero, seguro” (p.127). O irmão de Lourenço, como um rei no comando da fortaleza, afirma, após a morte da esposa, que continuará “o dono absoluto, o senhor e o patrão” (p.133); ele, de acordo com o narrador, procura “[...] assumir a rigorosa postura de chefe. Um chefe a quem é 12 CARRERO, Raimundo. Para os contistas: uma entrevista com Raimundo Carrero. Entrevista concedida a Ana Valéria Sessa. Disponível em: http://recantodasletras.uol.com.br/teorialiteraria/273297. Acesso em fev.2011. possível tudo: inclusive escurecer o sol” (p.155-6). Davino, portanto, é respeitado e temido, assim como de modo usual o representante máximo da realeza. Ele (como o Davi dos textos sagrados) também desejou a mulher de outro homem. Todavia, enquanto o eleito de Deus traiu o servo Urias duplamente, deitando-se com sua esposa e arquitetando sua morte, o único erro da apaixonada personagem carreriana foi se casar com Ester ciente de que a ela e Lourenço se amavam. Se neste caso houve traição, há como atenuante não apenas o amor de Davino pela mulher, mas, sobretudo, o fato de que é a mãe de Absalão quem – o texto sugere – abdica do homem que “embriagava-se e escancarava as porteiras do mundo” (p.127). Enquanto Davino, embora rigoroso, era digno e fiel, Davi teve várias mulheres e concubinas. Ainda assim suas sementes (seus atos) deram praticamente os mesmos frutos que as do rei de Israel, em conformidade com a punição divina: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. (II Samuel 12,11) Agamenon sente-se atraído pela irmã Mariana e copula com ela perante o sol, ecoando o caso bíblico incestuoso entre Amnon e Tamar. Contudo, enquanto Tamar é forçada (“Porém ele [Amnon] não quis dar ouvidos ao que ela [Tamar] lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a, e se deitou com ela” (II Samuel 13,14)), a servil Mariana tem uma postura dual, oscilante entre o gosto e a culpa: Dizia: meu irmão: e era duplo o desejo. De afastá-lo e de aproximá-lo. E se não o abraçava ainda mais era porque sentia como eram bons os seus carinhos. Tivesse descoberto antes o bom daqueles abraços nem teria esperado a iniciativa de Agamenon. Tomaria a iniciativa. Que Agamenon tinha um abraço afoito, delicado, prazeroso. E parecia todo uma chaga. (p.191-2) Vale atentar também que, na narrativa carreriana, a ira de Absalão é desencadeada pela questão do incesto – “[...] em irmã não se mexe” (p.220), sentencia o primogênito de Ester. E, no texto sagrado, ao contrário, a questão recai sobre o fato de Amnon ter violentado a irmã e, em seguida, a expulsado, já que nas palavras de Tamar, se ele formalizasse o pedido, Davi aprovaria a união de ambos: “Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti” (II Samuel 13,13). Ao que parece, a filha do monarca não consente com a relação apenas por não serem casados e porque a mulher desvirginada não seria mais aceita como esposa. O rancor do Absalão bíblico também não está centrado na temática do parentesco: “[...] odiava a Amnon, por este ter forçado a Tamar, sua irmã” (II Samuel 13,22, grifo nosso). Há passagens incestuosas no Gênesis relatadas com total naturalidade, como o episódio “A origem dos moabitas e dos amonitas” (19, 30-38), no qual Ló, embriagado pelas filhas, relaciona-se sexualmente com ambas, tornando-se pai e avô de Moabe e Bem-Ami. Abraão também revela que Sara é sua esposa e irmã (20, 12). Apenas no Levítico o incesto passa a ser condenado: Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez: Eu sou o Senhor. (18,6) Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é: portanto serão eliminados na presença dos filhos do seu povo: descobriu a nudez de sua irmã; levará sobre si a sua iniqüidade. (20,17) E, embora II Samuel esteja disposto no texto sagrado após o Levítico, o caso de Amnon e Tamar não repercute de maneira dramática por conta da cópula entre irmãos. Logo, é o autor pernambucano que, ao se apropriar da história, lança sobre ela o peso do incesto. Deve-se ainda ressaltar que, enquanto na Bíblia, o leitor tem acesso aos fatos quase exclusivamente pela voz do relator ou através do discurso indireto, o texto carreriano explora pensamentos e sentimentos, e a interioridade dos seres se revela complexa, plural. Davino, por exemplo, sofre uma espécie de paralisia diante do suicídio da esposa nas águas e da visão de Agamenon e Mariana juntos, por experimentar sensações contraditórias. Para o patriarca, as imagens dos irmãos em plena luz do sol eram “claras, nítidas, sensuais” (p.186) e ele “não tivera desejos de impedir” (ib.). O indireto livre permite o acesso à consciência atormentada da personagem: “Não queria ver, mas via. Só por curiosidade ou por espanto? Teria mesmo sentido prazer?” (p.187). Carrero se apropria dos textos sagrados, mas abdica da horizontalidade destes em benefício da verticalização, do mergulho nas profundezas da alma, trazendo à tona as difíceis confissões que o “eu” reluta a fazer a si mesmo. O pai de Absalão expõe ainda a Lourenço o que sentiu ao ver Ester submergir: Nunca vi uma morte tão bonita, tão bela, tão cheia de vontade. Já estava apenas com o busto e a cabeça de fora. E a partir dali, o que eu temia era que aparecesse alguém para interromper. Comecei a chorar. Um choro, quem sabe, alegre. (p.224) Davino, o monarca de Arcassanta, também perde a majestade. Seu reino se deteriora porque não se pode fugir do destino que se repete continuamente. Mas, enquanto nos textos sagrados, Absalão manda embebedar e, em seguida, matar Amnon, em As sementes do sol, é o próprio sobrinho de Lourenço quem assassina com três golpes Agamenon, embora nos seus planos iniciais houvesse também a intenção de embriagá-lo. O crime ocorre às seis horas, logo após o badalar dos sinos, que marca a hora do Angelus, momento em que o Anjo anuncia a Maria a vinda de Cristo. O fato de o fratricídio acontecer neste instante reúne novamente os duplos bem/mal, morte/vida, sagrado/profano, como se o homem jamais pudesse se dissociar desses elementos: o primogênito de Ester, que suplicava por um terceiro caminho, desfere com sofreguidão a terceira apunhalada. O Absalão bíblico não padece (ou não há acesso a seu padecimento) nem antes, nem durante, nem após o assassinato. Já o carreriano se tortura de tal forma que perde pouco a pouco a lucidez, abismando-se na loucura. Ao passo que o primeiro foge de uma possível represália, o segundo tenta em vão, sobretudo, escapar de sua consciência, de sua dor. Enquanto o filho de Davi foi morto, no carvalho em que se encontrava preso, por Joabe, chefe do exército de Israel, o Absalão de As sementes do sol é abatido a tiro – o texto sugere –, na moita, pelo querido tio Lourenço, que interpreta erroneamente o comportamento do sobrinho. Assim, Carrero confere maior dramaticidade à obra e provoca comoção no leitor. Embora o ficcionista pernambucano afirme na entrevista supracitada que Agamenon advém de (ou está para) Amnon, o nome escolhido pertence, na verdade, à mitologia. Ainda que não haja correspondência entre o lendário rei de Micenas, que imola a própria filha, e o irmão de Mariana, vale ressaltar que na simbologia Agamenon “personifica a mente inferior escravizada ao corpo emoção-desejo (astral), que é capaz de sacrificar por nada aquilo que lhe é mais caro e sagrado” (Olivier, 2005, p.50). De certa maneira é o que faz o filho de Ester: dominado por sua paixão, ele intensifica a torrente de tragédia que assola a casa-grande de Arcassanta. Do mesmo modo, Carrero confirma a correspondência entre Tamar e Mariana, que se nutre também da proximidade sonora. A diferença de postura de ambas frente à relação carnal com os respectivos irmãos já foi apresentada. Resta verificar o antropônimo. Para além da correlação com o episódio incestuoso, Mariana tanto pode vir “do inglês Marianne” (ib., p.450), “aglutinação de nomes Mary Ann” (ib.), quanto “do francês Marianne, diminutivo de Marie (Maria) (ib., p.450-1). De toda maneira Mariana é Maria, “do sânscrito Maryâh, lit. “a pureza, a virtude; a virgindade” (ib., p.449-50). Apesar de o significado aparentemente se contrapor à personagem, não se pode esquecer que tanto a Maria bíblica, mãe de Cristo, quanto a jovem carreriana são mulheres que se sacrificam, servis. A filha de Ester “[...] sentia uma alegria de música quando solicitada. Faz café, Mariana. Traz um copo com água, Mariana. Mariana, limpa os móveis. Só pela festa de saber que servia” (p.148). E é também com espírito subserviente que ela se exibe para o irmão: Agamenon precisava. Mais do que Absalão, sentira a morte da mãe. Estava triste, acabrunhado, solitário. Andava feito sombra pela casa. E aí começou a cantar. Para enfeitiçá-lo ainda mais. Dava prova, definitiva, de grandeza. A água escorria pelo corpo. Percorria as curvas. Quase cachoeira saltando nos seios. E ela cantava. A voz espraiando-se pelos confins. Um espetáculo de olhos para satisfazer Agamenon. Quando percebeu, estava sorrindo. Pela visão que ofereceu a Agamenon naquela tarde. (p.174-5) A sobrinha de Lourenço quer ser santa, mas, assim como, para ser homem, Absalão conclui que é necessário conhecer o bem e o mal, para Mariana, “uma santa só é santa mesmo, inteira, quando conhece o corpo do homem” (p.228). Ester, de As sementes do sol, dialoga com a esposa do rei bíblico Assuero (além de ambas serem órfãs, a personagem carreriana é chamada comumente de rainha), embora seu nome também remeta à significação etimológica: do “latim Stella, lit. ‘estrela’” (Oliver, 2005, p.394). De acordo com irmão de Davino, mataram Ester como se matam as estrelas. Não a tiros, não a punhaladas, que uma estrela não se alcança nem com a lança de São Jorge. Mataram-na nas águas, porque nas águas é que as estrelas se afogam. (p.131) Todavia, é Lourenço a personagem mais intrigante da narrativa. Ele não possui correspondência nos episódios sagrados que envolvem a família de Davi. Personagem festiva, ébria, mergulhada na luxúria, canta e dança mesmo nos momentos mais dolorosos. Ora lírico, ora patético, ora trágico, assemelha-se ao clown por aliar tristeza e alegria. Apesar de Lourenço ter feito (e abandonado) o seminário e carregar o peso da religião, ele possui ares dionisíacos, como se oscilasse (e sua dor talvez advenha daí) entre deuses díspares. Para amenizar a amargura do sobrinho, o irmão de Davino, durante o velório de Ester, começa a cantar com uma voz grotesca e maravilhosa que vinha das entranhas, enquanto inventava os passos de uma dança qualquer – uma dança canhestra, desajeitada. Só para satisfazer Absalão. Pouco a pouco, porém, foi ganhando ritmo e força. Os músculos retesavamse mas o corpo era leve apesar de ser um homem forte, alto e pesado. Um feitiço de encantação e loucura na voz e nos passos desajeitados. Tristemente desajeitados. Solitariamente desajeitados. Sob os olhares abismados das mulheres que, patéticas, pararam de rezar, rodopiava mais e mais, numa grande alegria ou imensa tristeza que renascia a cada palavra da canção. (p.138-9) É Lourenço quem faz, na perspectiva de Absalão, o papel de serpente ao conduzi-lo ao cabaré. Ainda que, ao contrário do sobrinho, não padeça de crises existenciais por conta da imersão lúbrica, o irmão de Davino tem uma visão preconcebida da prostituta: “[...] gente dessa raça nasce mesmo é como bicho: rolando pelo mato. [...] Rapariga é como ladrão na cadeira: é santo, puro e nunca fez mal a ninguém” (p.165). O narrador carreriano, aparentemente também impregnado por uma concepção cristã, caracteriza essas mulheres de modo tristonho, utilizando-se da cor amarela e da referência à melancolia, em oposição, por exemplo, à prosa rosiana, na qual as elas são quase sempre alegres e festivas. Para introduzir Absalão no reino da concupiscência, Lourenço ocupa o lugar do clérigo, profana os rituais do batismo, da comunhão e do casamento e faz, do cabaré, templo. A “noiva” veste branco e, ao invés da flor de laranjeira, ela segura uma “papoula vermelha” (p.170). A alternância de cor simboliza a substituição da pureza pelo prazer. A camisola de Maria está amarelada, em conformidade com a caracterização de um universo impuro, decadente e forçosamente satisfeito. Na cabeça de Absalão, não o chapéu, mas o penico. A “título de batina” (p.171), o tio usa um “camisolão de mulher” (ib.). Embora antigamente o sal fosse utilizado em batizados, como “símbolo do alimento espiritual” (Chevalier; Gheerbrant, 2005, p.797), na narrativa, ele também parece substituir a hóstia, mas, em vez das palavras sagradas (“Tomai, isto é o meu corpo” (Marcos 14,22)), Lourenço recita, ao colocar o condimento na boca do sobrinho, um poema imoral. O batismo se realiza ainda com aguardente e o filho de Davino é benzido com óleo de rícino, substância com efeito laxativo. Novamente, uma poesia libertina preenche o espaço do texto religioso que, agora, consagraria o matrimônio. A “cerimônia exemplar do reino da putaria” (p.172) tem prostitutas no papel de testemunhas. Coloca-se o vinho não no cálice, mas no urinol. E a homilia, “Bebei deles todos; Porque isso é o meu sangue, o sangue da [nova] aliança, derramado em favor de muitos, para remissão dos pecados” (Marcos 14, 26.27), é trocada pelo discurso de Lourenço: “Este é o vinho da encantação, do mistério, da louca mágica e escura-alumiosa da Vida” (p.173). Deve-se notar que a busca do êxtase através da bebida e a valorização da loucura harmonizam-se com Dionísio e, sobretudo, que o binômio luz/escuridão se ajusta a esta narrativa marcada pela polaridade. É curioso que uma obra de raiz bíblica, repleta de rezas, de imagens de santo e da culpa cristã, tenha um capítulo tão iconoclasta, no qual os principais sacramentos são profanados. Por outro lado, esses extremos parecem constituir a base de As sementes do sol, “novela” intensamente mística e sacrílega: as rezas da família à mesa, as frequêntes leituras do texto sagrado pelo primogênito de Ester, as correlações da obra com os episódios que envolvem a linhagem de Davi (o “eleito de Deus”), a primeira escolha de Lourenço, o seminário, e o desejo de Mariana de ser santa contrastam com o clima bélico durante as refeições, as contestações (ou inquirições) que Absalão faz ao Pai, a corrupção dos ritos sagrados durante a cerimônia de iniciação (batismo) do sobrinho de Lourenço no “reino da putaria” e, finalmente, não apenas com a relação incestuosa entre Agamenon e a irmã, mas, sobretudo, com o prazer sentido por ambos. Outro nome que merece destaque é o da mulher com a qual Absalão se deita. Ela diz se chamar Maria da Encantação do Perpétuo Socorro e justifica o sobrenome: Meu pai queria Nossa Senhora da Encantação porque, além de receber a natural ajuda dessa santa muito milagrosa e poderosa, eu seria uma moça pura, casta e feliz. Minha mãe, porém, desejava para mim a proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque além de mulher e ingênua, eu naturalmente seria frágil e desprotegida, tendo por isso que necessitar da sua intervenção nas horas do perigo, da mordida da cobra, no momento em que a onça estivesse prestes a devorar a raposa. Sabe como é, não é? Para cada mulher frágil e desprotegida, ingênua e despreparada, há sempre o abismo de um homem. (p.164-5) Além de a nomeação completa fazer contraponto ao labor e à alcunha Maria-Boca-deBoceta, pode-se verificar que o ficcionista pernambucano começa a ensaiar o riso, através da ironia, e da sentença de duplo sentido, adequada ao discurso da prostituta. Novamente a dualidade se faz presente: a personagem reúne, na combinação do nome com o ofício e o apelido, o erro e a santidade. Carrero também frisa na entrevista concedida à Ana Valéria Sessa que o topônimo Arcassanta tem relação com a Arca da Aliança. Ela foi recuperada pelo rei de Israel e guardava as tábuas com os mandamentos de Deus, dentre eles, “não cobiçarás a mulher de teu próximo”, transgressão cometida pelo Davi bíblico e pelo Davino de As sementes do sol. De acordo com os relatos dos textos sagrados, quem tocasse nesse objeto, morreria: Quando chegaram à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência; e morreu ali junto à arca de Deus (II Samuel 6,6.7). As personagens carrerianas estão, portanto, encerradas num baú cuja santidade pune com rigor; presas em uma terra repleta de princípios rígidos que devem ser seguidos; encarceradas em um círculo de vento do qual é impossível escapar. O título da obra (o nome da “novela”) também remete à parábola bíblica encontrada em Mateus e Lucas: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou; e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto: a cem, a sessenta a trinta por um. Quem tem ouvidos [para ouvir], ouça. Atentei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria; Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração; em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende; este frutifica, e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. (Mateus 13, 3-23) Considerar que as sementes são do sol face à obra pode conduzir a muitas interpretações. O astro rei é, simultaneamente, luz e fogo. Na parábola, o que foi lançado em solo rochoso é queimado pelo sol e, assim, não frutifica. Do mesmo modo que o religioso Absalão, diante da palavra, se angustia, “logo se escandaliza”. Essa perspectiva faz do mal a ausência de um bem que não germinou. Logo, neste caso, não há boa safra. Deve-se levar em conta ainda a possibilidade de semear o mal (semear a dor). Davino, ao ambicionar Ester, se torna o germinador trágico, capaz de atrair para si e para sua família o castigo divino. Também Lourenço, por sua postura lúbrica e ébria; Agamenon, por deitar-se com Mariana; e esta, pelo prazer que sente ao ser tocada pelo irmão; Ester, por desejar o cunhado e Absalão, pelo fratricídio, colhem desgraças. Não há na obra personagens perversas; há apenas seres que não resistem aos seus anseios mais íntimos ainda que temam o castigo, a punição. A tragicidade da vida resume-se à impossibilidade de fugir de si mesmo. Todos, de certa forma inocentes, cumprem o destino de pecador, de assinalado, e carregam a opressora culpa cristã. A responsabilidade da semeadura perpétua, redundante e maléfica, pode ser ainda divina, afinal Ele é questionado pelo temente Absalão: Do oco do mundo vinham os ruídos dos ventos. A antecipação dos gemidos, das lágrimas, irmão matando irmão? Primeiro pensou se devia fechar os olhos para não ver o sangue de Agamenon. Caim e Abel. Ah, meu Deus, por que não outro caminho? Um terceiro e misterioso caminho? (p.209) [...] Vem então de Deus a força que faz os homens se atormentarem e trocarem insultos, balas e punhais? Deve vir, eu sei, deve vir. Porque do contrário Ele não teria escolhido Abel para o seu preferido, encolerizando Caim. (p.210) Há ainda três referências bíblicas entremeadas à obra: o “Cântico dos Cânticos”, as “Lamentações de Jeremias” e o “De profundis”. O primeiro, conhecido também por “Cantares de Salomão”, é um diálogo amoroso, com alguma dose de erotismo, entre esposos. Davino rememora que ele e Ester o recitavam no tempo do namoro, fato capaz de corroborar o afeto inicial recíproco. O narrador mescla as informações sobre o casal com trechos lidos do poema bíblico, acentuando ainda mais a ilusão do presente que a memória resgata. Nos primeiros anos do casamento, contudo, Ester já lia o texto com amargura. Em seguida, eles substituíram o Cântico do filho de Davi pelas Lamentações, livro no qual Jeremias lastima a destruição de Jerusalém. O paralelo com a ficção procede: também Arcassanta será aniquilada, porque, de acordo com Davino, a casa é o homem. Em As sementes do sol, o triângulo amoroso se desfaz apenas com a morte da “estrela” nas águas. A mãe de Absalão talvez já lamentasse, assim, o cumprimento do pacto e as sucessivas tragédias que se abateriam sobre a casa-grande. Janilto Rodrigues de Andrade observa que ‘As lamentações de Jeremias’, recitadas por Ester e Davino, em As sementes do sol – num ritual de sofrimento solitário e esquisito – apontam para os labirintos tenebrosos por onde, às vezes, caminham, desesperadamente, os indivíduos. (1994, p.38) Todavia, o alvo do recital na narrativa é Lourenço, personagem oculto (p.213), que edificou ao redor de Ester e a cercou de fel [...] e a pôs em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre (p.178-9). Davino, durante o enterro da esposa, à beira da loucura, mas procurando manter uma postura hierática, reza o “De profundis”, um clamor desesperado, a Deus, de quem se encontra nas profundezas, no fundo do abismo. Em entrevista concedida à época do lançamento de As sementes do sol, o jovem Carrero, diante da questão sobre a influência do romance faulkneriano Absalão! Absalão!, afirma: um tema é apenas um tema e minha visão de mundo nada tem a ver com a de Faulkner. Ano passado, a Nova Fronteira lançou esse livro (Absalão, Absalão, de Faulkner). Por esse tempo minha novela já estava escrita. Fiquei feliz: é um belo romance, um extraordinário romance. Mas não tem nada a ver com o meu. (Pereira, 2009, p.24) Todavia, na biografia Raimundo Carrero: a fragmentação do humano, lançada em 2009, o amadurecido autor pernambucano revela sobre a elaboração de seu segundo título: Desde menino eu gostava de ler a Bíblia. [...] Quando comecei minha formação intelectual fui tocado por um livro muito forte de William Faulkner chamado Absalão, que contava a história de uma família em decadência, tinha se inspirado na Bíblia, principalmente num personagem chamado Absalão, filho do rei Davi. (Pereira, 2009, p.75) Obviamente, tanto o jovem ficcionista quanto o maduro possuíam razões para rejeitar ou acolher, respectivamente, o romance de Faulkner. E, sem dúvida, As sementes do sol e Absalão!Absalão! dialogam pelo motivo simples de estarem atreladas ao mesmo episódio do texto sagrado, independente de Carrero ter se nutrido ou não da narrativa americana. Ao cotejar as obras, porém, é possível verificar muitos pontos em comum. Ambos os autores dão importância ao significado do nome na (e para a) ficção; Carrero e Faulkner trabalham, sobretudo, com a decadência do microcosmo familiar e seus romances estão impregnados da moralidade cristã; e, embora o escritor estadunidense explore de modo singular e amplo a descentralização da narrativa, o sertanejo já demonstra seu apreço por esta técnica em sua segunda “novela”, com a alternância permanente do foco. Na análise dos títulos carrerianos é possível notar o ir e vir de personagens. Mariana, por exemplo, de As sementes do sol (1981), retorna, de certo modo, em Minha alma é irmã de Deus, publicado em 2009, como também Quentin está presente em O som e a fúria e Absalão! Absalão!. A abordagem do incesto, a atmosfera agônica e o gosto pelo passado se encontram com insistência nas páginas literárias dos dois autores. E o que William Van O’Connor verifica na obra faulkneriana, quanto ao apreço pelas elipses, “meio eficaz de manejar o suspense” (1963, p.18), caberia à ficção do escritor sertanejo: O que foi escrito no primeiro capítulo é melhor compreendido capítulos adiante, quando uma informação adicional é dada a conhecer, mas não é totalmente compreendido senão em capítulo ainda posterior. Absalom! Absalom! é uma espécie de vórtice [...] (ib., p.58) Nota-se ainda o grande número de personagens loucos ou à beira do delicado abismo da loucura nos textos de ambos (em Carrero encontramos, dentre muitos, Gabriela, de Bernarda Soledade, Absalão, de As sementes do sol, Mateus, de O amor não tem bons sentimentos). Assis Brasil, ao analisar a obra de Faulkner, ressalta que Na maior parte de suas novelas os personagens já são mentalmente torpes (Old man de Wild Palms), loucos (Benjy), a ponto de se tornarem loucos (Quentin), pervertidos [Popeye], ou de alguma maneira personagens que não respondem ao domínio da razão. (1964, p.20) Todavia, em Absalão!Absalão!, o libidinoso Stupen (“o demônio”), de Faulkner, personagem que corresponde ao Davi bíblico, pouco se assemelha ao Davino, de As sementes do sol. Na verdade, ele se aproxima mais de Lourenço (a quem o sobrinho suplica: “seja o meu demônio” (p.161)), duplo do austero “rei” de Arcassanta. Já Stupen e Davi se avizinham por terem várias concubinas. Ao contrário do que ocorre na “novela” carreriana (Agamenon e Mariana compartilham o sangue de pai e mãe), tanto na passagem bíblica quanto no romance do americano, o incesto se dá entre meio-irmãos. E, embora a temática também se concentre na relação consanguínea entre Judith e Charles e no assassinato deste por Henry, de acordo com Van O’Connor, em Absalão!Absalão!, a motivação para o fratricídio não é exatamente o horror ao incesto, mas a descoberta de que Charles “tinha sangue de negro” (1963, p.55). Para Assis Brasil, “Faulkner é uma espécie de Jeremias lamentando o caos moral de Israel” (1964, p.132). Talvez seja, então, este o ponto de maior afastamento já que, em sua culpa, o homem carreriano, herdeiro do bem e do mal, é sempre inocente, porque incapaz de se desvencilhar do pecado e do seu destino de traidor. Carrero não lastima a imoralidade, mas a impossibilidade de dela se apartar. Há, portanto, por parte do criador um olhar de complacência para a criatura, já que todos – todos – estão aprisionados à intrincada teia do humano. 3.4 As cantigas de Lourenço No toque de euforia batia as mãos grossas no peito e nas coxas, levantava a cabeça gargalhando e a sua voz de trovão atravessava a casa, toda a fazenda, talvez mesmo os ouvidos da morta. Com os braços erguidos, depois, cantava com embriaguez e paixão: [...] (Carrero, 2005, p.139) Enquanto Lourenço bebia, cantava, dançava e refestelava-se com as mulheres do cabaré, Davino regia sua casa com gravidade e preces. Ambos sofriam por não possuir Ester, a estrela órfã e solitária entre irmãos. Ela, embora declare amor ao cunhado, justifica sua renúncia: “Eu o esperei e ansiei com a agonia de uma noiva. Mas você era um bêbado, sempre foi um bêbado [...]” (p.126). Durante o diálogo, a mãe de Mariana revela ainda a análise comparativa que asseverou sua escolha: “[...] se de um lado, você era belo, embriagava-se e escancarava as porteiras do mundo; de outro, Davino nada tinha que justificasse o amor, porém era severo, austero e seguro” (p.127). É ainda Lourenço quem abdica de sua amada (“fui obrigado a renunciar a você” (ib.)), aconselhando-a ainda a casar com o irmão, em nome do afeto fraternal e, possivelmente, por se considerar indigno. E, em um prisma terceiro, Davino fica com Ester mesmo ciente de que ela desejava Lourenço e que este “forçou o esgotamento da paixão” (p.144). Houve, portanto, um acordo insatisfatório entre as partes envolvidas. Como consequência, Puchinãnã se torna um mundo de sombras e fingimentos. Impressionam na obra as inúmeras referências à capacidade de dissimular das personagens. O tio de Agamenon grita para o irmão: “Se é necessário fingir, Davino, continuaremos todos a fingir sob sua regência. Fingir é a nossa festa. Nem mais nem menos: fingir sobre as ruínas como palhaços nos trapézios” (p.133). Lourenço também afirma que “só os loucos podem fingir para si próprios” (p.132). Se for considerado que quase todos os membros da família experimentam o abismo da insanidade, a loucura surge assim numa perspectiva redentora, porque fugir da própria consciência é escapar das dores do mundo. A servil Mariana procura aparentar desgosto para satisfazer o pai: Diante dele é que devo mostrar o máximo de sofrimento, de angústia, de dor gemendo no peito. O que custa fingir? Só mesmo o trabalho do fingimento, se é que a isso se pode dar o nome de trabalho. (p.155) O indireto livre marca a dúvida dual, do narrador e/ou de Agamenon, sobre a possível dissimulação de Mariana: “Às vezes vinha a impressão de que Mariana não bebia o café: permanecia longamente com a xícara nos lábios, longe da vã tristeza silenciosa da casagrande, fingindo. Fingindo?” (p.158). E, quando planejou matar Lourenço, Davino quis crer na possibilidade de Ester ocultar de todos e, sobretudo, de si mesma a identidade do assassino: “Mas havia uma esperança, uma esperança de que ela se enganasse. De que ela fingisse. Nada era mais fácil para ela do que fingir” (p.214). Sobre sua relação com a esposa, o irmão de Lourenço revela ainda: “É tão difícil confessar que nós vivíamos fingindo” (p.221). Toda a família de Arcassanta nasce da dissimulação necessária à permanência da estrutura amorosa triangular. Absalão, Mariana e Agamenon não poderiam escapar a este universo mascarado no qual as reprimidas verdades, quando expostas, desencadeiam tragédias. Lourenço, em sua cantoria permanente, com ares dionisíacos, procura sufocar a tristeza na alegria. Por outro lado, mas utilizando-se também do subterfúgio do disfarce, Davino camufla suas angústias no comportamento rígido, austero. Vale ressaltar que a personalidade contrapontística dos irmãos se harmoniza à narrativa marcada por polaridades antagônicas: bem/mal, sagrado/profano, divino/mundano. O tio de Absalão escolhe, num patético esforço para alegrar o sobrinho durante o velório da mãe, uma cantiga fundamentada na passagem bíblica em que o rei de Israel, após recuperar a arca de Deus e conduzi-la para Jerusalém, dança “com todas as suas forças diante do Senhor” (II Samuel 6,14). Os versos de Lourenço (“Davi dançava diante de Deus,/ o eleito dançava diante do Senhor. / Cantava como os pássaros do Deserto,/ acompanhado de cítaras, harpas e tamborins. (p.139)) funcionam como uma pista de que a narrativa terá correlação com os textos sagrados e mais especificamente com os episódios que envolvem “o eleito” e seus descendentes, além de se alinharem ao espírito festivo do cunhado de Ester em nítida (e curiosa) oposição ao comportamento de Davino. A partir da cantiga seguinte, também repreendida pelo pai de Agamenon, os versos de Lourenço ganham uma tonalidade erótico-melancólica: Agora vou me afastar para as montanhas Que nas montanhas encontrarei amadas, E, com elas, serpentearei entre as Ramagens. Entre as ramagens e os lírios, Entre coxas alvas e armadilhas negras. (p.152) É possível depreender da estrofe, considerando a obra como um todo, o desejo de fuga de uma realidade insustentável; a ideia de que ser amado por muitas talvez possa aplacar ao menos um pouco o sofrimento diante da impossibilidade de concretização da experiência amorosa ao lado de Ester. Há ainda a visão dualística da personagem sobre a lubricidade: um universo dividido entre brancura (do lírio, das coxas) e negrume (das ramagens, das armadinhas); entre, portanto, doçuras e perigos, luz e sombras. Deve-se também atentar para o verbo “serpentear”, que não apenas remete ao órgão sexual masculino (assim como as “ramagens” para o feminino), como também recupera a ideia do pecado original, da serpente, da sedução feminina capaz de conduzir ao abismo. As trovas têm ainda o intuito de provocar Davino; Lourenço parece puni-lo por ter se casado com a “estrela órfã”. O pai de Mariana, por outro lado, talvez inveje a felicidade triste do irmão, conforme supõe Absalão (p.189). Entre o riso e a cantoria, o cunhado de Ester conduz o sobrinho ao cabaré. Nietzsche, em O nascimento da tragédia, analisa a essência do dionisíaco: Cantando e dançando, manifesta-se o homem como membro de uma comunidade superior: ele desaprendeu a andar e a falar, e está a ponto de, dançando, sair pelos ares. [...] a força artística de toda a natureza, para a deliciosa satisfação do Uno-primordial, revela-se aqui sob o frêmito da embriaguez. (Nietzsche, 2007, p.28) Todavia, Lourenço, apesar da ebriedade, da cantoria, da dança, do êxtase, da propensão à festa, à luxúria, se afasta de Dionísio pela melancolia e pela raiz dicotômica de seu pensamento, própria de uma concepção cristã que, curiosamente, a personagem insiste em depreciar. Filho do Seminário, ele não consegue abster dos dogmas religiosos por mais que suas atitudes sejam absolutamente iconoclastas. No trajeto para a concupiscência, entoa: Pelos caminhos das trevas conduzo um Anjo de luz na minha garupa. Pelos caminhos das trevas conduzo um belo e encantado diabo. O Anjo diz “ai”; o diabo diz “oi”. O Anjo diz “estou indo” e o diabo diz “Já foi”. (p.162) Sem dúvida o anjo/demônio conduzido é Absalão, em diálogo com a premissa de que bem e mal compõem o humano. E, claro, o cabaré, símbolo de devassidão e pecado para os crentes, aparece associado às trevas. Os versos mantêm, portanto, a promessa de ligação íntima com a matéria narrada. O “ai” dito pelo anjo representa lamento, reclamação, dor, sendo assim adequado a uma religião erigida sobre as ideias de culpa, purgatório e inferno. Já o diabo emite um convidativo “oi”, fruto do seu compromisso permanente de atender aos anseios humanos. O anjo (ou o bem) é ainda vagaroso, marcado pela ação inconclusa do gerúndio (“estou indo”), enquanto o demônio (ou o mal) é ágil, caracterizado pela “perfeição do pretérito” (“já foi”), e capaz, portanto, de se sobrepor ao seu pachorrento antagonista. A cantiga seguinte possui um teor chulo, provavelmente por conta do novo espaço ocupado por tio e sobrinho: o prostíbulo. Os versos têm como objetivo apresentar a meretriz, e sua alcunha, ao tímido Absalão: “Com o pau se mata a cobra, / para o chão a picareta. / A mulher que lhe apresento / é Maria-Boca-de-Boceta” (p.164). A linguagem obscena enaltece o contraponto com a fala cerimoniosa do filho de Ester. Novamente, o texto se move sobre dualidades: os pólos indecência/recato invadem a cena. Deve-se atentar que a composição reúne pau, cobra, picareta, em nova alusão ao pênis, seguidos do apelido da personagem, fruto provável de sua especialidade na casa. Ainda no cabaré, Lourenço recita trecho do poema de Bocage, “Das almas grandes a nobreza é esta” (1987, p.125), no qual o eu-lírico é renegado por Nise, que prefere ser musa vestal ao Amor. Diante da recusa, o poeta convida à festa: “Sou nobre!, sou herói!, vamos à festa! / Amar, e por Amor sofrer insultos, / Das almas grandes a nobreza é esta” (p.166). Também não é outra a posição de Lourenço. Frente à impossibilidade de ficar com Ester, o “nobre herói insultado” mergulha nos festejos. Durante as cerimônias sacrílegas realizadas no bordel, o irmão de Davino declama seus versos pornográficos, em um estilo por vezes muito próximo da poesia pantagruélica. No instante do “batismo” sexual de Absalão, o tio convoca a “musa”, como nos poemas românticos: Desça musa esplendorosa sobre o Sertão espinhoso E nas Pedras alumiadas deste Mundo espantoso lança dons da cantoria e dá que haja Putaria no Sangue deste fogoso! (p.171, grifo nosso) No entanto, o pedido feito à musa esplendorosa não está relacionado ao amor impossível, mas à consumação do ato libidinoso. É preciso notar ainda que os vocábulos Sertão, Pedras, Mundo, Putaria e Sangue foram grafados com as iniciais em letras maiúsculas, objetivando provavelmente uma correlação entre esses elementos a partir do espaço sertanejo. O Sertão seria, assim, além de espinhoso, sofrido, duro como pedra (ainda que iluminada), um mundo espantoso, fantástico, regido pelo desejo, pelo pathos. Na estrofe seguinte, a estrofe ganha uma coloração ainda mais obscena: Desça Ave inspiradora sobre o Cajado vermelho que conduz o jovem donzelo entre a barriga e o joelho. E abre as furnas escuras destas belas criaturas, Rainhas do desmantelho. (p.171) A súplica agora é feita à Ave, para o sucesso do ato sexual. Deve-se atentar que Lourenço utiliza o verbo “conduzir” objetivando ressaltar que o homem é dirigido pelo corpo, subjugado pela libido (assim como a quase totalidade das personagens carrerianas). A expressão “furnas escuras” parece dialogar com “armadilhas negras” de verso supracitado, em referência à sexualidade feminina, sempre caracterizada como perigosa, sobretudo, pela ausência de luz. Uma espectadora, durante a cerimônia “misteriosa e safada” (p.172), chama atenção para o fato de que a palavra desmantelho não existe. Lourenço afirma que o poema lhe pertence e justifica a escolha pela dificuldade de encontrar uma palavra que rime com vermelho e joelho. No entanto, o termo não dicionarizado parece carregar um significado, por sua proximidade sonora com o verbo desmantelar. As mulheres do cabaré, nessa concepção, seriam, portanto, capazes de fazer os homens sucumbir, levando-os à ruína, à perdição. O ritual prossegue com os versos seguintes, pronunciados pelo tio e repetidos pelo sobrinho: Quem quiser cante o Meio-Dia que eu canto a Madrugada. Nas estripulias da Cama Sou Cruel como uma espada. Não vejo homem ou mulher pra não rodar de quatro pé na ponta da minha Armada. (p.172) Meio-Dia e Madrugada ressaltam a oposição luz/sombra que acompanha a “novela”. Abdicar do primeiro elemento e escolher o segundo significa se afastar de tudo associado ao ambiente claro, como a lucidez e o bem, e optar pela parcial luminosidade que caracteriza os primeiros raios da manhã e compõe “o bordado das sombras” (p.125), tão próprio de As sementes do sol. Novamente, mantém-se a narrativa marcada pelo duplo: nem a luz plena nem a obscuridade total, mas um jogo de claro/escuro. Embora armada e espada sejam outras metáforas para pênis, a surpresa fica pela inclusão do homem (além da mulher) subjugado pelo órgão sexual masculino. A cerimônia finda com a ingestão do vinho seguida das palavras de Lourenço: Embriague-se o donzelo no Sertão iluminado. Abram as portas do Castelo do Prazer e do Safado, para vencer a Agonia, se é Noite ou se é Dia com o Sangue alvoroçado. p.173 Vale ressaltar que o desejo é, no poema, tido como impróprio (safado), sofrido (agonia) e intenso (alvoroçado). O donzelo Absalão está enfim pronto para a noite lasciva com a benção do tio. Ainda embriagado, mas de volta a casa, o irmão de Davino retoma a poesia de teor melancólico: Honrarei o sol das mulheres que elas me deram para guardar. E a lua, coitada, inconsolada, mesmo na escura madrugada, inveja o sol a brilhar. p.189 Trago no sangue um amor desiludido. Desiludido é o meu amor e o meu sangue. [...] Trago no sangue um amor desiludido. As sombras da morte desiludiram o meu amor. P.190 Os versos são os únicos que associam a mulher à luminosidade (talvez porque agora se voltem para o grande amor e não mais para a luxúria cortesã) e os refrões fazem referência ao desenganado relacionamento com Ester, à sua morte e à consequente perda do sentido da existência para Lourenço. No caminho, do cabaré a Arcassanta, o tio de Absalão entoa a cantiga de roda “La condessa”. Silvio Romero, em História da literatura brasileira, verifica que os versos que a compõem são “primitivamente em castelhano”: O tema é puramente herdado de velhos romances da Península Ibérica, que de fragmentos épicos que eram em princípio, passaram a simples pretextos de folguedos infantis. No fundo é a mesma idéia que ainda hoje se canta em rondas de crianças no Norte do Brasil [...] (1943, p.146) A canção, frequentemente deturpada, se encontra também no romance armorial de Suassuna, A pedra do reino. Logo, vale a pergunta: haveria ainda em As sementes do sol um resquício do anseio de incorporação das histórias do medieval cancioneiro popular pela literatura erudita? O fato primordial, no entanto, é que a composição trata da recusa da condessa em ceder, para casar com o Rei, uma de suas filhas, ou seja, ela se refere à impossibilidade do encontro amoroso, em diálogo com a problemática afetiva do irmão de Davino. Os trechos que marcam a volta do mensageiro da realeza sem realizar seu intento, nesta versão, se harmonizam à disposição anímica de Lourenço e Absalão no retorno do cabaré (“Tão alegres que nós viemos, / tão tristes que nós voltamos” (p.196)), como se a lascívia conduzisse inevitavelmente ao sofrimento, ao vazio. Lourenço, imerso em luxúria e melancolia, canta a sua dor, para afugentar a tristeza ou para celebrá-la. Ele, que abdicou de Ester e cobrou dela o pacto suicida, mata – o texto sugere –, por um equívoco de interpretação, o sobrinho querido. O completo dilaceramento desse Dionísio sertanejo ficou a cargo do leitor imaginar. 4 A dupla face do baralho: confissões do comissário Félix Gurgel 4.1 O elíptico e ziguezagueado universo de Félix Gurgel [...] coração de louco não tem simetria (Carrero, 2005, p.312) Pode-se afirmar que A dupla face do baralho é um conjunto de histórias, aparentemente independentes, que, na verdade, se entrelaçam, contadas por um narrador autodiegético. Já velho, Félix, confessa – ato cristão – suas desventuras, no intuito de compreender a si mesmo (e, por extensão, a vida, a condição humana), aliviar o peso da culpa e/ou encontrar a redenção. Após relatar seu estado atual (“Estou aqui sentado na cadeira de balanço em frente à minha casa [...], esperando a morte” (p.247))13, e os acontecimentos mais recentes (a aposentadoria, a zombaria dos colegas) o indivíduo atormentado rememora o tempo em que foi carcereiro. Inicia-se assim a narrativa em elipses tão própria dos textos carrerianos. Há a informação de que saiu de Terra Nova, onde cresceu e se criou, para Santo Antônio do Salgueiro após prestar um favor ao prefeito da cidade. Todavia, o período da infância é completamente omitido e os dados sobre o tal favor prestado não são expostos. Em seguida, Félix revela que esses episódios se passaram após o assassinato do pai. Novamente, não são fornecidos os fatos relacionados à morte do progenitor. Apenas neste instante, surge a primeira confissão (ou história): o carcereiro aprisiona o menino amalucado. É preciso notar que a menção a sêo Eleutério é seguida da narrativa sobre Camilo e, embora Félix associe um ao outro (“O seu rosto [o do “menino amalucado”] lembrava o de meu pai”), nenhuma correlação que indicie as razões do espancamento, enigmáticas para a própria personagem (e para o próprio narrador), é estabelecida. A segunda confissão, sobre o encarceramento e a humilhação do jovem Estevão, se passa quando o protagonista, que já deixara o posto de carcereiro, ocupa o cargo de comissário. Também não há nada revelado sobre a troca de função. Entremeada a essa história, há a do camponês que saiu da delegacia sem apanhar, contrariando o lema de Gurgel. Também durante a rememoração deste episódio, o leitor é informado de que hoje Estevão é 13 CARRERO, Raimundo. A dupla face do baralho: confissões do comissário Félix Gurgel. In:___. O delicado abismo da loucura. São Paulo: Iluminuras, 2005. Nas próximas referências a esta obra será indicado apenas o número da página. prefeito da cidade e dono do cinema. Na sequência, Felix conta sua artimanha para ludibriar Gilberto Martins, o então proprietário da sala de projeção cinematográfica. E os passarinhos que ouvia enquanto esperava o retorno de Zarolho o conduzem de volta ao “agora” também envolvido pelo canto das aves. Logo, até então, há quatro pequenas narrativas, nas quais se alude a outras ainda não desenvolvidas: 1. A da prisão de Camilo. 2. A do interrogatório do menino Estevão. 3. A do camponês que apanhou por não ter apanhado. 4. A do acordo com Gilberto Martins. No entanto, considerando que o relato sobre Gilberto Martins leva ao interrogatório de Estevão e a história do camponês apenas serve para corroborar o pensamento do comissário, é possível concluir que há apenas duas narrativas centrais: a do “menino amalucado” e a do líder estudantil. Em seguida, o narrador rememora o momento em que, Chefe da Guarda Noturna Municipal (quarta função desempenhada por Félix ao longo da “novela”, além de ladrão e assassino), foi vítima da zombaria dos meninos. Percebe, enfim, que o cargo oferecido a ele por Estevão tinha o intuito de ridicularizá-lo; era, portanto, um ardiloso projeto de vingança: “Revendo tudo, neste momento, e com a possibilidade de segurar todas as pontas do tecido, posso julgar: nunca houve nem haverá, sujeito tão mesquinho, tão pequeno, tão vil!” (p.265). Esta seria a quinta confissão (história) do ex-comissário. Todavia, ela se encontra intimamente atrelada aos episódios que envolvem o ex-líder estudantil. Na sequência, há um retorno ao interrogatório de Estevão. Percebe-se que a memória de Félix Gurgel, em prolepses e analepses, em avanços e retrocessos, conduz o relato de modo elíptico e ziguezagueado. Se prolepse, no entanto, corresponde, de acordo com Genette, “a todo o movimento de antecipação, pelo discurso, de eventos cuja ocorrência, na história, é posterior ao presente da ação” (apud Reis & Lopes, 2007, p.340), seria possível contestar seu emprego em A dupla face do baralho, já que Félix narra sua história pregressa a partir da velhice. Logo, nada exposto é posterior ao “presente da ação”. Todavia, se for correlacionado, por exemplo, o episódio em que o Chefe da Guarda Noturna é ridicularizado com o seguinte, referente à conclusão do interrogatório do jovem Estevão, aquele em relação a este, na narrativa de cunho memorialista, se apresenta de modo antecipatório. Houve, então, no discurso, um avanço da ordem dos acontecimentos na história, uma espécie de prolepse, ainda que o conceito difundido por Genette pareça aqui levemente distorcido. Assim como a menção ao assassinato do pai – embora o crime tenha ocorrido antes do presente da ação e antes ainda de todas as demais confissões de Félix até então realizadas – funciona como um elemento antecipador do que ainda será narrado. Para ficar menos nebuloso: toda esta novela carreriana – exceto os momentos referentes ao presente da ação e o final que com ele coincide e avança – seria um extenso flash-back. Todavia, o encadeamento desordenado de tempos pregressos faz, de episódios passados, futuro de ações pretéritas. E, de outra maneira, com relação ao discurso, antecipar parte de uma história em outra história, ainda que aquela seja passado desta, é simultaneamente um adiantamento da revelação e uma não-revelação (uma elipse do tempo em que a ação omitida transcorreu). Na sequência textual, Félix novamente retrocede à narrativa sobre a falcatrua com o dono do cinema que irá desembocar na história da dívida com o cambista Madruga (sexta confissão). Porém, se fosse realizada uma ordenação temporal, seria possível verificar que alguns relatos em torno da personagem Estevão são ramificações atreladas à mesma raiz: Gilberto solicita a intervenção do comissário para conter o protesto estudantil, Félix ludibria Gilberto para pagar a dívida com Madruga, prende Estêvão e intimida o cambista. Muito à frente, é ridicularizado pelo ex-líder estudantil com o posto de Chefe da Guarda Noturna Municipal. A sétima história envolve Maria Dáuria, que se torna amante do comissário, e o corno Aluísio Pedra. No entanto, esse episódio também pertence à outra grossa raiz desta novela: Camilo. Após breve retorno ao presente da ação, o comissário relembra do menino e, em seguida, “apresenta” Adelaide, a mulher com a qual vivia – último ângulo do quadrado amoroso. Félix Gurgel descobre, enfim, a partir da delação de Aluísio, que Camilo é filho de sua concubina. Só então, quando revê o “amalucado” e (de modo implícito) rememora o dia em que o açoitou, Félix relata os episódios imediatamente anteriores e posteriores à doença do pai, oitava história e raiz principal de A dupla face do baralho. Decidido a “enredar maravilhas” (p.303) para fugir da realidade que o atormenta (proximidade inicial com o delicado abismo da loucura?), o filho de sêo Eleutério tenta pegar o bule para servir-se de café sem que ninguém perceba. Há ainda neste episódio a revelação da dor e da miséria do menino que ama e odeia o pai. Daí em diante ocorre uma intercalação das lembranças que envolvem Camilo com as que estão associadas ao pai. Ao relato da aproximação entre o comissário e o menino segue-se o da preparação de Félix para ser ladrão após a doença do pai. A numeração das histórias se torna dificultosa, porque fica claro que não se trata de novos eventos, mas de ramificações dos acontecimentos já relatados. Percebe-se com maior nitidez também que, em certa medida, para o atormentado protagonista, sêo Eleutério e Camilo são a mesma pessoa: “Camilo, os olhos esgazeados do meu pai, despertou-me” (p.312). Novamente a narrativa se aproxima do presente da ação, quando Félix narra um fato ocorrido no dia anterior: o encontro com o também já velho Estêvão. A circunstância o faz retornar ainda mais no tempo, até o momento em que o então prefeito o nomeia Chefe da Guarda Noturna Municipal e, em seguida, ao episódio em que o ex-líder estudantil, cumprindo o segundo mandado, cobra do aposentado Félix Gurgel o burro, o apito e a farda. Isso conduz o ex-comissário a mais uma viagem temporal: até a data em que desfilaram a criação da Guarda na cidade. Estêvão leva toda a existência para se vingar de Félix, humilhando-o, do mesmo modo como fizera o policial com o jovem líder estudantil. A “novela” carreriana também se alimenta da ideia de eterno retorno da maldade, num ciclo contínuo e vicioso. Ocupando novamente o presente da ação, Félix faz um balanço de sua vida que desemboca na recordação do treino para ser ladrão. Após o relato do roubo do sabonete, o excomissário confessa que passou a roubar os pássaros de Camilo. As revelações se emparelham, embora estejam distanciadas no tempo, porque fruto dos mesmos sentimentos. O primeiro saque estava associado ao pai, que se encontra, na mente do ex-comissário, intimamente relacionado a Camilo, também lesado por Félix. Assim como os pássaros, tão ligados ao menino amalucado, são esmagados pelo ex-carcereiro. Nada sobrevive porque tudo é fantasma de sêo Eleutério. Mais uma história surge: a do roubo da rede que tem como consequência a prisão de Félix na mesma cadeia em que será posteriormente carcereiro. Nela, ele conhece o matador Henrique com o qual faz um acordo. Félix o ajuda a fugir e em troca encomenda a morte do próprio pai. Após o assassinato, mencionado no início da narrativa, e enfim revelado, Félix abandona Terra Nova e passa a mendigar em Parnamirim. Lá, nova história, torna-se em seguida homem de confiança do capitão Cincinato Rocha e, a seu pedido, presta favor ao prefeito de Santo Antônio do Salgueiro: matar um desafeto (o tal favor também mencionado no início da novela). E, assim, ocupa o cargo de carcereiro. A narrativa, então, retorna ao presente do atormentado Félix Gurgel. Dominado pela loucura, ele dilacera os pássaros que são simultaneamente Camilo e seu pai. José Rafael de Menezes, na resenha “A face autônoma”, observa que há “uma dúzia de novelas no pequeno volume de Carrero”14. De fato, A dupla face do baralho é composta por um mosaico de histórias (e sensações) entrecruzadas, mas é possível identificar duas principais: a de Estevão, desencadeante, sobretudo, da decrepitude social do protagonista, e a de sêo Eleutério (em paralelo com a de Camilo), responsável pela impressão de marcas tão profundas em Félix que o condenam a um eterno reviver de agonias. Impressiona como Carrero entrelaça as inúmeras narrativas, antecipa e omite fatos, mantendo o equilíbrio necessário entre a interioridade atormentada e o suspense narrativo. Embora muitas revelações sejam feitas de antemão, há sempre uma infinidade de perguntas sem respostas que aguçam a curiosidade do leitor. E Félix Gurgel, ainda que confesse ininterruptamente suas desventuras, não se revela por completo nem ao leitor nem a si mesmo. As informações sobre os agentes motivadores de seu comportamento hostil não são expostas nem diretamente nem plenamente. Muitas vezes constroem-se através de índices ou símbolos. É ainda mais interessante a correlação estabelecida entre sêo Eleutério, Camilo e os pássaros, adequada perfeitamente à personagem que beira o delicado abismo da loucura. Suassuna, no prefácio “Carrero e a novela armorial”, transcreve as palavras de seu irmão Marcos Suassuna: [...] cada homem tem, no seu espírito, uma parte que é conhecida por ele mesmo e pelos outros; tem outra que os outros desconhecem e ele conhece – e, com essa, ele mantém um pacto de vida e morte, através do qual jamais a revela a ninguém; finalmente, tem uma parte que é subterrânea e obscura para ele mesmo e para os outros – essa corresponde, talvez, a 99% do todo. (2005, p.31) Sem dúvida, as personagens carrerianas são feitas dessa matéria obscura, desse universo interior atormentado e indecifrável. São mentes fragmentadas, caóticas, irmanadas à loucura. Todavia, não há uma condenação plena de Félix. Ele é carrasco, mas simultaneamente vítima dos sentimentos contraditórios tão próprios do humano. A prova que uma mão acaricia a cabeça do comissário, apesar de seu comportamento atroz e de seu cruel desfecho, está na epígrafe retirada da obra de Tolstoi, A morte de Ivan Ilitch: “E ainda por cima obrigado a viver à beira do abismo, completamente só, sem uma pessoa que o entenda e se compadeça dele”. Félix Gurgel se encontra imerso na solidão dos “que sabem, convictos, que o seu grito não será ouvido” (p.251). O seu lado ridículo, risível, e o seu destino final, mescla de isolamento, insanidade, angústia e decrepitude, aliados à ciência de que a doença 14 MENEZES, José Rafael de. A face autônoma. Diário de Pernambuco. 2 set.. 1984, p.A-11 do pai e a miséria da família foram elementos desencadeadores da vileza da personagem, estimulam o sentimento de comiseração do leitor. Talvez a dupla face deste baralho esteja, sobretudo, no fato de que Raimundo Carrero condena seus protagonistas ao mesmo tempo em que nutre por eles um sentimento profundo de piedade. Quem o lê também experimenta, como Félix, sensações contraditórias. George Ledermam, em resenha sobre A dupla face do baralho, parece corroborar essa perspectiva: O que sempre ressalto no universo literário de Carrero é a profunda compaixão que o romancista tem de seus personagens. Eles estão no mundo presos a um passado, ao inconsciente e ao Destino, prisioneiros de suas paixões, de suas culpas e dos seus pecados.15 Vale atentar que a morte novamente é vista como um bem, algo libertária. Para Félix ela está atrasada e se opõe a vida que “não fora mais do que uma estafante, sonhadora e áspera caminhada em busca da decepção” (p.250). E, assim como Absalão (As sementes do sol) assassina o irmão quase como se lhe prestasse um favor, o filho de sêo Eleutério também vê, na encomenda homicida, um ato de amor: [...] eu já começava a acreditar – nunca terei uma explicação – que ele era o culpado. Sofríamos, todos nós, por causa dele. Não somente porque tínhamos um grande amor pelo velho, mas, sobretudo, porque ele provocava a nossa agonia. Estava nos martirizando. Estava transformando nossa Vida num grande desespero. Porque tínhamos fome e porque ele sofria. Pode um filho amar tão ardentemente o pai a ponto de desejar, com toda a paixão possível, a sua morte? Não o vulgar desejo de evitar seu sofrimento: mas para puni-lo, punindo-se. (p.307) A última sentença é uma das passagens mais belas e misteriosas da narrativa. O amor suscita o anseio de punir o pai através da própria punição, que seria escolher a morte para o ser amado. Logo, o amor é ao mesmo tempo ódio. Do ponto de vista de Félix, para o pai, a morte seria o castigo adequado ao responsável pelo padecimento familiar e a libertação das dores que a sua enfermidade impinge em si mesmo e naqueles que o cercam. Para o filho, matar o pai seria aliviar-se do peso de um “aleijão”, da angústia de vê-lo em uma condição lastimável e, acima de tudo, a punição (o sacrifício) por puni-lo. Há, portanto, a ideia de compartilhar, por amor, o sofrimento. A morte é – pergunta implícita – mais cruel com quem morre ou com quem mata? Ou ainda: a morte é mais benéfica para quem morre ou para quem 15 LEDERMAN, George. Raimundo Carrero – um artesão de sentimentos. Diário de Pernambuco. 17 out. 1986, p.A-7 mata? Quem é, na verdade, o sacrificante e o sacrificado? Ela representa de qualquer modo, para Félix Gurgel, e duplamente, um ganho e uma perda. Para Marcus Accioly, o protagonista carreriano “é, ao mesmo tempo, torturador e torturado, o que lembra Schopenhauer: ‘O torturador e o torturado são uma coisa só: o torturador se equivoca porque crê não participar no sofrimento; o torturado se equivoca porque crê não participar na culpa’16. Tereza Tenório observa ainda que Félix sempre viveu nas cercanias da “dama da foice”: Félix Gurgel se depara com a morte num primeiro impacto ao contratar o pistoleiro que lhe matou o pai, num segundo momento ao fantasiar as mortes das irmãs e da mãe mendigando na feira de Terra Nova ao mesmo tempo em que mata por empreitada um desafeto do seu protetor, e por fim, ao sacrificar os pássaros que já não servem de companhia no ritual preparatório de sua própria morte17. Deve-se ainda destacar que há um narratário, embora implícito, a quem Félix relata suas confissões. O filho de sêo Eleutério, contudo, afirma sobre a encomenda da morte paterna: Não tento justificar-me, não peço piedade, não espero que ninguém tenha pena de mim. Faço essa revelação para mim mesmo mais do que para os outros. Porque até hoje, passadas tantas intrigas e tendo atravessado tantas veredas, ainda não fui capaz de penetrar no seu significado. Não me tortura o fato de ter sonhado loucamente com a morte do meu pai. Mas não me satisfaz o enigma (p.308) Apesar de a presença do narratário não ser negada (os outros), esse fragmento comprova que Félix Gurgel também é, na “novela”, de modo dual, confessor e confessado. E, em certa medida, distanciado dos eventos narrados e tentando compreender sua trajetória neste grande monólogo, lembra Riobaldo, de Grande sertão: veredas. É importante atentar que, em seu percurso literário, Carrero abandona o narrador heterodiegético de Bernarda Soledade e de As sementes do sol e cria, pela primeira vez, o autodiegético. Evidentemente, assume-se aqui a problemática do relator pouco confiável de que fala, por exemplo, Kate Hamburger: 16 ACCIOLY, Marcus. A dupla face do baralho – confissões do escritor R(ai)mundo Carrero (I). Diário de Pernambuco. 14 set. 1984, Caderno Viver, p.B-6 17 TENÓRIO, Tereza. Alguns aspectos da “Dupla face do baralho” de Raimundo Carrero. Diário de Pernambuco.16 mai. 1986. Caderno Viver, p.B-6 [...] a interpretação de um romance em primeira pessoa deve levar em consideração a relação do mundo humano narrado com o narrador-eu. Este mundo humano, por ser o objeto da enunciação do narrador em primeira pessoa, nunca é descrito de modo inteiramente objetivo [...]. (1986, p.228) Ora, se toda a matéria narrada está repleta da subjetividade da personagem, nada corresponde exatamente ao “real”, mas sim à maneira como Félix Gurgel vê o “real”. Todavia, se aquele que narra de fora da diegesis simpatizasse por alguma razão com determinado ser ficcional, por exemplo, ele também perderia parte de sua objetividade. Logo, o narrador nunca é inteiramente confiável, sendo o autodiegético apenas mais tendencioso porque é ao mesmo tempo sujeito e objeto dos eventos narrados. Dorrit Cohn, em La transparence intérieure, verifica que ao contrário do que se poderia esperar, o narrador em primeira pessoa tem menos facilidade de penetrar na intimidade de sua própria mente que o narrador onisciente das narrativas em terceira pessoa tem para conhecer a intimidade de seus personagens. (2001, p.168)18 Logo, há, para além da questão da pouca confiabilidade do relato de Félix, já que tudo perpassa sua subjetividade, outra problemática: ele tem menos acesso a sua consciência ou menor capacidade de compreensão de seus estados anímicos do que provavelmente teria um narrador onisciente. Isso se torna evidente nas inúmeras vezes em que mesmo velho e refletindo sobre as circunstâncias passadas afirma não compreender as razões de sentimentos e atitudes. E, ainda que o narrador Félix Gurgel esteja distanciado no tempo, em maior ou menor grau, da personagem Félix Gurgel, constituindo um duplo, esse distanciamento ora promove uma visão aparentemente mais clara dos eventos ora dissolve-se, porque o narrador, ao relatar, experimenta de tal forma as mesmas sensações de outrora, que se funde à personagem como se revivesse os episódios relatados. Ao contrário de Brás Cubas (Memórias póstumas), que, afastado da vida, analisa e critica a si mesmo, o narrador carreriano, atormentado por suas lembranças, por seus fantasmas, não consegue dissecar com clareza sua consciência, seus atos, suas dores. Quanto à personagem, deve-se destacar que Carrero constrói o tipo (o comissário) e o subverte. Félix Gurgel, embora corresponda às expectativas do cargo, sempre experimenta 18 contrairement à ce qu’on pourrait attendre, le narrateur à la première personne a moins de facilite pour pénétrer dans l’ intimité de son propre psychisme révolu que o narrateur omniscient des récits à la troisème personne n’en a pour connaître l’intimité de sés personnages. uma sensação que não se enquadra ou um pensamento que não se ajusta. Do mesmo modo que o riso, normalmente característico do ser tipificado, termina por afastá-lo do típico policial: o que se torna matéria risível é justamente a tentativa frustrada de enquadramento do protagonista. Ele, por exemplo, quer ser duro com Estêvão, porque assim deve proceder um homem da lei, e, ao mesmo tempo, nutre por ele algum afeto – o que dissolve e escarnece a postura rígida. Poder-se-ia, contudo, supor que o comportamento continuamente dual do comissário, oscilante entre duas polaridades, fosse uma forma de tipificação, já que ele é carrasco e vítima, carcereiro e prisioneiro, feliz (no nome) e infeliz, trágico e cômico... No entanto, se for considerado que “a condição de imprevisibilidade própria da personagem redonda, a revelação gradual dos seus traumas, vacilações e obsessões, constituem os principais fatores determinantes de sua configuração” (Reis & Lopes, 2007, p.323), não restará dúvida sobre a complexidade de Félix Gurgel. Com relação aos espaços, vale ressaltar que pela primeira vez a casa da família não se encontra no centro da narrativa. Ela existe e tudo o que sucede na “novela” é fruto da desestruturação do ambiente familiar após a doença de sêo Eleutério. A sentença proferida por Félix, “a infância tem sempre razão”, indicia que tudo está atrelado ainda a essa base social primeira. No entanto, o espaço da cadeia ganha relevância e estatuto de “lar” para a personagem. Há ainda os deslocamentos: de Terra Nova (casa dos pais) para Parnamirim (casa do capitão Cincinato Rocha) e, finalmente, para Santo Antonio do Salgueiro (lar-cárcere do carcereiro e, em seguida, casa-túmulo do velho e aposentado Félix). Há ainda o espaço da vida (estafante, áspera) em contraponto ao espaço libertário da morte. Os pássaros, símbolos da liberdade, assim como o protagonista, estão destinados aos lugares fechados, porque também aprisionados. Clausura, encarceramento são as palavras que melhor se adéquam à “novela”. Félix Gurgel está preso à cadeia, a casa, às lembranças, aos fantasmas, a si mesmo, à vida. A ambientação obviamente é sombria e os gritos e soluços dos torturados dão lugar pouco a pouco à solidão e ao silêncio, tudo confluindo para criação da atmosfera agônica que se harmoniza com a consciência atormentada e a prosa em redemunho carreriana. Claudia Barbieri afirma que pode-se entender o conceito de atmosfera como uma sensação que permeia o texto narrativo, um tom emocional que se infiltra pelo enredo, pelas personagens e pelos espaços. Essa sensação só pode ser percebida nas entrelinhas pelo leitor por meio de indícios criados intencionalmente pelo autor, como um quebra-cabeça que se apresenta à decifração (2009, p.10910) Vale, então, a pergunta: qual leitor finaliza a terceira “novela” do autor sertanejo sem experimentar uma sensação de angústia e sufocamento, como se também estivesse encerrado na agônica dupla face do baralho? Já não há razões para se falar em prosa regionalista. Mas é possível encontrar quem tenha considerado relevante afastar o rótulo, como aparentemente fez César Leal à época do lançamento de A dupla face do baralho: “Ainda que se refira a um determinado lugar essa novela de Raimundo Carrero não tem espaço; Salgueiro poderia estar em Pernambuco ou na Índia. O que se revela aqui é o homem”19. Também perde o fôlego a discussão novela x romance. Obviamente, não há aqui a “dualidade maniqueísta” das personagens que, de acordo com Massaud Moisés20, caracterizaria este gênero e menos ainda a linguagem simples em detrimento da metafórica ou figurada. Alia-se a essas duas evidências, o fato de que Félix Gurgel não é um protagonista plano. No entanto, é possível encontrar neste título o dinamismo próprio da novelística e certa pluralidade espacial. Logo, não há um enquadramento perfeito que permita aprisionar a obra numa caixa rotulada. Seria, então, mais conveniente por as etiquetas pouco funcionais de lado e chamar tudo de ficção. Carrero também não abandona de todo o elemento mágico tão próprio de A história de Bernarda Soledade. Aqui os fantasmas não pertencem ao universo maravilhoso; são, sem dúvida, fruto de uma consciência atormentada. Todavia, a cena em que os pássaros limpam os dentes de Camilo tem um quê das histórias de cordel que alimentaram o autor sertanejo: “Depois da refeição, Camilo tirava-o da gaiola. O pássaro, então, abria seus lábios e, com o bico, retirava os restos de comida que ficavam entre os dentes. O rapaz ria, dobrava de rir. Satisfação de pássaro” (p.310). Félix Gurgel, no entanto, desperdiça as oportunidades de redenção e destrói tudo o que poderia fazê-lo feliz. E, embora veja oponentes em toda a parte, Marcus Accioly observa que o inimigo do ex-comissário “não possui um rosto e, caso o tivesse, seria seu próprio rosto”21. Perpassa, portanto, toda a prosa carreriana, até agora analisada, a ideia de que “o inferno somos nós”. Carrero erige milimetricamente uma obra sob o signo da dualidade e faz seu cruel e risível personagem ruminar, incessantemente, de modo veloz e espiralado, embrenhado nas teias da loucura e encerrado em si mesmo, sobre a própria existência. Em sua confissão final, simbolizada no dilaceramento dos pássaros, ele revela a impossibilidade de 19 LEAL, César. A dupla face do baralho. Diário de Pernambuco. 24 ago. 1984, p.B-6 MOISÉS, Massaud. A criação literária: prosa I. São Paulo: Cultrix, 2006. 21 ACCIOLY, Marcus. A dupla face do baralho – confissões do escritor R(ai)mundo Carrero (II). Diário de Pernambuco. 21 set. 1984. Caderno Viver, p.B-6 20 escapar da infelicidade de ser Félix Gurgel, um homem atormentado por sentimentos contraditórios. 4.2 A dupla face dos risos (e sorrisos) No entanto, antes que pudesse correr, sentindo alívio, incrível alívio, em todo o sangue, despachei as dores que me atormentavam. (Carrero, 2005, p.345) A dupla face do baralho: confissões do comissário Félix Gurgel é a terceira ficção carreriana oficialmente publicada. É necessário dizer “oficialmente” porque o autor pernambucano escreveu contos e peças teatrais que ou não foram lançados pelo mercado editorial ou pertencem a antologias. É preciso também ressaltar que infelizmente esses trabalhos foram excluídos da tese apenas pela asfixiante necessidade de recorte. Pode-se ainda afirmar que o título lançado em 1984 teve atenção de crítica e público menor que Bernarda Soledade e maior que As sementes do sol ou, ao menos, não houve a disparidade entre o número de resenhas e análises que a prosa da mulher tigre suscitou e o quase silêncio que envolveu a história do religioso Absalão. De qualquer modo, parece ainda que Bernarda se beneficiou do burburinho em torno do armorialismo e do apadrinhamento de Suassuna, porque, em termos qualitativos, Raimundo Carrero manteve o equilíbrio na tríade de “novelas”. Agora, diante das reflexões sobre as duas primeiras narrativas, já é possível iniciar um breve cotejamento para conferir se Carrero se mantém fiel aos seus temas e modos de narrar ou se surgem elementos novos em sua prosa. Ou ainda: se o escritor sertanejo abandona motes que pareciam, num primeiro instante, povoar seu universo ficcional de modo absoluto. Assim, verifica-se que, em A dupla face do baralho, desaparece o narrador em terceira ou heterodiegético e surge a narrativa confessional, assunto abordado no tópico subsequente; o autor não explora a temática do incesto, que, portanto, embora pareça pertencer ao coração da obra, não cabe a todos os títulos; também sai parcialmente de cena o circuito familiar fechado, já que o protagonista abandona a casa e faz, posteriormente, da carceragem, sua morada; e, por fim, Raimundo Carrero surpreende ao introduzir o riso na ficção levando sua personagem a um oscilar contínuo entre o nefando e o ridículo. Todavia, surpreende ainda mais o fato de que nos doze textos críticos publicados em jornal à época do lançamento de Félix Gurgel, reunidos por esta pesquisa, a questão do riso, da ironia ou do cômico tenha recebido pouca ou nenhuma atenção. E, curiosamente, apesar da presença do movimento Armorial em Bernarda, o escritor pernambucano parece agora, ao explorar o risível, mais próximo de Ariano Suassuana e de A pedra do reino do que esteve com a “tigre do sertão”. Vale ainda ressaltar que se Bernarda é a responsável única pelas consequências de seu desejo de poderio, ainda que uma terra sem leis seja sua aliada, e a história de Absalão sustente-se no diálogo indivíduo/religiosidade, Carrero, em A dupla face do baralho, avança: agora surge a intrincada tríade sociedade/política/religião. Esses três fatores contribuem para dar forma ao indivíduo e ao carcereiro/comissário/chefe da guarda noturna municipal. Desses elementos também se extrai o riso, pela contradição entre o homem e o tipo, como no episódio em que Félix alterna docilidade e hostilidade: Estêvão – olhei para um lado, olhei para outro, não havia ninguém nos escutando –, eu quero pedir desculpas pelos gritos que dei. Não gosto disso. Confesso: não gosto. [...] [...] Em seguida, ouvi os passos de um soldado que se aproximava. Fiquei de pé. Dei um murro na mesa. – Cale-se! Não admito sequer ouvir a sua respiração. – O soldado passou. – Fique de pé, sêo Estêvão! – Enquanto ele, exageradamente atormentado, era invadido, novamente, pelas sombras, o soldado retornava com uma vassoura na mão. Tossi baixo: aliviado. Ponderei a voz: – Sente-se, meu filho, sentese. [...] (p.268) O que, então, se mantém? A atmosfera tormentosa, aliada à prosa em redemunho, fio que atravessa esta pesquisa, em que o delicado abismo da loucura é causa e/ou consequência. Atravessa também, até o momento, a obra carreriana o fato de que os indivíduos são conduzidos, sobretudo por suas próprias mãos, à ruína, seja econômico/espacial, familiar/afetiva e/ou física/psicológica. As personagens são responsáveis por seus destinos, mas, justamente por sua condição humana, jamais poderiam escapar de si mesmas. Logo, são culpadas e inocentes. Logo, o leitor, ainda que os seres ficcionais sejam comumente cruéis, experimenta o gosto da piedade por eles e por si mesmo, porque também se sabe prisioneiro da angustiante dualidade que faz hesitar entre o dever e o querer, entre o bem e o mal. Quem lê Carrero percebe que a melhor definição para o humano é sua eterna e tantas vezes infrutífera luta consigo mesmo para domar a vontade e a paixão, para acorrentar o animal em suas entranhas. Bergson ressalta que o drama “revela-nos uma parte oculta de nós mesmos, o que poderíamos chamar de elemento trágico de nossa personalidade” (1987, p.83-4). E acrescenta ainda que, após assistir ao drama, ficamos envolvidos menos pelo narrado a nós sobre os outros do que pelo que se nos fez entrever de nós: um mundo confuso de coisas vagas que gostariam de ter existência e que, por felicidade nossa, não conseguiram (ib., p.84). O mesmo parece valer para a prosa carreriana. É possível ver assim a mão do autor, que, se apedreja, também afaga. E tanto as pedras quanto o afago, em Félix Gurgel, também se conformam, em parte, pelo viés do risível. Todavia, são muitos os risos e sorrisos em A dupla face do baralho. A tarefa de dissecar a função desempenhada por eles nesta narrativa é complexa já que desde a Antiguidade grandes filósofos e sociólogos tentaram compreender por que e de que o homem ri sem alcançar a abrangência de tema tão controverso. Na obra O riso e o risível na história do pensamento, Verena Alberti, após analisar diversas perspectivas, conclui que “o mistério do riso propositalmente se mantém: o riso não é efeito de uma paixão, não tem um princípio físico nem moral e deve continuar incógnito” (1999, p.206). O longo título carreriano, ainda à maneira dos cordelistas, – A dupla face do baralho: confissões do comissário Félix Gurgel – muito revela sobre a obra, sobretudo se com ela cotejado. De antemão, sabe-se que possivelmente nada no texto terá via única. Tudo, portanto, será duplo, com frente e verso como no baralho. Aliás, a referência às cartas faz pensar em Destino. Porém, esse Destino é novamente edificado pelas mãos da personagem porque não é possível fugir de si mesmo. Sabe-se ainda que o provável protagonista fará várias confissões – o que remete à ideia de erro e culpa e do intento, talvez, de absolvição. E, após a leitura da obra, verifica-se que o nome latino Félix, “feliz; venturoso” (Oliver, 2005, p.160), dado ao indivíduo infeliz, atormentado, constitui um dos componentes irônicos da narrativa, fundamentado na dualidade. O título também conduz, assim, a uma expectativa frustrada: há tristeza em lugar da promessa de alegria. No entanto, diante da estreia do riso na ficção do autor pernambucano, vale a pergunta: o nome da personagem (e o próprio recurso irônico) não revelaria também a pista da inauguração na prosa carreriana do flerte com a comicidade? Cabe atentar ainda que o autor o nomeia Félix com o intuito de adjetivá-lo também como felino: seus imensos bigodes “são como os dos gatos” (p.247). Sua intenção de se locomover sem ser notado também é motivo para se equiparar a esse astuto animal: “[...] corro apressado, na ponta dos pés, felino [...]” (p.249). E, durante a infância, quando começa a se preparar para o crime, revela: “Preparei-me, olhos de gato no escuro” (p.304). O menino, que pendura a camisa num galho seco com o objetivo de pegá-la num zás, no treino para ser ladrão, expõe seu desejo: “Queria ser felino, ágil, rápido” (p.311). Porém, se, como gatuno, Félix fracassa, ao pegar o bule, ao arrastar a camisa que, então, se rasga e ao furtar a rede, ele dialoga apenas com a ideia de um velho gato, desconfiado e gordo, castrado pela vida e pela velhice, prisioneiro de sua condição, encerrado em casa à espera da morte. Novamente a nomeação é irônica: feliz e/ou felino ao invés de caracterizarem a personagem a ele se contrapõem, ou melhor, a caracterizam de modo irônico, pelo contraponto, instaurando o riso. Marcus Accioly observa que o prenome da personagem de A dupla face do baralho “sugere um talvez lógico absurdo”22. É ainda preciso atentar que, assim como o título A história de Bernarda Soledade se assemelha a A casa de Bernarda Alba, e As sementes do sol, tem, como personagem central, o bíblico Absalão, presente também no romance faulkneriano, a titulação A dupla face do baralho: confissões do comissário Félix Gurgel se aproxima de As confissões do impostor Félix Krull, de Thomas Mann, como aponta Accioly em artigo publicado em 198423. Seria obviamente interessante o cotejamento dessas obras que possivelmente dialogam. Todavia, é inviável analisar nesta tese todas as supostas relações intertextuais. Fica, portanto, apenas a dica a futuros pesquisadores que desejem se aventurar pela prosa do autor pernambucano. A ironia, no entanto, não se encontra apenas no título; a própria obra é essencialmente irônica se for considerado que o carcereiro é prisioneiro. Ao fim da existência, expulso da vida pública, Félix está preso a casa, ao corpo decrépito, às amargas lembranças e à alma que “é um fardo envelhecido e pesado demais para ser carregado” (p.248). Quando ocupa o cargo de senhor do cárcere, ele simultaneamente se aprisiona: Encastelei-me na cadeia, que era onde vivia, ao mesmo tempo como carcereiro e preso – preso voluntário, é claro, porque não conhecendo a cidade e seus perigos, preferi passar todo o tempo no ambiente ao qual haveria de servir durante toda a Vida. (p.252) Em O riso: ensaio sobre a significação do cômico, Bergson afirma que a cena torna-se cômica quando os papeis se invertem, constituindo um “mundo às avessas”: “Teremos quase sempre diante de nós um personagem que prepara a trama na qual ele mesmo acabará por enredar-se” (1987, p.53). Se for levada em conta a crueldade da personagem, que, por exemplo, torna-se carcereiro por prestar o favor de matar um homem, e encomenda o assassinato do próprio pai, a justificativa para o encastelamento soa risível pela contradição que encerra: o guarda homicida se aprisiona para se proteger da cidade e de seus perigos. 22 ACCIOLY, Marcus. A dupla face do baralho – confissões do escritor R(ai)mundo Carrero (II). Diário de Pernambuco. 21 set. 1984. Caderno Viver, p.B-6 23 _____. A dupla face do baralho – confissões do escritor R(ai)mundo Carrero (I). 14 set. 1984, Diário de Pernambuco. Caderno Viver, p.B-6 Verena Alberti extrai do Tratado do riso, publicado em 1579, as palavras de Laurence Joubert sobre a elaboração da matéria risível: é preciso haver algo de imprevisto e de novo, além daquilo que esperamos atentos, porque o espírito suspenso e em duvida pensa cuidadosamente no que advirá, e nas coisas engraçadas comumente o fim é inteiramente outro do que imaginávamos, sendo disso que rimos. (1999, p.90) Para Bergson, o riso é condenatório: por um lado, uma tentativa da sociedade de coibir diferenças, excentricidades, por outro, uma maneira de ridicularizar o comportamento rígido, inflexível do indivíduo – o que soa um tanto contraditório. Afinal, portar-se como o meio determina não faz necessário justamente certa rigidez? Verena Alberti aponta definições incompatíveis na teoria bergsoniana, dentre elas “que a sociedade seja às vezes o vivo, às vezes o mecânico [...]” (p.193). De qualquer modo, o leitor ri sempre quando Félix escapa ao tipo, seja de carcereiro, de comissário ou de chefe da guarda, e deixa revelar o humano repleto de temores e contradições ou, ao contrário, quando ele cola ao tipo de tal maneira que perde a maleabilidade. Um comissário de polícia cruel, apesar da contradição, não é risível, mas um delegado por vezes movido por uma “estranha sentimentalidade” (p.267) ou um chefe da guarda noturna, montado em um burro, comandante apenas de si mesmo (ou nem de si mesmo) é alvo de escárnio. Um carcereiro que se esforça para ter uma atitude austera e enfrenta dificuldade de conter sentimentos que não corresponderiam a sua atividade também se torna cômico. Se o riso é corretivo, pode-se depreender que o leitor ora ri do desajuste de Gurgel às funções que desempenha (“o riso é certo gesto social, que ressalta e reprime certo desvio [...]” (Bergson, 1987, p.50)) ora da tentativa da personagem de se amoldar por completo à profissão exercida (“outra forma de rigidez cômica é a que chamarei de endurecimento profissional” (ib, p.92)). E, se como quer Bergson, aquele que ri experimenta uma sensação de superioridade em relação ao objeto risível (“[...] quem ri entra de pronto em si, afirma-se mais ou menos orgulhosamente a si mesmo” (ib., p.100), Félix, assim, se apequena e dessa pequenez nasce a piedade. O leitor, dessa maneira, assim como o autor, simultaneamente, o condena e o absolve. Logo, se para instaurar o riso é necessária a ausência de piedade (“o cômico exige algo como certa anestesia momentânea do coração para produzir o seu efeito” (ib., p.13)), a piedade pode ser consequência do riso. Ao rir do outro e perceber que esse outro o espelha, porque todos pertencentes à complexa esfera do humano, aquele que ri se apieda do objeto risível e da própria miséria existencial. Na verdade, o indivíduo, ao rir do outro, pode experimentar não apenas essa sensação de superioridade, mas também de pequenez, pela dose de crueldade que vislumbra (consciente ou inconscientemente) em si mesmo quando atira no outro seu riso condenatório – fato que parece ter escapado a vários teóricos do riso. Logo, aquele que ri – acre ironia – é alvo, em certas circunstâncias, de seu julgamento moral. Carrero consegue assim fazer com que os leitores oscilem (de modo dual, duplo) entre a aversão e a simpatia pelo comissário. Outro ponto que merece destaque é o fato de que, embora distanciado de quase todos os eventos narrados, o olhar crítico que Félix lança sobre seu comportamento é a princípio ínfimo. Por conseguinte, o “eu de agora” não é capaz de rir ou ridicularizar o “eu de outrora”. O narrador de Memórias póstumas, por exemplo, se distancia da personagem e a ironiza. O ex-comissário, ao contrário, narra suas risíveis desventuras, sem que nelas vislumbre a matéria risível. O velho Félix Gurgel não é capaz de rir do jovem Félix Gurgel, talvez porque o riso em Carrero esteja quase sempre entremeado à dor. Quando relata, por exemplo, a frustrada (e risível) tentativa de o menino colocar o café na xícara sem que ninguém perceba, o ex-comissário não ri porque ainda envolto na aflição pelo fracasso, ferida que não cicatriza. Ao iniciar o relato sobre Camilo, Félix diz: “[...] dava-me arrepio e angústia ser incomodado por um menino maluco – não sei se àquele tipo de gente se dá o nome de maluco [...]” (p.252-3). É possível verificar que, ao fazer uso da expressão “aquele tipo de gente”, o ex-comissário mantém uma postura irritadiça e preconceituosa. Há ainda outras tantas confissões de Félix que indiciam a pouca mudança entre o velho narrador e a jovem personagem, como quando afirma: “Mesmo agora, tantos anos passados [...], confesso que nunca senti prazer”. (p.254, grifo nosso). Em outros instantes, contudo, é possível vislumbrar alguma mudança: “[...] desde que deixei a polícia, todo esse cortejo de agonias, que na época julguei inexpressivo, compõe a teia de minhas aflições” (p.255, grifo nosso). Ao relatar a história de Estevão, o velho aposentado revela: “Só agora percebo porque me aborrece o fato de Estevão ser o dono do cinema [...]” (p.258, grifo nosso). Ou seja: Félix revive ou experimenta, ao narrar suas memórias, dissabores. Ele não é a personagem que, distanciada do mundo narrado, consegue emitir um juízo crítico que lhe permita rir das situações ridículas que vivenciou ou perceber a inutilidade do universo de ódio em que sempre esteve mergulhada. Tanto que, ao final de sua trajetória, mata os pássaros. Todavia, não se pode afirmar que ambos (narrador e personagem) são exatamente os mesmos, já que o velho Félix nitidamente experimenta a culpa quando, por exemplo, reconhece as “danações” e “dores” que pesam sobre os seus ombros (p.247). Por vezes parece ser a loucura a responsável pela incapacidade do ex-comissário em analisar criticamente sua vida. Ela avança durante o percurso do menino, que perde o pai para a doença e a dignidade para a miséria; do jovem que manda matar (na tentativa de eliminar a realidade que o atormentava) e mata, em nome do poder, tornando-se em seguida o carcereiro/comissário, cruel e corrupto, tomado quase sempre por uma cegueira da razão; do homem de meia-idade capaz de maltratar Camilo; e do velho que decepa passarinhos. No entanto, o inverso também parece conter sua parcela de verdade: são as atitudes da personagem que a embrenham numa teia de tormentos e aflições da qual não consegue mais sair e que a conduz paulatinamente à loucura. As atitudes do protagonista são, portanto, fruto de sua proximidade do abismo da insanidade e, ao mesmo tempo, o motor que o leva ao desvario. Apesar da presença inegável da alienação como justificativa para dificuldade do velho Félix de estabelecer um julgamento moral (o filho de Maria Dáuria, por exemplo, continua sendo, ao final da obra, o “inútil aleijão” (p.346)), não se pode negar que por vezes o lúcido ex-comissário parece reconhecer a vileza de seus atos e, então, ironiza a si mesmo (e, por extensão, o cargo que ocupou), como quando afirma: “Quem já foi policial sabe a importância estratégica de um murro na mesa, um empurrão ou uma risada nervosa, tudo dependendo, é claro, do momento e da pessoa a ser interrogada” (p.255). Notadamente, esta análise também, como a narrativa, caminha em ziguezague. Isso porque, quando se trata de Carrero e, sobretudo, desta “novela”, o terreno é o do duplo e, por vezes, do múltiplo. O trajeto deve ser, portanto, o das possibilidades. Edilton Araújo, em resenha sobre A dupla face do baralho, nota que situando o personagem num universo controvertido (daí as várias conclusões a seu respeito), Carrero dá mostras de um escritor à altura. A meu ver, é isso que distingue um bom escritor: não se deixar trair por um enredo que leve a ilações. Neste caso, são tantas as ilações que dificilmente o analista literário poderá concluir a respeito da definição correta de Félix Gurgel. Se herói, ou anti-herói. Se anjo ou demônio. Se são ou estafermo24. Essa breve digressão conduz novamente à pergunta: o velho Félix não ri porque, envolto nas teias da loucura, é incapaz de perceber nitidamente a si mesmo, ou, por vezes, ele ri, através da ironia, já que suas palavras parecem comumente conter, para além da explícita reafirmação, uma crítica velada às suas atitudes? Em se tratando de Carrero, talvez a resposta 24 ARAÚJO, Edilton. O começo de Félix Gurgel. Diário de Pernambuco. 10 out. 1986, Caderno Viver, p.B-6 não seja exclusiva (uma coisa ou outra), mas inclusiva (uma coisa e outra), ainda que isso signifique conviver com a contradição. O fato é que a narrativa está povoada de situações risíveis: o treino fracassado do menino para ser ladrão; o guarda estrábico da carceragem; o homem traído que solicita um atestado de corno; a dor de barriga durante o ato homicida; a personalidade oscilante do carcereiro/comissário; o burro da Guarda Noturna Municipal, que tem a alcunha de Prefeito; a maneira encontrada por Estevão para se vingar do antigo algoz, ridicularizando-o com um cargo em que chefia apenas a si mesmo; a presença do menino nu simbolizando o pelotão do serviço secreto, a placa da delegacia “Quem entrar aqui e disser que não apanhou, volta para apanhar” (p.257), seguida à risca; a prisão que encerra prisioneiros sem culpa; a prestação de contas sobre o apito, o cassetete e o burro após a aposentadoria de Félix, dentre tantas outras. Carrero, portanto, alinha o trágico (obviamente, não nos moldes helênicos) ao cômico para constituir a dupla face de Gurgel. Seria possível analisar as inúmeras passagens para descobrir de que maneira cada situação se torna risível, mas o objetivo desta pesquisa é compreender por que o autor faz uso da comicidade e qual o resultado obtido na obra. Se o riso fosse extirpado da narrativa, restaria apenas um carcereiro/comissário/chefe da guarda/excomissário formado por gritos, gemidos, golfadas de sangue, palavras entrecortadas, implorações e até de sorrisos – esses sorrisos que se desenham nas faces humilhadas apenas para exteriorizar, medonhamente, o medo, o medo terrível e confuso, de quem espera caridade. (p.255) Ora, se por um lado o riso pode ser a mais cruel das punições, é evidente, como já demonstrado, seu poder atenuante, já que o objeto risível se apequena diante daquele que ri, instaurando, por vezes, a piedade. Félix é, além de culpado, vítima não apenas pelas circunstâncias social/econômica (a doença do pai e a agravante penúria da família), política (um sistema corrupto) e judicial (um mundo sem lei) que justificam sua formação. Ele é vítima, sobretudo, por conta da sua humanidade, evidenciada pelo riso, já que quase todo o gesto vil do protagonista tem sua face patética. Quando o leitor ri na intenção de “corrigir” Félix Gurgel – porque não se pode admitir a incongruência de um matador que sofre com dores de barriga, por exemplo – termina por ele corrigido, já que a rigidez, neste caso, não se encontra no alvo do riso, mas naquele que ri. Ao oscilar entre o bem e mal, entre a vileza e o sentimentalismo, entre a lucidez e a loucura, entre o trágico e o cômico, o comissário mostrase mais próximo do humano, em todas as suas contradições, do que estaria se apresentasse uma linearidade, uma racionalidade, uma previsibilidade ilusória, utopia de quem ri. Bataille nota que o riso promove a quebra da rigidez, não apenas no alvo risível, como sinaliza Bergson, mas também no autor do riso: (...) o desconhecido nos faz rir. Faz rir por passar muito bruscamente, repentinamente, de um mundo onde cada coisa é bem qualificada, onde cada coisa é dada em sua estabilidade, em uma ordem estável em geral, para um mundo onde de repente nossa segurança cai por terra, onde percebemos que essa segurança era enganadora, e que, lá onde havíamos acreditado que toda coisa era estritamente prevista, ocorreu o imprevisível, um elemento imprevisível e derribador, que nos revela, em suma, uma verdade última: que as aparências superficiais dissimulam uma perfeita ausência de resposta a nossa expectativa. (Alberti, 1999, p.201) Verena Alberti expõe o pensamento de Schopenhauer que parece reafirmar essa perspectiva ao criticar a pretensa supremacia do racional: Em Schopenhauer, contudo, é a razão (a gravidade, o sério) que se torna “ridícula”: ela tem a aparência de verdade, porque não é capaz de alcançar a realidade. Os conceitos pelos quais a razão “pensa” a realidade estão sempre sujeitos a um desnudamento que revele sua falsidade, e esse desnudamento nada mais é do que o objeto do riso. (ib., p.196) Se o riso fosse eliminado da obra, a duplicidade (ou multiplicidade) de perspectivas também desapareceria e, então, Félix, mais próximo do tipo, seria provavelmente capaz apenas de despertar repulsa, horror, indignação. O cômico, portanto, assim como a loucura, pode ser um “mais além”, apto a revelar outra face do humano. Não se deve esquecer que o riso ou o sorriso não estão ligados apenas à comicidade e Carrero faz extenso uso deles nesta obra. Há o suposto riso “velho, mole, decepcionado” (p.249) do conhecido interpelado pelo ex-comissário, disfarce para a situação embaraçosa (ou resultado dela). O cruel sorriso que Félix oferece ao menino “maluco” na tentativa de se aproximar, estabelecer laço, para depois maltratá-lo (p.254). O sorriso dos humilhados, que intencionam ganhar a simpatia do algoz (p.255). A “risada nervosa” que o comissário utiliza para “transformar o assassino em vítima” (ib.). As risadas que perseguem o protagonista e são índices de sua alma atormentada e da presença do abismo da loucura (p.263-4). A vontade de gargalhar de Félix, fruto do deleite por ser temido pelo outro (p.267). O sorriso de Estevão, que provoca a indignação do carcereiro, porque vê nele índice de zombaria (p.270). O sorriso prazeroso de Maria Dáuria, revelador que era ela quem detinha o poder sobre o policial (p.281). O “riso maligno dos superiores”, que Félix saboreia diante de Aluísio Pedra (p.291). O riso dissimulador da mãe de Camilo, para esconder (ou conter) o nervosismo diante da descoberta de que mantinha o filho encarcerado (p.297). O riso afetuoso do menino maluco para o comissário (p.299). O sofrido, incógnito e babado sorriso de sêo Eleutério (p.305-339). O não-sorriso do menino que teme, ao sorrir, se parecer com o pai (p.306). A imaginária gargalhada que atormenta, condena e ridiculariza Félix após seu fracasso como gatuno (“Meu pai, na minha alma, já não ria, gargalhava. Uma gargalhada nojenta, abria a boca e a saliva escorria pelo queixo” (p.333)). A risada “comum” do prisioneiro, cujo intento era apenas “devolver a calma” ao jovem encarcerado (p.335). Esse inventário – determinado e limitado pelo olhar de Félix – demonstra que há risos e sorrisos para além da intencionalidade cômica. Vale ainda ressaltar o de Camilo, que, na perspectiva do protagonista, “parecia um choro e uma ironia” (p.253). O filho de Maria Dáuria “nunca dizia palavra – nunca falou – ria, ele apenas ria feito os canários cantando” (p.309). Esse é, portanto, o riso da loucura (dos inocentes?), em que falta “a matéria risível” (Alberti, 1999, p.102), conforme salienta Joubert, porque ela é o que menos importa. Ou – quem sabe? – a matéria risível da qual os loucos riem exista, mas escape aos supostamente sãos. Se a vida não amava Camilo, ele certamente parecia amá-la incondicionalmente. É curioso que haja também aqui dois tipos de loucura: a de Félix e a de Camilo diferem assim como a de Bernarda e Gabriela. Por outro lado, pode-se afirmar que a insanidade do filho de sêo Eleutério se aproxima da insanidade da tigre, assim como a da mãe de Inês dialoga com a do filho de Aluísio Pedra. Estes, Gabriela e Camilo, parecem se aproximar da concepção de loucura elogiada na obra de Erasmo: “Consiste numa certa alienação de espírito que afasta do nosso ânimo qualquer preocupação incômoda, infundindo-lhe os mais suaves deleites” (Rotterdam, 2004, p.53). Todavia, a surpresa maior é a percepção de que Raimundo Carrero utilizou, nas três “novelas” até agora analisadas, a ironia de eventos, “bastante comum na ficção em prosa” (Muecke, 1995, p.108). Em Bernarda, a personagem, que tanto ansiou pelo poder, termina imersa na ruína familiar, econômica, espacial e afetiva. Em As sementes do sol, é justamente a personagem religiosa que comete o pecado da luxúria e quebra o mandamento divino “não matarás”. Além disso, tio Lourenço, por quem Absalão nutria grande afeto, assassina, por um equívoco de interpretação, o sobrinho. Já em A dupla face do baralho cabe o cárcere, em todos os sentidos, ao carcereiro. Félix Gurgel, inicialmente preso à cadeia, ao seu desejo de poder, finda seus dias prisioneiro da casa, do corpo, da alma, da consciência, das lembranças e, portanto, de si mesmo. Pode-se inferir agora que a ruína em que Bernarda se encontra imersa sugere a condenação, na obra, de sua ânsia de poderio. Ou seja: o ficcionista não parece condená-la por ser mulher-guerreira, que toma o lugar do macho nas terras de Puchinãnã, já que a ambição de comando de Félix Gurgel também desemboca em agonia. Muecke observa que na obra de grandes escritores e filósofos, “sem mencionar a Bíblia, podemos encontrar a ideia de que olhar do alto para as ações dos homens induz o riso ou pelo menos um sorriso” (1995, p.68). Em seguida, o autor de Ironia e o Irônico cita o texto sagrado “Aquele que mora nos céus se ri: O Senhor nos coloca em ridículo (Salmos 2:4)” e conclui que “Deus é o ironista par excellence” e a vítima arquetípica da ironia é, per contra, o homem, considerado pego em armadilha e submerso no tempo e na matéria, cego, contingente, limitado e sem liberdade – e confiantemente inconsciente de que é este o seu dilema. (ib.) Diante de um demônio criador haveria, nesta perspectiva, apenas um riso cruel, mas, se todos são ao mesmo tempo culpados do Erro e inocentes porque vítimas do Ironista Supremo, o homem também é digno da piedade (inclusive divina). Isso é Félix Gurgel: culpado, porque escolhe o crime (embora tenha sido de certa maneira levado a ele) e inocente, vítima por ser simplesmente humano, dual, contraditório. Rir (ou apiedar-se) de Félix Gurgel é rir (ou apiedar-se) de si mesmo. 4.3 Nomes e outros índices nas confissões de Gurgel Quem conhece a cadeia de Santo Antônio do Salgueiro sabe que ela fica nas margens do açude público, permanentemente com água, mesmo nos períodos de seca – embora uma água barrenta, suja e pouca. (Carrero, 2005, p.252) Não há dúvida que a nomeação das personagens carrerianas é expressiva por harmonizar-se com o íntimo dos seres ou por formar em relação a estes um contraponto. Quando há acomodação perfeita entre a significação do nome e a personalidade do indivíduo nomeado, por exemplo, tomando como base a origem etimológica ou um diálogo intertextual entre homônimos, pode-se afirmar que aquele é índice direto deste. Do contrário, quando o sentido promove uma oposição – comumente risível – há um indiciador indireto edificado pelo recurso irônico. Ana Maria Machado, em O recado do nome: leitura de Guimarães Rosa “à luz do nome de seus personagens”, expõe um dos aspectos da noção de sinfronismo, proposta por Raul Castagnino, em Qué és Literatura?: “a exigência de que o leitor participe da criação de maneira ativa; de que a leitura seja uma atividade e uma decifração [...]” (2003, p.109). Os antropônimos, portanto, com alguma frequência, são pistas lançadas pelo autor, que escondem para revelar, apenas aos mais atentos, os segredos da ficção. Logo, quem lê e decodifica participa mais ativamente da obra e saboreia os achados significativos; logo, boa parte do prazer de ler, sem dúvida, é suscitado por esse envaidecimento que o leitor experimenta diante da solução dos enigmas textuais. Ele se sente ainda cúmplice da elaboração ficcional; mais próximo, portanto, do narrador e/ou do autor. Do ponto de vista do prosaísta, a questão se torna curiosa: para quase toda a matéria implícita, ele insere elementos indiciantes na expectativa de que sejam percebidos e o romance, então, compreendido de maneira satisfatória. O escritor literário corre riscos, escolhe seu público e precisa equilibrar o jogo: qualquer desajuste entre aquilo que ele vela, a pista que desvela e a capacidade de captação do leitor pode condenar sua prosa ao limbo dos textos renunciados. Raimundo Carrero parece apreciar esse jogo estabelecido com o leitor sem se intimidar com a possibilidade de perder já que faz, usualmente, dos nomes e de imagens recorrentes, indicadores da natureza das personagens e da atmosfera da obra. As regras são curiosas, considerando que, para o autor ganhar, é preciso que o leitor também ganhe. O ficcionista torna o caminho labiríntico e, nas entrelinhas, ensina como encontrar a saída. Se a passagem correta for achada, não sem antes provocar alguma angústia ou insegurança, ambos ganham. Do contrário, algum elemento se desequilibrou e o resultado é insatisfatório. Em A Dupla face do baralho, assim como em Bernarda Soledade e As sementes do sol, há antropônimos bastante significativos. O nome do narrador-protagonista, Félix, significa “feliz, venturoso” (Oliver, 2005, p.260), qualidades que obviamente se contrapõem ao indivíduo atormentado, à beira do delicado abismo da loucura. Numa cadeira de balanço, a personagem (in) feliz espera a morte, rememorando sua torpe trajetória. Esse recurso irônico, elaborado a partir da técnica da expectativa frustrada, se harmoniza ao jogo de duplicidade proposto no título da “novela”. Se como sentencia Haakon Chevalier, “o traço básico de toda Ironia é um contraste entre uma realidade e uma aparência” (apud Muecke, 1995, p.52), tanto o nome da personagem em relação ao seu íntimo – o feliz infeliz – quanto a sua atividade profissional em face do seu destino – o carcereiro prisioneiro – refletem a intencionalidade dual e irônica da obra. No entanto, como já foi anteriormente apontado, o nome Félix pode ser ainda indício da presença do cômico aliado ao trágico na tessitura da ficção: felicidade/infelicidade estaria em paralelo com o componente bipolar riso/dor. Não se deve esquecer a correspondência entre Félix e felino, que se realiza a partir não do sentido etimológico da palavra, mas da semelhança sonora. Neste caso, a associação também se faz pela ironia: todas as qualidades felinas, como esperteza, sagacidade, formam uma oposição ao comportamento desajeitado e oscilante do filho de sêo Eleutério – o que conduz, como já salientado, mesmo diante das atrocidades cometidas pelo carcereiro/comissário, ao riso (com uma pitada de piedade) do leitor. Porém, César Leal, em resenha sobre a “novela” carreriana, ao invés do contraponto, vislumbrou semelhança: “Ao caracterizar o Comissário, Raimundo Carrero mostra-nos o policial como um homem de cabelos brancos e barba e bigodes compridos, embora ralos, à semelhança dos felinos [...]”. E, em seguida, conclui que Félix é “um gatarrão velho e gordo”, com “gosto pela aparência e limpeza, tão própria dos gatos [...]”25. É possível acrescentar também a provável correlação do protagonista e/ou da obra de Carrero com a personagem e/ou o romance de Mann, pela semelhança entre as titulações: “As confissões do comissário Félix Gurgel” e As confissões do impostor Félix Krull, respectivamente – questão que, considerando o tempo disponível, não será desenvolvida nesta pesquisa. Vale, no entanto, salientar, para estudos futuros, que o adjetivo “impostor” do título de Mann ocupa a mesma posição do termo “comissário” no título do autor pernambucano, o que parece indicar um empréstimo da qualificação, pela intertextualidade, sobretudo se forem consideradas as palavras de Gurgel: “só numa possibilidade admito o fingimento: o meu” (p.248). Ele seria, dessa maneira, um fingidor/impostor. Resta ainda a análise de Gurgel, nome de “origem germânica”, que “significa garganta” (Scottini, 1999, p.115). Por extensão, o sobrenome do ex-comissário denota aquele que fala muito, característica adequada a quem confessa ininterruptamente suas desventuras. Assim, também em harmonia com a proposta de dualidade, Félix Gurgel encerra, no antropônimo, uma oposição irônica à sua personalidade e existência, enquanto o sobrenome, ao contrário, se adéqua perfeitamente ao ato confessional. As demais nomeações são menos expressivas e as análises levam comumente apenas a suposições. O nome Antonho sem dúvida é uma distorção de Antônio, que significa “inestimável; digno de apreço” (Olivier, 2005, p.76). Embora pareça um novo contraponto irônico, neste caso ao soldado beberrão e zarolho, provavelmente Carrero o distorceu apenas com a intenção – para além da adequação da escrita à pronúncia das personagens sertanejas – de associar o antropônimo à ideia de pessoa tonta, pela proximidade sonora tonto/tonho. Essa deformação terminológica também dialoga com o estrabismo do funcionário de Gurgel. Já o nome do pai do ex-comissário, Eleutério, “do latim Eleutheria, ‘liberdade’” e “interpretado também como adjetivo, de Eleutherios, ‘livre’” (Obata, 2002, p.73), acomoda-se com perfeição à imagem da loucura libertadora de Erasmo, que por vezes desponta na obra carreriana, embora não haja indício consistente de que o autor pernambucano tenha escolhido 25 LEAL, César. A dupla face do baralho. Diário de Pernambuco. 24 ago. 1984, p.B-6 esse prenome a partir da origem etimológica. A doença de sêo Eleutério o aproxima de Camilo, o menino “amalucado”, de tal maneira que, ao ver este, Félix imediatamente rememora os episódios de sua vida que envolvem aquele. Desta forma, as sensações contraditórias que o ex-comissário experimenta diante do filho de Maria Dáuria são fruto dos sentimentos ambíguos que nutria pelo pai. Quanto a Camilo, “do etrusco Camillus [...], liberto que serve os sacerdotes nos sacrifícios” (ib., p.48), embora também possua, portanto, em sua acepção, a ideia de liberdade, foi, provavelmente, escolhido ao acaso – o que não se pode afirmar, claro, de modo categórico. O nome da vítima de Félix, que se torna, posteriormente, algoz – Estevão – significa “o coroado” (Oliver, 2005, p.152), adjetivação propícia ao rapaz que passa a ser dono do cinema e prefeito da cidade. Contudo, vale alertar mais uma vez que essas correlações são apenas supositivas. A análise do nome da libidinosa esposa do corno Aluísio Pedra também conduz ao princípio irônico, já que Maria origina-se “do sânscrito Maryâh, lit. ‘a pureza; a virtude; a virgindade’” (Oliver, 2005, p.449). “Dáuria”, no entanto, cujo masculino provém da “contração de de Áurio” (ib., p.128), e denota aquela que é “feita de ouro” (ib., p.350), corresponde adequadamente à mulher ardente, sedutora, de corpo “iluminado e belo” (p.281), capaz de seduzir o comissário. É possível pensar ainda na proximidade sonora com o verbo “dar”, próprio, numa acepção chula, de quem mantém relações sexuais com vários homens. Adelaide, a quem Félix trai, é uma companheira correta e amável, capaz de, em meio à sofreguidão e à ira, experimentar a solidariedade, a compaixão e a ternura (p.288). O nome, então, se acomoda ao íntimo, já que significa “de estirpe nobre” (Oliver, 2005, p.329). Neste caso, no entanto, a nobreza não está associada à ascendência, mas ao caráter. A outro ângulo desse quadrado amoroso – Aluísio Pedra – reúne, na nomeação, elementos aparentemente inconciliáveis. O prenome provém “do germânico Aluysius, procedente de Allwisa, ‘sábio eminente’ ou ‘muito prudente, esperto’” (Obata, 2002, p.24) – contraponto evidente ao enganado marido de Maria Dáuria, assim como o sobrenome Pedra não cabe à personagem cômica, que solicita ao comissário um atestado de corno. No entanto, parece mais interessante salientar que, ao lado de Severino, um dos integrantes do pelotão de segurança, e do Capitão Cincinato Rocha, ele compõe a tríade dos indivíduos cujo nome remete à aspereza, à rudeza. Há também as alcunhas do jumento e do cambista. O primeiro é chamado Prefeito pelos meninos: tentativa de ridicularizar não apenas Félix, que o monta, mas também o próprio representante público da cidade. Já Madruga, envolvido com a jogatina, tem no nome algo de escuso (por conta do mundo de sombras que envolvem a madrugada), mas simultaneamente risível. Nomes e apelidos, portanto, corroboram o diálogo de Carrero com o cômico em A dupla face do baralho. Embora nada haja nos antropônimos Arimatéia e Edvaldo que valha menção face à obra, deve-se destacar que o primeiro (de nome bíblico) – “criminoso terrível e valente” (p.323) –, segura, durante o desfile para anunciar a criação da Guarda Noturna Municipal, a placa do Pelotão de Segurança, e o segundo – “bêbado que passou, mais tarde, a extorquir os comerciantes” (ib.) –, a do Pelotão de Proteção. O menino nu com a tabuleta em branco, simbolizando o Pelotão do Serviço Secreto, completa o quadro circense. Carrero, portanto, mantém o recurso irônico e ensaia seus primeiros passos rumo à crítica social. O próprio carcereiro/comissário, ladrão e assassino, é condecorado chefe da Guarda. No mundo de Santo Antônio do Salgueiro regem, sem ética e moralidade, os mais fortes econômica e politicamente. O riso aqui se extrai do absurdo. É possível acrescentar ainda que um dos seguranças do vice-prefeito se chama Pacífico, caracterizado, com pinceladas de ironia, como destemido, valente e corajoso (p.319). Tereza Tenório, na resenha “Alguns aspectos da ‘Dupla face do Baralho’”, ressalta a absurdidade presente nos papeis sociais das personagens carrerianas nesta “novela”: Acompanhando o Comissário Gurgel, observamos que seu mundo é construído sob o signo do absurdo de Kafka, Camus e Sartre, onde os criminosos sem culpa – os bêbados e as prostitutas, são encurralados no “buque” pestilento, enquanto o torturador-ladrão-parricida é quem detém o poder de polícia daquele microcosmo, o poder de coibir os abusos da criminalidade, aliado a seu alter-ego, Estevão, vítima/parceiro/cúmplice e ao final instrumento do castigo inevitável.26 Vale ainda apontar que, para o matador profissional, o escritor pernambucano escolhe o nome de Henrique, que, sonoramente, por conta do /r/, arranha, fere – configurando o indiciamento direto explicitado no início desse texto. Após o breve estudo da representatividade dos nomes, resta ainda a pesquisa sobre outros elementos indiciadores do íntimo dos seres e/ou da atmosfera da obra, que, por vezes, destacam-se pela recorrência. Há, logo no início da narrativa, a obsessão de Félix pela cor branca: 26 TENÓRIO, Tereza. Alguns aspectos da “Dupla face do baralho” de Raimundo Carrero. Diário de Pernambuco.16 mai. 1986. Caderno Viver, p.B-6 Visto-me todo de branco, imaculado e belo, terno bem engomado, porque quando a dama da foice chega é preciso que a gente esteja alvo, por dentro e por fora. Senão, é complicação certa. [...] Eis-me: meus cabelos são brancos, assim como a barba longa e os bigodes imensos que caem pelos cantos dos lábios [...]. (p.247, grifo nosso) Não resta dúvida de que a coloração da roupa contrasta com a alma pesada, atormentada, do ex-comissário, sobretudo se for considerada a simbologia cristã: O branco, cor iniciadora, passa a ser em sua acepção diurna, a cor da revelação, da graça, da transfiguração que deslumbra e desperta o entendimento, ao mesmo tempo em que o ultrapassa. [...] Essa brancura triunfal só pode aparecer sobre um cume: Seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou, sozinhos, para um lugar retirado num alto monte. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de uma alvura tal como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. (Chevalier; Gheerbrant, 2005, p.144) A veste da pureza, da santidade, é branca, portanto. O contraste não se faz apenas entre a clareza/limpeza da aparência exterior e a escuridão/imundície da realidade interior, mas também pela oposição à dama da foice, comumente trajada de negro. Impressiona como Carrero edificou a “novela” sobre os pilares da dupla face do baralho. Todavia, deve-se considerar também o ponto de vista de Iran Gama que, em “O cárcere xifópago” (titulação imagética apropriada à personagem dúplice), vê na culpa a justificativa para o apego à alvura: Carrero não coloca apenas o seu personagem vestido de branco, veste de branco a dialética da culpa. E veste de branco para que a culpa assome na sua verdadeira tridimensão de espaço, tempo e homem; para que a culpa seja também conscientizada na sua dimensão corpórea: o branco – síntese e centripetismo – colocado não para se contrapor ao negro, ao sujo, ao impuro, mas para imanizar, formando o contraponto onde a culpa assume a sua dialética27. George Lederman, no entanto, amplia a questão ao correlacionar o uso do branco pela personagem e a claridade de determinados espaços a uma ânsia de redenção do comissário: Interessante notar como o novelista se refere ao lado escuro do seu personagem simbolizando todos os pensamentos indesejáveis, o ódio e a claridade, o branco, símbolo de sua tentativa de se redimir através do amor, através de imagens do anoitecer e do alvorecer, de madrugadas, do entardecer, do terno branco do comissário, das celas escuras e sombrias. 27 GAMA, Iran. O cárcere xifópago. Diário de Pernambuco. 5 out. 1984, Caderno Viver, p.B-6 Atrás da aparência do limpo, do terno bem-engomado, da vestimenta branca, imaculada, encontra-se o sentimento oposto da sujeira, da podridão, do lado sombrio e feio do ser humano28. Ao que parece, a cor branca tem inúmeras funcionalidades nesta ficção: ela pode ser um contraponto irônico ao interior maculado, símbolo da culpa, ou ainda, da expectativa de salvação (desejo de purificação). Em seguida, surge o quarto trancado do ex-comissário: Acrescento que moro só. E, no entanto, mantenho o meu quarto fechado à chave. Ele é, pra mim, uma espécie de Sacrário, de Relíquia, para onde convergem todas as minhas ânsias e, é claro, onde durmo – onde devem estar guardados, mais do que guardados, escondidos, protegidos e intocáveis, os meus sonhos. (p.250) Considerando que Félix Gurgel não consegue penetrar nos meandros de seu inconsciente e desvelar as razões de seu comportamento “bipolar”, embora seja comumente lúcido, o quarto impenetrável surge como metáfora dos segredos (e anseios) da alma que não são revelados ao leitor (ao menos de modo explícito) e, por vezes, nem ao próprio comissário. Há ainda o pijama, também alvo, que “não passava de uma mortalha” (p.251), índice da velhice, da inutilidade social, da morte em vida. Ao ver a roupa de dormir na cadeira, o excomissário revela sua angústia: Foi naquele instante, naquele exato momento, que compreendi, com clareza e amargura, o que significa estar para sempre velho, irremediavelmente velho e, além de velho, aposentado. O que quer dizer: além de saco, transformado em estopa. (p.250) O pijama, portanto, se contrapõe à farda caqui do chefe da guarda noturna, que caracteriza o poder e, simultaneamente, o lado patético do filho de sêo Eleutério, frente à ausência de criminosos na cidade, com exceção dos bêbados, das prostitutas e de alguns dos funcionários da segurança do prefeito e do vice, protegidos pelo governo. Com exceção, ainda, claro, do próprio Félix, ladrão e assassino. Deve-se levar em conta também que, quando ocupa a posição de carcereiro e/ou comissário, a personagem exige de si mesmo um comportamento estereotipado, típico do cargo. O choque entre o homem e a função alimenta a bipolaridade do protagonista e resulta em riso, o que faz lembrar o conto machadiano “O espelho”, já que assim como o alferes da Guarda Nacional, o filho de sêo Eleutério também, 28 LEDERMAN, George. Raimundo Carrero – um artesão de sentimentos. Diário de Pernambuco. 17 out. 1986, p.A-7 grosso modo, se torna aquilo que o cargo (ou a vestimenta) representa para os outros e para si mesmo – fato evidenciado, por exemplo, quando afirma: “– Uma autoridade é para ser respeitada e onde já se viu respeito sem pancada?” (p.316). Ou ainda: “uma autoridade deve fingir sempre irritação, preocupado com os Destinos do mundo” (p.274). É preciso considerar ainda a referência à água do açude, “barreta, suja e pouca” (p.252). Aqui, subverte-se a simbologia comumente positiva da água. Ela, no entanto, é responsável pela brisa que corre frente à cadeia, apesar do calor. Nesse açude as mulheres lavam roupas, oferecendo ao carcereiro uma imagem agradável ainda que feita de recortes: “[...] ficava somando nesgas de seios e pernas daquelas lavadeiras feias e trabalhadoras, para ver se conseguia, ao fim do dia, imaginar uma mulher inteira. Inteira e perfeita” (p.252). Tudo nesta obra remete, portanto, à duplicidade: a água é imunda, mas propicia aragem; a visão das mulheres agrada Félix, porque leva, pela composição em mosaico, ao belo, embora elas sejam feias. Essa dialética imundície/frescor tem paralelo evidente com a interioridade dual da personagem, ora carrasca, ora vítima; ora cruel, ora sentimental. Ser e espaço, portanto, mutuamente se imbricam. A casa, por exemplo, surge para Félix como um “museu da solidão e do silêncio” (p.250) em conformidade com sua existência solitária. Há, além disso, na ambientação, uma janela que bate. Para intimidar o jovem Estevão, Félix ordena que ele se cale: O grito foi tão alto e tão estúpido que cheguei a imaginar que dera a ordem, e com a máxima veemência, para eu mesmo me calar. Foi por isso que fiz uma pausa, desconfiado até que um estudante safado e gaiato havia, escondido, gritado por mim. Aquilo aumentou a minha raiva. Uma janela abriu-se, deixando passar o vento frio da noite e da chuva. Abriu-se e tornou a fechar, batendo com força. (p.257) O comissário, em seguida, ordena a prisão de todos os envolvidos no protesto estudantil. Em outra passagem do mesmo episódio, após o rapaz contestar o encarceramento dos amigos, o filho de sêo Eleutério ouve novamente o bater da janela (p.268). Anos depois, o então prefeito Estevão nomeia seu desafeto Chefe da Guarda Noturna Municipal. Diante das risadas dos moleques (ou da memória delas), Félix reflete sobre o presente grego: E, como sendo comissário, rebaixei-me a guarda? Tudo tem a sua hora. O seu momento exato e cortante. Já sentado, e tirando o quepe, fui despertado por uma janela que bateu na sala, tão logo entrei. Lembrei-me, por isso, da janela inquieta que era empurrada pelo vento naquela noite em que prendi Estêvão e seus companheiros. (p.265) Quando o policial se sente culpado por maltratar o jovem estudante também se aproxima da janela “para receber um pouco de vento” (p.271). Dessa maneira, a abertura que separa o dentro e o fora, ora fechada, ora aberta, parece ser sinal da mutabilidade de humores do comissário, assim como – tomando como base a ideia de passagem, de transição, que também suscita – a janela (que bate) simboliza as idas e vindas do destino que tornam o algoz de Estevão vítima do mesmo na gangorra da existência na qual se alternam crueldade e vingança. Do mesmo modo a cadeia que Félix ocupa como marginal será a mesma na qual, anos mais tarde, trabalhará como carcereiro – “o dono da liberdade” (p.333). A cela em que fica preso, humilhado, açoitado, também é a mesma em que humilha e espanca Camilo – configurando uma espécie de eterno retorno da hostilidade (que gera hostilidade). Outro elemento recorrente é a “cegueira” intermitente do filho de sêo Eleutério. Ainda carcereiro, Félix a experimenta como “resultado de uma raiva, quase um ódio animal e trágico, que sentia pelo menino” (p.253). Camilo, alvo do homem irracional, prisioneiro do pathos, é, então, espancado. Após leitura atenta, conclui-se que o afligido protagonista de A dupla face do baralho revive a agonia decorrente da doença do pai quando avista o filho de Maria Dáuria, por ambos apresentaram semelhanças comportamentais e serem, aos olhos de Gurgel, “aleijões da vida”. Quando Zarolho conta ao comissário que Aluísio Pedra afirmou nada ter a tratar com ele, Félix experimenta novamente a “ausência de visão”: “O senhor disse, foi sêo Aluísio? – indaguei, sentindo nascer em mim aquela espécie de cegueira, de terrível força nas entranhas, sempre que me via envolvido em sentimentos contraditórios” (p.291). Obviamente, essa sensação tem paralelo com o delicado abismo da loucura. O protagonista perde a razão, a capacidade de julgamento moral, e age por instinto, escravizado pela força arrebatadora das paixões. Ao reencontrar Camilo trancado no quarto, o amante de Maria Dáuria revela: Tive a impressão de que entrava num túnel que me fazia voltar ao passado e ao pesadelo. Por isso fui acometido, mais uma vez, por aquela espécie de cegueira, a que já tenho me referido e que, um só dia, me atacava duplamente. (p.299). Todavia, é na juventude, quando rouba o sabonete, que Félix experimenta pela primeira vez esse tipo de vertigem: “uma vertigem domada, mistura de angústia e felicidade. Até porque jamais senti, isoladamente, apenas alegria ou somente dor. Uma coisa está sempre contida na outra” (p.330). O artesão Carrero segue, portanto, com fidelidade sua proposta: uma obra erigida sobre os pilares da dualidade. A cegueira nasce da impossibilidade de conciliação de sensações contraditórias; da impossibilidade de síntese das polaridades antagônicas. Félix Gurgel oscila entre o humano e o bestial e vive continuamente com um animal se debatendo em suas entranhas (p.332). Para Fagundes de Menezes, Raimundo Carrero transmite, dolorosa e amargamente – através das sensações do comissário Félix Gurgel – não apenas a dupla face do seu personagem contraditório, simultaneamente agressor e agredido, insolente e humilhado, arbitrário e indefeso, mas toda uma gama de pequenas misérias que afligem e se incorporam à natureza humana29. Outro elemento marcante na obra são os olhos e os olhares. O filho de sêo Eleutério desconfia de tudo e de todos. À sua volta, reconhece inimigos à espreita – típica visão de quem, imerso em culpa, beira o abismo da loucura: “Nos últimos meses, porém, tenho vivido em graves conflitos. Depois que deixei a Polícia, percebo como as pessoas evitam-me e, mais que isso, observo olhares ameaçadores [...]”. (p.249). Sua atitude quase sempre hostil impede ainda que os outros retruquem, ficando a cargo desses olhares a revelação sobre angústias e ressentimentos. Félix, por exemplo, descreve o suplício do jovem Estevão na delegacia: Humilhado, muito mais do que humilhado, derrotado e abatido, os cantos dos lábios trêmulos, a respiração presa na garganta, e com uma expressão indizivelmente aflita e perplexa, perfilou o corpo magro e delicado. Olhavame, olhava-me com enorme mágoa. (p.256) Também o pai, após a doença, e Camilo não falam. Então, apenas as expressões da boca, em sorrisos, risos e gargalhadas, e dos olhos indiciam o que se passa na alma, sob a perspectiva, evidentemente, do narrador (e/ou da personagem), que as interpreta. O excarcereiro afirma ainda que os olhos do “menino amalucado” na prisão eram “fachos de agonia e sofrimento” (p.254). Félix Gurgel – é preciso destacar – observa atentamente todos que o cercam e, em uma postura defensiva, quase sempre os vê como potenciais algozes. O homem de confiança do capitão Cincinato Rocha procura, por exemplo, apreender as intenções do patrão: Procurei desvendar o segredo nos seus olhos que, no entanto, estavam enevoados e frios. Gosto do mistério dos olhos: é por eles que se conhece uma pessoa, têm fundos significados, mágicas e revelação. (p.342-3) Após o assassinato do pai, Félix experimenta a culpa metaforizada na face do filho de Deus: “Muitas vezes tentei entrar na igreja, não conseguia. Parecia que os santos, todos os 29 MENEZES, Fagundes de. Conflito de sentimento. Diário de Pernambuco. 1 nov. 1984, p.A-7 santos, olhavam-me com desprezo. Terríveis eram os olhos de Cristo, o peito ensangüentado” (p.342). Assim como em Bernarda, portanto, a personagem vê, nas imagens sagradas, sua condenação. A infinidade de olhares, afligidos, magoados, amedrontados, condenatórios contribui, assim, de modo intenso, na criação da atmosfera agônica, tipicamente carreriana. Ao final da “novela” os olhos dos pássaros, de Camilo, de sêo Eleutério, de Maria Dáuria, de Estêvão, de Aluísio Pedra, de Antonho, se interpenetram na débil mente do ex-comissário, atormentada pela culpa, compondo um quadro de pesadelo surrealista: Insatisfeito, com a outra mão também sufoco a ave azul, o macho, o procriador. Não estão piando, gritam – gritos lancinantes e terríveis. É como se substituíssem o desespero de Camilo. Parecem feitos de carne humana, os olhos inquietos – os olhos que têm me perseguido sempre. Semelhantes aos de Estevão quando ainda jovem, aos de Camilo esgazeados e tristes, aos de Maria Dáuria, voluptuosos e irônicos, aos de Aluísio Pedra, ofendidos e martirizados, aos do soldado Antonho, zarolho e feio, aos de meu pai, doces e magoados. (p.346-7). Pode-se afirmar que, em A dupla face do baralho, o olhar conforma-se à simbologia proposta por Chevalier e Gheerbrant, na qual ele aparece como “instrumento de uma revelação. Mais ainda, é um reator e um revelador recíproco de quem olha e de quem é olhado” (2005, p.653). Pelos olhares do outro, o ex-comissário vê (e condena) a si mesmo. E é com um último olhar que Félix Gurgel encerra suas confissões: “Os olhos de Camilo espiam-me de dentro dos pássaros” (p.348). Tudo, portanto, se confunde no íntimo do protagonista: a relação dual de amor e ódio pelo pai se volta para Camilo, por conta da semelhança visual e comportamental. Do mesmo modo, os pássaros também se tornam vítimas desses sentimentos contraditórios pela forte ligação que possuem com o menino amalucado. Todos são, de certa forma, fantasmas do pai que o afligem permanentemente. Vale advertir que o narrador, ao fim do relato, não revela o destino de Maria Dáuria e do filho de Aluísio Pedra. Apenas sugere, constituindo um enigma, que eles não estão mais próximos: “Tenho diante de mim a gaiola com os periquitos – pequenos, frágeis, alegres. Herdei-os todos de Camilo [...]” (p.346) / “É impossível acompanhar o corpo de Maria Dáuria transformando-se em ave” (p.347) / “Seria melhor que Camilo estivesse aqui para ajudar-me.” (p.348). O ex-carcereiro, em face dos olhares que o perseguem, tenta em vão sofregamente fechar os olhos – possível alusão à impossibilidade de se apartar do passado, por ele edificado, “de gritos, gemidos, golfadas de sangue, palavras entrecortadas, implorações e até de sorrisos” (p.255). Os olhos abertos metaforizam, portanto, a consciência atormentada: visão fantasmagórica. O penúltimo item deste tópico são as sombras – até agora o elemento mais corrente na prosa de Raimundo Carrero. Elas não correspondem adequadamente às da caverna platônica, símbolo de uma visão contrária à verdade, mas compartilha com elas a acepção de caráter pejorativo ou, ao menos, por vezes, a ideia de obstrução ao conhecimento, não das coisas, como em A República, mas do próprio homem; do que se passa no íntimo do ser30. No entanto, o universo ensombrado da obra carreriana dialoga, sobretudo, com um mundo dual, em que luz e trevas se fundem, indissociáveis. Se sombra é a “obscuridade produzida pela interceptação dos raios luminosos por um corpo opaco”31, ela carrega em si uma composição dual. Roberto Casati, embora procure, em A descoberta da sombra, analisar cientificamente esse elemento e encontrar, enfim, sua positividade, reconhece que as sombras “andaram desde sempre envoltas na suspeita e no medo” (2001, p.12). Apesar de seu longo ensaio, num primeiro instante, não parecer material que contribuiria para o entendimento da prosa carreriana, ele leva a refletir sobre o lado útil da sombra, pela insistência nesse ponto. Em A dupla face do baralho, sem dúvida, pode-se afirmar que, de fato, e contraditoriamente, a sombra lança luz sobre a “novela” e a natureza das personagens. Casati tem razão ao afirmar (embora por motivos diversos dos que serão aqui apontados), em oposição ao pensamento platônico, que “pega pelo lado certo, as sombras se revelam um magnífico instrumento de conhecimento” (ib.). Quando o ex-comissário, por exemplo, rememora o momento em que abandonou definitivamente a cena social e política e perdeu o poder, faz uma correlação com a paisagem sombria: No dia em que fui aposentado cheguei em casa – parece que de propósito – quando a claridade amarela da tarde começava a se dissolver lerdamente, para ceder lugar ao jogo de sombras que vai se insinuando no fazer e refazer constantes, até se tornar noite. (p.249) Logo, ambiente e ser se relacionam. As sombras são índices – elementos, portanto, iluminadores – da decrepitude física e moral do protagonista. Metáfora ainda da agônica velhice (fim de tarde) que caminha para a morte (noite eterna). Ele também agora se vê como sombra, “dessas sombras de árvores desfolhadas que não podem nem mesmo 30 PLATÃO. “Livro VII”. In: ____. A República. São Paulo: Martin Claret, 2000. HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 1.0. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 31 oferecer a alegria do repouso” (p.251). Ser sombra é, portanto, não possuir existência concreta. A especificação “de árvores desfolhadas” reforça ainda o estado de decadência. Para acentuar a atmosfera tormentosa, enlaça-se a esse universo ensombrado o “novelo sutil da solidão” (p.251) dos “que sabem, convictos, que o seu grito não será ouvido” (ib.). Quando o comissário carrega o rosto de sombras (p.259) tem a intenção de intimidar pelo medo e pela dúvida. E, quando não compreende de modo integral as intenções dos estudantes que o ridicularizavam, Félix avalia: “apesar das sombras, vi perplexidade, indiferença e confusão nos olhos” (p.263). É também analisando as sombras que o excomissário disseca a interioridade de Estevão durante o interrogatório. O contorno acentuadamente sombrio na face do líder estudantil é índice de terror e ódio. Do contrário, quando ele se atenua, reflete a recuperação pelo rapaz da coragem e de alguma tranquilidade. Assim, esse movimento oscilatório também representa o duelo entre o comissário e o jovem rebelde. Quando o poder está nas mãos do primeiro, as sombras tomam o rosto do segundo; quando o segundo consegue contra-atacar, na medida do possível, as sombras em sua face são abrandadas. Ao caracterizar o corno Aluísio Pedra, que parece ter “mais de brisa do que de tempestade” (p.291), Félix reconhece um tipo, que deprecia (ao associá-lo à sombra) e simultaneamente engrandece, ao reconhecer que mesmo as sombras podem mudar o rumo dos ventos: Estava diante de um enigma. Um enigma indecifrável como é todo aquele vivente que se arrasta pelas estradas do mundo sem ser percebido, sem ser visto ou ouvido e que, no entanto, sendo apenas uma sombra, é capaz de modificar a direção dos ventos. (p.291) Quando surgem os primeiros sinais da doença, sêo Eleutério passa a ser acompanhado na casa pelas sombras, índices, portanto, do futuro amargurado de toda a família. São elas que sugerem a Félix uma imagem da pequenez humana: Aliás, o que mais me encanta nos candeeiros é essa mágica em criar imensas sombras nas paredes, sombras que se movem, crescem e diminuem, parecendo ser o homem apenas um sinal que desliza pela noite. (p.302) De acordo com a primeira definição de “sombra” no dicionário de símbolos, ela é “de um lado, o que se opõe à luz; é, de outro lado, a própria imagem das coisas fugidias, irreais e mutantes” (Chevalier; Gheerbrant, 2005, p.842). No universo carreriano, ela pode de fato fazer contraponto ao ambiente claro, próprio dos lugares abertos nos quais as lavadeiras trabalham e os meninos brincam, como salienta Tereza Tenório ao analisar os espaços interiores: Santo Antonio do Salgueiro é povoado por seres que se movimentam angustiados, perseguidos pelo medo, pela miséria, pela fome, pela solidão, pela morte. Nos interiores, as personagens são destituídas de voz e rosto [...], são personagens estáticas, ao contrário do oposto onde, em meio à dor e ao sofrimento, há um sopro de vida que se renova com a sensualidade das “lavadeiras feias e trabalhadoras” e do menino amalucado. Por fim, nos espaços fechados, o clima é da densidade pestilencial de uma potência maléfica32. Todavia, ela é também indicadora do que se passa no íntimo dos seres ou mesmo da impossibilidade de apreensão da interioridade das personagens. De certo modo, portanto, as sombras na prosa de Raimundo Carrero revelam mais do que encobrem e se amoldam perfeitamente à proposta de duplicidade presente na titulação: Félix Gurgel é ensombrado, porque reúne em si luz e escuridão, ainda que confesse, já velho, bem velho, ao fazer o balanço de sua existência, que esteve sempre mais próximo das trevas (p.329). O último elemento analisado neste tópico são os pássaros, únicos companheiros do excomissário que, no entanto, não cantavam por conta da sua presença (p.250). Ele tem plena consciência do motivo principal que o faz mantê-los na casa: “os únicos presos sobre os quais ainda pesam o meu poder e a minha autoridade: os passarinhos” (p.258). Símbolos de liberdade, eles são encarcerados e complementam o universo narrativo atrelado à ideia de prisão. Félix precisa deles para, aposentado, manter seu papel social. No entanto, como tudo é dual nesta narrativa, não se pode negar que o filho de sêo Eleutério aprecia a beleza e o canto das aves: “Fechava os olhos para escutar a clareza do cantar dos passarinhos – e quando penso em passarinhos adivinho cores, penas diversas, reunião de maravilhas” (p.261). O “menino amalucado”, por quem o amante de Maria Dáuria nutria algum bom sentimento, e os pássaros eram a possibilidade de redenção do comissário que ele, no entanto, desperdiça. Félix Gurgel amava e odiava o pai doente e parece ver em Camilo, pela semelhança física e comportamental, a chance de se redimir. Todavia, ele novamente fracassa por experimentar sentimentos também contraditórios. O filho de Aluísio Pedra adorava as aves e tinha com elas bastante afinidade. Curiosamente, as personagens carrerianas envolvidas com pássaros ou beiram a loucura ou possuem um temperamento mais ameno, como o coronel Pedrão Militão de A história de Bernarda Soledade. Vale atentar: a associação que o 32 Op.cit. ex-comissário faz entre sêo Eleutério e o menino é tão intensa que a narrativa (a confissão) alterna, em seu percurso, cada vez de modo mais veloz (ou mais fragmentado), os episódios que envolvem um e outro. Félix Gurgel, dessa maneira, por ter uma relação de afinidade com Camilo, caça com ele passarinhos e, por experimentar, ao mesmo tempo, uma profunda aversão pelo filho de Maria Dáuria, rouba suas aves e, em seguida, as esmaga e enterra. O comissário, portanto, “mata tudo o que amou na sua vida. Destrói suas ligações afetivas, destrói sua família, seus pássaros e a possibilidade de amar” 33. O inferno de Félix (e, por extensão, do humano) é a sua dualidade: o que sente pelo pai, e se estende, em seguida, a Camilo e aos pássaros, possui dois pólos, um negativo e outro positivo. De acordo com Tereza Tenório, para escapar dessa potência maléfica, o Comissário Félix Gurgel, num exercício lúdico de retorno ao tempo passado, vai caçar passarinho junto com Camilo, o menino amalucado que uma vez fora alvo de sua violência e novamente o será: o agora “pai” adotivo descobre uma forma de prazer sadomasoquista torturando psicologicamente Camilo ao roubar-lhe os passarinhos após as caçadas34. Essa correlação memorialística se comprova ao final da “novela” quando o excomissário sentencia que, para receber a morte, precisa se desfazer “de tudo aquilo que provoca lembranças e agonias” (p.346). E, então, decide começar pela herança deixada pelo “menino amalucado”. Na mente transtornada do filho de sêo Eleutério pessoas e aves se mesclam. Os seios de Maria Dáuria ganham asas (p.347); os olhos de Camilo o espiam de dentro dos pássaros (p.348). A loucura parece finalmente se apossar de modo pleno do excomissário. Lederman observa que num dos trechos mais trágicos da novela, Félix Gurgel decepa a cabeça de um dos pássaros que tanto amava e tenta colocá-la no corpo de outro pássaro também degolado, sem, no entanto, conseguir. Este ser desintegrado pelo seu mundo interior quer simbolicamente colar os pedaços do seu eu fragmentado, procurar sua perdida identidade, reconhecer seu próprio rosto em algum dos pássaros, mas é inútil. Sente-se impotente para juntar os fragmentos deste “eu” tão dividido pelo seu amor/ódio, sua raiva/piedade, seu crime, sua culpa, pelos deuses e demônios do seu mundo inconsciente35. 33 LEDERMAN, George. Raimundo Carrero – um artesão de sentimentos. Diário de Pernambuco. 17 out. 1986, p.A-7 34 Op.cit. 35 Op.cit. Félix Gurgel, sujo de sangue, decide banhar-se e vestir-se de branco, última e inútil tentativa de limpar corpo e alma. Seu inferno, seu cárcere, é não ter como escapar de si mesmo. Algoz e vítima encerrados na agonizante dupla face do baralho. 5 Sombra severa 5.1 A obra secular de Raimundo Carrero [...] o passado retornando é sempre presente: a esfera não tem princípios nem lados, infinita no seu começo e no seu fim [...] (Carrero, 2008, p.65) Carlos Nejar, em História da literatura brasileira, após expor os pontos centrais da prosa de Raimundo Carrero, um dos “grandes nomes na ficção surgidos após a década de 70” (2011, p.900), ao lado de Raduan Nassar, Lya Luft, Caio Fernando Abreu, João Gilberto Noll, Bernardo Carvalho e Silviano Santiago, dentre outros, afirma: as duas maiores realizações estéticas de Carrero, a nosso ver, são os romances – Sombra severa (1986), tendo capítulos com estampas de cartas e o texto, um jogo de cartas; e As sombrias ruínas da alma (1999) [...] (ib., p.907). De fato o autor pernambucano cria um baralho original, mescla de referências da cartomancia, da taromancia e da numerologia, utilizado por uma das personagens na tentativa de compreender sua sorte. As cartas, portanto, estão entremeadas: as comuns – compostas pelos naipes ouros, copas, espadas e paus – se misturam a peças ilustradas, próprias de jogos de adivinhação. Este baralho embaralhado se entrelaça à trama textual não apenas abrindo capítulos – conforme salienta Nejar – e indiciando características dos seres ficcionais e suas ações, mas como parte integrante do próprio texto, conferindo-lhe sentido, sobretudo através das leituras iconográficas realizadas por Judas, o bruxo, e pelo leitor/pesquisador. Todavia, o entrançamento dos fios que compõem esta narrativa é ainda mais complexo: quase todos os seus integrantes possuem nomes bíblicos e/ou suas histórias têm como base algum episódio do texto sagrado. Esse diálogo intertextual por si só seria capaz de enriquecer a obra, já que a ficção de certa maneira se duplica. Carrero, no entanto, consegue acentuar a gama de tons de sua prosa ao inverter antropônimos e circunstâncias dos Testamentos. Assim, por exemplo, o irmão de Abel, na trama carreriana, apesar de invejá-lo e matá-lo como ocorre no Gênesis, se chama Judas e não Caim. Logo, neste caso, o diálogo se dá não apenas entre a prosa do pernambucano e determinada passagem das escrituras, mas entre Sombra severa e os trechos relacionados a Caim/Abel e Judas/Cristo. Deve-se ainda atentar que religiosidade e ocultismo (o universo cristão e pagão) também se entrelaçam. Raimundo Carrero, portanto, embaralha o jogo diversas vezes, abastecendo o texto com uma multiplicidade de sentidos assustadora para uma obra de pouco mais de cem páginas. O presente tópico procura, então, “desembaralhar” parcialmente a trama pela dissecação das referências bíblicas que dão corpo ao romance carreriano. A história central de Sombra severa é composta por três personagens principais: os irmãos, Judas, (o mais novo) e Abel, e o vértice do triângulo, Dina, filha de Sara e Adão. No primeiro capítulo, Abel rapta a amada e a leva para a fazenda de Jati. Cientes de que logo os Florêncio darão falta da irmã e desejarão vingança, Judas elabora um plano: simular a morte do irmão. Enquanto o pseudodefunto Abel jaz em seu caixão, Judas o trai ao violentar a filha de Sara. Inácio e Jordão, ignorando o estupro e satisfeitos com a morte do responsável pela vergonha da família, exigem apenas o casamento de Judas e Dina, já que ela não mais poderia retornar a casa. O traidor aguarda o duelo com o irmão, mas este, embora irado e ferido, nada faz. Judas mata, então, a punhaladas, Abel. Na segunda metade da obra, o assassino expia sua culpa e procura compreender a origem de seu ódio e a razão de seu ato vil. Vem à tona, pela memória, a infância dos meninos em Jati: a suposta preferência que o pai tem pelo filho mais velho; o sorriso, o olhar, a beleza e a destreza do irmão – estímulos à inveja e indicadores da preferência divina; e o dia em que o padrinho Teodoro presenteia o afilhado com um carneiro, que tem a garganta cortada e é queimado vivo por Judas na pedra no alto do monte. A narrativa sugere no último capítulo que Judas falece encerrado no quarto. São estes os elementos indiciadores: a visão dos anjos guerreiros, “cada um com uma espada flamejante na mão” (Carrero, 2008, p.125)36, possíveis anunciadores da morte e da penitência; a substituição no texto do pretérito perfeito pelo perfeito do verbo poder (“Judas não pôde – pode – nunca revelar se foi um sonho [...]” (ib.)) e a presença das duas cruzes nas cartas, prováveis símbolos do óbito de ambos os irmãos. Ormindo Pires Filho corrobora o ponto de vista ao afirmar que “o próprio desespero de Judas, seu próprio lento e inexorável suicídio por inanição pode ser um sinal de arrependimento e de penitência [...]”37. E quem são Caim (e Judas), Abel e Dina nos textos sagrados? Caim é lavrador e irmão mais velho de Abel, pastor de ovelhas. Para presentear o Senhor, o primeiro oferece um fruto da terra e o segundo as “primícias de seu rebanho” (Genesis 4, 4). Mas Deus aprecia a oferta do filho mais novo de Adão e desgosta do regalo de Caim. Este, tomado pela inveja, mata o irmão. O Senhor condena, assim, o primeiro homicida a ser errante pela terra. O assassino 36 CARRERO, Raimundo. Sombra severa. São Paulo: Iluminuras, 2008. Nas próximas referências a esta obra, será indicado apenas o número da página. 37 PIRES FILHO, Ormindo. Elementos religiosos em Raimundo Carrero, Diário de Pernambuco, Recife, 5 ago. 1988, Caderno Viver, p.B-6 lamenta sua punição (“[...] É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo” (Gênesis 4,13)) e teme a sua morte (“[...] quem comigo se encontrar me matará” (Gênesis 4,14)), mas não há nenhum sinal de seu remorso. Já o Judas (Caim) de Carrero é corroído pela culpa. O peso na alma atinge o corpo insone e derrotado: “O corpo já doía. Para todos os lados que se movimentasse, as dores voltavam. Já não era mais apenas o arrependimento. Aparecia-lhe a dor física. Insuportável. Tonteiras, náuseas, cansaço” (p.123). Todavia, no evangelho de Mateus, encontra-se o infiel compungido que, como a personagem carreriana, escolhe para si a morte: (“Pequei, traindo sangue inocente. [...]” / “Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se” (Mateus, 27,4.5)). Carrero, com a substituição dos nomes, consegue manter o diálogo com o antropônimo escolhido e o aparentemente renegado e nutrir a narrativa com as referências de ambos. Agora, o que há de comum entre Caim e Judas? Ambos são traidores; ambos tiveram talvez a inveja como motor de suas ações; ambos se tornaram homicidas, pois, embora o apóstolo não tenha matado Cristo com as próprias mãos, foi metaforicamente seu assassino; e, principalmente, ambos se rebelaram contra o poder divino. No entanto, na Bíblia Católica oficial, nem Caim nem Judas explicitam as razões que os levaram ao crime. Carrero parece, no remoer incessante de sua personagem torturada, levantar não apenas os supostos agentes motivadores do assassinato de Abel por Judas, mas (e, talvez, sobretudo) questionar implicitamente as causas das ações do filho de Adão e do apóstolo de Cristo. A pergunta “de quem é de fato a culpa?” subjaz na ficção carreriana, ao mesmo tempo em que, na inquirição constante de Judas sobre a origem de sua inveja e de seu ódio, “segredo dos antepassados” (p.64), se encontra também subentendida a indagação: “É possível escapar ao destino de ser humano?”. Uma interpretação plausível das escrituras se fundamenta na ideia de que Caim não matou Abel por ciúmes, ou ao menos não somente por este sentimento, mas por desejar punir Deus. Ele se revolta por todos aqueles que não aceitam esse mistério de predestinação, que divide o homem em rejeitados e eleitos, todos aqueles que não compreendem o desprezo de Deus pelas grandezas terrenas e sua predileção pelos humildes. É contra essa ordem de Deus que ele se revolta quando abre com uma pedra afiada a garganta de Abel, o favorito do céu. (Chevalier; Gheerbrant, 2005, p. 162-3). Sob essa perspectiva, pode-se afirmar que, se Deus pune o homem com a finitude (“tu és pó e ao pó retornarás” (Gênesis, 3,19) – diz a Adão), Caim, o primeiro homicida, mata Abel para punir Deus. Com o crime, o mundo conhece a morte, a amargura do “último fruto da árvore da sabedoria”. Do mesmo modo, o Judas carreriano compreende, ao iniciar sua reveladora descida aos meandros da infância, que “desvendar os mistérios já era o começo do castigo. Há pessoas que nascem para ser castigadas” (p.65). Depreende-se, portanto, dessas sentenças, três proposições intrínsecas: conhecer é sofrer; há um Destino do qual não se pode fugir e, se não é possível fugir do Destino (não existe livre-arbítrio), o culpado é, de certo modo, inocente. O Ato dos Apóstolos parece corroborar a tese de que o traidor não teve escolha: “Convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus” (Atos, 1,16). Numa obstinada e agônica tentativa de desvendar as razões dos crimes, estupro e assassinato, (e do ódio pelo irmão), e também de eximir-se da culpa, Judas responsabiliza: 1. Os pais e, sobretudo, o pai (possível metáfora para o Criador): “Abel [...] sempre recebia os melhores cuidados” (p.65) / “O pai, tão casmurro, brincava com o filho [Abel], o que não reservava para Judas (p.65). Deve-se destacar que, embora a fala seja do narrador heterodiegético, o ponto de vista é de Judas. 2. Abel, por sua beleza e vivacidade, e por ter trazido Dina a casa ciente de seu amor por ela: “Foi o sorriso de Abel [...]” (p.67) / “[...] o sorriso ou o olhar?” (p.68) / “A culpa fora de Abel, ele que trouxera Dina, que sabia, sabia, gostava dela bem de longe” (p.43). 3. Dina, por tê-lo enfeitiçado: “Mas as mulheres, como aquela, têm feitiço. Fosse outra, talvez nem tivesse olhos para vê-la” (ib.). 4. O Destino, por exterminar a escolha: “[...] estava certo de que as ações não nasciam de sua alma atormentada, mas das emboscadas que o segredo sabe preparar” (p.45). / “[...] o mundo arrebentara as portas para o homem com o Pecado” (p.68). A recorrente imagem da serpente – em clara referência ao episódio da queda – como causadora de seus infortúnios, também de certa maneira surge como atenuante de responsabilidade: “a serpente enrodilhada no coração, esperando a hora maldita do bote” (p.68). Há algo ainda de eterno retorno do qual não se pode escapar na indagação: “Matar um irmão não era como matar todos os irmãos juntos?” (p.117) 5. Deus, por tê-lo abandonado e por preferir Abel: O homem conhece Deus, e embora O conheça e O venere, não consegue escapar do visgo atraente do inferno. E quando Deus o abandona, às vezes por um instante, às vezes por descuido, ou cansado pela renitência do Pecado, não pode escapar ao castigo. Seria castigo, castigo mesmo? Merecia? Deus o esquecera por um instante, quem sabe cuidando de Abel, e agora impunha o sofrimento. Não merecia. Era o que não merecia, porque não tinha culpa dos descuidos do Senhor (p.64). Ormindo Pires Filho, em artigo publicado em 1988 no Diário de Pernambuco, afirma que, de certo modo, o livro de Carrero é “querigmático”38. No entanto, e embora o próprio autor pernambucano não se canse de reafirmar sua religiosidade, a rebeldia de suas personagens (ainda que quase sempre punidas), parece sempre despertar a simpatia do leitor porque este conhece a fundo os tormentos de suas almas e as razões de seus crimes, suas dores e suas terríveis penitências. Carrero não alerta: cumpram as escrituras para que não sejam castigados. Ao contrário, o ficcionista reconhece a angústia de viver sobre o tênue fio que separa bem e mal; o sofrimento pela incapacidade de o indivíduo ser plenamente bom. A condição humana, múltipla e contraditória, é o Destino do qual não se pode apartar. Em entrevista, sobre a questão do pecado em Sombra severa, Carrero responde que seu romance é uma metáfora da transgressão humana. E uma metáfora ainda maior do escritor, do criador enfim, que se rebela contra o mundo e, no entanto, é seu melhor amigo. Ou seja, Judas estupra a noiva do irmão, Abel, mata-o em seguida e é capaz de sofrer por ele, porque só ele é capaz de amá-lo. (Pereira, 2009, p.82) Já Carlos Nejar defende que o reino de Carrero é o sertão, que tende sempre ao dramático e punitivo, sob os grilhões de inarredável culpa. Pessimista ao niilismo, é rude e até agressivo, como se a felicidade fosse amargura. [...] É um criador de personagens que se entretecem nos extremos, seja do amor, seja do desespero. (2011, p.907) Outro elemento tanto presente na narrativa bíblica quanto na carreriana é o carneiro. Enquanto, no Genesis, Abel presenteia o Senhor com “as primícias de seu rebanho”, na ficção, é Teodoro, “do grego Theo-doros, dom, dádiva de Deus” (Obata, 2002, p.183), que carrega no nome a imagem “daquele que adora” ou é adorado, quem presenteia Abel com o animal – chamado de Jasmim pela mãe dos meninos, provavelmente pela cor das flores desta espécie, em geral, brancas como a lã. Logo, na Bíblia, Abel dá o presente a Deus e, em Sombra severa, Abel recebe o presente (dom, dádiva) de Deus, o que se verifica através do antropônimo Teodoro. Judas o odeia porque ele é metaforicamente a encarnação da preferência divina por seu irmão. Em outro instante narrativo, no entanto, Judas parece lamentar que Teodoro seja padrinho de Abel e não seu, ou seja, que a “dádiva” não lhe 38 Op. Cit. pertença: “Na verdade, para ser sincero, às vezes admirava o padrinho Teodoro. O porte de beleza. Não lembra que sozinho, imitando o riso, dizia: padrinho Teodoro?” (p.70) E, se, no texto sagrado, Caim – ferido em sua vaidade pelo Senhor não ter se agraciado com sua oferenda – corta a garganta do irmão, na prosa carreriana, Judas, invejando Abel por ter recebido o presente, sacrifica o carneiro, na pedra sobre o monte, também com um talho no pescoço e o queima vivo. Sobrepondo as duas narrativas, é possível verificar que o animal é simbolicamente o manso Abel, a quem Judas, portanto, deseja matar desde a infância. Essa passagem parece dialogar ainda com a subida do monte por Moisés para escrever os mandamentos na tábua de pedra. Nesse instante, “o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel” (Êxodo 24,17). Quando o menino Judas chega a casa, perguntam-lhe se ele “vira o fogo” (p.76). No monte bíblico, animais foram servidos em holocausto, prática comum à época e, em Exôdos, por exemplo, o Senhor ordena o derramamento de sangue de animais e, como sacrifício pelo pecado, que sejam queimadas as carnes do novilho sobre o altar. Gaarder, Hellern e Notaker, em O livro das religiões, quanto aos sacrifícios de expiação, afirmam que, na maioria das crenças religiosas, se um indivíduo cometeu um crime contra os deuses e despertou sua ira, deve ser punido. Para apaziguar os deuses e evitar uma vingança, ele pode fazer um sacrifício de expiação. A oferenda – por exemplo, um animal sacrificial – substitui o culpado e é punida no lugar dele. (2005, p.31) Mas qual o significado desses entrelaçamentos? Assim como o tio Lourenço, em As sementes do sol, profana os rituais sagrados, Judas macula, neste ato mimético, as passagens bíblicas com as quais o texto dialoga. O holocausto era um pedido de perdão; em Sombra severa, ele é o próprio pecado: não é presente, oferenda, mas afronta. Do mesmo modo que Caim afrontou Deus matando Abel. O irmão de Judas, aliás, morre e ressuscita inúmeras vezes: na infância é metaforicamente assassinado com um golpe na garganta e queimado vivo (quem morre na verdade é o carneiro); após raptar a amada, simula a própria morte (caíra de um cavalo, diz Judas aos irmãos Florêncio) e percebe o risco de seu ato: “Fingir a morte não é atraí-la?” (p.24); depois da ressurreição do reino do fingimento, morre de fato, ratificando o presságio, com dois golpes no peito e, então, renasce em Dina: lenta gestação que se completa ao final da narrativa quando ela se veste com as roupas brancas de Abel, corta os cabelos e monta o cavalo branco. A história que corre em paralelo (e, obviamente, entrelaçada à principal) refere-se a Sara e Adão, pais de Dina. Ambos também fugiram para ficar juntos e os irmãos da mulher (assim como os Florêncio, “filhos da fuga” (p.84), vão atrás de Dina anos mais tarde) os perseguem. Eles se refugiam numa hospedaria e, para despistar, ocupam quartos separados e se dizem parentes. Quando os rapazes perguntam pelo casal ao dono do estabelecimento, este afirma que só irmãos ocupam o local. Após saberem a verdade, crêem que o proprietário mentira e, então, o matam. Surpreendentemente, há neste episódio vários entrecruzamentos com os textos sagrados. Diná (Dina) surge no Genesis; é filha de Jacó e Lia, violentada por Siquém, que por ela posteriormente se apaixona e com ela deseja se casar. Apesar de os irmãos de Diná, Simeão e Levi, terem aparentemente concordado com a união, matam o estuprador e seu pai. Na narrativa carrerina, Dina (Diná) também é violada, mas por Judas. Este, embora a rejeite após o ato e demonstre nojo pela amada de Abel, afirma em aparente contradição emparelhando-se com Sequém: “Agora, porém, que o desejo se transformava em paixão, perdia a força” (p.110). No entanto, os irmãos Inácio e Jordão, em Sombra severa, sequer tomam ciência do ato criminoso de Judas. Outro ponto de toque: Sara e Adão só conseguiram gerar filhos bem velhos (do mesmo modo que a Sara e o Abraão bíblicos), após a visita de três ciganos. A diferença é que as personagens do Gênesis recebem dois anjos e o Senhor (e não ciganos), anunciadores da futura gestação. Novamente, na prosa de Carrero, a sacralidade é substituída pelo ocultismo. Ambas as Saras, ouvindo a conversa escondidas, riem da “profecia”, por não acreditarem mais em sua capacidade de procriar, e são criticadas. Há ainda a referência à velhice dos pais de Dina durante sua cerimônia de casamento em diálogo com o fato de que o casal bíblico vive por mais de um século. E as alusões não findam: no Antigo Testamento, Abraão se diz irmão de Sara para evitar que homens embevecidos com a beleza da mulher o matem; já na prosa do pernambucano, como já apontado, o casal também utiliza o mesmo artifício, mas para despistar os perseguidores. No texto sagrado, Abimeleque quase morre por conta da mentira, ameaçado pelo Senhor por tentar coabitar com a esposa de Abraão e, em Sombra severa, o dono da hospedaria é realmente assassinado. Aliás, deve-se notar que, na Bíblia, Sara e seu esposo em verdade não mentem, pois de fato são meio irmãos. Eles, portanto, apenas omitem que se uniram em matrimônio. Carrero elabora uma narrativa na qual, sobretudo pela intertextualidade, as personagens se duplicam, formando dicotomias bastante significativas: Dina é (e não é) Diná; Judas é (e não é Caim), Adão é (e não é) Abraão, Abel é (e não é) o carneiro sacrificado e é (e não é) Cristo, o Cordeiro de Deus oferecido em holocausto; Jordão e Ismael são (e não são) Simeão e Levi. Pode-se ainda dizer que Dina é (e não é) Sara, se for considerado o destino que se repete, promovendo uma fusão de personas. Todavia, qual o principal efeito de sentido dessa intertextualidade? A ideia-base se encontra evidenciada já na epígrafe principal, retirada da obra José e seus irmãos, de Thomas Mann. No trecho abaixo é possível verificar a concepção de uma espécie de eterna correspondência gerada por um movimento cíclico e contínuo: E aqui, na verdade, nossa narração vem desembocar em mistérios e nossos pontos de referência se perdem no sem-fim do passado, onde toda origem se trai, revelando ser apenas uma parada aparente e uma meta inexpressiva, misteriosa por sua própria natureza, uma vez que esta não se assemelha a uma linha, mas a uma esfera. Mas a esfera consiste em correspondência e reintegração [...] Pode-se encontrar no texto carreriano a mesma tese: “[...] o passado retornando é sempre presente: a esfera não tem princípios nem lados, infinita no seu começo e no seu fim [...]” (p.65). Nas inúmeras vezes em que Judas se pergunta “Onde estaria o começo?” (p.64), a busca não recua apenas até sua infância, mas simbolicamente, pelo entrecruzamento com o texto sagrado, ao começo de toda a história humana, assim como a afirmação de Dina, “A fuga vinha do sangue” (p.20) – embora faça referência ao fato de a mãe (Sara) também ter abandonado o lar – retrocede dialogicamente ao Êxodo, com a fuga de Sarai e Abraão (e de todo um povo) para a terra prometida. Permanece a pergunta: mas o que se repete? Os atos abomináveis movidos pelas paixões da alma e a atormentadora culpa deles decorrente, que com frequência leva à loucura ou à morte. Não importa o passar ininterrupto e veloz dos tempos, porque a linha não é reta caracterizando uma escala evolutiva. O homem, diz Carrero, é sempre o mesmo (o que provavelmente justifica o fato de a “localização” temporal das narrativas do autor pernambucano ser arcaizante): contraditório, múltiplo e – por que não afirmar? – pecador, transgressor incorrigível. Nas narrativas analisadas até então, encontram-se três fratricídios: Anrique mata Pedro Militão (A história de Bernarda Soledade), Absalão mata Agamenon (As sementes do sol) e Judas mata Abel (Sombra severa). Já em A dupla face do baralho, Félix Gurgel encomenda a morte do próprio pai. Todos os assassinatos ocorrem no seio da família, sinédoque da sociedade. E Carrero, nesse leitmotiv, também reafirma a crença na continuidade cíclica (“correspondência e reintegração”) da existência. Ainda: em todos os títulos – com exceção de Bernarda Soledade – verifica-se que o comportamento dos seres de algum modo se justifica por fatos transcorridos na infância, possível metáfora de tempos imemoriais. Separar o bem do mal na obra do prosaísta sertanejo pareceu fácil a vários críticos, porém a dor de algumas das suas criminosas personagens, por não terem evitado o crime, e o flagelo psicológico a que se submetem revelam a plenitude de sua dual humanidade. O irmão de Abel o mata não simplesmente pelo ódio, mas (e, talvez, sobretudo) porque “o amor é a inveja do outro [...]” (p.66). Os sentimentos na ficção carreriana são menos estruturalmente puros do que o senso comum costumeiramente os supõem, do mesmo modo que bem e mal não são pólos opostos; ao contrário, eles estão emaranhados, embaralhados. A compaixão por Judas, “o castigado” (p.65), é acentuada ainda pela sentença “O mistério é que nem ele sabia que se transformaria depois num criminoso” (p.119). Raimundo Carrero edifica uma prosa secular – profana e imersa no sagrado – símbolo da repetição ininterrupta das mesmas ações humanas, motivadas pelos mesmos sentimentos, através dos séculos. 5.2 A simbologia sacra Lá de dentro, tirado por um único homem, mãos de atenção e delicadeza, saiu um Cristo de madeira em toda a majestade: o coração sangrento, de um vermelho intenso e grave, exposto no peito, a mão direita pousada sobre o ventre, a mão esquerda levantada, o indicador apontando para o alto. Estava todo de branco com uma faixa azul atravessando a cintura, pés descalços. A coroa de espinhos na cabeça. (Carrero, 2008, p.102) No quarto título carreriano, os símbolos têm importante papel porque carregam consigo um imaginário comum próprio de um arcaico inconsciente coletivo tantas vezes ligado à esfera da religiosidade cristã. Quando Judas amordaça Dina com um lenço, por exemplo, durante o estupro e, em seguida, o utiliza para enxugar o suor de Abel, imediatamente ele traz à baila o ósculo do traidor, porque, assim como o beijo, que é uma demonstração de afeto, teve, no Novo Testamento, uma função vil, de denúncia e traição, o papel do lenço na narrativa também carrega duplicidade: utilizado a princípio como ferramenta para trair o irmão e em seguida para protegê-lo. Quando Judas toca o rosto do irmão com o pano, o leitor reproduz imageticamente o beijo. Deve-se ainda ressaltar que Judas também beija Dina, a violentada, na cerimônia de casamento, trazendo novamente à tona a ideia de traição. A cor branca, como já apontado em capítulo anterior, é recorrente na prosa do escritor sertanejo. Em Sombra severa, ela surge de modo intenso ao final da narrativa quando Dina toma o lugar de Abel e, num crescente de luminosidade, atinge a plenitude solar: [Dina] abriu o baú de Abel, onde vestes e chapéus eram guardados, escolheu a melhor roupa. Era um terno todo branco, de um branco como se tivesse sido lavado e engomado há muito pouco tempo. Tomou banho. Depois, diante do espelho do quarto, cortou os cabelos, tão bem aparados que o barbeiro não faria igual no próprio Abel. Escolheu também uma camisa branca, a meia branca, as botas negras. Antes de mudar-se foi à estrebaria e escolheu o cavalo, um belo cavalo branco, onde se desenhava uma enorme estrela no peito. Escovou-o, passou as rédeas, selo-o, apanhou os estribos de prata. Mais tarde veio a saber que Abel só usava o cavalo em raríssimas ocasiões. Guardara-o para o dia das bodas. O vaqueiro a viu passar [....]. Depois o povoado inteiro viu. [...]. A visão transfigurada e incandescente. [...] Abel surgindo com o rosto brilhando feito o sol, as vestes resplandecentemente brancas, o cavalo com a estrela desenhada no peito. A roupa refulgia na alumiação da manhã. Ao sol do quase meio-dia. (p.125-6, grifo nosso) Não há dúvida quanto à positividade contida na simbologia da cor branca em frequente oposição à cor negra. De acordo com Chevalier e Gheerbrant, o branco, cor iniciadora, passa a ser, em sua acepção diurna a cor da revelação, da graça, da transfiguração que deslumbra e desperta o entendimento, ao mesmo tempo em que o ultrapassa: é a cor da teofania (manifestação de Deus), cujo vestígio permanecerá através da cabeça de todos aqueles que tenham conhecido Deus, sob a forma de uma auréola de luz que é exatamente a soma das cores. Essa brancura triunfal só pode aparecer sobre um cume: ‘Seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou, sozinhos, para um lugar retirado num alto monte. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de uma alvura tal como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar.’ (2005, p.144) Logo, o branco associa-se ao bem, ao sol (ou à luminosidade por vezes ardente, flamejante) e ao filho do Homem. Todavia, é a passagem do Apocalipse “Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta” que o texto carreriano aparentemente retoma. É possível observar os elementos comuns destacados no excerto abaixo: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo; na sua cabeça há muitos diademas [...]. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo branco e puro. (Apocalipse, 19: 11, 12, 14, grifo nosso) Dina/Abel equipara-se a Cristo e seu exército e sua aparição no povoado é tão fantasmagórica quanto o retorno do crucificado. Deve-se ainda notar que de modo ostensivo a cor branca atravessa o Apocalipse e a obra do autor pernambucano. E talvez a estrela no peito do cavalo tenha algum paralelo com a que anuncia a vinda do filho de Deus, já que há uma correspondência entre Dina (Abel) e Cristo. Mas qual o intuito aqui do entrecruzamento? Não se pode excluir as ideias de triunfo do bem e de renascimento, já que de certo modo Abel (Cristo?) ressuscita (reencarna simbolicamente em Dina) em oposição ao abandono existencial de Judas, ainda que este não seja um representante do mal, mas do humano, como anteriormente explicitado. Isso talvez signifique que, por mais densa, sacrílega, ensombrada e/ou trágica, Sombra severa não é prosa pessimista ou niilista. Na Bíblia também há referência a uma espécie de continuidade vital do preferido de Deus: “Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. [...]. Por meio dela, também depois de morto, ainda fala” (Hebreus, 11,4). Tanto o Abel bíblico quanto o carreriano de algum modo revivem, portanto. É preciso atentar ainda para a finalização da narrativa: “ao sol do quase meio-dia”. Dina/Abel, sob uma luminosidade quase plena, repleta de positividade, ganha uma aura celeste, misteriosa, diáfana, irreal. Todavia, se forem rastreadas as referências ao sol ou à luz em Sombra severa, surgirão diferentes concepções de acordo com o estado psíquico das personagens. Na descrição da manhã nascendo, por exemplo, após o estupro, na perspectiva de Judas, o sol iluminava “pedras amarelecidas, cactos e espinhos” (p.33). A luminosidade, portanto, é reveladora de melancolia (uma das simbologias da cor amarela) e de um ambiente árido e ferino. Quando Abel reencontra Dina na capela, derrotada, com as vestes rasgadas, o narrador revela: “Inúteis as palavras semelhantes à luz que entrava pela janela” (p.37). Verifica-se que o fato de a positividade simbólica da claridade estar em oposição ao ato vil causa estranheza, incômodo, porque ela não se harmoniza com o íntimo das personagens. Ou seja: a iluminação de nada adianta já que ambos se encontram imersos nas trevas da alma. Em seguida, nova descrição: “Apesar da luz do dia, o sol atravessando o quarto com uma réstia feito punhal, ainda havia neles leves sombras” (p.37). Surge, portanto, em momentos de dor, a perspectiva da luz como algo que aborrece, fere. E, para descrever os olhos de Abel, misto de ira e docilidade, Judas escolhe a imagem metafórica “era sol feito lua”, onde “sol” está evidentemente para a fúria e lua, para a doçura. No entanto, durante o cortejo fúnebre, quando o satélite noturno surge, ele se parece “com um sol de sangue” (p.61). Embora a descrição pertença ao narrador, a escolha é sem dúvida proposital com o intuito de alinhar morte, assassinato, à concepção de um astro chamejante repleto do sangue derramado de Abel. Em outra passagem, encontra-se o detalhamento do ambiente do bar no qual Judas joga cartas e tenta compreender através delas sua sorte: “[...] os homens todos quase apenas sombras, pouco alumiados pela luz dos candeeiros e ainda mais ofuscados pela fumaça dos candeeiros – era tanta a fumaça que a nuvem inteira sufocava a sala” (p.44). O ambiente com pouca luminosidade em que predominam as sombras é típico da narrativa carreriana, como se a alma ensombrada – leia-se atormentada – ecoasse nos espaços. Há ainda, no íntimo de Judas, como metáfora da agonia provocada pelas lembranças, “um sol girando” (p.75). Este sol em giros, portanto, queima e ensandece. O traidor, que se sentia “muito bem na escuridão” (p.119), angustiado por não saber se deveria ou não encontrar Dina no quarto, recusa a luminosidade do dia porque não há luz – paz e entendimento – dentro de si: “Não desejava a luz – que era luz o que lhe estava faltando” (p.120). Do mesmo modo, o traidor “gostava do escuro para não recordar o rosto de Abel” (p.77). Embora provavelmente não tenha havido influência, a escolha da escuridão para afastar a memória aflitiva lembra o conto de Borges, “Funes, o memorioso”, que integra a obra Ficções, na qual o protagonista, detentor de uma capacidade de memorização sobre-humana, se afasta por completo da luz para não registrar mais reminiscências. Verifica-se até então que, para marcar o antagonismo entre irmãos, Carrero utiliza dicotomias simbólicas. Abel e Judas são respectivamente luz e sombra, sol e madrugada. E, enquanto o primeiro “tinha tantas palavras quantos os dentes da boca” (p.77), o segundo era só silêncio. Em Sombra severa, esse cenário sombrio ganha contornos ainda mais fortes não apenas pela fumaça dos candeeiros, mas pela dos cigarros que Judas fuma quase ininterruptamente – reafirmando a nebulosidade e a angústia de sua existência. Sem dúvida, a severidade da sombra no romance refere-se às sofridas personagens, Dina e Abel e, sobretudo, ao tormento vivido pelo traidor, aos redemunhos de sua alma criminosa. Curiosamente, aos poucos verifica-se o gosto de Carrero pela titulação composta por “ésses”. Dos quatro primeiros títulos, em dois, a presença do fonema é marcante: As sementes do sol: o semeador (1981) e Sombra severa (1986). Há ainda, com desdobramentos sonoros no início dos termos, O Senhor dos Sonhos (1986) e o recente Seria uma sombria noite secreta (2011). E em quase todos os demais títulos o som do “ésse” também está presente de modo ostensivo, como em A história de Bernarda Soledade: a tigre do sertão (1975), A dupla face do baralho: confissões do Comissário Félix Gurgel (1984), Maçã agreste (1989), Sinfonia para Vagabundos: visões em preto e branco para sax tenor (1992), Somos pedras que se consomem (1995), As sombrias ruínas da alma (1999), Ao redor do escorpião... uma tarântula: orquestração para dançar e ouvir (2003), O amor não tem bons sentimentos (2007). Não há dúvida de que essa sonoridade carrega algo de misterioso por conta do vento sibilante produzido pela fricativa dental. Vento, aliás, que bem se acomoda aos turbilhões carrerianos. A passagem semi-interrompida do ar, liberado aos poucos por um estreito canal, repleto de obstáculos, conferem um ar aflitivo a esse som que também se casa com a atmosfera da prosa do escritor sertanejo e com seus elementos recorrentes: sombra, silêncio, sangue e solidão. Outro ponto já mencionado em capítulo anterior, mas que merece ser novamente destacado, porque a cada nova análise a simbologia da ficção carreriana, por sua recorrência, torna-se mais clara, é a presença do pássaro aliado à personagem boa ou ingênua. Em A história de Bernarda Soledade, o coronel Pedro Militão era um criador de passarinhos em oposição evidente à filha domadora de cavalos selvagens. Em A dupla face do baralho, Camilo tem uma relação íntima, dialógica, com os pássaros que chegam a comer em sua boca e – deve-se atentar – Félix, em contraponto, os mata cruelmente ao final da narrativa. Em Sombra severa, Judas admira (e inveja) a intimidade e a similaridade de Abel com as aves: “[...] Abel tinha um riso fácil assim como o vôo de um pássaro. Não via como os pássaros gostavam dele: chamando-o, convidando-o, festejando-o?” (p.120). Nota-se que a proximidade de Camilo e Abel com os seres alados ganham contornos insólitos, fazendo crer que ambos, levando em conta a carga de religiosidade da narrativa, são divinais, celestiais. Na trilha dos símbolos, há também a serpente que rasteja por toda a obra em oposição à positividade dos pássaros – céu e terra, portanto, bem marcados. Quando imagina que Abel quer vingança, Judas deixa o punhal sem bainha, “cobra de metal para o bote” (p.56). A sentença leva a crer que o traidor planejava defender-se. Todavia, mais adiante, o narrador revela: “Ao acordar cedo, Judas viu a arma, a arma que não estava ensanguentada, e surpreendeu-se: surpreendeu-se de ainda estar vivo. [...] Não que desejasse estar morto, mas esperava que o irmão o enfrentasse” (p.56). Fica a pergunta: Judas deixa o punhal à mostra para que Abel o ataque? Claro está apenas que arma equivale à cobra, porque ambas se relacionam à astúcia e à morte. E, quando se refere ao desespero de Judas, o narrador, colado à perspectiva da personagem, diz que ele “feria feito cobra picando o calcanhar” (p.94). O animal rastejante associa-se, portanto, também ao pesar. Quando Judas rememora a morte e o enterro de Abel conclui: “Tramara como só os abismos do espírito atormentado sabem tramar: no silêncio da serpente que se aproxima da vítima” (p.66). Novamente, o termo “cobra” dialoga com esperteza e corresponde ao algoz. E, não há dúvida, toda a simbologia deste animal tem sua raiz bíblica, o que se evidencia ainda no fragmento abaixo: [...] o mundo arrebentara as portas para o homem com o Pecado. [...] O princípio – tinha de encontrar o princípio. A serpente que picara o seu calcanhar. Pois que devia ter sido assim: a serpente enrodilhada no coração, esperando a hora maldita para o bote (p.68). Percebe-se claramente que, embora Judas procure na infância as razões que o levaram ao crime, elas se encontram no Gênesis e que, sendo a humanidade fruto da Queda, todos carregam a serpente no peito. Por mais contraditório que pareça, o traidor, então, é inocente em sua culpa. Há ainda três passagens em que surgem espinhos. Uma delas já referida, em que o sol os ilumina. A seguinte se refere aos pensamentos de Judas, “entrançados em espinhos” (p.59), em sofrimento e dor, portanto. Na terceira, aparecem próximas, durante a cerimônia matrimonial, a coroa de Cristo (embora não haja referência explícita, a matéria que a compõe é de conhecimento de todos) e a de Dina, esta sim marcadamente com espinhos. O casamento fica, portanto, em paralelo com a crucificação, atos de sacrifício aos quais ambos são submetidos. A filha de Sara equipara-se desse modo ao filho do Homem. Em contrapartida, Judas usa, durante a celebração do matrimônio, o mesmo terno preto que vestira no enterro de Abel, simbolizando sua (ou a) concepção funesta do enlace. O irmão de Abel ainda é equiparado ao cão, após o ato luxurioso, sobretudo por conta da simbologia demoníaca do animal, própria dos textos sagrados: “Quando Judas se levantou, ainda era o mesmo homem: o rosto taciturno, os olhos de cão medonho, cão que fareja presas pelo mato” (p.28). Para dar conta de sua alma atormentada, o narrador também utiliza uma imagem canina: “Havia um cão raivoso latindo a sua volta” (p.120). Por último, surgem os cães endemoniados que disputam a comida deixada por Dina na porta do quarto de Judas. O quadro algo surrealista também instaura uma atmosfera infernal. Lurker, em seu Dicionário de figuras e símbolos bíblicos, observa que “o cão, tido como impuro, serviu no Antigo Testamento como figura eloquente para dizer o que era trivial e desprezível” (2006, p.36). Vale ressaltar que o carneiro imolado (Abel/Dina/Cristo), já amplamente analisado no tópico anterior deste capítulo, dialoga ainda com o bezerro que o funcionário da fazenda diz pertencer a Abel, fazendo Judas reviver sua ira. Os anjos guerreiros, do “sonho” do fratricida, que carregam espadas, possíveis anunciadores da punição e da morte, também já foram analisados. Outras referências simbólicas para além da religiosidade são o lodo que tomou conta do coração de Judas após o estupro e caracteriza sua repulsa por Dina (p.29-39) e a mistura de esterco e sangue que cobre o traidor (ou “o castigado”) por conta do nascimento do bezerro e corresponde às suas ações violentas e vis (p.112). A sentença “A cabeça era um túnel, onde as pedras se sacudiam” (p.119) une a escuridão do espaço subterrâneo ao atrito ininterrupto para caracterizar seu estado agônico. Restam ainda os fantasmas, elementos comuns da prosa carreriana, que aterrorizam as personagens. Em Sombra severa, eles são a própria consciência atormentada de Judas (“Só que não queria, não queria e rejeitava feroz: o sonho. Sonhos que se formam, fantasmas que fazem companhia” (p.77)) e a visão espectral e torturante de Abel em Dina. Não há dúvida de que é praticamente impossível esgotar as múltiplas referências simbólicas presentes nesta obra carreriana. Neste tópico foram apresentadas apenas as que mais se destacam na edificação de uma prosa ferina cujos pilares se encontram sobretudo nas mais intensas e aflitivas imagens do Texto Sagrado. Para Ormindo Pires Filho, “Raimundo Carrero não faz outra coisa nas cento e poucas páginas do seu romance (ou seria uma novela?) do que investigar, através de seu personagem principal, a origem do mal, do ódio, da traição, da inveja e do crime”39. E, para isso, poder-se-ia acrescentar, imerge no universo arcaizante dos símbolos. É o próprio autor quem revela na entrevista a Marcelo Pereira, presente na biografia A fragmentação do humano: “Precisava de um mundo novo e que envolvesse mais do que nunca a literatura. Fiz isso com cuidado, envolvendo aspectos espirituais do cristianismo com os seus símbolos” (2009, p.82). No tópico subsequente, será analisada a profana imagem triangular – que atravessa Sombra severa, caracterizando a relação composta por três vértices, Judas, Abel e Dina – cuja estrutura se baseia na cartomancia e na numerologia. 5.3 Cartas e Números: marcas da inevitabilidade do destino? Só pelo costume de lerdeza e lentidão, recolheu as cartas, a principio uma a uma – descortinava os mistérios. Também ele, a seu modo, a técnica das premonições e dos adivinhos, ele mesmo um bruxo, conhecia os segredos para os outros inviolados, lia nas figuras, nos símbolos e nos números os rumos atravessados da vida (Carrero, 2008, p.44) Em Sombra severa, Carrero mescla elementos do ocultismo à simbologia sacra – o que acentua ainda mais a aura profana da narrativa. O autor pernambucano, então, embaralha mais uma vez quando coloca ao lado da religiosidade cristã uma personagem típica do universo pagão: o adivinho. De acordo com Gaarder, Hellern e Notaker, 39 PIRES FILHO, Ormindo. Elementos religiosos em Raimundo Carrero, Diário de Pernambuco, Recife, 5 ago. 1988, Caderno Viver, p.B-6 os adivinhos são especialistas em interpretar as mensagens dos espíritos. [...] Eles possuem muitas técnicas. O adivinho pode usar, por exemplo, um cesto contendo vários objetos. Cada um deles tem um significado simbólico; cada um indica certa situação ou característica humana (2005, p.103). Embora não haja na obra referência a espíritos e Judas não use cesto, ele é um bruxo capaz de reconhecer sua sorte em cartas comuns: diante do baralho, vê que a estrutura amorosa triangular e todas as suas nefastas consequências já estavam “escritas”. Além disso, na interpretação de números e símbolos, vislumbra seu futuro (seu destino de traidor?) no qual a morte sucede à solidão. Todavia, a dúvida permanece: como a personagem procura culpar Abel, Dina, Deus e a Sorte por seus atos – e ainda que cada um deles possa ter de fato dado a sua contribuição –, a leitura do baralho não corresponderia a mais uma tentativa de atenuar seu remorso? O pensamento de Judas, explicitado pelo narrador, durante a partida, alimenta a suspeita: “Se isso tudo não o reconfortava, pelo menos aliviava, e estava certo de que as ações não nasciam de sua alma atormentada, mas das emboscadas que o segredo sabe preparar” (p.45). Essa questão parece perpassar a obra do ficcionista sertanejo. As análises de Bernarda Soledade e de A dupla face do baralho levam a crer que os indivíduos são responsáveis por suas atitudes e consequentemente por sua sorte, contrariando parte da crítica que insiste na ideia de destino trágico nos moldes helênicos. Todavia, em As sementes do sol e Sombra severa, a tese de um universo que se repete continuamente para além da vontade humana traz à baila o conceito de predestinação, embora o conteúdo simbólico dos romances queira em verdade significar que os maus (e também os bons) sentimentos são a “argila” do homem, da qual ele obviamente não pode se apartar. Marcos Santarrita, na orelha do romance, entretanto, faz coro com o que os analistas literários comumente dizem sobre as obras carrerianas: A trama [...] tem mais a ver com o destino das tragédias gregas do que com sentimentos apenas humanos, mortais. Antes de vivê-los, os personagens parecem condenados a cumprir seus papeis, com quase nenhum – se é que tem algum – arbítrio. É uma história de traição e assassinatos, com justos e danados – ou seja, inocentes todos. Então, de acordo com Santarrita, há um destino e Judas foi mero cumpridor de um caminho já traçado e a trama, como fez questão de frisar, não tem relação (ou tem pouca) com sentimentos humanos. Nesta proposição, o texto carreriano anularia por completo o livrearbítrio (todos são joguetes, marionetes) e sua estruturação valorizaria apenas os fatos: Judas matou Abel porque estava escrito na sua história (ou nas cartas) que assim o faria, do mesmo modo que Caim assassinou o irmão. Ponto final. Uma perspectiva reducionista, portanto, na qual o escritor apenas reproduz o texto sagrado alterando algumas circunstâncias de seus episódios. Ora, claro está que a prosa do pernambucano é infinitamente mais complexa. Primeiro, porque a reprodução do fato surge como pretexto para compreender os contraditórios sentimentos – os sentimentos – que levaram Judas a cometer crimes: amor, ódio, inveja, desejo e admiração se entrelaçam. E quase toda a segunda parte da obra é dedicada ao martírio psicológico do irmão de Abel. Logo, o interesse desta ficção posteriormente recai sobre a alma atormentada; sobre, novamente, portanto, os sentimentos de Judas: angústia, desespero, medo, remorso. E o destino, embora na superfície pareça ligado aos fatos, pelo entrecruzamento com a Bíblia e pela interpretação das cartas, na verdade possui uma relação bem mais profunda (e interessante) com a concepção de que a serpente da inveja nasce do amor. Sentimentos, novamente. São eles que se repetem, é deles de que o homem (ou a maioria dos homens) não pode fugir. Apenas por causa deles, cumpre seu destino de pecador através dos séculos. Ormindo Pires Filho nota que Sombra severa “trata-se de uma obra que pretende mergulhar nas profundezas da consciência humana para aí detectar as origens do mal e do pecado”40. Carrero, ao retomar episódios bíblicos, evidencia que o ser humano é (e sempre será) o mesmo porque há algo no seu íntimo que ele infelizmente não tem o poder de transformar, converter. Santarrira acerta, então, quando percebe a inocência de todos, ainda que culpados. É preciso também notar que as cartas funcionam muito mais como símbolo do embaralhamento da existência (“correspondência e reintegração”) e uma forma de Judas se compreender do que como reveladora da sorte. Esse componente existe, claro, mas não é o principal e não se pode reduzir Sombra severa a um texto sobre predestinação no sentido corrente, oracular, do termo. Deus ter escolhido Judas para ser “o castigado”, por exemplo, é apenas uma das possibilidades interpretativas do texto. O que a crítica comumente faz ao analisar Carrero é iluminar um ponto e obscurecer os demais eliminando assim a riqueza de sentidos de sua prosa. Neste tópico serão analisados dois grupos de cartas que se entrelaçam na obra: as que abrem os capítulos41 e as que Judas interpreta (e que, por vezes, são as mesmas). A primeira 40 PIRES FILHO, Ormindo. Elementos religiosos em Raimundo Carrero, Diário de Pernambuco, Recife, 5 ago. 1988, Caderno Viver, p.B-6 41 Os capítulos de Sombra severa não são numerados. No lugar dos números, estão as cartas. Todavia, para indicar a localização dos elementos referenciados, esta pesquisa faz uso da numeração. referência ao triângulo, cerne da leitura da sorte, ocorre no início do texto de modo simbólico: Judas manda Abel desfazer os triângulos sobre o peito, compostos pelos cotovelos apoiados na mesa e os braços cruzados com as mãos próximas aos ombros. Como a cabeça do irmão está abaixada e eles conversam sobre o provável ataque dos Florêncio, o leitor é levado a entender a sentença de Judas como uma ordem para que Abel elimine a postura derrotista. Todavia, após a leitura integral do texto, outro ângulo dos polígonos se evidencia: eles se tornam insígnia da relação triangular (Abel-Judas-Dina) que Judas tentará em vão desfazer matando Abel, porque o assassinado “renascerá” em Dina, alinhando-se à proposta carreriana de que os mortos vivem: mata-se para se livrar do peso do outro e o morto se torna mais presença do que ausência. O baralho, no entanto, só surge no quinto capítulo (p.41) durante o jogo com os homens no bar: “Só pelo costume da lerdeza e da lentidão, recolheu as cartas, a princípio, uma a uma – descortinava os mistérios” (p.44). Apenas para melhor visualizar as cartas que Judas analisa, após o estupro e antes do assassinato, elas serão listadas em seguida. As primeiras são o Rei e a Dama de Ouros. A interpretação, então, recai sobre a imagem dos triângulos responsáveis pela “intriga”: “o losango que não é outra coisa senão a figura de dois triângulos” (p.44) / “o losango era o símbolo inconteste da riqueza, da intriga, do amor” (p.45). Em seguida, surge o Valete de Espadas, que se interpõe entre os amantes, o rei e a dama: Um rei e uma dama de ouros – que diziam – cortados por um valete de espadas – o Anjo Vingador? As três cartas, os dois triângulos, a arma. [...] [o losango] cortado por uma espada, o valete coroado, era o Destino partido ao meio, a justificação, a morte anunciada. Traiu. E se traiu foi, porquê, antes que conhecesse o mistério, a espada se colocara entre o rei e a dama de ouros. (p.45) Até agora, essa estruturação leva a crer que o Rei corresponde a Abel, a Dama, a Dina e o Valete, a Judas, já que este é o responsável por separar o casal e usa uma arma (simbolizada no naipe de espadas) para matar o irmão. Todavia, analises posteriores revelam que a correlação é menos clara do que parece a princípio, inclusive porque, na Bíblia, o Anjo Vingador comumente corresponde a Deus. Considerando esse fato, Judas jamais poderia ser representado pelo Valete. O quarto elemento é o Nove de espadas. Nota-se, na sequência interpretativa, a obsessão de Judas com o tríplice, agora não apenas relativo aos triângulos presentes no naipe de ouros, mas à composição ternária dos números nove e seis, além dos imaginários triláteros que cortariam a carta: Nove é o três tríplice, em pé; e invertido, o seis, o três duplo, todos enegrecidos; sem contar que no interior da carta apareciam os nove sinais, sendo quatro de cada lado e um no centro. Traçando-se uma linha horizontal imaginária entre o sinal do centro e os quatro de cima, poderia criar um novo triângulo, igualmente imaginário; assim como, partindo do mesmo sinal para as extremidades inferiores, se estabeleceria outro triângulo; ao todo, dois triângulos negros e escuros, sempre imaginários, sob o símbolo da espadas. O mesmo signo que, avermelhado, recriava o ouros, o rei e a dama das cartas anteriores (p.45) A quinta carta é o Ás de paus. Novamente ele vê no naipe a presença triangular, uma interferência que secciona a ligação entre dois outros elementos. O Ás de paus, portanto, é um composto; nele se encontram as três personagens, embora a referência à “letra feminina” o correlacione, sobretudo, a Dina: os três trevos – sorte, ventura, paz –, encimados pelo A maiúsculo, que não é senão outro triângulo, desta vez, porém, cortado ao centro. Analisando bem o esforço dos mágicos, aquilo levava-o a interpretar que o triângulo devia ser cortado ao meio. E, agora sim, justificando inteiramente a traição. Os três trevos da sorte, a sua, a espada cortada, o A (triângulo) partido ao meio, o golpe. Sem contar que era letra feminina. (p.45-6) Judas faz menção ao três duplo (seis) sobre a mesa, mas, em seguida, compra três – o número aparece novamente – cartas: a Dama de Copas, o Rei de Copas e o Valete de Copas. São feitas novas correlações triangulares e, deve-se atentar, esta tríade tem paralelo com a composta pela Dama e o Rei de Ouros e o Valete de Espadas. Agora, no entanto, apesar das armas que carregam, todos possuem o naipe cuja imagem é um coração, símbolo de amor e desejo. Judas se pergunta: “Suspira o amor ou o remorso ardente?” (p.46). E mais três peças surgem: o Oito de Paus, no qual também vislumbra triângulos e do qual desgosta porque o número deitado é símbolo do infinito. E, nele, a sorte é “incompleta e sem pousada” (p.47). Essa descrição alia-se à ideia de eterno retorno, de estruturação circular da existência, que perpassa a obra. A carta representa, então, a narrativa como um todo. Em seguida, Judas compra o Três de Espadas e o Ás de copas, que trazia, bem no meio, a solidão e o pranto, o coração com a ponta ameaçando a cabeça? Entristeceu-se. O coração solitário era o dele, não tinha dúvidas. Traindo Abel – o A maiúsculo da inicial do irmão, e repelindo Dina – a última letra –, a raptada e violada, restava-lhe a solidão desabitada e vazia dos campos. (p.47) Ora, se o Ás de Copas espelha Judas, pode-se ler a dicotomia coração/cabeça como paixão/razão. Nessa perspectiva, seriam os sentimentos do irmão de Abel os responsáveis por sua desgraça, sobretudo psíquica. E, de acordo com a interpretação acima, tanto Abel quanto Dina trazem no nome (com “quatro letras cada” (p.73)) o A, triangular e seccionado. Na sequência, aparece no jogo o Três de Ouros e imediatamente Judas o associa à Trindade, que “exigia Fé, Esperança e Caridade” (p.47) para, em seguida, fazer a correspondência com “os três mundos: Céu, Purgatório e Inferno” (ib.). Ninguém “alcança” esta carta possivelmente por não haver nenhum homem bom na mesa, todos distanciados do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Surge ainda o Nove de Copas que representa “os três corações, tríplice três, os corações do amor, da traição e do remorso, todos vermelhos, o sangue” (p.48). Pelo fato de não ter lugar no seu jogo, Judas recusa a carta, busca um Sete de Paus e descarta o Três de Espadas, “marca tríplice da luta” (ib.). Nota-se que, ao rejeitar o Nove de Copas e o Três de Espadas, o irmão de Abel parece ansiar por um distanciamento do confronto. Todavia, percebe que é impossível fugir, já que o Oito e o Sete de Paus, somados, resultam em quinze e um mais cinco é igual a seis, o duplo três. Quando o parceiro arria parte do que possui, ocorre uma duplicidade porque também tinha em mãos o Valete, a Dama, o Rei e o Ás de Copas, o que ratifica a ideia de que Judas, cercado, não poderia se desvencilhar do Destino. Como o parceiro também coloca na mesa o seis, o cinco e o quatro de paus, o irmão de Abel pensa em se livrar das cartas de que desgostava, o Oito e o Sete de Paus, mas não tem oportunidade imediata – fato que reafirma a concepção de cerco, instaurando uma atmosfera agônica e um tanto asfixiante que se completa com a fumaça dos candeeiros e dos cigarros. Judas, sem saída, lança ao lixo o Rei de Ouros, tornando seu jogo incompleto. Apenas na rodada seguinte, o Oito e o Sete são, com alívio, eliminados. Nota-se que, em todas as jogadas, Judas está em fuga, desejoso de esquivar-se de sua sorte. Mas, não se deve esquecer, apesar de ainda não ter matado Abel, ele já o traíra violentando Dina. Parte da leitura, portanto, corresponde não ao futuro, mas ao passado e, de certa maneira, ao presente. Também vale a pergunta: Judas realmente é um bruxo capaz de revelar o porvir ou é apenas o homem torturado pelo seu ato vil que em tudo vê o sinal de sua traição? Se deste modo for, ele tentaria inutilmente escapar não do Destino, mas da consciência atormentada. Bem à frente, após o assassinato, o narrador revela: “Estava destinado a ler a Sorte, mas não podia conhecer o seu próprio caminho. Como se Deus tivesse colocado uma venda sobre seus olhos” (p.64). Embora também haja referência ao Dez de Copas, o irmão de Abel pega na mesa o Dez de Espadas, que une ao Nove e ao Valete para arriar jogo e completar canastra, e o Valete de Ouros, que também se alia à Dama e ao Rei. Descarta em seguida o Ás de Paus e, nas rodadas subsequentes, o Valete e a Dama de Copas. Todavia, toda a sua atenção e angústia foram inúteis, porque o adversário bateu. Quando o jogo termina, Judas tem apenas uma carta, a que o define, o Ás de Copas. Assim que ele a encara, vê a si mesmo (no presente e/ou no futuro), um perdedor solitário imerso em culpa: a carta solitária, o coração invertido ao centro, o A imenso e vermelho, ódio e arrependimento – há quem julgue o vermelho como o amor, a caridade, mas para ele tinha outra significação. Encarou a carta, os parceiros silenciosos. (p.49) Só há novas referências às cartas no capítulo sete, quando Judas retorna a casa após o jogo no bar e momentos antes de perceber o vulto de Abel observando-o na noite: Montou no cavalo como um rei de copas em cuja mão direita esgrimisse a espada no prumo do coração, vestido numa armadura cruzada de cartucheiras. E montado, parecia também um ás de copas, solitário e infeliz (p.55). Nota-se que ele é equiparado não ao valete, mas ao rei – o que contraria a análise antes realizada. Parece, entretanto, que o narrador refere-se ao seu porte e à ideia de homem pronto para o duelo que se casará perfeitamente com a proximidade do irmão e a suspeita do confronto. Nova referência se evidencia pouco antes do assassinato: “O rei de copas não apontava o punhal para o coração do valete?” (p.58). Ora, se Judas é quem mata Abel, claro está que o primeiro corresponde ao Rei e o segundo ao Valete. Seria esta a correlação desde o início? Verifica-se que a simbologia do número três (e do triângulo), na obra carreriana, tem uma conotação negativa, enquanto usualmente ele é associado à completude, à totalidade. Lurker, no Dicionário de figuras e símbolos bíblicos, por exemplo, salienta que “Entre todos os povos, o número três era considerado como [...] excelente. Com ele se supera a divisão; começo, meio e fim estão nele resumidos” (2006, p.243). E Chevalier e Gheerbrant apontam que ele “exprime uma ordem intelectual e espiritual, em Deus, no cosmo ou no homem” (2005, p.899). Simbologias, portanto, que não se harmonizam com o romance Sombra severa. É Dante Morreira Leite, ao explorar as consequências da relação amorosa triangular, no ensaio “O triângulo, o ciúme e a inveja”, parte da obra O amor romântico e outros temas, quem fornece a chave de leitura para a presença maciça do fenômeno ternário neste quarto título do autor sertanejo: o triângulo, sobretudo se apresentado no amor, tem qualidades dramáticas muito nítidas, pois é uma situação essencialmente desequilibrada e sem harmonia. Portanto o triângulo, nas relações interpessoais, contém os germes de sua destruição. (1979, p.15) Há sempre, portanto, uma espada que procura desfazer a estrutura ternária. No capítulo nove, após o enterro, o traidor arma um novo jogo, agora com cartas do baralho comum mescladas às com figuras (misto de tarô e cartomancia). Alguns estudos levem a crer que o Tarô é de inspiração chinesa. No entanto, os povos ciganos têm papel fundamental na disseminação da leitura do futuro através das cartas. Igor Pedrosa (Tarô: a história e a magia), por outro lado, retoma a tese de Cynthia Giles (The Tarot: History, Mystery, and Lore) na qual “a adivinhação sempre foi função das ciganas, mas através da quiromancia. Só tardiamente elas adotaram a cartomancia. E quanto à taromancia, eles nunca a adotaram” (2005, p.67). Apesar disso, não se deve esquecer que Carrero substitui os três anjos bíblicos anunciadores da futura gravidez de Sara e Abraão por três ciganos que revelam o fim da esterilidade da mãe de Dina. O universo do ocultismo, sobretudo o praticado por esses povos nômades, portanto, se mescla ao do cristianismo para dar forma ao romance Sombra severa. Carrero confirma em sua biografia que, para elaborar a obra, não apenas estudou o Tarô, como fez “questão de criar cartas novas para que não parecesse, sequer aí, imitação” (Pereira, 2009, p.82). Elas abrem os capítulos e compõem o jogo do bruxo Judas (abaixo reproduzido), que, antes de interpretá-las, faz orações, “de cabeça baixa e olhos fechados” (p.81), e pede com força que o traçado se desfaça e esclareça a vida. As duas primeiras cartas são a Dama de Copas e o Rei, já analisados neste tópico. Em seguida, o irmão de Abel repara que o Ás e o Sete de paus formam uma pequena cruz dentro de outra maior, composta, na parte inferior, pelo Três de Espadas (triângulo e arma) e, na superior, pela Dama de Copas. As duas cruzes provavelmente simbolizam as mortes dos irmãos, tendo como razão fundamental (superior) a Dama/Dina. Ao fim da narrativa, revendo o jogo, o bruxo conclui: “Não voltaria, jamais, a tocar nas cartas. O sinal era claro” (p.121). Em seguida, Judas descreve a linha lateral das quatro cartas: as serpentes com as maçãs vermelhas, a mão onde aparecia uma gota de sangue com as cruzes, depois o carneiro e os punhais; e no alto, bem no alto, a carta que representava o resultado final: a coroa e as estrelas, o rei (p.87). O bruxo decifra, então, o destino: “Não devia ter vindo – suspirou. Era uma mulher, e ele, o único homem da casa. A dama e o rei, as cruzes do jogo, as cartas ascendentes” (ib.). Novamente, portanto, Judas corresponde ao Rei. Nota-se ainda que alguns dos principais símbolos religiosos surgem nas cartas. Carrero cria um curioso “Tarô bíblico”. A serpente e a maçã, ligadas ao pecado original e, portanto, ao desejo incontido, à transgressão ao interdito, representam o estupro de Dina por Judas. As mãos sangrentas, como a do filho de Deus em sua expiação, tentando inútil e desesperadamente alcançar o sol (a vida?), cercadas pelas cruzes, são indício talvez do crime, o sacrifício de Abel, o cordeiro. Mas, sem dúvida alguma, esta carta com as marcas da crucificação significa sofrimento, pesar. A separação em duas metades, uma branca e outra preta, é provável referência ao bem e ao mal e, por extensão, a Abel e Judas. Já a carta com os carneiros, também um alvo e outro negro, cercados por punhais, corresponde à luta. Ambos estão com as bocas bem abertas, como se gritassem: imagem agônica. Acima de tudo, o Rei, o responsável, portanto, pela configuração do jogo. Vale ainda salientar que, nas três últimas figuras, há sempre o sol chamejante e, em um dos baralhos do Tarô (de Jean Payen – 1743), a carta “O sol” apresenta, sob o astro, gêmeos em uma postura cordial42. É possível que o autor tenha se inspirado nela para propor, ao contrário, utilizando carneiros invertidos e em oposição cromática, a rivalidade entre irmãos. Judas não menciona as demais cartas, mas elas serão retomadas abaixo na análise que procura compreender a correspondência entre as figuras que abrem os capítulos e o conteúdo dos mesmos. Se eles fossem numerados, seriam dezessete no total. No primeiro, em que as três personagens principais são enfocados, surgem também três cartas: a das mãos sangrentas, a das cobras coladas à maçã e o Ás de Copas. Pelas interpretações anteriores, claro fica que as duas primeiras referem-se a desejo, pecado, morte e punição, enquanto, na última, o A, triângulo cortado, harmoniza-se com os compostos ternários e referencia a tentativa de destruição da estrutura amorosa triangular. O naipe de Copas é ainda símbolo da paixão (da vontade) incontida. No segundo capítulo em que o foco recai sobre Dina, a carta está virada – o que remete à ideia de destino não revelado. Todavia, ao cruzar sua história com a da mãe, a filha de Adão nota o movimento cíclico da vida e conclui que ela era Sara. Carrero em entrevista revela: “[por que] uma carta, que corresponde a Dina, está virada? Porque só ela conhece o passado” (Pereira, 2009, p.82). No capítulo em que Judas estupra a amada do irmão, surgem as figuras que intercalam o Ás de copas no jogo de cartas acima reproduzido. Numa, um rosto algo demoníaco e duas coroas e, na outra, um sol na escuridão com duas armas nas extremidades. A interpretação não é fácil, mas, como o Rei está desde o início relacionado a Judas, é possível que a primeira carta, pela presença do ornamento real, o represente. Já, na segunda, a estrela parece não ser capaz de iluminar o dia – o que talvez caracterize a supremacia das trevas, do mal, sobretudo pela presença dos punhais, indício de combate e traição. O texto após o estupro, em que Abel descobre o ato vil, abre com a carta dos carneiros, já analisada. E aqui a correlação é mais evidente: com o ataque, Judas opõe os irmãos e instaura a agonia. No quinto capítulo, o traidor atormentado busca aplacar inutilmente sua alma solitária na casa da prostituta e no bar. A figura correspondente é o Ás de Copas, que o próprio bruxo define na “leitura” do jogo como símbolo do triângulo e, sobretudo, da solidão, do pranto. Ele, portanto, é o Ás. 42 In: PEDROSA, Igor. Tarô – A história e a magia. Rio de Janeiro: Léo Christiano Editorial Ltda, 2005. Quando a narrativa de Dina, entremeada a da mãe, retorna ao romance, o texto reabre novamente com o verso da carta, caracterizando, como aponta o autor sertanejo, aquela que conhece o passado. No sétimo capítulo, em que Judas mata Abel, surgem mais uma vez as mãos sangrentas com as cruzes nas laterais: sacrifício do inocente (as chagas de Cristo) e morte. No capítulo seguinte, no qual o traidor vai buscar na infância as razões de seu ódio, reaparecem o rosto com as coroas e os carneiros invertidos. Vale ressaltar que é neste instante narrativo que Judas começa a rememorar o episódio do animal sacrificado no alto da montanha: a primeira morte simbólica de Abel. Talvez por isso, neste remoer, as cartas também ressurjam. A figura dos carneiros marca ainda o nono capítulo, continuação da história de Jasmim, que corresponde simbolicamente ao fratricídio. No décimo, em que volta a perspectiva de Dina, a carta se mantém virada. E, em seguida, quando Judas reflete principalmente sobre a presença torturante de Dina na casa, o texto é marcado mais uma vez pelo solitário Ás de Copas. O capítulo doze, em que os irmãos Florêncio cobram o pacto, surge pela primeira vez o Sete de Paus ao lado da figura em que o astro-rei, incapaz de iluminar, está cercado pela escuridão. Lucker, no verbete Sol, de seu Dicionário de símbolos bíblicos, observa: “O fato de por ocasião da morte de Jesus ter-se obscurecido o sol (Lc 23, 45) era para os fiéis símbolo da morte do verdadeiro sol.” (2006, p.229). Esse obscurecimento, portanto, refere-se à supremacia das trevas, da dor, do mal. Embora a interpretação dessa segunda carta, considerando o mórbido casamento, seja evidente, a presença da primeira, o Sete de Paus, é nebulosa já que, quando surge na obra, está aliado ao oito cuja soma final equivale ao seis, o três duplo. Todavia, vale lembrar, é ela que abaixo do Ás forma a cruz menor, símbolo de morte. No capítulo treze, o das bodas, a maçã com as serpentes retornam e o texto, fundamentado na questão do desejo, termina com a possibilidade de Judas e Dina consumarem a união. O décimo - quarto corresponde mais uma vez à perspectiva da mulher e a carta está, então, de novo invertida. No seguinte, Judas, sem coragem para deitar-se com Dina, adormece e é acordado pelo vaqueiro para ajudar a vaca prenha. Revive, então, no episódio do nascimento do bezerro de Abel, o ódio pelo irmão. A carta que o marca é, sem dúvida, o Ás solitário seguido, no próximo capítulo, sobre a alma atormentada de Judas, do Sete de Paus, que, combinados, formam a cruz. A última parte do romance, assim como a primeira, abre-se com três cartas: o triângulo presente no início e no fim da narrativa ratificando a ideia de “correspondência e reintegração”. Agora há um sol coroado (o “renascimento” de Abel ou a morte de Judas?); o Ás de Copas solitário, o próprio traidor; e a maçã da qual saem serpentes, símbolo da intensidade do desejo de Judas por Dina. Através das inúmeras e intricadas correlações aqui expostas, devido à complexidade da trama, procura-se revelar a riqueza desta obra na qual palavras e imagens se unem na tessitura do sentido. 5.4 O jogo embaralhado dos afetos O redemunho de sentimentos era penoso para a sangria do coração (Carrero, 2006, p.2008) A linguagem, ao cunhar um termo para cada sentimento e significá-lo, denotálo, na ânsia de traduzir as sensações em palavras, compartimenta os afetos e cria a falsa impressão de que cada um deles possui autonomia, como se não fossem interdependentes ou como se fosse possível uma pureza do conceito e da paixão correlata. Mas, ao avaliar a intimidade anímica (sobretudo a das grandes personagens ficcionais), a questão perde a simplicidade dicionarizada e ganha a complexidade própria dos corações humanos. O amor, por exemplo, comumente carregado de acepções positivas, inclusive pelo senso comum, surge como um mosaico, um composto de bons e tantas e tantas vezes maus sentimentos. Conhecer a fundo o que se passa na mente de um assassino “de papel” pode também levar à dificuldade de distinção entre bem e mal, à impossibilidade de rotulação, porque tudo se torna múltiplo, intrincado. Assim, quando Judas se esforça para compreender o que fez dele um violador e um fratricida, vem à tona um conjunto de afetos de tal modo atrelados que a nomeação compartimentada (significante/significado), instrumento de interpretação disponível, parece um equívoco de linguagem. Ódio, rancor, ressentimento, ciúme, inveja, ira, admiração, amor, desejo, vaidade, culpa compõem um bloco de elementos irmanados, geminados, com um fundo comum, que se agitam de maneira veloz, em redemunhos, na mente e nas entranhas do corpo, torturando-os. Este tópico, mais que todos os outros, nasce imperfeito, incompleto, já que o único recurso de que se dispõe é a palavra, de antemão, ineficiente, para desvendar os subterrâneos do ser. Todavia, tendo como corpus uma obra ficcional edificada sob o complexo universo das paixões, o trabalho ganha estímulo porque torna possível algum avanço – ainda que sempre e de todo modo pequeno – no entendimento da teia intrincada dos sentimentos. Sombra severa é prova cabal de que só a arte faz o homem ver um pouco de si mesmo. E “um homem diante de si mesmo conhece a crueldade dos espelhos” (p.43). A Bíblia, na qual o texto carreriano de certo modo se baseia, não deixa dúvidas sobre a maldade de Caim/Judas e inspira em (quase) todos um profundo horror a esses indivíduos criando a (falsa) impressão em quem lê de que em nada a eles se assemelha. A malhação do traidor através dos séculos comprova a tese. De modo oposto, ao longo do penoso processo de revelação da criminosa personagem de Sombra severa a si mesma, o leitor percebe o assassino iminente que carrega no peito, porque reconhece, nos sentimentos de Judas, os seus próprios sentimentos e, diante dele, vê-se como em um espelho. Impossível não se reconhecer; impossível não se apiedar; impossível não lamentar a própria condição. O martírio de Judas/Caim é o martírio humano. Quem nunca experimentou a secreta inveja ao ser preterido? Quem nunca experimentou o ódio que ela clandestinamente nutre? Quem nunca teve o desejo despertado pelo desejo do outro que tanto admira? Nem todos matam, mas todos provam a amargura dessas sensações e todos são, portanto, criminosos em potencial que quase sempre, no enredo da vida, não suspeitam de si mesmos. Para melhor avaliar o jogo embaralhado dos afetos em Sombra severa deve-se levar em conta a presença de duas principais estruturas triangulares e da correlata obsessão simbólica – da narrativa, do “traidor” e, supostamente, do Destino – pelos elementos ternários. O primeiro triângulo que se evidencia no romance é composto por Judas, Abel e Dina. No entanto, este espelha o da infância no qual os ângulos dos irmãos estão ligados aos pais e, sobretudo ao pai, que retoma, pela relação intertextual, Deus, o Pai bíblico. Quando o narrador revela o que se passa na mente de Judas após o estupro, fornece a pista para a compreensão futura de que Dina equivale apenas a um novo objeto, substituto do anterior no trilátero: “[...] o ódio irrompeu tão medonho assim apenas por causa de uma mulher? Talvez, avaliou, fosse bicho já guardado nas grutas do coração, pássaro arrebentando o ovo, sacudindo as asas implumes” (p.43). Desse modo, privilegiando a ordenação temporal, o ponto de partida da análise será a suposta origem das angústias de Judas, “o castigado” (p.65). Vale notar que o romance substitui o epíteto com o qual o apóstolo ficou conhecido, o traidor, por uma perspectiva que confere à personagem, para além da imagem de culpado própria de quem recebe uma punição, a da vítima. Ao substituir “o traidor” por “o castigado”, Carrero não apenas revela a visão da personagem sobre sua própria condição, mas amortece o olhar crítico do leitor. Quando Judas retorna, pela memória, ao tempo de menino, revê algumas passagens da infância que podem ser a raiz de seus sentimentos em relação a Abel. A primeira refere-se à predileção que o pai tem pelo irmão. É preciso relembrar que, embora haja um narrador heterodiegético, ele está colado às personagens e expõe, sobretudo, os pensamentos e anseios delas. Dessa forma, quando afirma “O pai, tão casmurro, brincava com o filho, o que não reservava para Judas” (p.65), ele se encontra na verdade mergulhado na perspectiva (e na rememoração) do criminoso que busca encontrar as razões do crime. É difícil crer, até pelo alto índice do uso ao longo da obra do indireto livre, ratificando a intenção de iluminar o íntimo dos seres ficcionais, que a predileção por Abel seja uma verdade apresentada pela onisciência de quem narra, conforme salienta a escolha do tipo de discurso, e não a visão pouco confiável de Judas. Mas o fato é que ele se sente, então, preterido, porque os pais reservavam ao outro “melhores cuidados” (p.64). Todavia, esse olhar pode ter se conformado em razão de que Abel menino era belo, cabelos espalhados na cabeça, assanhados, e os olhos intensamente negros. As vestes de algodãozinho, a camisa aberta ao peito. Parecia um ser desenhado. [...] Foi ali no alpendre de Jati [...] que viu os olhos verdadeiros de Abel. Tão negros os olhos e de um encanto buliçoso. Coisa terrível é descobrir o olhar. Feito quem mergulha, afundando-se e afundando-se, desnudando-se no espírito das águas. Porque quem olha é mais visto do que vê. Abismo para dentro. (p.65) Pode-se supor que Judas acreditava na predileção de seus pais pelo irmão porque ele mesmo se considerava inferior (e talvez não fosse). A pergunta, então, seria: a suposta preferência patriarcal leva a personagem a idealizar Abel ou a idealização de Abel o leva a crer que os pais elegiam o irmão? Na primeira hipótese, a vaidade ferida conduz à inveja e simultaneamente à idolatria (diante de Abel, Judas “deslumbrava-se” (p.65)) e à sensação de inferioridade. E, na segunda hipótese, ele, ao se comparar ao irmão, talvez por uma baixa autoestima, tenha constatado a superioridade do mesmo e, assim, passou a crer que os pais tinham razões para gostar mais de Abel. Neste caso, a idolatria conduz à inveja e à sensação de inferioridade e, por último, à vaidade ferida por conta da suposta predileção paterna. Todavia, tudo é ainda mais complicado no terreno das afetividades. Matias Aires, por exemplo, em Reflexão sobre a vaidade dos homens, não vê neste sentimento a raiz da inveja. Para ele, acima disso, “o que chamamos inveja, não é senão vaidade. [...]. Desejamos o que os outros possuem, porque nos parece que tudo o que outros têm nós o merecíamos melhor” (2007, p.69). Claro, deve-se considerar também a possibilidade de que Abel fosse de fato o mais bonito e o filho predileto. De qualquer modo, o resultado das hipóteses é o mesmo: o nascimento do ódio. Judas, no entanto, em seu rememorar, conclui que, naquele instante de observação, o que sentiu não foi inveja, que se bordaria, mais tarde, com as linhas e agulhas do tempo. Foi amor. Pois só agora, passados tantos anos, podia compreender: o amor é a inveja do outro: ama-se para roubar do outro a parte que lhe falta. A beleza de Abel impulsionara-o para os escuros da alma. E não podendo completar a parte que lhe faltava em seu corpo – era homem e irmão – o outro lado enlodara-se. Apodrecera. (p.66) Sob essa perspectiva, o amor, que se confunde com admiração, idolatria e inveja, é, ao mesmo tempo, o desejo de possuir o outro, um desejo infrutífero porque eram homens e irmãos. Como não pode ter Abel, a inveja, o amor, contamina a alma. De qualquer modo, e não necessariamente nesta ordem, os sentimentos desencadeadores, entrelaçados e, por vezes, fusionados, são: amor (admiração, idolatria), inveja, vaidade, ódio. Em seguida, o narrador revela que Judas tramara o assassinato já naquela época, “no triplo instante”: quando viu Abel, só luz, a lanterna do pai sobre a cabeça; quando se afundou nos seus olhos, o abismo do nadador perdendo o fôlego; e quando descobriu – agora sabia que descobrira mesmo – que o amava, o amor que faltava na parte incompleta de seu corpo. (p.66) O excerto acima, no entanto, pela sequência estabelecida, faz supor que a origem do conflito esteja na estrutura triangular: Abel, Judas e o Pai. Judas não deseja o que o irmão deseja (o desejo pelo desejo do outro) ainda, mas deseja ser amado (e belo e ágil) como Abel o é. Há um anseio de igualdade, de equivalência, de fusão, de tomar o lugar do outro porque é um lugar que considera melhor do que o seu. E, diante da impossibilidade, o sentimento de injustiça. Judas se vê como vítima de Deus e do Destino, e, de certo modo, talvez o seja. A atormentada personagem rememora também o dia em que ela e o irmão tomaram banho no rio e competiram pelo melhor mergulho. Mais uma vez Judas acredita que seu esforço é inútil e sente dificuldade de encarar o sorriso de Abel. Logo se pergunta se a gênese do ódio estaria não no olhar, mas no sorriso do filho predileto. Aliás, essa pergunta (“o sorriso ou o olhar?” (p.68)) assim como a da origem de seus sentimentos (“Onde estaria o começo?” (p.64)) ou sobre se o elemento desencadeador do conflito foi a inveja ou o ódio (“Foi inveja ou ódio?” (p.77)) atravessam a narrativa. A intertextualidade sugere que o questionamento sobre o início se refere ao princípio da vida, da criação do humano. Quando o sobrinho ganha do compadre Teodoro o carneiro, ratificando a ideia de que ele era o predileto da família, Judas mata o animal e essa morte simboliza o primeiro assassinato de Abel. Judas não pode possuir Abel (nem o carneiro) e, então, deseja destruir o objeto do desejo para por fim a angústia de desejar. A presença do irmão lhe desperta ainda constantemente um sentimento de inferioridade. Eliminar Abel, então, seria também excluir a presença daquele que revela a sua própria pequenez. Nota-se neste novo triângulo (Judas, Abel, Carneiro) que, de algum modo, o interesse de Judas pelo animal fundamenta-se na questão de que ele pertence a Abel. Dante Moreira Leite, no ensaio “O triângulo, o ciúme e a inveja”, verifica que no esquema de desejos e frustrações é que se formam os sucessivos triângulos em que nos envolvemos, consciente ou inconscientemente. No universo humano, as coisas são não dadas, mas devem ser atingidas – muitas vezes, pela luta e pela competição. As coisas pelas quais lutamos são aquelas que os outros (ou, pelo menos, alguns outros) também desejam; se não as desejassem, bem saberíamos que são coisas desvaliosas, e também deixaríamos de lutar por elas. (2007, p.34). O elemento novo, portanto, é o desejo pelo desejo do outro, o anseio de possuir o que o outro possui, o que René Girard chama ao longo de sua vasta obra, de maneira um tanto obsessiva, de “desejo mimético”. Camille Dumoulié sintetiza a proposta de Mentira romântica e verdade romanesca, obra na qual o autor francês expõe os princípios de sua teoria: Neste estudo [Girard] analisa as obras de uma série de romancistas “realistas” que mostraram claramente a ilusão da mentira romântica de um desejo autônomo, direto e livre por um objeto ao qual o ego atribui valor intrínseco, e revelaram a verdade do “desejo triangular”. Este último supõe sempre a existência de um rival, de um modelo, de um obstáculo, que dá valor a um objeto e o torna uma coisa desejável. (2005, p.216) Trinta anos depois da publicação dessa primeira obra teórica (1961), Girard se mantém fiel à sua tese e faz uso dela para analisar o teatro do maior dramaturgo de todos os tempos, em Shakespeare: o teatro da inveja (1991). Para o filósofo, o “desejo mimético” é a “fonte fundamental do conflito humano” (Girard, 2010, p.42) e o termo essencial correspondente no teatro do poeta inglês é a inveja que subordina um algo desejado a um alguém que goza de uma relação privilegiada com esse objeto. A inveja cobiça o ser superior que nem o alguém, nem o algo parecem possuir individualmente, mas apenas em conjunto. (ib, p.43) Todavia, há de se considerar que, em Sombra severa, a morte do carneiro revela não exatamente o desejo mimético, triangular, pelo desejo do outro, mas sobretudo a vontade de impedir que o outro desfrute do prazer que o objeto pode proporcionar. Judas não quer exatamente o carneiro, quer que Abel não o tenha. O triângulo da fase adulta, entre Dina, Abel e Judas, também parece se conformar a ideia proposta por Girard, já que Judas deseja o desejo de Abel e violenta sua amada, assim como Tarquínio faz com a esposa de seu amigo Colatino na peça shakespeariana O estupro de Lucrécia (ib., p.80). O narrador carreriano revela: “[...] os dois a desejaram. Duelaram em silêncio anos seguidos [...]” (p.27). Todavia, o objeto em si pouco interessa a Judas, embora seu desejo tenha inegavelmente como fonte o desejo de Abel, tanto que após a morte do irmão, confessa: “Quisera-a enquanto Abel estava vivo, a quem ela pertencia” (p.110). Mas o que ele anseia de fato é novamente impedir que o irmão possua o objeto. Talvez a obra carreriana, embora não explicite isso em nenhum instante, seja sobre ciúme e inveja. Joseph Epstein procura fazer distinção entre esses sentimentos aparentemente próximos: “sente-se ciúme do que se tem e inveja do que as outras pessoas têm” (p.30). Ao matar o carneiro ou estuprar Dina, Judas quer ter/destruir tudo o que o irmão preza porque o inveja, sem dúvida. Mas talvez também porque o ame e o queira só para si, já que nos períodos de ausência triangular, enquanto eram somente os dois, não houve nenhum conflito revelado. Essa, no entanto, é uma hipótese que não pode ser devidamente comprovada, embora a repulsa por Dina após o ato luxurioso indicie que talvez o agente motivador não tenha sido o desejo por ela, mas a vontade de afastá-la do irmão. Por ódio ou por amor? Vale lembrar que, quando nasce o bezerro e o vaqueiro informa que ele pertencia a Abel, Judas, repleto de esterco e sangue, simbolizando os crimes cometidos e a imundície de sua alma, experimenta novamente, mesmo em meio à culpa, maus sentimentos: Judas olhou-o: os olhos de fúria, de um ódio que recomeçava a sentir, fazia tempo esquecera. Um ódio que ele pensava nunca mais fosse arrebentar. O bezerro lembrou-lhe o carneiro que sangrou vivo no monte e depois tocou fogo. (p.112) É Epstein, ao comentar o episódio bíblico de Caim, “o primeiro caso registrado de inveja” (2004, p.43) quem observa a adequação desse afeto ao décimo mandamento: Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem cousa alguma do teu próximo (ib., 2004, p.44). Torna-se interessante notar que Carrero aliou o primeiro caso de inveja à primeira sentença da ordem divina voltada para esse sentimento. Caim não deseja a mulher do irmão, mas assim faz o Judas/Caim carreriano. No turbilhão de pensamentos de Judas após o estupro, ele parece referenciar o texto sagrado: “A um irmão não se fere. A uma cunhada não se deseja” (p.29). Para Schopenhauer, “a inveja é natural ao homem” (1956, p.155) e “só faz elevar, engrossar, consolidar o muro que erguia entre tu e eu” (1959, p.130). No entanto, na relação entre Judas e Abel, esse afeto parece ao mesmo tempo afastá-los e uni-los. Tanto que nem o episódio do estupro os separou, fisicamente, de imediato, assim como o do carneiro também não instaurou nenhuma distância corporal. Os laços de sangue – e talvez essa inveja, estranho misto de amor e vaidade – os manteve sob o mesmo teto. E, embora a tensão psicológica pareça aumentar significativamente, não se pode falar em afastamento. Nem a morte, na verdade, os separa, porque Abel é duplamente fantasma: “encarnado” em Dina e povoando a mente agônica de Judas. O jogo embaralhado dos afetos originário sobretudo das estruturas triangulares – simbolizadas, como já apontado no tópico anterior, na presença maciça do número três e de seus correlatos e nas imagens triláteras que as cartas revelam – se estende por toda a narrativa. Pode-se notar, por exemplo, que o motor do sequestro é o apetite e não o amor: “[...] fora a carne que o impelira para o rapto” (p.17). Também Dina possuía um “corpo ansioso” (p.18) e seios que desejavam mãos (p.19). Na orelha da obra, Marcos Santarrita observa corretamente que o triângulo em Sombra severa não é amoroso, mas “de primitivas paixões”. Quando Judas vai buscar Dina no quarto, o indireto livre, assim como a estranha proximidade ente os dois corpos, deixa entrever o provável interesse dela pelo irmão de Abel: “Caberia seu corpo sob o dele?” (p.25). Antes de sair do aposento, ela se olha no espelho e o narrador novamente instaura a dúvida ao questionar “havia vaidade na face tensa de Dina?” (p.25). Como tudo está sempre no terreno dos desejos, as referências animalescas pululam. Assim, após o estupro, o corpo da mulher está “domado”, termo usual no trato com cavalos. Do mesmo modo, o violentador é equiparado ao cão, não apenas pelo simbolismo satânico, mas pela capacidade do animal (e de Judas) de farejar presas (p.28). Carrero lança mais afetos na fogueira ao compor o mosaico dos sentimentos do violador, após o estupro, com pitadas de ternura, remorso e repulsa. Também é contraditório o que se passa com Dina, porque, sob o corpo de seu algoz, ela experimenta “a dor e o prazer agonioso” (p.28). Inicialmente o irmão de Abel supõe que foi movido pela “insensatez do corpo” (p.30) e afirma que não planejara o crime (p.29). Todavia, mais à frente, sabe-se, os redemunhos da alma trazem à tona a infância dos meninos e os possíveis elementos desencadeadores do drama de Jati. A narrativa dá início, assim, depois da violação do corpo virginal, ao martírio de Judas, que se intensificará após o fratricídio de Abel, e culminará em seu próprio ato sacrificial. No entanto, antes do assassinato, o pensamento de Judas exposto pelo narrador revela que Abel tinha consciência que seu irmão amava Dina, sendo ele, portanto, o culpado da desgraça: Mas Abel sabia que ele, Judas, também amava – amara – Dina. Amara-a de uma forma diferente, sem coragem para aproximações, para dizer amo-a, o fundo dos olhos no fundo do coração, sabia e, no entanto, trouxe-a. Agora era suportar o lenho que a agonia obriga a trazer sobre os ombros (p.39) Então Judas desejava verdadeiramente Dina, amava-a ou seu desejo/amor era mimético como faz supor as revelações da infância? Judas não sabe, o narrador não sabe e o leitor também não. Talvez resida aí a grandiosidade do texto carreriano: reconhecer a complexidade dos afetos humanos e não fornecer chaves lógicas, conclusivas, para a leitura do texto. Há uma gama de possibilidades aparentemente antagônicas que se interpenetram e não se excluem porque diante dos fatos da vida os indivíduos experimentam, na verdade, os mais contraditórios sentimentos. O irmão de Abel se pergunta: “O traidor ofende-se?” (p.39). É engenhosa a perspectiva do estuprador/assassino ofendido. Há algo em Judas, como em quase todos os seres ficcionais carrerianos, que o condena e absolve. Também Abel tem uma “ira mansa” (p.57) e “castiga amando” (p.38). Diante da imobilidade do irmão e da resignação de Dina, o traidor envereda em um túnel/pântano viscoso (p.38). Em sua via-crúcis, é repelido e rejeitado até pela prostituta que dele parece ainda caçoar (p.42). Quando Judas encontra em Dina, Abel, Deus e no Destino a culpa, ela, de fato, se descentraliza. Mas é o traidor que no texto experimenta a atmosfera agônica de um incessante remoer. Antes de matar o irmão, ele pensa inicialmente em pedir desculpas, depois em sugerir a reconciliação entre os namorados e, quando o leitor imagina outro rumo para a narrativa, num instante, ele desfere os golpes fatais e, então, chora. Tudo muito rápido e contraditório. Judas conclui, em sua busca pela origem do ódio, que Dina não foi a única causa (p.63). Ao se perguntar “A fera guarda remorsos? As carnes da vítima estraçalhadas nos dentes?” (p.69), incita a proposição: o traidor é menos animalesco (ou mau) do que se supõe porque é capaz de se autoinfligir com o insustentável peso da culpa? Em seu martírio psíquico, anseia por retalhar os pensamentos a punhal (p.72), mas sabe que é impossível apagar da mente a dor porque “o esquecimento, compreendia, é um tecido que se desfaz, puindo-se, rasgando-se, desfazendo-se pelo tempo” (p.78). Quanto à permanência de Dina na casa, Judas conclui que era um modo de puni-lo: “Ficaria para acompanhá-lo: passo a passo, lado a lado, numa exigência mais dolorosa do que o suspiro de Abel na hora da morte” (p.82). Todavia, quando ela sai nua do banheiro, outros sentimentos surgem. O “castigado” já não sabe se é provocação ou loucura (p.91), desrespeito ou insulto (p.92). E, quando ela retorna vestida de Abel, sente a princípio medo, mas, em seguida, o desejo renasce: “Teve vontade [...] de rasgar as roupas do irmão, desnudar, novamente, o corpo de Dina” (p.94). Essa ânsia nasceria da restauração do triângulo? No entanto, logo o desejo arrefece na alma tomada pela vergonha e pela dor. E a própria Dina não compreende as razões que a levam a ficar nua. Seria apenas para satisfazer-se, como ela supõe, ou para punir Judas? Após o casamento, ele também não é capaz de se deitar com a mulher porque “o desejo se transformava em paixão” (p.110) e no turbilhão de seus pensamentos procura entender o que ela sente por ele e o que pretende ao ocupar o lugar de Abel. Ela o cobiçava, jogava, queria agradá-lo, ao trazer o irmão de volta à vida, castigá-lo ou enlouquecera? Uma possibilidade substitui a outra (e nenhuma é excluída), sem conclusão, na mente da personagem atormentada. Dina, sob essas perspectivas, seria, em relação a Judas, boa, má ou louca? Impossível saber. E o desnorteado Judas decide amá-la, possuí-la, mas, em seguida, compungido por seus atos, escolhe enterrar-se no quarto para, enfim, receber os anjos guerreiros. Em Enigmas da culpa, Moacyr Scliar observa que a morte de Jesus, a morte do ‘cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo’, resultará inevitavelmente em culpa: a culpa que começa com Judas entregando-o aos soldados romanos e, arrependido, enforcando-se depois [...] (2007, p.75) Embora Scliar alerte que há versões discordantes do episódio suicida, Carrero parece ter usado este como uma das fontes para edificar Sombra severa. E ainda que a questão da inveja seja preponderante no romance, deve-se notar que mais da metade da obra é composta pela via-crúcis psíquica de Judas/Caim, o lastimoso e incessante remoer da culpa. Por fim, o traidor/castigado se enterra vivo no quarto, sacrifício máximo, enquanto Abel/Cristo renasce “ao sol do quase meio-dia” (p.126). Dessa forma, seria possível, mas errôneo, pensar em prosa maniqueísta, já que o Judas de Raimundo Carrero, peça do jogo embaralhado dos afetos, não é, apesar de seus crimes, uma personificação do mal em si, mas simplesmente humano, eterna vítima de si mesmo. 5.5 Linearidade vertiginosa Matar um irmão não era como matar todos os irmãos juntos? Havia só um laço de sangue, a intimidade das paixões? Sentia-se cada vez mais derrotado: como se tivesse injuriado e massacrado toda a humanidade. Não era só um ato vil, covarde, repelente – era a destruição do sonho. A humanidade transformada em escombros. (Carrero, 2008, p.117) O quarto título carreriano abre com quatro epígrafes, três em bloco e a outra isolada em página posterior. A primeira é um fragmento da obra A hora dos assassinos, de Henry Miller, e refere-se à “índole traiçoeira do rebelde”. Traiçoeira e sacrílega, mas elemento diferenciador do resto do rebanho. Não há dúvida, portanto, de que se refere não apenas ao Judas carreriano como ao bíblico e a Caim, todos rebeldes, todos traidores. Logo abaixo há um trecho extraído do conto “A vassoura da bruxa”, do uruguaio Mario Arrequi, que finaliza com a sentença “ninguém fica tão unido a ninguém como o homicida a sua vítima”. Em Sombra severa, encontra-se passagem semelhante na perspectiva de Dina durante o enterro de Abel: [...] o assassino é quem conduz o morto na sepultura. Mesmo quando foge e desaparece nos confins. Mesmo estando tão longe, como a alma do corpo, após a morte. Ali, porém, não vira tão perto: vítima e agressor? (p.84). Verifica-se, portanto, que a epígrafe se harmoniza à obra: ambas defendem que o indivíduo, ao matar, fica para sempre preso ao morto. O último excerto da tríade pertence a Hamlet, de Shakespeare: Deixa-me saber por que teus ossos abençoados, sepultos na morte, rasgam assim a mortalha em que estavam? Por que teu sepulcro, no qual te vimos quietamente depositado, abriu suas pesadas mandíbulas marmóreas para jogar-te novamente para fora. A referência a essa “ressurreição” fantasmática casa perfeitamente com o retorno de Abel na mente atormentada de Judas (sua morte o torna mais vivo, mais presente) e com a “reencarnação” gradativa do irmão em Dina. Apesar de os fragmentos escolhidos funcionarem perfeitamente como antecipadores do discurso, é a quarta epígrafe retirada do romance José e seus irmãos, de Thomas Mann, que sintetiza o sentido mais profundo do texto. Verifica-se nela a ideia de percurso cíclico da existência, composta por “correspondência e reintegração”. E o que Carrero pretende com a intertextualidade bíblica senão sugerir que a origem das ações de suas personagens se encontra não em suas próprias existências, mas na gênese da vida humana? Todos estão presos, portanto, a esse movimento contínuo e espiralado, de “correspondência e reintegração”, do qual não podem escapar. Raimundo Carrero, após experimentar pela primeira vez o narrador homodiegético em A dupla face do baralho, retoma o heterogiegético dos primeiros títulos em Sombra severa. No entanto, a onisciência comumente característica desse tipo de narrativa é limitada pelo conhecimento que as personagens têm de si mesmas. O leitor, assim, está diante de uma prosa repleta de sentimentos contraditórios, de perguntas sem respostas e acompanha junto a quem narra as oscilações anímicas, sobretudo de Judas, compreendendo-o apenas na medida em que ele próprio se compreende, o que não é muito, ou melhor, não é claro, indubitável. Embora Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, autores do Dicionário de Narratologia, evidenciem que a teoria tripartida de Pouillon sobre a perspectiva na ficção romanesca (visão “por detrás”, visão “com” e visão “de fora”) é “um tanto limitativa” (2007, p.326), reconhecem que ela se impôs. De fato, ao confrontar texto e teoria usualmente algo parece não se encaixar. Primeiro, porque o romance pode possuir várias visões, dificultando a conclusão; segundo porque cada uma delas isoladamente parece não dar conta da complexidade ficcional e terceiro, porque, na obra de Pouillon, elas são aplicadas a um número restrito de exemplos com os quais evidentemente se harmonizam – o que não ocorre com tantos outros analisados pela crítica. Embora o teórico advirta que a visão “com” é mais encontrada nos textos em primeira pessoa, o romance Sombra severa parece estar impregnado dela: quase sempre é a partir de Judas, por exemplo, que o leitor o conhece e, por vezes, às demais personagens, ou seja, de acordo com a teoria de Pouillon, “é com ele que vemos os outros protagonistas” (1974, p.54). Assim, “eles devem ser compreendidos dentro do pensamento daquele em cujo íntimo nos colocamos desde o início” (ib., p.55). Essa visão, portanto, é predominantemente subjetiva ao contrário da “por detrás” no qual o autor distancia-se da personagem, não para vê-la “do exterior, para ver os seus gestos e ouvir simplesmente suas palavras, mas para considerar de maneira objetiva e direta a sua vida psíquica” (ib., p.62), tornando-a assim muito mais previsível, já que comumente “todo o decorrer do romance assume um aspecto de dedução ou demonstração” (ib., p.65). Pouillon ainda, para exemplificar a visão “com”, refere-se aos textos de Faulkner nos quais o leitor não é guiado em direção a uma maneira de sentir suscetível de explicação, mas sim em direção ao que constitui precisamente a consciência de pessoas como aquelas, uma consciência radicalmente confusa, que terá de permanecer sempre irrefletida. Em suma, um romance desta ordem procura fazer-nos captar a confusão dessa consciência primitiva, sem nos dizer o que tem de compreensível, apesar de tudo, mas levando-nos, pelo contrário, a realizar em nós mesmos essa confusão. A incoerência das visões que os personagens têm dos acontecimentos que lhes sucedem e que transparece nas narrativas dos mesmos feitas por esses personagens tem como finalidade transmitir-nos diretamente a consciência de si de um primitivo, sem precisar recorrer a reconstruções conceituais ou a comentários psicológicos. (ib.,p.60) A definição cabe bem nesta narrativa carreriana, repleta de contradições e dubiedades. Ao acompanhar Judas e suas múltiplas e confusas explicações para a natureza de seus atos, por exemplo, o leitor experimenta a sensação de que foi abandonado por aquele narrador onisciente, típico das narrativas em terceira pessoa, que poderia esclarecer suas dúvidas, apontar caminhos, ajudá-lo a interpretar o texto e a compreender a personagem. A questão está para além da neutralidade (que, sabe-se, na verdade, é sempre inexistente) e centra-se no fato de que quem narra parece compreender tanto quanto (ou talvez apenas um pouco mais) do que quem lê. Leitor, narrador e personagem estão no mesmo barco, e ele está aparentemente à deriva, no mar revolto de uma interioridade anímica atormentada. A longa passagem abaixo, extraída do romance, como tantas outras presentes na narrativa, é capaz de esclarecer a proposição apresentada: Talvez Abel julgasse que ele, Judas, era estranho. Por causa do seu silêncio. Taciturno, casmurro. Não era culpa dele. Herdara do pai tudo aquilo, além dos olhos que reverberavam como o sol do meio-dia. O pai é que fora assim. Sem, no entanto, ofender ou magoar. Tratando desconhecidos e desconhecidos com fidalguia, a gentileza no manejo dos gestos. Não desejava ser o contrário – mesmo com a solidão das cartas, o coração vermelho, o A partido ao meio. Seria capaz de procurar Abel para pedir desculpas. Desculpas, não. Sugeriria, apenas, que a mulher voltasse para ele. Desabituado a palavras – não só a palavras, mas também a gestos, mesmo a gestos leves, ou a olhares – permaneceu parede de pedra e cal. E o que era capaz de entender: união é segredo; família é ternura. Que fazer de Abel ali trancado no quarto? Os Florêncio acreditando na sua morte, por certo já a tendo revelado? O escuro da alma não como o da noite ou da madrugada – é muito mais impenetrável e afoito. “É ódio?” Quis saber antes de se levantar. “É ódio ou a necessidade de prestar contas?” De pé, ainda ficou parado, uma fera que espia a presa. Andar foi decisão ou impulso? Só impulso da alma desgovernada? (p.57-8) Percebe-se que, embora o narrador heterodiegético não desapareça, ele está colado à perspectiva de Judas e isso pode ser comprovado pelo uso do advérbio de dúvida (talvez) já que quem se questiona é a personagem; pela escolha do imperfeito e do futuro do pretérito que cabem bem aos dois discursos (eu desejava, ele desejava; eu seria, ele seria); pelo titubeio quanto a atitude a tomar, que evidentemente pertence ao pensamento confuso do irmão de Abel (“Seria capaz de pedir desculpas. Desculpas, não. Sugeriria, apenas [...]); pelas frases curtas e entrecortadas típicas dos pouco organizados processos mentais e, por fim, pela presença maciça no trecho (e no romance) do indireto livre – “forma de narrar ambígua, na qual o narrador narra tão próximo do personagem que o leitor tem a impressão, por momentos, que quem está falando é o próprio personagem” (Llosa, 1979, p.150). Mario Vargas Llosa, ao analisar a utilização deste discurso em Madame Bovary, conclui que as interrogações são quase sempre uma forma “complementar para facilitar essa transferência de um plano para outro, para que a muda de narrador onisciente a narradorpersonagem passe inadvertida, não provoque cortes no relato” (ib., p.155). Curiosamente, ora Carrero faz uso do indireto livre ora marca o pensamento da personagem com aspas (que poderiam ser eliminadas sem nenhum prejuízo para a compreensão do texto), como se desejasse eliminar a dúvida sobre quem “fala” na narrativa. Esses monólogos interiores, nos quais o narrador não está ausente de modo pleno, atravessam Sombra severa. E esse “relator invisível”, para usar a expressão de Llosa, aparentemente imparcial, não o é por completo, porque, apesar de não emitir juízos claros, organiza a matéria de uma certa maneira, encadeando de certo modo os episódios, iluminando e escurecendo as condutas dos personagens nos instantes oportunos, escolhendo certos acontecimentos reveladores, provocando certos diálogos, efetuando certas descrições (ib., p.144). Pode-se afirmar assim que Carrero se torna o romancista da dúvida, da incerteza, ao criar um narrador que cede quase todo seu espaço aos seres ficcionais e, deste modo, altera também com frequência o foco narrativo. Das três personagens que compõem o trilátero, Abel é o menos “iluminado” e também o mais planificado (ou menos nuançado), afinal ele é a ovelha branca que não se destaca do resto do rebanho. As perspectivas apresentadas, e também as mais complexas, são principalmente as de Judas e Dina. E a da irmã dos Florêncio – deve-se acrescer – se encontra entremeada a da mãe, Sara, em quatro dos dezessete capítulos dedicados a ela (elas) em Sombra severa e marcados pela carta invertida, indício do seu conhecimento sobre o passado, sobre a circularidade da existência: “correspondência e reintegração”. Carrero consegue obter o efeito circular, espiralado, que se harmoniza com o nível simbólico (o homem é sempre o mesmo), sobretudo no capítulo seis43 em que os 43 Os capítulos de Sombra severa não são numerados. No lugar dos números, estão as cartas. Todavia, para indicar a localização dos elementos referenciados, esta pesquisa faz uso da numeração. parágrafos intercalam a visão de Dina após o estupro à rememoração da vida de Sara: ambas fugitivas e, pela intertextualidade bíblica, ambas violentadas. Vale ainda ressaltar novamente a presença nesta narrativa dos principais grupos dicotômicos, provenientes, sobretudo, da relação intertextual estabelecida entre Sombra severa e as Escrituras, já esmiuçados nos tópicos anteriores, que complementam a ideia de circularidade encontrada na epígrafe de Thomas Mann: 1. Judas carreriano/Caim bíblico; Judas carreriano/Judas bíblico; 2. Abel carreriano/Cristo bíblico; Abel carreriano/Abel bíblico; Abel carreriano/Carneiro (carreriano e bíblico); 3. Dina carreriana/Diná bíblica; Dina carreriana/Sara (carreriana e bíblica); Dina carreriana/Abel (carreriano e bíblico) Obviamente, esses grupos dialogam também entre si, resultando em um número ainda maior de combinações. Quanto à Dina, ela além de se desdobrar em Diná, Sara e Abel, é quase sempre dupla. Já no segundo capítulo surgem duas, uma, tão imóvel como uma fotografia, dentro do espelho; a outra, igualmente imóvel mas tão agitada como as sombras espalhadas pelos candeeiros, sentada na cama. Feito duas estranhas. (p.20) Uma Dina corresponde à mulher pudica que espera pelo amado porque não cabe a ela nenhum movimento; a outra é a luxuriosa cujos seios desejam mãos. Apesar da postura estática, portanto, há uma intensa movimentação interior. No décimo segundo capítulo, na perspectiva de Judas, ela novamente se duplica: Num relance, as duas visões voltaram: a mulher que lutava na capela, empenhando-se para não entregar o sangue, e a outra, a outra mulher, enfeitiçada, bela e enfeitiçada, que passava nua pela sala. (p.96) O irmão de Abel tenta compreender inutilmente a transmutação. Nem pelo narrador, nem pelos pontos de vista de Dina ou Judas, sempre dúbios ou indefinidos, o leitor sabe qual a intenção da mulher ao desnudar-se. Há, então, a violentada, vitimada e a, aparentemente, sedutora. No décimo quarto capítulo, reaparece a mesma duplicação resultante da nudez agora na perspectiva dela: “Daí que era diferente: havia uma mulher por fora e uma mulher por dentro. A que possuía uma alma atormentada, e a que carregava um corpo perfeito e solto” (p.106). A duplicidade de Dina, portanto, aparece atrelada ao duplo antagônico alma/corpo. Vale ainda ressaltar que a descrição da filha de Sara corresponde a das heroínas românticas: “cabelos longos e negros”, “rosto alvo”, “lábios finos”, “nariz afilado” (p.27). No entanto, quase ao final do romance, ela é descrita como “morena” (p.109). Houve um equívoco ou a cor justifica-se pela sua paulatina transmutação em Abel? Outro ponto merece atenção: a estética em redemunho, tão própria das narrativas carrerianas, não parece estar relacionada nesta obra à temporalidade nem à fragmentação do enredo, menos intensa do que nos romances anteriores. Ao contrário, evidenciam-se apenas o íntimo em turbilhão, os sentimentos contraditórios e, no nível simbólico, a circularidade, o destino que se repete, os mortos que retornam. Isso porque há uma base linear que perpassa a narrativa. A história, envolvendo estupro e assassinato, tem princípio, meio e fim, cronologicamente sequenciais, e, grosso modo, a durabilidade de cinco noites: a da violação, a da ida do irmão de Abel à casa da prostituta e ao bar, a do enterro, a do casamento e, por fim, aquela em que Judas “se sepulta” no quarto. Todavia, essa perspectiva é falsa e, por conta disso, este tópico foi intitulado de modo provocativo de “linearidade vertiginosa”, em círculos, portanto. Há uma reta que avança continuamente, sem dúvida, mas ela é não somente entrecortada pelas lembranças desordenadas de Judas (flashbacks ou analepses) como também pelas da filha de Sara. E ainda: há vários retrocessos para ressaltar a perspectiva de Dina sobre episódios já narrados sob o ponto de vista de Judas, os tais planos simultâneos, que poderiam ser chamados adequadamente de “enquantos narrativos”. Exemplo: no capítulo sete, Judas leva o caixão até o cemitério e faz durante o percurso inúmeras reflexões, e, no capítulo dez, este mesmo instante é retomado na visão de Dina: “Teria de segui-lo. “[...] Durante muito tempo caminhariam até o cemitério” (p.83) / “Quando Judas jogou o caixão sobre os ombros, decidiu que não podia ajudá-lo” (ib.). É possível ainda destacar uma antecipação discursiva: o narrador revela o que Judas e Dina vestiram no dia do casamento – ele, o mesmo terno preto do enterro e ela, um “vestido sem ser longo” (p.97), mas momentos antes de a cerimônia de fato acontecer, o traidor mostra-se temeroso quanto aos trajes da noiva: “Por que demorava? Viria vestida de Abel?”(p.100). Logo, Sombra severa possui uma pseudolinearidade e, reconhecendo seu fundo, estruturado a partir da relação com as Escrituras, sabe-se que ela é, em verdade, vertiginosa, composta de “correspondência e reintegração”. Talvez por isso também, e não apenas pela naturalidade de Raimundo Carrero, o sertão, ele situe suas personagens em um universo arcaizante, de virgens, punhais, candeeiros. Uma narrativa voltada para trás, buscando, em si mesma, as origens dos dramas humanos. Provavelmente, há os que vêem Sombra severa como prosa veloz com uma intensa sucessão de eventos. No entanto, deve-se notar que os principais acontecimentos se desenrolam na primeira metade da obra, como o estupro de Dina e o assassinato de Abel. A partir do capítulo oito (com exceção do décimo e do décimo quarto voltados para Dina), segue-se, sobretudo, a ruína psicológica de Judas e, então, fica fácil perceber que o ponto central do romance carreriano é o interior dessa personagem, seu martírio, sua culpa, sua busca pela compreensão de si mesma. Carrero quebra ainda várias expectativas. Jordão e Inácio – ao contrário do que Judas, Abel e, consequentemente, o leitor supunham – não desejam a luta, apenas o casamento. O irmão não reage violentamente contra o traidor após o estupro (embora a violência psicológica causada pela supressão do embate físico seja ainda mais destrutiva). Apesar da alta carga erótica entre Dina e Judas, eles não ficam juntos. O irmão de Abel, após cogitar pedir desculpas, decide matá-lo. Também por conta do diálogo com o texto bíblico, algumas suposições são estimuladas, mas não se confirmam. Poder-se-ia, por exemplo, pensar em um Judas enforcado ou em Abel assassinado com um talho na garganta. Essas quebras, trilhas suspensas, ilusões narrativas, lançam o leitor de um lado a outro, em um movimento também vertiginoso. E tudo, absolutamente tudo, em Sombra severa, está embaralhado: os baralhos, os afetos, os pensamentos, as histórias entre Dina e Sara e entre as personagens e os episódios carrerianos e bíblicos (o romance engole e digere os Testamentos de modo antropofágico). Do mesmo modo, as cartas, que abrem e marcam os capítulos, se mesclam à narrativa, para significar personagens e/ou episódios. Um universo imagético e textual, portanto, também embaralhados. Talvez esta até agora seja a obra do autor pernambucano de maior redemunho estético e há nessa sentença mais uma quebra da expectativa iludida, porque, diante do romance, num primeiro momento, por conta de sua suposta linearidade, o crítico tem a equivocada impressão de que a estrutura textual é relativamente simples. Algumas questões sobre ambientação já foram referenciadas nos tópicos anteriores, mas vale ressaltar ainda os espaços principais do romance. Osíris Borges Filho, na obra Espaço & Literatura: introdução à topoanálise, destaca algumas funções desta categoria narrativa, todas elas de algum modo presentes na prosa carreriana: “caracterizar personagens”, “influenciar personagens e também sofrer suas ações”, “propiciar as ações”, “situar a personagem geograficamente”, “representar os sentimentos vividos pelas personagens”, “estabelecer contraste com as personagens” e “antecipar a narrativa” (2007, p.35-42). Em Sombra severa, o principal espaço é o da fazenda, como sempre isolada. Esse isolamento se conforma ao isolamento, à solidão dos seres e, portanto, os qualifica, assim como propicia a ação, centrada no microcosmo familiar, quase sem interferência externa. O cenário, como já apontado, é áspero, envelhecido, com a presença, por exemplo, de cactos e bancos carcomidos, e a luminosidade, comumente pouca, propiciando um mundo de sombras em harmonia com a interioridade dos indivíduos. A sala da casa da prostituta que rejeita Judas é “pequena, acanhada, vazia. Uma casa para o encontro de corpos vagabundos” (p.42). Esse ambiente “quase lúgubre e mórbido” bem caracteriza o lugar da luxúria numa obra repleta da ideia de pecado. Prostituição e decadência são elementos indissociáveis na ficção de Raimundo Carrero. Quanto Judas é repelido, apequena-se, então, ainda mais, porque não é aceito sequer pela libertina. Já o caixão ocupado por Abel, e que ele próprio ajuda a construir, antecipa, indicia, seu futuro na narrativa. De certo modo, pode-se dizer que construir o próprio esquife significa simbolicamente ser responsável pela própria morte. E o que faz Abel quando traz Dina para a fazenda, senão selar seu destino? Importante ainda é a capela, repleta de teias de aranha, morcegos, “rebocos feito feridas” (p.26), onde estão enterrados os pais dos irmãos – sítio religioso em ruínas, símbolo da Queda das personagens. Por seu distanciamento, também propicia o estupro, que promove consequentemente uma profanação do espaço. Há, neste romance carreriano, como em As sementes do sol – obra na qual ocorre uma adaptação de rituais católicos na iniciação do sobrinho de Lourenço no reino da putaria – um embate entre o homem e o sagrado, que casa com o universo narrativo composto por transgressão e punição. A distância do cemitério também deve ser mencionada, já que Judas parece carregar até ele não o féretro, mas uma pesada cruz. Vale a pergunta: quem afinal é crucificado em Sombra severa? Quanto a situar as personagens geograficamente, não há como negar: Carrero está ainda no sertão. A fazenda fica em Jati e o povoado no qual Sara e Adão se escondem chamase Urimamãs (em realidade Urimamã), ambos situados de fato no interior do Nordeste. A escolha talvez se deva à tentativa de imprimir veracidade ao texto. Mas, sem dúvida, o lugar distanciado e áspero complementa a concepção de mundo arcaizante, própria de quem busca origens. Já os quartos prometem prazeres que não se concretizam para nenhuma das personagens. Ao contrário, viram túmulos onde elas remoem suas angústias e seus natimortos desejos. E é na mórbida alcova que Judas sepulta definitivamente seu corpo devastado por uma alma em ruínas. Sobre o irmão de Abel, destaca-se ainda sua incomunicabilidade, seu silêncio contínuo, marca não apenas da solidão, mas também da inveja. René Girard, ao analisar a peça shakespeariana Os dois cavalheiros de Verona, conclui que quanto mais Proteu inveja Valentino (que “usa sentenças cada vez mais longas” (2010, p.58)) mais fala em “erupções súbitas e ressentidas” (ib.). Também Abel é verborrágico na infância enquanto Judas é plenamente introspectivo. É próprio do invejoso o silêncio, o remoer incessante do ódio. Seria possível citar ainda o sol que, quando queima, se harmoniza à atmosfera de dor que perpassa a narrativa e, quando ilumina, causa estranheza, incômodo, porque se contrapõe, sobretudo, ao íntimo de Judas e não é capaz de alterar sua natureza sombria. Certamente, a análise topológica poderia se estender por muitas páginas, mas não é o que se propõe aqui. Esses elementos já bastam para ratificar a perfeita correlação do espaço com as personagens (e com os episódios narrativos), organismos em uma simbiose contraditoriamente maléfica, na qual ambos se deterioram. Todavia, a prosa agonizante e vertiginosa de Sombra severa, após o derradeiro delírio/sonho do assombrado Judas com os punitivos anjos guerreiros, desemboca surpreendentemente na imagem de Dina/Abel branca e plena de luz, símbolo de ressurreição e purificação. A severidade da sombra contrasta, enfim, com a luminosidade do “sol do quase meio-dia” (p.126). 6 Viagem no ventre da baleia 6.1 Carrero no ventre da história política e social brasileira “[...] em todo o País já se levanta um clamor que não é possível suportar”. (Carrero, 1986, p.25) Nos romances até aqui analisados, A história de Bernarda Soledade, As sementes do sol, A dupla face do baralho e Sombra severa, não há nenhuma referência a fatos históricos; não há sequer uma marca temporal que corresponda a um período específico. Comumente diz-se que o universo carreriano é arcaizante, primitivo, como se o escritor sertanejo estivesse sempre com o olhar voltado para as origens, pulsões e angústias existenciais. Em todas as narrativas, o âmago dos conflitos é a família. A casa, sempre interiorana, se distancia por completo da ideia de lar – proteção e aconchego – e recebe uma atmosfera asfixiante, de clausura. Presos uns aos outros pelos laços de sangue, as personagens vivenciam conflitos que metaforizam uma eterna relação combativa do homem com o homem e do homem com Deus. Quanto às diferenças, nota-se, como já exposto, o afastamento da proposta Armorial a partir do segundo título publicado, e, em A dupla face do baralho, além da presença do riso (incipiente em As sementes do sol e ausente nos demais romances), a configuração de um espaço mais urbanizado, embora este seja como o próprio autor define, o “urbano de Salgueiro” (Pereira, 2009, p.76). De qualquer forma, grosso modo, essas quatro primeiras narrativas são afins. E, apesar da preponderância do intertexto bíblico em As sementes do sol, Sombra severa e Viagem no ventre da baleia, compondo uma espécie de bloco temático, parece surgir, num primeiro instante analítico, com este último título, um novo ficcionista, uma nova proposta literária, uma nova fase. O ano de publicação é 1986, o mesmo de Sombra severa e de O senhor dos sonhos, que não integra esta pesquisa por ser literatura destinada ao público infantojuvenil e não apresentar a estrutura em redemunho, fio condutor das análises empreendidas nesta tese. Todavia, não se deve negligenciar que esta narrativa está embebida de questões inerentes às esferas política e social: a personagem Domingos de Oliveira tenciona erigir um abrigo para pobres, mas o poder público constitui um entrave às suas aspirações. Não seria, portanto, leviano supor que o embrião de Viagem começou a se desenvolver neste romance em que o escritor/intelectual assume, por meio de sua obra literária, um papel de crítico das injustiças sociais. Curiosamente, coube a orelha do último livro lançado em 86 ao próprio Carrero, que, embora alerte o leitor para a engenhosa elaboração textual, a partir de quatro distintos pontos de vista, e, portanto, reconheça a importância primeira da obra de arte, não se furta em afirmar: Não é que o romancista, por exemplo, precise escrever um livro de tese ou, como disse antes, de idéias. Mas sou sincero: uma história de ficção não é simplesmente uma história. Ou, pelo menos, não deve ser. Ficcionistas somos – pelo sim, pelo não – porta-vozes – ainda que não autorizados –, das dores, das inquietações, das alegrias e das angústias de nosso povo44. Em seguida, revela que a “confluência das visões” das quatro personagens “é uma maneira de refletir o País”. É possível que não apenas o público, mas também a crítica não tenha encontrado o Carrero usual, o que talvez justifique a pouca acolhida do título. Apesar de Viagem no ventre da baleia ter recebido o prêmio “Oswald de Andrade”, no Rio Grande do Sul, em 1987 – assim como Sombra severa foi agraciado com o “José Condé”, da Fundarpe, em 1988, e O senhor dos sonhos ficou com o “Lucilo Varejão”, da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Recife, em 1989 – houve pouquíssimas menções à obra na imprensa, conforme atesta o biógrafo Marcelo Pereira: Lançado no mesmo ano [que O senhor dos sonhos], Viagem no ventre da baleia teria, no entanto, uma repercussão bem menor. O próprio Carrero não recolheu quase nenhuma crítica ou artigo de jornal sobre o lançamento do livro [...] (2009, p.33) Todavia, não apenas a inclusão dos vieses histórico, político e social, responsáveis por uma nova feição da obra carreriana – feição inclusive urbana, já que a ação se passa parcialmente no Recife – pode ter ocasionado a pouca aceitação, mas sobretudo a própria complexidade da trama, que se acentua sobremaneira frente aos demais títulos. E, considerando o lançamento das três obras num mesmo ano – Sombra severa (erigido sobre os pilares das narrativas do ficcionista sertanejo anteriormente publicadas), O senhor dos sonhos (marcado pela simplicidade, conforme a afirmação contida na própria contracapa das Edições Bagaço, em texto assinado pelos editores45) e Viagem no ventre da baleia (obra densa, complexa e inovadora dentro da proposta do autor) – era natural que os analistas comodamente se dividissem entre os dois primeiros. Até por serem os primeiros. 44 CARRERO, Raimundo. Viagem no ventre da baleia. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; Recife: FUNDARPE, 1986. Nas próximas referências a este romance, será indicado apenas o número da página. 45 _____. O senhor dos sonhos. Recife: Bagaço, 2003. Carrero poderia ter recebido maior notoriedade com as publicações quase simultâneas, mas, ao invés disso, houve uma pulverização e sua Viagem ocupou o limbo das obras que não recebem a acolhida da crítica. Indignado com a pouca atenção dada aos romances carrerianos, Otto Lara Resende publica o artigo “O ignorado caudal nordestino”, no jornal O Globo, em 5 de fevereiro de 1989: Por isso, por ser nordestino, sua obra tem sido tratada como se não existisse. Carrero desanca os editores, a crítica, em particular a crítica universitária, os manda-chuvas do eixo Rio-São Paulo. Denuncia em suma a prevenção, o péatrás que barra o caminho dos escritores nordestinos, hoje destinados a formar uma “biblioteca subterrânea” de que ninguém fala e que ninguém lê. (apud Pereira, 2009, p.33) Anteriormente, em 4 de julho de 1988, saiu, nas páginas do Diário de Pernambuco, o texto “Imperialismo colonial sufoca a região: sim, somos colônia” no qual Carrero protesta contra a “inovação cultural” que “transformou, transforma e sempre transformará o Nordeste numa espécie de ‘terceiro mundo’ dentro deste outro trágico e imenso Terceiro Mundo. Alçapão dentro da gaiola”46. O ficcionista culpa os intelectuais por não combaterem as “injustiças sociais” e ressalta que a arte deve ser capaz de “denunciar e defender” sem perder jamais a sua “função estética”. E, após enaltecer o Regionalismo e o Armorialismo como produtos do Nordeste, afirma: “Por favor, não se trata de ufanismo. Minha terra não tem palmeiras nem sabiás. Minha terra tem mesmo é carrapicho e facão” (ib.). De fato, não se trata de um discurso idealizador, que fecha os olhos aos horrores e enaltece as belezas, mas o tom ainda é romântico, de valoração da terra, seja no âmbito nacional ou regional, ainda que repleta de carrapicho e facão (ou, sobretudo, porque repleta de carrapicho e facão). Se antes não se criticava, apenas se enaltecia, a ordem agora, de acordo com o texto carreirano, é recriminar, mesmo que violentamente, mas (também) por amor. O texto repleto de citações, de Tolstoi, Michel Leiris, Carpentier, Mao Tsé-Tung, Kundera, Montaigne, Poe, dentre outros, no entanto, soa contraditório, já que seu intuito é censurar a “invasão cultural”. A quem o escritor sertanejo, então, dirige o injuriado artigo? Pelo termo “imperialismo”, há de se supor que o alvo seja a importação da cultura norteamericana. No entanto, a pedra que tanto incomoda Pernambuco continua sendo o eixo Rio/São Paulo, quase sempre aberto ao consumo desenfreado e irrefletido dos padrões 46 _____. Imperialismo colonial sufoca a Região: sim, somos colônia. Diário de Pernambuco, Recife. 4 jul.1988, Caderno Cidade, p.A-5. americanos. Se a interpretação for correta, já que Carrero olha enviesado para o Movimento Modernista, “de origem paulista e estrangeirada”, em oposição ao Regionalista, a ideia-base, contra a qual o escritor se insurge, agora é: o Sudeste copia os EUA e o Nordeste, alçapão dentro da gaiola, copia o Sudeste, perdendo definitivamente sua identidade. Há, portanto, à época da publicação de Viagem no ventre da baleia, uma conclamação ao “engajamento”, à luta, nas esferas, não apenas política e social, mas também na artística e cultural, atrelada permanentemente ao tão recorrente “instinto de regionalidade”. Com o mundo dividido entre oprimidos e opressores, pobres e ricos, proletários e burgueses, em conformidade com o discurso vigente, o Nordeste está para os humilhados e ofendidos; à margem, se entrincheira na guerra em que o capital dita a quem pertence a cultura. É natural ainda que, após os infindáveis anos ditatoriais e a tão sonhada abertura, muitos escritores tenham enfocado literariamente a repressão. Carrero não ficou de fora desse grupo e sua “viagem” histórica perpassa os anos sessenta e setenta e, possivelmente, chega aos 80, embora as marcas deste último decênio não sejam evidentes. No início da narrativa, as personagens já vivenciaram os conflitos da luta armada. Livres da prisão no Recife, estão agora em Jatinã, sertão nordestino, em meio a uma disputa de terras: de um lado, o coronel Salvador Barros; de outro, os camponeses liderados por Jonas, ex-guerrilheiro. Padre Paulo tenta encontrar uma solução pacífica por meio da religião e da justiça, assim como Miguel, amigo de Jonas e seu ex-companheiro na guerrilha. Todavia, interessa a este tópico, sobretudo, ou ao menos inicialmente, as tramas, intercaladas a esta “narrativa primeira”, que comportam a “Selva Escura”, espécie de diário de Miguel, e o relato de sua juventude. 6.1.1 Romance histórico e/ou político? Em uma leitura inicial, e após a pesquisa de quatro títulos do escritor pernambucano nos quais não há elementos extraídos da história, tende-se a afirmar que indubitavelmente A viagem no ventre da baleia se trata de um romance histórico. Estão presentes nesta obra, por exemplo, as referências ao golpe militar, à guerrilha, à prisão, à tortura. No entanto, com a análise dos elementos que compõem esse tipo de narrativa, e na contramão das expectativas, as certezas se esvanecem e dão lugar às dúvidas. Dúvidas condizentes com a literatura de um período contraditório que não se deixa categorizar facilmente ou, quem sabe, tendo em vista o duelo crítico, espécie também de luta armada, escape de fato sempre ao rótulo ou à completude da rotulação. Em Introdução ao romance histórico, Alcmeno Bastos procura caracterizar essa forma de produção literária e diferenciá-la das outras narrativas ficcionais: o que distingue o romance histórico das outras modalidades de romance? Em primeiro lugar, o fato de que a matéria narrada do romance deve ser, obviamente, de extração histórica. Os elementos que a constituem deverão ter sido objeto de registro documental, escrito ou não, e apresentar satisfatório grau de familiaridade para o leitor medianamente informado sobre a história de uma determinada comunidade, preferencialmente de uma comunidade nacional. Dizemos da matéria narrada que ela deve ser de extração histórica e não simplesmente histórica, para, ao mesmo tempo, assinalar sua procedência, seu lugar de origem – a história –, e realçar o fato de que ela é submetida a um translado semiótico que provoca alterações qualitativas na sua substância. (2007, p.84). O pesquisador assinala ainda que fazem parte dessa “matéria de extração histórica” não apenas as personagens, mas também “os acontecimentos em si, as instituições, os lugares, tudo, enfim, que de algum modo contenha historicidade [...]” (ib, p.86). E, assim como José Maurício Gomes de Almeida, em A tradição regionalista do romance brasileiro, ressalta que para ser considerado romance regionalista não basta que a trama se passe em determinada espaço, o sertão, por exemplo, sendo necessário que ele extraia “a sua matéria e a sua substância na própria realidade físico-cultural da região, ainda que para transcendê-la” (1999, p.186), Alcmeno Bastos adverte que a presença de marcas históricas não é suficiente para configuração do romance histórico. É preciso que o destino das personagens seja de algum modo afetado por essas marcas (2007, p.89-90). Parte da polêmica sobre esse tipo de narrativa centra-se ainda na questão: para ser romance histórico é imprescindível a presença de personagens, sobretudo centrais, de extração histórica? Nas obras de Walter Scott (considerado uma espécie de pai do romance histórico, embora Antonio R. Esteves advirta que “narrativas fictícias tratando de fatos ou de personagens históricos tenham existido praticamente desde a Antiguidade” (2010, p.31)), as figuras históricas ocupam o pano de fundo de “uma trama fictícia, com personagens e fatos inventados pelo autor” (ib., p.32). Alcmeno ressalta que, para Lukács, o modelo de romance histórico ideal assentava justamente na distribuição do papel de herói não a uma figura reconhecidamente histórica, mas a uma figura inventada ou de pouca expressão na cena histórica reconstituída (2007, p.93). Todavia, no chamado novo romance histórico, a história “deixou de ser pano de fundo, ambiente apenas, e vem se tornando o cerne mesmo dos romances históricos desde as últimas décadas do século XX”. (Esteves, 2010, p.35). Houve, portanto, no que concerne a esta polêmica, uma mudança de perspectiva. A tendência de trazer à cena principal personagens de extração histórica não parece, porém, ser razão para que os demais romances, nos quais os protagonistas não pertencem à história propriamente dita, sejam desconsiderados como históricos, sobretudo tendo em vista a estrutura “original” scottiana e a defesa de Lukács. Alcmeno Bastos consegue atenuar a controvérsia quando evidencia o uso do “efeito de historicidade”: alternadamente à natureza documentada da matéria de extração histórica, pode haver a instauração de um efeito de historicidade, mediante emprego de recursos ficcionais substitutivos, como a criação de personagens, eventos e instituições análogos – do ponto de vista da verossimilhança externa – a personagens, eventos e instituições de extração histórica documentada [...]. (2007, p.107) Desse modo, as personagens principais podem não fazer parte da história, mas possuírem uma correspondência, análoga e verossímil, com aqueles que a integram. Embora haja muitos aspectos discutíveis ainda acerca do romance histórico, o último ponto que se deve destacar para a avaliação do romance carreriano é a “remoticidade”. Se nos romances românticos históricos era forçoso um distanciamento temporal (do autor) em relação ao período enfocado na obra, nos contemporâneos, o “remoto” está atrelado apenas à consumação da matéria narrada, “reforçada pelo tom fechado do relato” (ib.). Quanto ao primeiro item, a presença de “matéria de extração histórica”, em Viagem no ventre da baleia, há sem dúvida um alto índice de referências a fatos históricos. Essas referências, na narrativa primeira, que trata a princípio do conflito de terras no sertão, só aparecem no processo de rememoração de determinada personagem, mas abundam nas narrativas intercaladas, de teor memorialista, que abarcam a infância e a juventude de Miguel. Em seguida, apresenta-se um pequeno inventário dessas marcas, que surgem na ficção de modo paulatino. Na segunda página do romance, o narrador informa que Miguel já havia visto Jonas deprimido antes, “quando estiveram presos” (p.10). Embora as circunstâncias que envolvem a prisão não tenham sido ainda esclarecidas, este é o primeiro índice das futuras revelações de caráter histórico presentes na obra. Em momento subsequente, por meio do monólogo, Miguel faz menção também às “marcas da tortura” (p.13). Apenas, posteriormente, no entanto, o leitor reunirá dados suficientes para associá-las ao período de repressão. Em seguida, confirma-se, pelo discurso de Jonas em defesa da luta armada no campo, que ele e Miguel, em nome da bandeira da Solidariedade e da Liberdade, sofreram nas prisões e gemeram nas torturas (p.25). Para defender seu ponto de vista, Jonas cita o líder guerrilheiro Che Guevara: Viver continuamente em estado de guerra cria na consciência do povo uma atitude mental de adaptação a esse fenômeno novo. É um processo longo e doloroso de adaptação do indivíduo para resistir à amarga experiência que ameaça a sua tranqüilidade (p.33). Quando Miguel estudava no Colégio Nóbrega, houve um comício organizado por estudantes no qual o líder e porta-voz defendia a reforma de base, a reforma agrária e a morte dos gorilas (“Go home, Yankee!” (p.71)). Distribuíam-se ainda folhetos sobre Marx. O clima, portanto, é de antiamericanismo com a divulgação dos ideais esquerdistas. Neste instante, surge a primeira incorporação indiscutível da matéria histórica: o pai de Miguel pede cautela nas ruas, porque “O Exército tomou o governo, botou Goulart para correr, Miguel Arraes está preso, os soldados ocuparam as ruas do Recife” e “numa revolução a gente nunca sabe o que vai acontecer” (p.89). Na sequência, um policial discursa contra o comunismo, os “monstros vermelhos”, que queriam substituir a “Cruz de Cristo pela foice e o martelo” (p.90.). Logo, não fica de fora sequer o fato de que a Igreja assumiu uma postura anticomunista e, inicialmente, apoiou o regime militar, como ratifica Oscar Pilagallo em O Brasil em sobressalto: “A Igreja Católica deu sua benção aos adversários dos comunistas” (2002, p.108). O embrião do espírito combativo de Jonas, ainda menino, surge no romance também repleto de referências históricas: [...] a gente não pode ficar de braços cruzados. Não podemos ser iguais a Goulart e Brizola que tinham a obrigação de resistir. Quem ouviu pelo rádio, como eu ouvi, os discursos de Brizola, tinha certeza de que ele lançaria mão às armas. Os dois deixaram o povo órfão sem qualquer possibilidade de luta (p.91). Já não há mais dúvidas: a história tem peso preponderante nesta narrativa. Os garotos, diante do quadro social, decidem “lutar contra o regime” (p.92), criando uma “sociedade secreta” (ib.) com o objetivo inicial de “dilapidar o patrimônio dos burgueses” (p.97), sob o clamor de Marx, “Proletários do mundo inteiro, uni-vos” (p.117). Embora sejam ainda crianças e as doutrinas do movimento estejam visivelmente deturpadas, também por conta de um senso crítico que será analisado no tópico seguinte desta pesquisa, todos os elementos presentes no imaginário e no comportamento dos jovens estudantes à época do regime militar estão retratados, por analogia, no romance. Há, em seguida, uma menção ao DOPs, Departamento de Ordem Política e Social, criado para coibir movimentos que se opusessem ao Regime Militar, no “diário” “Selva Escura”, de Miguel: Deixamos o DOPs. Estamos agora no presídio, aguardando julgamento. O policial ferido morreu – somos criminosos, meu Deus! Jonas ainda procurou, tentou me convencer: agimos em nome da Revolução e o policial é a força, a opressão, a cabeça visível da ditadura. (p.118) Embora o leitor saiba que os amigos estiveram envolvidos em uma ação possivelmente guerrilheira, os demais dados ainda não foram expostos. Como nenhuma das várias narrativas que compõem a Viagem tem estrutura cronológica, mais à frente Jonas rememora conversa anterior ao, agora se sabe, assalto ao banco. Miguel se pergunta se o povo está preparado para apoiar a guerrilha e expõe a situação da imprensa: “Não há clima se os jornais estão censurados, as televisões transmitindo programas de calouros e jogos de futebol, o rádio anunciando o milagre brasileiro” (p.123). Jonas rebate que a censura é quebrada com “o seqüestro de um figurão” (ib.). Miguel alerta que o “Partido Comunista está dividido”, rachado, e “há quem veja na luta armada um verdadeiro disparate” (ib.). Rachou, nas palavras de Jonas, por causa de Prestes. O então guerrilheiro conclui: “O PC estaria em melhores condições se fosse dirigido por Marighella. Este sim, sabe perfeitamente o momento em que atravessamos” (ib.). Oscar Pilagallo revela que “influenciados pela Revolução Cubana, vários grupos de esquerda no Brasil haviam optado pela luta armada como forma de tomar o poder. Desde o final de 1967, assaltavam bancos para financiar o movimento” (2002, p.123). Ainda de acordo com o historiador, “a luta armada rachou a esquerda. O Partido Comunista, sempre fiel à orientação de Moscou, condenou a opção” (ib.). Os militantes jovens, agindo na clandestinidade, passaram a ter profunda admiração pela ALN (Ação Libertadora Nacional), mais importante dissidência, “dirigida por Carlos Marighella, que se transformaria no inimigo número um do regime militar” (ib., p.124). Os sequestros, com o intuito sobretudo de libertar presos políticos, passam a ser o modo encontrado pela guerrilha para combater o regime. Pilagallo verifica ainda que “o fracasso da oposição armada também deve ser atribuído ao momento economicamente favorável que o país vivia” (ib.,p.130). Quanto à impossibilidade de a mídia se manifestar, as palavras do jornalista se harmonizam com as da personagem carreriana: a rigorosa censura à imprensa “impedia a população de ter acesso a informações sobre as atrocidades da ‘guerra suja’ cometidas em nome do regime” (ib., p.133). Sem ver o lado abominável da ditadura e satisfeito com os rumos da economia, o povo não tinha razões para apoiar a luta armada, vendo nela tantas vezes um verdadeiro disparate. Se Marighella morreu no final de 1969 (é preciso lembrar que Jonas se refere a ele no presente (“sabe”)) e a luta armada começou a ganhar corpo ao término do ano de 1967, dando início a onda de assaltos a banco, o momento no qual transcorre o episódio narrativo do crime contra a instituição financeira, que tem como consequência o assassinato do policial por Jonas e a prisão dos amigos guerrilheiros, poderia estar situado entre o final de 1967 e o início de novembro de 1969. No entanto, como há referência à censura aos meios de comunicação, acirrada sobretudo após o AI-5, assinado na sexta-feira, 13 de outubro de 1968, seria possível supor que a “ação” ficcional tenha transcorrido entre 68 e 69, na plenitude da ditadura, no começo do período conhecido como “os anos de chumbo”. Quase ao término do romance, porém, em instante também anterior ao assalto, Jonas se refere a Marighella e Lamarca como “mártires” (p.166). Considerando que o último morreu apenas em setembro de 1971, talvez a “ação” esteja situada não no final dos anos 60, mas no primeiro ou segundo ano da década de 70. Se os meninos eram adolescentes durante o golpe de 64 (estavam no ginásio), provavelmente já atingiram aqui a maioridade. Os guerrilheiros carrerianos, portanto, são análogos àqueles jovens “despreparados para pegar em armas”, atuando em “pequenas organizações desconectadas”, “isolados pela clandestinidade” e sem “o apoio da maior parte da sociedade” (Pilagallo, 2002, p.128). Antes do assalto, o diálogo entre Miguel, Jonas e Gregório revela não apenas marcas de extração histórica, mas um discurso datado, um campo semântico atrelado a uma época. Estão presentes os seguintes termos e expressões: “agentes do capitalismo”, “retaguarda”, “traição”, “delata”, “tortura”, “presos”, “contatos”, “luta revolucionária”, “movimento”, repressão”, “mortos”, “foragida”, “milicos”, “revolução”, “revolucionários”, “terroristas”, “armas”, “resistência”, “ações”, “desaparecido”, “companheiro” (p.152-154), dentre outros. Apesar de o assalto e de a prisão já terem sido revelados (e, portanto, não constituírem mistério), essa passagem, anterior ao episódio do crime, só agora exposta, tem algo de cifrada, não obviamente com o intuito de criar um suspense narrativo, mas de se harmonizar com o tipo de diálogo entre companheiros que precisavam tomar o máximo de cuidado para que seus planos de guerrilha não fossem descobertos. Só então o momento da ação criminosa é narrado no registro da memória de Miguel em “Selva Escura” no período da prisão. Do mesmo modo como Marighella era líder da ALN e havia o “MR-8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, assim chamado em homenagem a Che Guevara, o revolucionário cubano de origem argentina que morreu neste dia em 1967 [...]”, os guerrilheiros carrerianos faziam parte do MR-13 de janeiro, data em que Frei Caneca, “frade vigoroso, que participou de duas grandes revoluções, as mais notáveis registradas na história de Pernambuco” (p.166), foi executado, no ano de 1825. Considerando que Miguel e Jonas cumpriram pena por assalto seguido de morte e que devem ter sido presos no início da década de 70, eles só retornaram ao sertão anos mais tarde, possivelmente após 1979, por conta da lei da anistia. Embora ela tivesse como intuito a libertação apenas dos presos políticos, de acordo com Pilagallo, “na prática, houve a conciliação e quase cinco mil pessoas se beneficiaram com a lei” (2002, p.149). Todavia, não há como precisar. De qualquer forma, a “narrativa primeira” referente à disputa de terras está próxima da (ou na) década de 80, quase colada à (ou pouco afastada da) data de publicação de Viagem no ventre da baleia. O romance se embebe, portanto, de inúmeras marcas de extração histórica que não são apenas incidentais nem compõem um pano de fundo de uma trama romanesca nos moldes dos romances históricos românticos. Ao contrário, elas determinam a sorte das personagens que, embora não pertençam à história brasileira, são análogas a muitas que vivenciaram o mesmo período ditatorial, criando assim o tal “efeito de historicidade”. Deve-se ainda ressaltar que os planos referenciais não comportam apenas os fatos, mas um discurso político-filosófico e um campo semântico caro à época. Tender-se-ia, portanto, a afirmar, sim, Viagem no ventre da baleia é um romance histórico. Porém, não se pode esquecer que toda essa trama é passado da “narrativa primeira” em que Jonas se opõe ao coronel Salvador Barros na disputa de terras no sertão nordestino e, apesar da questão telúrica ser reconhecidamente uma problemática social brasileira, não há aí nenhum matéria – marcos – de extração histórica. Seria possível, então, falar em romance parcialmente histórico? Soa como equívoco conceitual. As certezas conquistadas com esforço novamente se esvanecem. Se for levada em conta a ideia de narrativa fechada, poderia ser dito que o destino dos seres ficcionais está selado: grosso modo, Jonas e Miguel, durante a ditadura, criam na adolescência a Venerável Ordem Secreta da Castanha, embrião do movimento de juventude, o MR-13 de janeiro; tornam-se guerrilheiros; participam da luta armada; assaltam um banco; Jonas mata um policial; eles vão presos; são torturados, e, depois de soltos, retornam ao sertão. Todavia, na “narrativa primeira”, após as terras serem massacradas pelo trator do coronel, Jonas surge ensandecido, Miguel e o Padre Paulo atordoados, o povo massacrado e a narrativa finda com a carta que Miguel recebera do sacerdote convocando-os a auxiliarem o povo através da Comissão de Terra. Dese modo, já não parece correto afirmar que se trata de um relato de tom fechado. E, de acordo com Alcmeno Bastos, o romance político, embora também ficcionalize matéria de extração histórica e esteja em sua origem “normalmente comprometido com a exposição denunciadora de uma situação socialmente injusta” (2000, p.12), ele se opõe ao romance histórico por conta de seu final inconcluso: [...] o romance histórico tem um caráter de representação ficcional conclusa – a narrativa se completa, no sentido de não restarem pendências estóricas, e são comuns, por exemplo, os epílogos informativos sobre o destino final das personagens inteiramente inventadas –, enquanto o romance político se caracteriza pelo final inconcluso, se não no que diz respeito ao destino do protagonista, que pode até morrer, ao menos no que respeita ao drama político em que ele se viu envolvido e deu sentido à sua trajetória existencial. (ib., p.13) O pesquisador cita Quarup (1967), de Antonio Callado, como exemplo de romance político, já que o protagonista “parte para a luta armada, cujo desfecho o leitor não conhece na instância ficcional, porque a narrativa deixa em aberto as diversas possibilidades da saga de Nando” (2007, p.100). Para ser considerado histórico, faltaria a Quarup uma “dimensão epilogal” (ib.). Ora, a dúvida e o receio de categorizar permanecem e Viagem no ventre da baleia parece escapar à tentativa de rotulação. Se for considerada apenas a “narrativa da ditadura urbana” o leitor está diante de um romance fechado, com destinos selados, mas, se for levada em conta a obra como um todo, talvez já não se possa falar nem em romance histórico e nem em romance político. Não seria histórico por conta da “narrativa primeira” (de final inconcluso) não possuir matéria de extração histórica. Seria possível dizer apenas, sem muita convicção, que se trata de uma narrativa parcialmente histórica. E não seria político, nem em face à “narrativa da ditadura urbana”, de final concluso, nem em face à “narrativa primeira”, por conta ainda da ausência de matéria histórica. Todavia, deve-se ressaltar que soa um tanto cerceador não chamar um romance, repleto de fatos ligados à política (e à história) brasileira, de político (e/ou histórico) apenas por conta de sua condição final. Na verdade, até a questão do que configuraria um final concluso ou inconcluso já não parece tão clara diante do turbilhão de possibilidades da narrativa pós-moderna. Em meio a essa problemática dos conceitos, Antônio R. Esteves ressalta a – aparentemente acertada – proposta de Trouche: Analisando a relação entre história e ficção no processo literário hispanoamericano, André Luiz Gonçalves Trouche (1997, 2006)47 defende a utilização da expressão “narrativas de extração histórica” para designar as diversas modalidades de narrativa que dialogam com a história. De uma 47 In: TROUCHE, A.L.G. A relação entre a história e a ficção no processo literário hispano-americano. Rio de Janeiro, 1997. Tese (Doutorado) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro; _____. América: história e ficção. Niterói: Ed. UFF, 2006. parte, tais narrativas não se restringem ao âmbito do romance histórico propriamente dito. De outra, tampouco estão circunscritas ao que Linda Hutcheon (1991), aludindo à pós-modernidade e considerando basicamente a produção narrativa do chamado primeiro mundo, denomina metaficção historiográfica. Trata-se, como se nota, de um paradigma mais amplo, com condições de abranger “o conjunto de narrativas que se constroem e se nutrem do material histórico” (2010, p.232). Talvez esta seja a única sentença segura para se dizer a respeito de Viagem no ventre da baleia, quanto à sua carga histórica (e política): o leitor está diante do primeiro romance carreriano, até agora analisado, que faz parte do conjunto de “narrativas de extração histórica”. A dificuldade de compreensão e/ou categorização da obra pode estar no fato de que ela foi constituída de universos paralelos, sobrepostos, não em uma posição diacrônica, – como a temporalidade, ainda que em redemunho, faz crer – mas sincrônica. Nessa perspectiva, seria possível supor que a “narrativa urbana do período ditatorial” funcione apenas como pano de fundo para a problemática agrária (o texto apócrifo da contra-capa do romance inicia-se com a afirmação que Viagem “trata de uma das questões mais delicadas do Brasil contemporâneo: a violência no campo”). No entanto, as sobreposições indiciam que, para Carrero, a luta armada, a guerrilha, é não apenas urbana e/ou rural, mas religiosa. Todo o discurso de Jonas está imerso na ideologia do Manifesto Comunista de Karl Marx, ainda que, por vezes, o distorça. É seu brado que o jovem guerrilheiro retoma: “Proletários do mundo inteiro, uni-vos!” (p.117). O alvo que persegue, desde sua infância até a juventude, não é exatamente a ditadura militar, mas os burgueses: “É preciso que os pobres estejam conscientes de que somente serão saciados quando derrotar os ricos” (p.76). Quanto Miguel se dirige ao Senhor, também está presente a relação dicotômica: A mim confiaste, ajudando o Padre Paulo, a condução de uma parte pequena mas muito importante do teu rebanho. Este rebanho de miseráveis e ricos, ladrões e justos, bêbados e prostitutas, orgulhosos e humildes, torturadores e torturados, exploradores e explorados e, no entanto, não me foi dado o mínimo direito de saber para que lado devo estender minha espada. [...] De um lado estão os pobres e injustiçados; de outro, os poderosos e arrogantes. Para que lado lançarei os meus dardos? (p.16-17, grifo nosso) Em seu Manifesto, Marx afirma que “a história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de classe” (Marx, Engels, Coutinho [et. al.], 1998, p.8). Em seguida, relaciona as categorias sociais em choque: Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membro das corporações e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em contraposição uns aos outros e envolvidos em uma luta ininterrupta [...] (ib.). Se, na esfera urbana, a luta é entre burguesia e proletariado, para Marx, e entre ricos e pobres, para Jonas, na esfera rural, a guerra travada é entre coronéis e camponeses, “donos” da terra e arrendatários. Nas três perspectivas, portanto, entre opressores e oprimidos – universos paralelos, sincrônicos. A propriedade privada citadina, depredada pelos meninos, porque símbolo da injustiça social, está para o latifúndio, assim como o povo assalariado corresponde aos meeiros do coronel Salvador Barros: nada lhes pertence. Plantam para comer e nunca geram capital. O que Marx diz sobre os trabalhadores da indústria bem se aplica aos homens da terra: Será que o trabalho assalariado, o trabalho proletário, cria propriedade pra ele? De modo algum. Cria capital, quer dizer, propriedade que explora o trabalho assalariado e que só pode se multiplicar e criar mais trabalho assalariado que possa ser novamente explorado. (p.22) Ao repreender Salvador Barros por planejar derrubar as casas dos camponeses, Padre Paulo lhe diz que foram eles que o ajudaram “a enriquecer” (p.129). Estão também aí, portanto, o conceito de acúmulo de capital versus exploração do trabalho. E a máquina que substitui o homem e mecaniza (ou desumaniza) a produção nas cidades surge na narrativa como o trator que irá destruir os lares e as plantações. A terra e os camponeses destroçados por ele simbolizam o embate entre a força humana e a mecânica. O equipamento agrícola é ainda equiparado a um dragão, o demônio do Apocalipse, anteriormente associado ao coronel, e constitui assim mais um universo paralelo, agora com o Texto Sagrado: A enorme língua de ferro, imponente e ousada, enfiava-se o chão, para depois se reerguer, resoluta e firme, atirando para o alto um monte de terra misturada com plantas, raízes, pedras, poeira úmida, e o suor, o suor do sacrifício, anos de trabalho. (p.169) [...] Os tratores continuavam – continuavam como majestosos dragões de ferro espalhando destruição e agonia, avançando e avançando, inexoravelmente, sempre e sempre, arrebentando a terra, cavando, remexendo, revolvendo, estuprando. Aumentando os ruídos, atordoando, desconhecendo o sacrifício, o suor, o sangue dos homens. (p.170) Salvador Barros destrói a vida de dezenas de famílias para comprar uma palacete na capital, num jogo literário de necessidade versus futilidade, e aí, talvez, esteja embutida a ideia do espaço rural contraposto ao urbano, em que aquele é sempre sacrificado, vilipendiado, em favor deste. Se na literatura do escritor sertanejo até então analisada, havia apenas a lei ditada pelo homem (mesmo em A dupla face do barralho, se for considerado que o comissário de polícia seguia apenas seus interesses), em Viagem, tanto o Padre Paulo quanto Miguel desejam solucionar os conflitos agrários pela Justiça. Todavia, assim como para Marx, o Estado só administra os negócios burgueses (Marx, Engels, Coutinho [et. al.], p.10), as personagens do romance, mesmo as que defendem a via da lei, sabem que ela está do lado dos coronéis. Nas palavras do ex-guerrilheiro, a Justiça é apenas um nome estranho e diabólico. Porque, já disse, os juízes são pagos pelos poderosos. Porque a Justiça é um grande chicote para surrar os pobres e os desgraçados. Porque a Justiça é um grande fosso onde são atiradas as esperanças dos mais humildes. (p.31) O fundador da doutrina comunista e o Jonas carreriano só reconheceram, provavelmente pelo mesmo motivo, o caminho da luta revolucionária. Viagem no ventre da baleia abarca os âmbitos histórico, social, político, filosófico, religioso e biográfico. Além disso, possui uma dimensão rural, urbana, nacional – na medida em que os conflitos citadinos e agrários espelham a realidade do país – e universal, ao incorporar uma doutrina e uma religião. A luta armada passa a ser não apenas entre pobres e ricos, coronéis e camponeses, mas a luta do o homem com o homem e do homem com Deus. Todavia, nesta obra, todos os pontos de vista, além de oscilarem ao peso da dúvida, sofrem corrosão; a história, incorporada à narrativa, é criticada e as personagens nela envolvidas, assim como seus correspondentes literários, são condenadas e inocentadas, comumente pelo viés do riso, recurso já utilizado anteriormente pelo escritor sertanejo. 6.1.2 De novo, o regionalismo Nilo Pereira, no artigo “Um romance de Carrero”, um dos poucos publicados à época de Viagem no ventre da baleia, afirma que as obras carrerianas estão dentro da linha mestra de autores de um “regionalismo forte, capaz de ser, como na verdade é, uma ressonância do universalismo do sentimento humano e da estética criadora”48. A já desgastada polêmica em torno da questão regionalista, então, permanece. Evidentemente, o analista ignora a “narrativa da luta armada” e afirma que o escritor estuda “os conflitos agrários do nosso tempo” (ib.). Embora Nilo Pereira veja a parte e não o todo, essa “primeira narrativa”, que trata da disputa 48 PEREIRA, Nilo. Um romance de Carrero. Diário de Pernambuco, Recife, 13 dez. 1986, Caderno Opinião, p.A-7. de terras no sertão, poderia ser considerada regionalista? O romance seria, assim, parcialmente regionalista, já que quase metade de sua ação, pela memória, transcorre no Recife? De acordo com José Maurício Gomes de Almeida, as grandes cidades, continuamente cosmopolitas, sujeitas a intensa mobilidade de hábitos e valores, não favorecem – e dificilmente permitem – a formação e manutenção de um complexo cultural suficientemente diferenciado e original para estimular e alimentar a criação regionalista, no sentido estrito do termo. (1999, p.253) De fato, os conflitos do período ditatorial vivenciados pelas personagens carrerianas no Recife são análogos aos de qualquer outro centro urbano do país. Não haveria, sem dúvida, nada de regional aí. Do mesmo modo, seria possível afirmar que as disputas territoriais entre coronéis e camponeses, entre os com e os sem terra, são (ou eram?) os mesmos por todo o interior do Brasil. Não há nada específico em Jatinã. Todavia, através do discurso do escritor mencionado no início deste tópico, vislumbrase o anseio de valoração do Nordeste e de uma cultura nordestina que se acredita verdadeiramente nacional – ideologia que quase sempre impulsionou as correntes regionalistas. E, mesmo quando Carrero fala em País na orelha de Viagem no ventre da baleia, assim como o Movimento Armorial também incorporou a ideia de nação aos seus manifestos, obviamente, a palavra subentendida é sempre Nordeste: o eterno e justo e nobre desejo de recuperação do prestígio cultural. Há ufanismo sim, um amor à terra, mesmo que repleta (ou até mesmo porque repleta, como já dito) de carrapicho e facão. Tania Pellegrine verifica que uma das formas de tentar compreender os rumos da ficção brasileira hoje é, paradoxalmente, voltar um pouco os olhos para aqueles que, a partir de ontem, trouxeram-na até aqui. Um traço comum, apontado por vários críticos, com nuances diversas, diz respeito à dicotomia campo x cidade, expressa na ficção regionalista e na ficção urbana. Estas representariam a oposição entre localismo e cosmopolitismo, entre tradicionalismo e vanguarda ou ainda entre nacionalismo e imperialismo. A variação da terminologia crítica exprime, porém, sempre a mesma idéia: a dificuldade de explicitar a convivência agônica do nacional e do estrangeiro, isto é, a tensão entre o local e o importado [...] (2008, p.15) As ideologias de espírito regionalista do autor, porém, não parecem se traduzir em ficção regionalista, embora não deixe de ser curioso que, em Viagem no ventre da baleia, Carrero não avance para o urbano, como se diz, mas, sobretudo, retroceda para o sertão, fato evidenciado na carta de Padre Paulo a Miguel: “Pensei que você, saindo da prisão, pudesse reiniciar a luta entre nós. Estará em sua terra, com seu povo, com sua gente” (p.189). Carrero não vai apenas; ele, sobretudo, volta! Fica fácil compreender esse surpreendente movimento, se for considerada a dimensão biográfica da obra (Carrero afirma em entrevista a Marcelo Pereira que Miguel e Jonas são suas duas faces (2009, p.85)) diante da revelação do autor: tive dificuldade para aceitar o ambiente urbano como painel de minha obra literária. Achava tudo muito fraco, tudo sem consistência, sem força. Em contrapartida, considerava o mundo rural muito mais importante, até por causa da tradição regionalista [...] (Pereira, 2009, p.87) Mas, ainda que, como fator ideológico, haja uma crença na supremacia cultural sertaneja ou nordestina, e em seu cunho supostamente nacional, e, como fatores literários, a ação de Viagem no ventre da baleia transcorra (em parte) no sertão, os conflitos de terra possuam analogia com uma problemática histórica da região e o destino de cada personagem seja aparentemente por eles selado – elementos que penderiam na balança para a rotulação de romance regionalista –, Carrero, assim como o trator de Salvador Barros, revolve o texto e desconstrói tudo quando novamente transfere as intrigas do romance para a esfera familiar, ainda que deixe quase sempre margem a dúvidas: Gerôncio não foi enforcado por conta da disputa telúrica, mas porque queria, após saber que Timóteo estava vivo, reaver aquele que por tanto tempo achara que era seu filho. O coronel, pai verdadeiro do menino, e amante de Adélia, esposa de Gerôncio, decide, então, matá-lo. Do mesmo modo, Judas discursa em favor dos fracos e oprimidos, mas é, ao que parece, sobretudo, movido por uma vingança pessoal: destruir aquele que enforcou Gerôncio. Ou seja: deseja destruir, sem saber, seu próprio pai, Salvador Barros. Em escala secundária, até mesmo a querela entre Salvador Barros e Joaquim Severo pela terra, na verdade, tem raiz também familiar: Euclidão, filho de Severo com uma empregada, é homem de Salvador Barros e acredita que seu pai deseja travar guerra com o coronel apenas para atingi-lo. Ora, desse modo, a questão pouco tem a ver com o Nordeste ou o sertão. Tudo permanece no seio familiar, repleto de desejo e ódio, símbolo das relações humanas (e sociais), como atestam os Textos Sagrados dos quais a narrativa se nutre – universos paralelos da viagem carreriana. No final, portanto, resta a dúvida: este romance, mesmo com todas as transformações estruturais e temáticas, em comparação com os anteriores, – e são muitas! – talvez não represente, no percurso de Raimundo Carrero, ruptura, mas continuidade. Ou melhor: a ruptura talvez não seja tão abrupta quanto se supõe em uma leitura inicial. E assim como soa mais propício se referir à “narrativa da luta armada” como “narrativa de extração histórica”, parece mais adequado falar, quanto à “narrativa primeira”, em “narrativa de fundamento telúrico”49, levando sempre em conta que ambas não são estanques, independentes, mas dialogam, complementam-se e compartilham a problemática da “luta armada” e da “guerrilha” social. Mesmo abdicando dos rótulos de “histórica” e “regionalista”, Viagem no ventre da baleia seria, portanto, uma ficção híbrida. Vários aspectos aqui problematizados, mas não fechados, e tantos outros se encontram atrelados à (ou são fruto da) esfera abstrusa e contraditória da literatura pós-moderna. 6.2 Uma viagem apocalíptica no ventre do pós-modernismo O apocalipse é a teoria, eu sou a prática. (Carrero, 1986, p.145) Em Despropósitos, Tânia Pellegrini, ao analisar a literatura contemporânea, verifica que, desde meados dos anos 60, enfraquece o embate campo x cidade, desdobrado em ficção regionalista x urbana, fruto das oposições ideológicas correspondentes, localismo x cosmopolitismo, tradicionalismo x vanguarda, nacionalismo x imperialismo, nacional x estrangeiro, local x importado, quase sempre presente nas letras brasileiras: a cidade torna-se o cerne dos debates, pois a realidade citadina e a imaginação estético-política fazem matéria literária do imperativo do progresso e da integração ao industrialismo e à sociedade de massas. Esse processo, que antes se operava paulatinamente, acelerou a partir do regime militar de 1964. (2008, p.18). Para a pesquisadora, as décadas seguintes à de 70 – que ainda produz uma literatura que acredita na “sua ‘função’ potencial de transformar as estruturas sociais, de revelar a ‘realidade brasileira’ injusta e desigual, inclusive no campo [...]” (ib., p.20) – são marcadas pela “pressa do mercado”, pela “fugibilidade do universo das imagens eletrônicas”, pelas “novas formas de comunicação global” (ib.). Este período coincidiria assim com a “gradativa introdução do pós-modernismo no Brasil” (ib.). A ficção brasileira aos poucos, portanto, perde os temas que “que a acompanharam desde a sua formação, incorporando outros que ainda estão em consolidação, além de se reapropriar de gêneros populares no século XIX, como o romance histórico” (ib. p.21). Com o fim do regime militar (1985), a ficção, de acordo com Pellegrini, “abandona a ‘disposição de resistência’”, mormente comprometida com o “ideário de esquerda”, e se 49 Expressão utilizada por Tânia Pellegrini em despropósitos: estudos de ficção brasileira contemporânea ao fazer referência a narrativas que possuem o campo como tema. abastece de uma temática urbana: “a questão das minorias [...], o universo das drogas, da violência e da sexualidade” (ib.). No entanto, a partir da década de 70, ganha corpo também o novo romance histórico ou romance histórico contemporâneo que reinterpreta o fato histórico, lançando mão de uma série de artimanhas ficcionais, que vão desde a ambigüidade até a presença do fantástico e do humorístico, da paródia e do pastiche, inventando situações, deformando fatos, fazendo conviver personagens reais e fictícias, subvertendo as categorias de tempo e espaço, utilizando-se de narradores em primeira pessoa, empregando meias-tintas, subtextos e intertextos – recursos da ficção e não da história – trabalhando, enfim, não no nível do que foi, mas no daquilo que poderia ter sido. (ib., p.29). Diante desse quadro, e considerando que Viagem no ventre da baleia foi publicado em 1986, por um escritor que até então jamais tinha retirado ficcionalmente os pés do sertão, esse novo título talvez represente um esforço de adequação um pouco tardio aos novos rumos da literatura brasileira. Ainda que o romance de Raimundo Carrero não possa ser considerado histórico, ele faz parte do conjunto de narrativas de extração histórica e, se não pode ser considerado urbano, porque seu locus privilegiado continua sendo o interior, é preciso atestar que pela primeira vez em sua obra as personagens transitam pelo espaço citadino. A história de Bernarda Soledade, de 75, As sementes do sol, de 81, A dupla face do baralho, de 84, e Sombra severa, de 86, parecem compor assim, grosso modo, um universo próprio, original, dissociado em termos temáticos, mas não exatamente formais, do que comumente se produziu a partir da segunda metade da década de 70 no país. E não se pode sequer falar que Viagem é um romance que dá voz às minorias já que, embora trate da injustiça social urbana e rural, suas personagens, tantas vezes “narradores”, são demasiadamente intelectualizadas. É possível compreender essa “resistência” da literatura carreriana frente aos frequentes discursos inflamados do ficcionista em favor da cultura nordestina (ou nacional). Além disso, em entrevista a Marcelo Pereira, Carrero afirma: Eu não tinha simpatia pela literatura urbana. [...]. Essa rejeição com a qual permaneci por quase toda a minha vida, só vim a perdê-la depois dos 40 anos. Só mais tarde, quando perdi o preconceito, é que eu comecei a estudar a literatura urbana [...]. (2009, p.69) Nascido em 1947, o escritor só volta os olhos para essa literatura, portanto, por volta de 1987 (ou, tendo em vista o ano de publicação de Viagem, um pouco antes, provavelmente). É possível que a perda do “preconceito” estivesse associada não somente aos novos rumos literários, mas também a um desejo natural de acolhida que, tendo em conta o silêncio da crítica, não se realiza. Deve-se, no entanto, considerar que, quando um analista literário brasileiro traça um painel para categorizar a literatura pós-moderna ou a prosa de determinada década, tende a constituir o corpus a partir de romances bem recebidos nos meios acadêmicos, sobretudo os do eixo Rio-São Paulo – embora não pareça ser o caso de Pellegrini. Esse painel, portanto, com alguma frequência, é distorcido, já que fala em termos nacionais quando transita, especialmente, sobre a ficção produzida apenas nessas duas cidades. As perguntas para as quais parece não haver resposta exata são: a prosa nordestina contemporânea, pós-64, estava alinhada às diretrizes pós-modernas ou representavam “resistência”? Qual a relação estabelecida nesta época entre a ficção carreriana e a dos seus conterrâneos: similitude ou discrepância? Após o namoro com o Movimento Armorial, que deu origem a A história de Bernada Soledade, o escritor teria seguido um percurso solitário até a suposta tentativa de adequação a uma proposta literária em conformidade com os novos caminhos da prosa “brasileira”? É preciso ainda lembrar que o “urbano” em Viagem no ventre da baleia surge como uma espécie de pano de fundo, tempo decorrido frente à narrativa primeira. E, se o urbano é o passado e o presente é o sertão, Carrero talvez pretendesse conservar mais do que renovar, hipótese alinhada ao discurso da personagem Jonas: [...] é nos campos que está a maior injustiça. É onde está a segurança da vitória. O corpo do Dragão está de costas para o campo, para a agricultura, para o poder da terra. [...] estabelecendo um clima de verdadeira rebelião, e convencendo o povo de que nossa riqueza deve sair desta terra, ninguém há de conter nosso clamor. [...] [...] do campo chegaremos à cidade, aos operários, aos industriários, aos funcionários públicos, toda essa multidão que anda à margem da Estrada. (p.32-3) Nesse aspecto, Carrero vai na contramão do rumo apontado por Pellegrini e carrega nas tintas da dicotomia dentro da própria ficção. Faz, assim, de Viagem, sua primeira obra em que campo e cidade constituem universos em oposição espacial e paralelismo social: nos dois ambientes a luta é metaforicamente a mesma. Em Despropósitos, no painel traçado pela autora, destaca-se o papel da censura na década de 70, na formação de uma literatura que tenta burlar a “percepção do censor” (2008, p.39), típica de autores “engajados na resistência ao regime” (ib., p.42). Nessa “literatura de resistência” (ib., p.43) proliferaram “romances-reportagens”, “biografias”, “depoimentos”, “memórias” (ib., p.42). Com o fim da censura, em 1979, e do regime limitar, em 1985, a década de 80, para além dos traços já apontados, torna-se o período de retomada do gênero testemunho, “com os relatos de exilados e militantes políticos à procura de um acerto de contas com seu país e seu passado [...]” (ib. p.55). Alcmeno Bastos se encontra alinhado com Pellegrini ao afirmar que no caso da literatura brasileira contemporânea, como tal entendida, neste trabalho, aquela produzida nos anos 70/80, é fora de dúvida que uma de suas linhas de força é precisamente o aproveitamento da matéria de extração histórica, tomado o golpe de 64 e seus desdobramentos como elemento nuclear, quer se trate da vertente do romance histórico e seus correlatos (“romance de fundação”, “metaficção historiográfica”, por exemplo), quer se trate do romance político. (2000, p.13) Carrero, portanto, ao incorporar a história (embora não pelo viés do testemunho) e o período ditatorial, pela primeira vez se conforma, a seu modo e em proporções restritas, ao que ficou consagrado como característico de uma época (quanto à tematização literária) em níveis nacionais. É também na década de 70 que o termo pós-moderno começa a se difundir nos EUA, como uma corrente que radicaliza ou repudia o modernismo. Tânia Pellegrini observa que, enquanto Linda Hutcheon, em Poética do pós-modernismo, sublinha a dissolução de fronteiras entre o literário e o não-literário e destaca, sobretudo, a paródia como traço característico do período, Jameson, em Pós-modernismo – a lógica cultural do capitalismo tardio, ressalta o pastiche e Nízia Villaça, em Paradoxos do pós-modernismo, enfatiza, dentre outros elementos constitutivos, a multiplicidade de paradigmas, de perspectivas e a intertextualidade. Multiplicidade, pelo visto, que se estende às tentativas de apreensão do Pósmoderno. Pellegrini, após um balanço dos discursos, procura frisar primordialmente o enfraquecimento da temática regional na literatura e sua urbanização, que abrigará o diálogo entre modernização e violência, as cidades tentaculares, os excluídos, as drogas, o hiperrealismo, a brutalidade, a ausência de afeto, o carnavalesco, o picaresco, a paródia, o pastiche50. Num primeiro instante, interessa a esta pesquisa a questão da paródia que se encontra intimamente relacionada ao que Linda Hutcheon chama de metaficção historiográfica. A teórica canadense afirma: “o que caracterizaria o pós-modernismo na ficção seria aquilo que chamo de ‘metaficção historiográfica’” (1991, p.11). E o traço distintivo dessa metaficção 50 In: PELLEGRINI, Tânia. Despropósitos, estudos de ficção brasileira contemporânea. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2008, p.61-69 historiográfica, que muitos autores associam livremente ao novo romance histórico, é o reconhecimento da história com um viés crítico, irônico, ou seja, o recurso que a viabiliza é a paródia, capaz de “sacralizar o passado e questioná-lo ao mesmo tempo” (ib., p.165). E, se há uma apropriação da matéria de extração histórica na literatura, ela se dá de modo intertextual. Linda Hucheon, usa, então, a expressão “intertextualidade paródica” (ib., p.166) ou “paródia intertextual da ficção historiográfica” (ib., p.164), já que considera a paródia “a forma irônica de intertextualidade que permite tais reavaliações do passado. Essa interrogação autoreflexiva e paródica da história” (ib., p.283). Mas, apesar de fazer referência a comumente presença de narradores “perturbadoramente múltiplos e difíceis de localizar” na literatura pósmoderna, é Bella Jozef quem melhor esclarece a correlação entre a paródia, a carnavalização e a escrita dialógica ou polifônica, que Bakhtin apontou na obra de Dostoièvski ao estudar os problemas de sua poética. Para a pesquisadora da literatura borgeana, a paródia é um dos traços distintivos da arte atual, uma das linguagens da modernidade, que transgride a linguagem convencional, invertendo o significado e os efeitos de seus elementos. Ela denuncia e faz falar aquilo que a linguagem normal oculta, pela contradição e relativização manifestada no dialogismo essencial do carnaval, através de um discurso descentralizado. (1986, p.246-7) E, ainda de acordo com a autora, “é como intertextualidade que se apreende o discurso do carnaval. Os planos formados pelos diferentes textos em superposição [...]” (ib., p.250). A paródia, em um movimento de absorção e rejeição dos textos parodiados instaura, portanto, um discurso carnavalesco, no qual se mesclam usualmente o sagrado e o profano, dando corpo a “um mundo dinâmico, porque ambivalente, contraditório, de contestação dos códigos [...]”. (ib., p.256). Essa pluralidade discursiva do discurso paródico (e carnavalesco) redunda em uma estrutura dialógica e polifônica: “Para Bakhtin, a percepção carnavalesca do mundo é origem do romance polifônico” (ib., p.256). No romance dialógico de Dostoievski, segundo ainda o teórico russo, “cada um de seus heróis tende a encarnar posições morais e ideológicas antagonista” (ib., p.258). Por mais complexo que possa parecer, não há dúvida de que os conceitos de metaficção historiográfica, intertextualidade, paródia, ironia, carnavalização, polifonia, dialogia mantêm entre si uma relação íntima. E, Carrero, provavelmente, menos pela correspondência de tais conceitos com o pós-moderno e mais por se alinhar à poética de Dostoievski, incorpora em certa medida todos esses elementos em sua Viagem no ventre da baleia. Quanto à metaficção historiográfica, deve-se levar em conta que o romance em questão não se define, stricto sensu, como histórico, mas integra as narrativas de extração histórica, conforme já apontado. Todavia, essa incorporação (intertextual) da história, assim como se apresenta no novo romance histórico ou na metaficção historiográfica, se dá por meio da paródia, já que Carrero lança sobre ela um olhar crítico, num movimento de apropriação e recusa. Além disso, ao estruturar o texto sobre quatro distintos pontos de vista antagônicos, enfraquecendo a figura e o discurso do narrador, o ficcionista pernambucano amplia os ângulos, aumenta o número de vozes e intensifica o debate dialógico. A carnavalização literária se completa com o embate permanente ao longo de toda a narrativa do sagrado com o profano. Evidencia-se ainda uma multiplicidade de narrativas intercaladas, mise en abyme, compondo um quadro complexo e fragmentado. Cabe analisar cada um desses aspectos, dentre outros, no romance em questão, que parecem evidenciar tanto a riqueza estrutural da prosa, aqui em pleno redemunho, do escritor sertanejo (ainda que Viagem no ventre da baleia seja um romance com arestas) quanto uma maior proximidade de sua obra com as propostas pós-modernas. 6.2.1 Extração histórica de teor crítico: a paródia Enquanto quase todas as narrativas pós-abertura que trataram da luta armada conferiram um tom de seriedade e respeito ao tema (o riso, quando se faz presente, é apenas circunstancial, não tendo intenção de ridicularizar a guerrilha) e as que se apresentaram como testemunho das aventuras e horrores do período ditatorial deram por vezes um tom heróico (ou patético) à trama, Raimundo Carrero parece situar o pós-64 na infância e juventude dos meninos com o intuito de carregar nas tintas da crítica não apenas à ditadura, como costumeiramente se fez, mas sobretudo à própria luta armada, em sua forma desorganizada, conduzida por “companheiros” de modo autoritário em similitude com o regime ao qual diziam se opor. Ao lado dela, incorporando-a e ironizando-a, reconhecendo seu papel e vilipendiando-a, o escritor sertanejo mantém sua poética do juízo em que todos são culpados, porque movidos em parte por sentimentos vis, e inocentes, porque tencionam tantas vezes realizar o Bem, mas terminam por fazer o Mal. A viagem histórica se inicia na década de 60, quando o então menino Miguel, estudante do colégio Nóbrega – provavelmente situado na capital, já que estava ele hospedado no quarto dos fundos do apartamento do irmão –, assiste a um discurso inflamado na calçada da escola sobre reformas de base, reforma agrária e “contra a interferência dos norte- americanos no Brasil” (p.71). O líder exigia a “morte dos gorilas” e, nos muros, estava a escrita a frase “Go home, Yankee!” (p.70), assim como na Paris de 1968, os revolucionários picharam pelas ruas “É proibido, proibir” e “A imaginação no poder”. Os alunos “distribuíam folhetos, onde se contava uma pequena história de Karl Marx e culpava a Igreja Católica pela ascensão do comunismo” (p.71). Apesar do tom discreto, é possível entrever em duas passagens uma crítica ao episódio: quando o narrador afirma que os estudantes ocupavam todo o local, mas alguns “estavam apenas brincando” (ib.) e pelo pensamento de Miguel: “É a revolta? É a isto que o professor chama de revolta?” (ib., grifo nosso). Num segundo instante narrativo, a crítica se torna mais evidente, agora ao outro lado da moeda, a ditadura. Em Santo Antônio do Salgueiro, para concluir o ginásio, o pai adverte Miguel que o “Exército tomou o governo, botou Goulart para correr, Miguel Arraes está preso, os soltados ocuparam as ruas do Recife” (p.89) e por isso ele deveria tomar cuidado. O menino, então, pergunta diante da falta de sentido que a advertência parece-lhe ter: “E por que devo tomar cuidado?” (p.ib.). E, após tomar ciência nas ruas que o tenente do Exército, com poder agora de prefeito, padre e delegado – afirmação também algo risível pelo absurdo que encerra – prendera dois rapazes, decide passar em frente à delegacia por curiosidade e é interpelado pelo oficial. Dá-se início, então, a um diálogo disparatado (e risível), que tem paralelo com os interrogatórios das torturas, entre o homem fardado e o menino inocente. O tenente queria saber, num tom sempre acusatório, intimidador e raivoso, se Miguel conhecia os camaradas, se eles lhe davam aulas de comunismo. Em seguida, faz um discurso inflamado (e algo ridículo) condenando o comunismo e enaltecendo os militares. Jonas procura Miguel para saber se ele foi preso e conta que o viram na delegacia algemado. Parece estar implícita aí uma censura à espetacularização do período, repleto de relatos de aventura nem sempre condizentes com a realidade. Rindo, o amigo responde: “Algemado?! [...] até que gostaria de ter sido tratado com mais importância. – Estão vendo demais. Respondi apenas a uma ou duas perguntas e ouvi um breve discurso sobre a necessidade salvadora da intervenção. [...]” (p.91). Miguel informa ainda que os rapazes presos eram vigiados por um soldado com um mosquetão, “desses que estão enferrujando na delegacia há muito tempo” (p.ib.). Mas, condenando Goulart e Brizola que nada fizeram para resistir, o jovem Jonas convoca seu futuro “camarada” para um encontro reservado. Lá Miguel descobre surpreso que Jonas pretendia formar um grupo para “lutar contra o novo regime” (p.92). Esse encontro, que também tem paralelo com as reuniões clandestinas da juventude à época da ditadura, está repleto dos clichês correspondentes, e ganha, assim, uma aura absolutamente burlesca. A voz de Jonas é “sussurrante” e, no seu discurso supostamente contra a ditadura, é possível entrever sua postura ditatorial, em conformidade possivelmente com a postura de muitos líderes guerrilheiros: “Vamos doutrinar o povo através de ações, mais tarde, quem sabe, teremos a adesão de operários, comerciários, gente de toda a espécie. Só não queremos conversa com gente rica, os exploradores da nação” (p.92, grifo nosso). A sociedade secreta que pretende fundar tem como inspiração “os grandes heróis das revistas de quadrinhos” (ib.). O narrador revela o pouco conhecimento que Miguel possuía sobre a filosofia marxista e o partido comunista, em provável correspondência com muitos jovens da época, além de evidenciar suas concepções ingênuas e deturpadas, ancoradas em um sentimento heróico, vaidoso: Ainda não lera Karl Marx, a não ser uma brevíssima biografia, e apenas ouvira falar de um certo, vago, distante e hermético Partido Comunista. Apesar disso, formando a sociedade secreta era como se estivesse entrando nos socavões de misteriosa entidade disposta à destruição, à violência, dizimando os injustos, os falsos, os burgueses. E os burgueses, para ele, eram até mesmo os vagabundos de beira de estrada que, por qualquer motivo, não estiveram envolvidos em algum tipo de luta política. E isso o maravilhava. (p.93) Na primeira reunião do grupo, Jonas se mostra cada vez mais autoritário em sua postura e em seu discurso contra o regime, constituindo uma (ridícula) contradição. Como um ditador, ele se conclama presidente: “ninguém me elegeu, mas eu me elejo a mim mesmo, porque sou o dono da idéia, não vou querer ser mandado por ninguém” (p.94). E, após ordenar que Valdomiro fale, diz que o colega está “pensando com a bunda” (p.94) por sugerir que os membros da sociedade secreta usem uma farda. Após ser interpelado sobre a presença de Guilherme, o líder conta que o convidou e complementa, mantendo sua costumeira arrogância: “sou presidente e tenho este direito” (p.95). Miguel sugere que a Bíblia seja o livro orientador do grupo, porque os Atos “ensinam como agir na clandestinidade” (p.95), e Jonas afirma que escolheu os rapazes por serem músicos: formando uma banda, poderiam esconder a atividade revolucionária. Os encontros seriam na “garagem do prefeito” (p.97) – escolha com nítido intuito de ridicularizar também o poder público. Decidiram ainda criar uma senha: os atrasados deveriam bater três vezes na porta e gritar “Uipe!” e o de dentro precisaria responder “Hurra!”. Além disso, em uma cerimônia, para serem reconhecidos “nas situações mais embaraçosas” (ib.) marcariam o peito com uma castanha. Quanto às ações, Jonas determina: Para começar devemos dilapidar o patrimônio dos burgueses, que é uma forma de aviso, e para que eles saibam que, na calada da noite, alguém está agindo. Dessa forma vamos roubar galinhas, bebidas dos bares, pães, bolachas, biscoitos, tudo o que for possível, riscar automóveis com pontas de pregos, furar pneus, quebrar vidraças. Faremos grandes farras, varando a noite em serenatas [...] (ib.) Enquanto a história trata, no seu papel, com seriedade a “resistência”, Carrero elabora um discurso paródico e carnavalizado muito próximo do que fizera, por exemplo, em As sementes do sol, ao incorporar os sacramentos (e subvertê-los) na cerimônia de iniciação de Absalão no reino da putaria. Poder-se-ia pensar que o riso advém apenas do fato de os integrantes da sociedade secreta serem muito jovens e distorcerem, por falta de conhecimento, os ideais daqueles que se opunham à ditadura, não havendo implícita nenhuma crítica às personagens que escrevem a história dessa época. Todavia, conforme a narrativa avança, verifica-se, no embate dialógico entre Judas, Miguel e o Padre Paulo, a desmistificação (ou desconstrução) do papel da luta armada no País. Quando se sabe que Jonas empunha não uma bandeira social, mas particular, pelo desejo de vingar seu suposto pai, também se sublinha a existência de interesses particulares se sobrepondo aos coletivos. Nas palavras de Carrero ao biógrafo Marcelo Pereira, verifica-se sua visão do período (que dá margem a essa escrita paródica): Incrível como Viagem no ventre da baleia não perdeu a atualidade nem como conteúdo nem como técnica. Somos hoje, talvez mais do que ontem, um país de incrível injustiça social no campo. [...] Agora não se pega mais em armas, e nunca se devia pegar. Até porque a experiência brasileira foi absolutamente desastrosa. Mataram e morreram por nada. Não havia sequer uma estrutura mínima. Quando lemos os livros e depoimentos sobre a revolução armada no Brasil, fica fácil perceber que não havia nada que se pudesse chamar de estrutura. Tudo era de um amadorismo escandaloso. As condições eram as piores possíveis, o movimento já estava minado e os militares tinham um serviço de informação infiltrado em todos os lugares. O estudante caía na clandestinidade e já estava preso. [...] Um bando de meninos rebeldes correndo de um lado para outro sem objetivo. Sem qualquer programação. Veja que ingenuidade: pegar em armas para enfrentar militares altamente experientes e treinados. A aventura de Lamarca foi romantismo. Não há dúvida de que foi bonito do ponto de vista do ideal, mas do plano do real não foi condizente com um homem de caserna (2009, p.84). Antônio R. Esteves, em O romance histórico brasileiro contemporâneo, verifica que a paródia, “muitas vezes associada à carnavalização” (p.39), retoma textos anteriores, em uma “relação transtextual”, promovendo uma reelaboração que “pode inverter padrões, desestabilizar, desconstruir, distorcer, ridicularizar ou simplesmente dar aos textos primeiros uma nova e surpreendente versão [...]” (2010, p.39, grifo nosso). Raimundo Carrero, portanto, em Viagem no ventre da baleia, retoma o texto histórico e, em um movimento de desconstrução e reconstrução, erige uma narrativa na qual os elementos de extração histórica são envolvidos em boa dose de escárnio. Na primeira apresentação de “Os besouros”, criado para encobrir a organização clandestina, os meninos “certos de que imitavam os Beatles, pulavam e gritavam, embora tocassem um samba” (p.114). Após o show, o grupo se reúne novamente para dar início à cerimônia de iniciação. Na garagem do prefeito, Jonas reafirma-se como líder e, novamente em tom ditatorial, diz que, assim sendo, tem o poder de decisão sobre o como e quando preparar as coisas, porque afinal só ele entende de sociedade secreta. Enquanto todos bebem e comem os itens roubados, galinha, pães e vinho, ao som de She Love You, – provável crítica aos frágeis ideais antiamericanos dos meninos (e, por tabela, da sociedade em geral) – Jonas discursa: Meus pares […] estamos aqui para formamos uma sociedade secreta, luz do mundo, que servirá de exemplo na luta contra a opressão, a injustiça e a desigualdade. Através dos nossos atos todos os homens saberão que nenhum regime ditatorial prevalecerá, porque somos irmãos e protetores dos pobres e dos torturados. Somos a luz que irrompe das trevas para iluminar a humanidade. (p.116) Evidentemente, soa risível, para além da vaidosa crença na supremacia do grupo, um “ditador” falando contra a ditadura. Sem contar que “os protetores dos pobres e dos torturados”, com o intuito de cumprir esta função, dilapidam o patrimônio dos “ricos”, em nome da “revolução dos oprimidos” (p.117), roubando galinhas e pães, furando pneus, quebrando vidraças, ateando fogo em folhas secas. Em seguida, os futuros membros da Venerável Sociedade Secreta da Castanha, antes de terem os corpos marcados com o fruto, fazem um juramento surpreendentemente violento: Prometo lutar com ferro e com fogo contra a exploração do homem pelo homem, contra a corrupção e contra a ditadura. Prometo, ainda, passar a fio de espada todos aqueles que, de alguma forma e por qualquer meio, provoquem sofrimento aos velhos, às crianças e aos animais. Prometo, finalmente, punir com severidade as pessoas que matem o sonho. (ib.) Miguel, numa referência bíblica, recebe o título de Cavaleiro dos Dragões, devendo obedecer à sociedade e ser “punido com severos castigos se cometer falhas, sendo condenado à morte caso incorra no erro da traição” (ib.). Jonas revela que, como não há “maior autoridade” que ele, sagrou-se “Supremo Cavaleiro da Castanha” (p.117). Após a dilapidação da propriedade dos “burgueses”, Jonas repete a frase final do Manifesto Comunista: “Proletários do mundo inteiro, uni-vos!” (ib.). Há, portanto, ainda uma distorção da ideologia marxista nas ações dos meninos. Mais velho, Miguel e seus amigos, embalados pelos versos de Baudelaire, bebiam, fumavam maconha e ingeriam “comprimidos”. Neste instante, ele reencontra Jonas, quem não via há muito tempo, e ao lado dele passa a integrar o – desestruturado – MR-13 de janeiro, grupo de guerrilha. Após o assalto ao banco, são presos e torturados. Para além dessa apropriação crítica da história, a narrativa comporta uma dimensão bíblica, do mesmo modo carnavalizada, que se revela, sobretudo, no violento embate entre o sagrado e o profano. As personagens carrerianas não se encontram em conformidade e harmonia com as Escrituras; reféns dos desejos – inerentes ao universo mundano – experimentam o tormentoso peso da culpa decorrente da transgressão aos interditos religiosos. O menino Miguel, que queria ser santo, seduzido pela empregada, oscila entre a vontade dual de permanecer e fugir (p.34-6). Após o ato luxurioso, atormentado, rouba dinheiro do pai, mente para conseguir comprar bebida na barraca e embriaga-se. Para alguém que almejava ser santo, que ansiava ter uma visão mística, a sequência de atos condenáveis, do ponto de vista religioso, revela que ele de fato estava “atraído pelos lamaçais do Pecado” (p.34). Em outro episódio, para conseguir a revista “mimeografada” de mulheres nuas, o então estudante do internato precisa roubar vinho da Igreja, conforme a condição imposta pelos colegas para lhe ceder a publicação. Miguel, no interior do espaço sagrado, reflete: “Era tão estranha e opressiva, a Igreja!” (p.49). Todavia, o menino não consegue sucumbir à tentação e, repleto de culpa, antes mesmo do crime, suplica por perdão: “Meu Deus, cometo um ato tão indigno, mas não posso recuar. Mesmo assim, peço perdão” (p.50). Tornou-se, dessa maneira, ao roubar Deus, “ladrão de propriedades divinas” (p.51). Após a dúvida entre se confessar ou exigir a revista, decide ficar com a última alternativa e novamente se embriaga. Além disso, em Viagem, Miguel expõe, punindo-se pela ousadia de perguntar, suas dúvidas religiosas através, por exemplo, do confronto entre as palavras, aparentemente inconciliáveis, de Agostinho e de Cristo no que se refere à natureza das crianças. Sentindo-se culpado por ser tomado por incertezas, o jovem ainda assim questiona: Que relação poderia haver entre a criança de Cristo e o pequeno ser concebido na iniqüidade de Santo Agostinho? Se não há inocência, pureza e abandono mesmo no ventre da mãe, como receber o reino de Deus igual a uma criança? (p.54) Esse questionamento, aliás, é sempre motivo de angústia, porque a crença não comportaria titubeios. Em conversa com Madalena, integrante da guerrilha com a qual Miguel tem um relacionamento, ele, “homem estraçalhado pelas dúvidas” (p.105), revela seus temores: “Não sei se é correto colocar em dúvida a palavra de Cristo. [...] Tenho medo de pecar. [...] Cristo não pede interrogações. É preciso crer. [...] E não se pode acreditar perguntando sempre” (p.102). Madalena faz contraponto a esse discurso como se fosse o avesso de uma mesma consciência: “Não foi o que me pareceu. É o resultado de uma alma inquieta que busca, que interroga. Que procura acreditar” (ib.). Judas também interpreta o Texto Sagrado conforme suas aspirações guerrilheiras e vê no Apocalipse, em oposição ao pensamento de Miguel, uma convocação imediata para o combate: “Compreendi [...] que ‘Aquele-que-é’, ‘Aquele-que-era’ e ‘Aquele-que-vem’ não exige amor pelo amor, o perdão pelo perdão, mas pela fórmula: o amor pela luta, o amor pelo sangue” (p.145). E, em seguida, complementa: “E como atuou a salvação e a autoridade do seu Cristo? Através da Espada, Miguel, dos seus Anjos guerreiros, da guerra total e absoluta” (p.145). O amigo refuta as sentenças de Jonas assim como Madalena, conforme explicitado acima, se contrapôs ao pensamento de Miguel, interrompendo a ação narrativa, numa espécie de extenso diálogo filosófico-teológico em formato similar, grosso modo, aos estabelecidos, por exemplo, em A República, de Platão, embora aqui a carga opositiva seja mais acentuada. Na viagem carreriana, os “heróis” encarnam, conforme observou Bakhtin, sobre a obra de Dostoiévski, “posições morais e ideológicas antagonista” (Josef, 1986, p.258). Outra passagem que merece destaque é a da imagem do Cristo torturado, esculpida por Augusto, que comete suicídio no interior da casa de Deus: padre Paulo, diante dela, entrevê um pedido de “clemência aos homens” (p.83), mas Adélia, em contraponto, revela que o marido – em atitude violentamente iconoclasta – pretendia abolir o Crucificado, porque, se ele existe, é “mouco” (p.86) e, assim, demonstrar “muito bem que fomos nós que O construímos com as nossas mãos, com a nossa arte, como o nosso talento. [...] Nós somos de tal forma talentosos que inventamos Cristo” (ib.). O genro de Salvador Barros explica ainda o fato de Cristo estar, na escultura, acorrentado, amarrado, amordaçado, com pés envoltos em cobras e ter o rosto sofrido: “E para ficar claro que posso ser bem maior do que Ele vou amordaçá-Lo e conduzi-Lo para o lado que quiser. Se não permito que Ele conduza o rebanho, amarro-O. Torno o Seu rosto triste, porque a mim está subjugado” (ib.). Augusto escolhe, para o seu ato final, a Igreja, “uma casa onde os ventos batem nas portas, elas gemem e o proprietário não responde, nunca responde” (ib.). A personagem é uma espécie de Cristo às avessas porque, possivelmente incitado por Jonas, com seu sacrifício iconoclasta, pretenderia também salvar os homens, incitando-os a lutar contra o coronel. O embate dialógico, na esfera religiosa acentua-se, portanto, sobremaneira, numa espécie de guerra de consciências atormentadas na qual cada uma experimenta um conflito interno – em que o “eu” se questiona ininterruptamente estabelecendo antagonismos – e externo, no qual vários “eus” colidem de modo abrupto. Essa colisão das multiperspectivas, própria do discurso polifônico, na dimensão não apenas “sagrada” do romance, mas também na social, se dá, comumente, entre Padre Paulo, Miguel e Jonas, personagens também bíblicos. 6.2.2 Citações: munição intertextual das batalhas ideológicas Cada consciência, em diálogo consigo mesma, duplica-se. E, em diálogo com as demais consciências, multiplica-se. A essa conta, que já não é pequena, somam-se, intertextualmente, alimentando os conteúdos histórico e bíblico, inúmeras citações, inclusive literárias e filosóficas, das quais as intelectualizadas personagens fazem uso para defender suas ideias, constituindo assim um verdadeiro campo de batalha ideológico. Padre Paulo cita São Paulo e o poeta T.S.Eliot para alertar tanto Miguel quanto Jonas de que o homem por vezes intenciona fazer o Bem, mas acaba realizando o Mal (p.24). Na mesma combativa conversa, Jonas cita Che Guevara e Antonio Callado, com o objetivo de convencer seus interlocutores da necessidade de declarar guerra a Salvador Barros, que pretende destruir as casas e plantações dos camponeses para vender as terras e comprar um palacete na praia (p.33). O narrador, quando a mãe de Miguel passa a mão sobre a cabeça do filho na Igreja, cita passagem semelhante do Gênesis. Mais à frente, para explicar a escolha do nome do seu “diário”, Selva Escura, no qual narra sobretudo sua juventude no Recife, Miguel extrai trecho da obra de Dante que usara como epigrafe: “A meio do caminho desta Vida, achei-me a errar por uma Selva Escura” (p.53). Padre Paulo, no discurso que prepara, intencionando impedir o confronto entre o coronel e os camponeses, recupera novamente as palavras de São Paulo. Há ainda, como já apontado, infindáveis menções aos textos sagrados e ou episódios históricos, complementando o quadro referencial. Miguel, por exemplo, no caderno de memórias Selva Escura, traça um paralelo entre o episódio demoníaco do Apocalipse, em que o Dragão (a Besta) se opõe à Mulher Vestida de Sol, e o do aniversário de Madalena, no qual ele e os rapazes, embriagados e incitados por Jonas, obrigam-na a ficar nua e cavalgar pela sala com uma vela na garupa (p.45-7). No mesmo caderno, Miguel recupera a palavra de Agostinho e Cristo para tentar compreender a “criança” a partir de perspectivas díspares. Ele e o clérigo, ao longo de todo o texto, para corroborar seus pontos de vista, mencionam, na verdade, inúmeras outras passagens bíblicas. O jovem Jonas cita, convocando os colegas para a luta contra os burgueses, Marx, como também já apontado. Madalena, que funciona, por vezes, na narrativa como uma espécie de defensora (e proclamadora) da cultura nordestina, sempre estimula Miguel a estudar a história de “heróis” religiosos que lutaram nas terras do Nordeste, contando-lhe as corajosas aventuras deles (p.103-4). O texto, pouco a pouco, ganha assim uma feição também ensaística e didática. Há, em Viagem no ventre da baleia, portanto, um número extenso de referências. Todavia, em três momentos elas se acentuam sobremaneira, constituindo ápices que promovem a suspensão (ou o refreamento) da ação narrativa. Em a Selva Escura, primeiramente, Miguel extrai trechos das seguintes obras e os dispõe na sequência aqui apresentada: Prometeu acorrentado, de Ésquilo, Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche, e Testemunho para El Greco, de Kazantzakis (p.112-3). Intercala-se a narrativa da infância e, quando o “diário” é retomado, surgem nova passagem da obra de Kazantzakis e outros três excertos: de O Divino e o Humano, de Tolstói, de Os demônios, de Dostoievski e de O Poço da Solidão, de Marguerite Radclyffe Hall (p117-8). Em uma pequena análise desses trechos, percebe-se que eles se amoldam ao indivíduo atormentado, dividido entre os homens e Deus, que anseia fazer o Bem, mas não sabe como agir. Assim como Prometeu, Miguel ama demasiadamente a humanidade e teme por tudo que está a sua volta; tem dentro de si o caos a que se refere Zaratustra; homem fragmentado, que busca no escuro a face de Deus, assemelha-se à tricotomia das almas, às quais correspondem as três orações, do texto de Kazantzatis; e quer acreditar, como a personagem de Tolstói, que o reinado do Mal está no fim e, como o de Dostoièvski, prefere ficar com Cristo mesmo que lhe provem que a verdade não está com Ele. Todavia, a última citação parece não corresponder às que reverenciam o Criador, já que, em O Poço da Solidão, a personagem não dá a Deus o direito de interpelá-lo. Esses textos reunidos evidenciam, portanto, o conflito interno de Miguel, que se pune violentamente por acreditar interrogando. Outra questão curiosa é que, entremeada a essas citações, há um fragmento de uma carta do Padre Paulo respondendo a pergunta feita por Miguel. O rapaz queria saber se pecou ao participar da luta armada. Para o clérigo, houve erro, mas não Pecado, porque sua intenção não era fazer o Mal. Carrero consegue um efeito interessante – “realístico”, talvez – ao intercalar essa citação, de uma personagem de seu próprio romance, às demais extraídas de obras literárias e filosóficas. Ainda em Selva Escura, após o relato da prisão, mais uma sequência de citações: novamente Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, Os Irmãos Karamazov, de Dostoievski, A Morte em Veneza, de Thomas Mann, Confissões, de Santo Agostinho, e três trechos bíblicos correspondentes às personagens da história sagrada, Miguel, Jonas e Paulo (p.121-2) – questão que será esmiuçada no tópico seguinte deste capítulo. Enquanto o texto de Ésquilo refere-se à esperança no futuro, no de Dostoievski, a personagem afirma que o coração humano é um campo de batalha entre o diabo e Deus. Em A Morte em Veneza, faz-se menção ao “deus estranho” e, em Confissões, Agostinho afirma que mede o tempo, mas não sabe o que mede. Logo, o tema religioso e seus desdobramentos metafísicos permanecem como centro do pensamento do angustiado rapaz que procura em várias fontes respostas às suas inquietações. Todavia, elas não findam; ao contrário, multiplicam-se, já que os fragmentos citados se entrechocam em conformidade com as perspectivas de Miguel. O segundo ápice se dá no diálogo entre Miguel e Jonas. Enquanto o primeiro cita o Paraíso Perdido, de John Milton, e três vezes o Gênesis, o segundo extrai nove (!) passagens do Apocalipse, entremeadas a trechos de Regis Debray, Camilo Torres, Che Guevara e outros. Para o jovem de ideais revolucionários, o último livro do Novo Testamento é uma convocação divina para a luta e se amolda perfeitamente ao espírito combativo dos demais discursos referenciados. Pode-se dizer que Miguel e Jonas travam uma batalha na qual as armas são respectivamente o Gênesis e o Apocalipse, o princípio e o fim, a edificação e a destruição. O último cume de citações se encontra ao término da narrativa. Em meio aos destroços das casas e plantações, aniquiladas pelo trator do coronel, Jonas ensandecido cita o profeta Isaías, Bretch, Che Ghevara, Camilo Torres, Lorca, dentre outros, e novos trechos do Apocalipse que se referem à queda de Babilônia, “morada de demônios” (p.175), em provável associação com Jatinã e seus cidadãos e, por extensão, talvez, na perspectiva das personagens carrerianas, com o amargo destino humano (p.142-152). Vale ainda ressaltar que, na carta de Padre Paulo, com a qual o romance finda, enviada a Miguel no período em que o rapaz está na iminência de ser solto, o clérigo recupera o discurso de São Paulo para, por contrapontos, justificar sua decisão de defender os interesses dos camponeses, porque “não poderá existir alma plena enquanto o corpo definha e a carne padece” (p.189). Obviamente, caberia um estudo mais aprofundado da enxurrada de citações presentes no romance em uma pesquisa que se propusesse apenas a esmiuçar os intertextos da obra carreriana. Foi feito aqui um rápido (e incompleto) inventário, apenas para evidenciar que através delas, espécie de carga bélica, o embate dialógico das consciências é acirrado. Além disso, deve-se frisar que essa profusão de citações não está presente nos romances estudados até agora por esta tese, e, portanto, constitui elemento novo na prosa do escritor sertanejo de que ele fará uso de modo mais ou menos intenso a partir desta Viagem. Todavia, essa abundância de fragmentos extraídos de outras obras, muitas vezes no interior de diálogos, torna o texto exaustivo e, em certos momentos, essas passagens soam inverossímeis, já que dificilmente a memória seria capaz de recuperar tantos trechos na íntegra. Em discussão com Miguel, por exemplo, a palavra de Jonas é quase sempre a retomada de outro discurso, extenso e exato: [...] Avançar é a ordem. Avançar sempre e inexoravelmente, porque “para um revolucionário, o fracasso é um trampolim. Teoricamente mais rico que a vitória: acumula uma experiência e uma aprendizagem” (p.143)51 A observação do Padre Paulo frente à fala repleta de referências de Jonas acaba evidenciando esse problema discursivo: “é admirável como você consegue decorar os seus mestres [...]” (p.33). O romance, claro, parece dissolver-se e, em conformidade com as tendências pósmodernas (que, em verdade, costuma beber nas fontes dos primeiros modernistas), incorpora caracteres de outras modalidades textuais – o que provavelmente fez Nilo Pereira perguntar, em artigo publicado no Diário de Pernambuco, à época do lançamento de Viagem no ventre da baleia: “Será mesmo um romance?”52 Para além de todas essas interferências textuais, deve-se ressaltar que há ainda nesta narrativa carreriana uma considerável dimensão biográfica; outra história (outro intertexto?!), portanto, recuperada (e também distorcida): a da vida do autor. 6.2.3 Romance autobiográfico? No período da abertura política, ocorre um boom do romance autobiográfico, como evidencia Silviano Santiago, em Nas malhas da letra: “[...] com o retorno dos exilados 51 Jonas cita Regis Debray. PEREIRA, Nilo. “Um romance de Carrero”. Diário de Pernambuco, Recife, 13 dez. 1986, Caderno Opinião, p.A-7 52 políticos que se impõe a narrativa de tipo autobiográfico” (2002, p.38). Flora Sussekind, em Literatura e Vida Literária, também verifica a presença de uma prosa “com dicção autobiográfica que dominou o panorama literário brasileiro de fins dos anos 70 e início da década de 80 (1985, p.55). Embora seja até possível falar, em relação aos outros quatro títulos carrerianos analisados, em afinidade entre o autor e determinada personagem, não há neles nenhum dado evidente de extração biográfica. Quanto ao romance Viagem no ventre da baleia, todavia, Marcelo Pereira afirma que Carrero o define “como uma autobiografia precoce” (2009, p.33). E, de fato, vários episódios da infância e juventude de Miguel têm correspondência com a vida do escritor sertanejo, embora a obra não seja obviamente um relato do exílio e nem constitua, na verdade, uma prosa autobiográfica. Assim como se concluiu que o romance carreriano integra o conjunto de “narrativas de extração histórica”, para dar conta da apropriação de dados históricos pela obra literária, a expressão “narrativa de extração biográfica” também serve melhor a Viagem, já que parece haver apenas alguns dados esparsos sobre a vida do autor presentes na ficção. Em Poética do pós-modernismo, Linda Hutcheon verifica a diluição das fronteiras entre os gêneros literários e aponta a consequente dificuldade de definir os limites, dentre outros, entre “o romance e a autobiografia” (1991, p.26-7). Para a pesquisadora, os paradoxos do pós-modernismo atuam no sentido de instruir-nos nas inadequações dos sistemas totalizantes e das fronteiras fixas institucionalizadas (epistemológicas e ontológicas). A paródia e a autoreflexividade da metaficção historiográfica funcionam como marcadores do literário e também como desafios às limitações desse literário. A “contaminação” contraditória, por ela realizada, daquilo que é autoconscientemente literário com aquilo que é comprovadamente histórico e referencial desafia as fronteiras, que aceitamos como sendo existentes, entre a literatura e os discursos narrativos extraliterários que a cercam: a história, a biografia e a autobiografia. (ib., p.282) Ou seja: não apenas a apropriação crítica da história constitui o texto paródico, mas também a presença, na ficção, de outros discursos narrativos extraliterários, como a biografia. E essa diluição de fronteiras, essa impossibilidade de categorização, faz parte do paradoxo do pós-modernismo. Também Flora Sussekind, em Literatura e vida literária, referindo-se primordialmente a romances publicados na década de 80, ressalta a obsessão do autor em falar de si mesmo na ficção, na pele sobretudo do narrador, fenômeno que ela nomeia “cárcere do eu” (1985, p.54): “narrar passa a ser sinônimo de auto-expressar-se [...]” (ib., p.55). Silviano Santiago aponta a problemática instituída para a análise crítica resultante da incorporação do biográfico pela literatura: Essa explicitação do comportamento memorialista ou autobiográfico na prosa não só coloca em xeque o critério tradicional da definição de romance como fingimento como ainda apresenta um problema para o crítico ou estudioso que se quer informado pelas novas tendências da reflexão retórica sobre literatura, tendências todas que insistem na observância apenas do texto no processo de análise literária. Deslocada a espinha dorsal da prosa (de ficção, ou talvez não) do fingimento para a memória afetiva do escritor, ou até mesmo para a experiência pessoal, caímos numa espécie de neoromantismo que é a tônica da época. Pode-se pensar hoje, e com justa razão, que o crítico falseia a intenção da obra a ser analisada se não levar em conta também o seu caráter de depoimento, se não observar a garantia da experiência do corpo-vivo que está por detrás da escrita. (2002, p.36) Evidentemente, os dados extraídos da vida do autor em Viagem são mínimos se comparados aos romances autobiográficos. Porém, as perguntas são afins: a obra repleta de referências históricas e biográficas é ficcional no sentido stricto do termo? Qual a proporção de “realidade” inserida na ficção? Que intenção tem o autor ao se lançar na narrativa (e, por vezes, ressaltar que está presente nela)? Talvez Carrero, embalado pela onda (auto) biográfica nos romances das décadas de 70/80, tenha apenas realizado a sua experiência. E, se por um lado, pode-se afirmar que a trajetória escolar de Miguel, alternando cidades, foi similar a de Carrero, assim como ambos escreveram peças teatrais na juventude e venderam livros; que o escritor toca sax como o menino; que também leu clássicos da literatura na loja do pai e integrou uma banda; que apegado à Bíblia, viveu, sobretudo na juventude, os mesmos conflitos entre o sagrado e o mundano; e que ambos nasceram no sertão53, o autor, ao contrário de sua personagem, não atuou, por exemplo, na luta armada nem vivenciou a maior parte dos episódios narrativos, tais como o assalto ao banco, a prisão, a tortura. Essa incorporação biográfica, portanto, é parcial, mesclada à ficção, e seu produto (o ser de papel) não possui correspondência exata com um “eu” real, sendo uma recriação, um “outro” ficcional, num movimento realmente paródico de recuperação e transformação. No entanto vale ressaltar que, quando o autor diz ele sou eu, é possível que sua mundividência esteja refletida na personagem. A questão, contudo, se torna mais complexa diante da revelação carreriana ao jornalista Marcelo Pereira: “Miguel e Jonas são as minhas duas faces: um mais irresponsável e o outro extremamente preocupado com os estudos e o destino do 53 Dados extraídos da biografia sobre Raimundo Carrero, A fragmentação do humano, escrita por Marcelo Pereira. Recife: Caleidoscópio, 2010. mundo” (2009, p.85). Como as personagens são amigas, mas antagonistas no terreno das ideias, elas talvez reflitam o duelo de uma só consciência, a do autor. A voz do ficcionista sertanejo integraria assim o discurso polifônico do romance, constituído por seres ficcionais e históricos, num movimento paradoxal e paródico no qual, em cada personagem, se encontraria espelhada e contraposta. 6.2.4 O embrião metalinguístico Também não há nos romances anteriores até aqui analisados por esta pesquisa, nenhuma passagem metalinguística. E sem dúvida não se pode afirmar que em Viagem ocorra uma reflexão interna sobre o funcionamento discursivo da própria obra. Todavia, o jovem Miguel escreve peças e, desse modo, as questões sobre a produção e recepção do texto literário ganham pela primeira vez as páginas da literatura carreriana. Há, porém, apenas dois episódios a destacar. No primeiro, o menino redige um roteiro dramático para ser encenado no colégio. A angústia do processo de escrita é retratada: “Criava e abolia personagens, lutava com diálogos, eliminava as dificuldades das cenas imprensadas no curto espaço do palco” (p.67). Mas o diretor (espécie de editor, censor), apesar de elogiar a peça, diz que não pode ser representada na escola, por conta do tom de revolta, presente no texto (“um filho contra pais e avós” (p.69)), capaz de influenciar de forma danosa os colegas. Para o diretor, “todo escritor é um revoltado” (ib.). Miguel tenta se eximir da responsabilidade que o homem lhe impõe: “É apenas uma criação. E não sou eu quem vai evitar que as pessoas fiquem revoltadas” (ib.). O gestor replica: Mas deve lutar para isso. Quando a gente tem uma missão tão nobre na sociedade, deve cuidar para que ela esteja sempre com saúde. Você mostra um povo doente, mentalmente doente. O que já é uma injustiça. O escritor é a chama que guia os destinos do mundo. (p.70) Miguel, no entanto, afirma que não quer “ser guia de coisa nenhuma” e que, “se tiver que ser assim” (ib.), prefere encerrar sua carreira imediatamente. Fora do colégio, os estudantes protestam e exigem reformas. Ele, então, se pergunta: “É a isto que o professor chama de revolta?” (p.71). Logo, pode-se concluir que: o diretor ocupa o lugar da censura e o menino recusa o papel “missionário” do autor e da literatura (peleja comumente enfrentada pelos escritores). Em outro episódio, Miguel, mais velho, deseja novamente redigir outro texto dramático. E agora tem preocupações estéticas: “Talvez pudesse escrever a peça unindo o tradicional ao novo. Intercalando situações” (p.140). E não teria sido esta exatamente a proposta carreriana em Viagem no ventre da baleia? No entanto, se a concepção estrutural almejada pelo rapaz assemelha-se a do próprio romance, isso já não ocorre com a temática escolhida: “[...] começou a anotar. Uma família de sertanejo preparava-se para viajar, expulsa pela fome e pela sede” (ib.). Terezinha Barbieri, em Ficção Impura, ao estudar a prosa brasileira dos anos 70, 80, e 90, verifica que, sobretudo na década de 80, a recorrência de índices metaficcionais denuncia, com freqüência, a presença do literário a toda hora invadindo o nível da elaboração ficcional, o que constitui constante bem característica do período em questão (2003, p.15). Carrero, portanto, mais uma vez, aproxima-se das complexas diretrizes pósmodernas: Viagem no ventre da baleia é uma espécie de mosaico, composto por peças históricas, sociais, filosóficas, bíblicas, biográficas e literárias. 6.2.5 Viagens mise en abyme Sem dúvida alguma a arquitetura deste romance possui, para além das dimensões já esmiuçadas, uma complexidade maior do que a dos demais até agora analisados por esta pesquisa. A narrativa se desmembra em várias histórias; possui inúmeros narradores e pontos de vista (oscilatórios); abarca múltiplos registros; utiliza diversos recursos demarcatórios; compreende uma pluralidade de espaços e temporalidades em intenso redemunho – tudo edificado em três planos paralelos (as lutas armadas na cidade, no campo, no Apocalipse), absolutamente sincrônicos, que simbolizam a eterna guerra do homem contra o homem e, por extensão, do homem contra Deus. Viagem no ventre da baleia inicia-se com a história do conflito de terras em Jatinã. De um lado, o coronel Salvador Barros, que pretende destruir as casas e as plantações dos camponeses para vender as terras e comprar um palacete na cidade. De outro, Judas, exguerrilheiro, que pretende reunir os homens e instaurar a luta no campo a fim de impedir a derrubada das habitações. De outro, Padre Paulo, que conhecendo a perspectiva de todos os envolvidos, anseia por uma solução pacífica em nome do amor cristão. De outro Miguel, amigo de Jonas, que procura através da Justiça encontrar uma saída para evitar o conflito. Os quatro pontos de vista já seriam responsáveis pela complexidade da obra, mas deve-se considerar ainda que a prosa ramifica-se. Marcada por espaçamento duplo, abrindo e fechando os trechos, o narrador relata passagens da vida do menino e do jovem Miguel, entremeadas a essa “narrativa primeira”: a iniciação erótica com a menina loira (p.14-5), o conflito entre o sagrado e o profano desencadeado pelo ato libidinoso com a empregada (p.33-6), o esforço para adquirir a Revista Mimeografada de Mulheres Nuas (p.49-56), a escrita da primeira peça teatral (p.67-71), o início da ditadura de 64 e a constituição da Venerável Sociedade Secreta da Castanha (p.8998), a experiência com as drogas na juventude (p.137-141), a formação do MR-13 de janeiro e a exposição dos momentos que antecedem sua participação na luta armada (ou seja, no assalto) ao lado de Jonas (p.152-4, p.166-8 e p.173-5). Os espaços nos quais os episódios se sucedem são Santo Antônio do Salgueiro (primeira infância) e suas cercanias, Recife (internato), Santo Antônio do Salgueiro novamente (para concluir o ginásio), Recife novamente (na juventude). Considerando os fatos apresentados, poder-se-ia pensar em linearidade. Todavia, há várias elipses no interior de alguns desses episódios e a retomada textual ocorre apenas em “outro” plano narrativo: o “diário” Selva Escura de Miguel, também expresso de modo intercalado. Para respeitar a sequência em que essas narrativas surgem na trama, no entanto, devese destacar primeiramente, seccionada por pontilhados, também em cada início e fim, a confissão de Salvador Barros ao Padre Paulo, na qual o coronel narra, ao sabor dos vaivens da memória, sua história: o interesse pela esposa do tio, o homicídio, a fuga, a vida no cabaré onde recebera o apelido de Salvador Badalo, o emprego de almocreve, comprando e negociando mercadorias de sêo Custódio, o capital adquirido pelo roubo, a compra de armas, a reunião de homens para conquistar terras, os inúmeros conflitos decorrentes, o estabelecimento em Jatinã (p.18-22, p.39-43, p.56-60, p.77-80, p.107-9). Esses episódios se sucedem nos seguintes espaços: Ceará (onde morou com a família), Santo Antônio do Salgueiro (onde se instala inicialmente), Vila Bela (local de comercialização das mercadorias) e, finalmente, Jatinã (em que demarca suas terras). Algumas considerações sobre esta trama precisam ser feitas. Primeira: ao contrário da narrativa sobre a infância e juventude de Miguel, em que o narrador heterodiegético se mantém presente, aqui a primeira pessoa (Salvador Barros) assume (em parte, porque há alguém selecionando a matéria narrada) o comando da ficção e dirige-se a um destinatário (Padre Paulo). Segunda: em harmonia com a fala ininterrupta da confissão, o texto apresentase em blocos condensados sem parágrafos; após os pontos não há frequentemente iniciais em maiúscula e ele se encontra repleto de reticências (para marcar ao mesmo tempo suspensão e continuidade discursiva). Sabe-se que Padre Paulo está presente, pelos vários vocativos, mas não há intromissão do clérigo. Terceira: estão contidas nela duas outras confissões: a de Euclidão (filho bastardo de Joaquim Severo) ao coronel (p.42-3 e p.57) e a do coronel a Euclidão (p.58). Há, portanto, uma enxurrada confessional que constitui novos narradores e interlocutores. Do mesmo modo que nas caixas chinesas, o narrador de Viagem cede a palavra a Salvador Barros e Salvador Barros cede a palavra a Euclidão. A confissão completa de Salvador destina-se ao Padre, mas, no interior dela, tanto o coronel quanto Euclidão tornam-se também narratários. Quarta: quase ao final do romance, quando o Padre procura o coronel para tentar convencê-lo a não derrubar as casas, o trecho, embora não faça parte da narrativa confessional, também se inicia com uma sequência de pontilhados. Por duas prováveis razões: para marcar o trajeto do Padre e de Timóteo até o sobrado (“Começaram a andar .......... [...]” (p.128)) e também por este trecho conter a confidência final de Salvador Barros (amante de Adélia, pai verdadeiro dos filhos dela, que mata Gerôncio porque este queria reaver o primogênito). Percebe-se aos poucos que, embora separadas por diversos recursos, essas narrativas dialogam e as informações ausentes em uma são complementadas por outra, constituindo assim peças de um complexo quebra-cabeça literário. A terceira narrativa contida na primeira (e que obviamente a integra) corresponde ao “diário” Selva Escura de Miguel destacado na obra por asteriscos. Vale ressaltar que, embora se inicie com a proposta de um caderno em que Miguel na juventude fizera anotações, ele estranhamente perde em parte essa característica ao longo da obra, como se pode verificar através do excerto: “*Enquanto ia lendo [as Confissões de Santo Agostinho], lenta e sofridamente, tomava notas, copiava trechos inteiros, capítulos completos, neste caderno particular e íntimo” (p.53). Ou seja: os asteriscos marcam a presença do caderno não apenas pela transcrição na obra das anotações nele contidas, mas também pelas lembranças por ele suscitadas, de modo que os trechos não equivalem integralmente ao diário. As passagens referidas e não-lineares da juventude de Miguel (todas provavelmente em Recife) são: o aniversário de Madalena e a semana na praia com ela – rememoração dentro da rememoração – (p.44-9, p.101-4), a reflexão sobre a criança de Agostinho e Cristo (p.53-6), a sequência de fragmentos de outras obras copiados no diário (p.113, p.117-8 e p.121-2), o tempo no presídio (p.118-121) e a lembrança na cela do assalto ao banco (p.156-160). Trechos que, portanto, complementam a outra narrativa sobre a infância e juventude de Miguel. Além dessas quatro narrativas bem marcadas na obra – a primeira sobre o conflito de terras, a da infância e juventude de Miguel (separada por espaçamentos duplos), a da confissão do coronel (na qual estão contidas duas outras confissões) destacada por pontilhados, e a de Selva Escura, marcada por asteriscos, deve-se atentar ainda para a o relato de Jonas a Padre Paulo e Miguel sobre o assassinato de Gerôncio Passos por Salvador Barros. No centro do diálogo, em tom também confessional, o ex-guerrilheiro narra por quase seis páginas o episódio da morte daquele que pensava ser seu pai (p.26-31). Integram a obra ainda as duas cartas de Padre Paulo a Miguel. Quanto à primeira, há apenas um trecho transcrito em Selva Escura. A segunda finaliza o romance e é um convite para que Miguel retorne ao sertão, após ganhar a liberdade, para auxiliar os homens de Jatinã através da Comissão de Terra. A localização desta epístola, ao término do romance e logo após a destruição apocalíptica da cidade, acentua o tom dramático da obra e simboliza a perda da esperança. Tudo aquilo em que o clérigo acreditava não se concretiza. Pode-se destacar também outra carta, a de Jonas a Miguel – anunciando a luta – que abre, de certo modo, a narrativa. Viagem no ventre da baleia inicia e finda, portanto, com duas missivas, contento uma mensagem de guerra e outra de paz. Há ainda o sermão preparado pelo Padre (p.61-4) na tentativa de evitar o confronto, provocando uma suspensão da ação narrativa, e os trechos em que Miguel, constituindo uma primeira pessoa, se dirige a Cristo, intercalados por intromissões do narrador (p.16-7). Neste romance, portanto, há várias vozes (de Miguel, Jonas, Padre Paulo, Salvador Barros, Euclidão, dentre outras) presentes em múltiplas narrativas encaixadas, seccionadas por diversas demarcações (espaçamento, pontilhado, asterisco), compostas por registros diversificados (cartas, diário, citações, poemas, confissões). Além da construção em abismo, outros recursos são utilizados na obra, tais como a voz do narrador intercalada ao pensamento da personagem, Com os braços cruzados – ainda hoje, Jonas, ainda hoje vamos nos encontrar – e de pé, os olhos alertas – se possível irei de casa em casa discutir essa loucura com os moradores –, dirigiu-se aos fiéis numa voz monótona e grave, que se confundia com outra voz, a voz das entranhas, para anunciar a mudança no horário da Missa. (p.14) Há ainda os vários monólogos, como o de Miguel, abaixo destacado: Será mesmo necessário começar tudo outra vez? Convivi tanto tempo com Jonas e ainda não sou capaz de compreendê-lo? Boêmio, religioso, revolucionário, desesperançado, suicida? Cansado de viver e já agora prega a rebelião sangrenta? Não fui ao Recife cumprir o trato? Pedi orientação da Comissão de Justiça e Paz, da Arquidiocese, os jornais publicaram a denúncia, trago as orientações. (p.11) Outros recursos que merecem ser destacados são: a inserção da carta de Padre Paulo, entremeada às citações em Selva Escura, conferindo maior veracidade ao excerto; a presença do plano simultâneo (enquanto Padre Paulo dialoga com o coronel (p.128-137), Miguel fala com Jonas (p.141-152)); a utilização do coro (elemento teatral), intercalado à narrativa, e composto por múltiplas vozes que rezam e comentam a ação, acentuando a atmosfera torturante que paira sobre Jatinã (“Na hóstia sagrada, Senhor, está teu corpo, Senhor. Veja, Jonas está de pé... Cordeiro de Deus... Fala agitando muito os braços. Cordeiro de Deus ... Senhor eu não sou digno...” (p.146)); o emprego dos parênteses marcando a conversa derradeira entre Miguel e Jonas, na qual aquele revela a este quem é o seu verdadeiro pai, e os momentos que a antecederam, interpostos entre o relato da destruição das casas e das plantações pelo trator do coronel; a exposição das duas versões apresentadas por Salvador Barros sobre os motivos que o levaram a matar Gerôncio Passos; e a correspondência entre as personagens carrerianas e as bíblicas, Miguel, Jonas e Paulo. 6.2.6 Perspectivas em redemunho Já foi dito que há várias vozes neste romance. Todavia, é preciso notar que os pontos de vista não são categóricos, fechados, pois oscilam ao sabor das dúvidas. Grosso modo, pode-se dizer que Jonas defende o combate, Padre Paulo prega o amor, Miguel deseja o caminho da Justiça e Salvador protege seus interesses, mas um olhar atento deixa entrever que o ex-guerrilheiro, de espírito bélico, por exemplo, é também um suicida em potencial. Pensara em se matar na prisão e em Jatinã, “abismo vencendo a resistência” (p.10). Miguel percebe que, embora não admitisse, o amigo também não tinha certeza sobre a “utilidade ou não da luta armada” (p.121). No contraditório sermão do Padre, escrito com o intuito de conter o espírito belicoso dos homens, pode-se verificar, para além do desejo de paz, a crença na inevitabilidade da batalha, como ratifica Miguel: Há um trecho, se não me engano, em que o senhor faz referência à inevitável atuação da Espada, sugerindo que ela cairá sobre o povo, como um desígnio de Deus. Parece-me que acha improvável conter os impulsos de Jonas. (p.64) Padre Paulo também, contrariando a orientação da Igreja, e se questionando por isso, decide enterrar Augusto, o suicida, no cemitério da cidade. Miguel, o “homem estraçalhado pelas dúvidas” (p.105), oscila na infância entre o sagrado (quer ser santo) e o mundano (rouba, mente, bebe, entrega-se à luxúria). Na juventude, pune-se por não crer sem perguntar e não sabe se o caminho da luta armada é correto, embora participe dela induzido por Jonas e Madalena. Em Jatinã, ao contrário, procura a Justiça, mas não tem certeza se ela será de fato justa. Como para ele todos são pecadores e, portanto, dignos de piedade, não sabe de que lado deve ficar. Do mesmo modo, Salvador Barros não é apenas um homem cruel, porque, por exemplo, sente o peso da culpa por ter assassinado o tio (“carregava um morto na consciência” (p.18)), além de se apiedar da esposa abandonada de Euclidão, embora nada tenha feito por ela. Além disso, seu comportamento risível atenua a incandescência de seu relato repleto de sangrentas disputas. Assim como nas passagens da infância de Miguel e Jonas o riso se faz presente funcionando como elemento crítico, conforme já esmiuçado, na configuração do perfil do Coronel, enfraquece seu lado hostil. Carrero pode ter apenas intencionado ridicularizar um tirano, todavia não há dúvida que termina também por “humanizá-lo”. Salvador Barros é apelidado de Salvador Badalo (de blém-blém e de Major Badalo) porque, para que ele desocupasse o quarto no cabaré, dona Hermengarda tocava um sino, alertando-o. As prostitutas e, sobretudo, as crianças passaram a caçoar dele imitando o barulho do objeto. Em outra passagem também jocosa, o já coronel, de posse de um relógio parado e vaidoso por ser o Senhor do Tempo, afirma ser sempre cinco horas. Logo, se Jonas, o guerrilheiro, é um ditador, se a crueza de Salvador é atenuada pelo ridículo, se a crença de Miguel na justiça é utópica, se a própria Bíblia prega a violência, se o discurso do Padre não condiz com as palavras do livro sagrado, há um olhar crítico corroendo os pontos de vista e se apiedando de todos porque passageiros de uma sinistra viagem. Poderse-ia perguntar: com quem está Carrero, com qual perspectiva ele se alinha ideologicamente? Talvez, em parte com todas e em parte com nenhuma. Deve-se notar também que o número de personagens carrerianos neste romance aumenta sobremaneira, constituindo vários núcleos, inclusive familiares. São ainda, no entanto, esses laços, assim como ocorre nas narrativas anteriores, que movem a ação romanesca. O núcleo familiar de maior relevância é o de Jonas. Salvador Barros é casado com Encantação, que não lhe deu filhos. Adélia é amante do coronel, mas, revoltada com este, casa-se com Gerôncio Passos. Como o marido também não lhe fornece descendentes, torna a se relacionar com Salvador. Eles têm dois meninos, Timóteo e Jonas, e duas meninas, que são assassinadas pela própria mãe. Adélia diz a Gerôncio que o primogênito morreu e o entrega para o pai verdadeiro criar. Quando Gerôncio descobre a traição, exige que lhe devolvam Timóteo. Salvador mata, então, o marido da amante. Jonas, sem saber que o coronel é seu pai, luta contra ele não apenas para defender o povo, mas, sobretudo, por vingança. Aliás, todo o desejo de combater os opressores que o rapaz nutre desde a infância tem raiz neste episódio familiar. Ou seja, por maior que seja a dimensão social ou histórica de Viagem, Carrero permanece com seus antigos temas arraigados à esfera familiar. O coronel, filho de Hipólito e irmão de Francisco, assedia a esposa do seu tio Felipe. Temendo sua reação, o sobrinho o mata e foge. Salvador tem ainda com Encantação uma filha de criação, Eulália, que se casa com Augusto para afrontar o pai. Novamente, são as pelejas do círculo familiar, alimentadas por desejo, traição, ódio, vingança, que movem o romance. Por último, vale citar o núcleo de Euclidão, homem de Salvador Barros e filho bastardo do coronel Joaquim Severo com a empregada Maria Umbelinda. Quando Joaquim decide declarar guerra a Salvador, Euclidão mata o pai, fazendo com que seu irmão Severino Severo assuma a linha de frente do ataque. Mais uma vez, o conflito não está embasado na questão das terras, mas no desejo de Joaquim Severo: destruir o filho bastardo. Além desses núcleos familiares, há outros, tais como: o do cabaré, o dos amigos da infância e da juventude de Miguel e Jonas, o dos homens do coronel e o dos camponeses de Jatinã. Do mesmo modo, os espaços se ampliam. Se antes as ações se passavam no máximo em duas cidades do sertão, agora Carrero compreende capital e interior. Ceará, Recife, Jatinã, Santo Antônio do Salgueiro, Vila Bela são topônimos reais que integram o romance e pelos quais as personagens trafegam. Contudo, as dimensões urbanas e rurais se ampliam se for levado em conta que o país surge metaforicamente e integralmente nessa dicotomia cidade/campo. E elas compreendem ainda o mundo diante da correlação simbólica: as batalhas travadas em ambos os domínios geográficos representam a luta do homem com o homem e do homem com Deus. O locus, portanto, seja rural, urbano, nacional ou universal, é sempre o ventre escuro e atemorizante da baleia. Vale ressaltar também a correlação entre o espaço interno – sempre agônico – e o externo, na perspectiva de Miguel, que resulta em uma imagem espantosa: Imaginava como é estranha a diferença que se opera, quase sempre, entre as imagens exteriores de sossego e monotonia, e agitação obscura, tumultuante e grotesca do espírito. O que seria do mundo se a cada grande preocupação a natureza mudasse? Seria um aleijão medonho e inútil, uma contorção desesperada (p.9) E, assim como ocorre com a categoria de espaço, a de tempo também se amplia e pela primeira vez surgem marcações temporais atreladas a fatos históricos. O romance atravessa décadas e estrutura-se, como já evidenciado, de modo não-linear. O leitor é lançado nesse redemunho temporal em múltiplas direções e, assim, também faz sua angustiante viagem no ventre da baleia. Mas, apesar de a narrativa perpassar as décadas de 60 e 70, e talvez a de 80, seu tempo é simbolicamente sempre o princípio – se for considerada a correlação bíblica e o eterno combate entre os homens – e o fim, diante da estrutura paralelística composta pela hecatombe de Jatinã e pelo Apocalipse. Deve-se lembrar ainda que esta obra, edificada sobre as esferas histórica, social, política, filosófica, religiosa e biográfica, assemelha-se a uma casa de espelhos, porque o reflexo de cada um desses planos no romance não corresponde uma imagem “real”, mas a outra, distorcida, ficcional. Também já é possível entrever um intratexto temático na obra do autor pernambucano a partir dos romances analisados: a presença da atmosfera atormentada e dos indivíduos em crise, o conflito sempre desencadeado no núcleo familiar, a luta do homem com o homem e do homem com Deus, a tríade desejo, vingança e culpa, a religiosidade em foco, a ruína final, o riso como elemento crítico e um sentimento de piedade pelo humano. As mudanças que se operam nesta prosa em relação às anteriores, entretanto, são bastante numerosas: a incorporação do espaço urbano, o aumento significativo do número de personagens, a expansão do núcleo social, antes quase sempre restrito à família, a intensificação da narrativa em redemunho, a incorporação de um esboço metalinguístico, a discussão sócio-política, a presença maciça de citações (conferindo à prosa um ar por vezes didático, por vezes filosófico), a multiplicidade de narrativas (polinarrativa), de narradores (multiperspectivada), de registros, de espaços, os marcos historiográficos, a dilatação do ponto de vista, a redução da participação do narrador heterodiegético, a criação de personagens cultos, intelectualizados; a inclusão de dados biográficos, o surgimento da possibilidade de Justiça ainda que prevaleça o “punhal”. Enfim, todos esses elementos aqui reunidos parecem constituir, para além dos aspectos contrastantes (ou também por conta deles se for levada em conta a dimensão antagônica da corrente) – uma narrativa tipicamente pós-moderna. 6.3 Novos nomes e outros recados na viagem carreriana Sabe o que significa o seu nome? Foi o padre-conselheiro quem perguntou no pátio, ainda na hora do recreio. (Carrero, 1986, p.50) Viagem no ventre da baleia retoma personagens e episódios do Texto Sagrado, a começar pela referência contida no próprio título da obra. Na história bíblica, o servo do Senhor, Jonas, recebe ordem de Deus para ir à Nínive clamar contra essa cidade repleta de malícia. O servo, no entanto, decide fugir para Társis em um navio. Deus, então, lança uma violenta tempestade. Os marinheiros descobrem que Jonas era a razão do infortúnio. Ele pede para ser jogado ao mar com a intenção de impedir que uma desgraça se abata sobre os homens. O Senhor faz, assim, um grande peixe engoli-lo. Jonas permanece nas entranhas do animal por três dias e três noites. Após rezar com fervor, o peixe o vomita na terra. O servo parte, em seguida, para Nínive e anuncia sua subversão. Os habitantes, no entanto, se convertem e Deus deles se apieda desistindo de destruir a cidade. Jonas se ira, porque sabia, quando fugira para Társis, que esta seria a decisão final do Senhor. Pede, assim, para que a vida lhe seja tirada, “porque é melhor morrer do que viver” (Jonas, 4, 3). Deve-se salientar que o percurso até as entranhas do peixe é, sem dúvida, uma descida simbólica ao inferno. O Jonas bíblico, portanto, não apenas foi capaz de desacatar Deus para não anunciar a destruição da cidade, como, após retornar do “inferno” marítimo, se irou contra Ele e desejou a própria morte. Qual paralelo se estabelece com a personagem carreriana de mesmo nome? O Jonas do romance também recusa a vida: Já não suporto mais viver, Miguel. Estou arrebentado demais para continuar vivendo. Temo, apenas, que os espíritos tenham razão e que minha alma, ofendida e inquieta, seja obrigada a acompanhar o desespero dos camponeses e de minha mãe. O que me levaria a exigir a morte depois da morte. (p.9-10) Ambos são intensos, febris, corajosos, e aparentemente tencionam proteger a cidade (Nínive/Jatinã) e seus habitantes. Cada um a sua maneira, fugindo ou guerreando, se opõe a Deus. Nos confins do sertão, Adélia traiu o marido e assassinou suas duas filhas. Salvador Barros derramou muito sangue sobre a terra para defender seus interesses. Augusto se suicidou na Igreja e construiu uma imagem de Cristo amarrado e amordaçado para subjugáLo. Jatinã como Nínive está entregue à malícia e destinada à subversão. Todavia, enquanto, diante do anúncio catastrófico do Jonas bíblico, os homens de Nínive se convertem, conquistando a piedade divina e a consequente salvação da cidade, o espaço sertanejo é aniquilado em paralelo com as passagens apocalípticas. A personagem carreriana retoma inicialmente o último livro do Novo Testamento como argumento para defender a necessidade do conflito: [...] se o próprio Deus agiu pela Espada, como vai exigir que o Homem, o mais frágil e o mais incompleto, aja pelo perdão, pura e simplesmente? A raiz do perdão não está no amor, mas na luta. (p.145) Ensandecido diante da destruição das casas e das plantações, aniquiladas pelo trator do coronel Salvador Barros, Dragão de ferro, Jonas cita passagens que fazem referência à queda da cidade babilônica (“símbolo da pecaminosidade, da arrogância e do afastamento de Deus” (Lurker, 1993, p.24)) – de acordo com os textos bíblicos, também repleta de malícia: Caiu! Caiu Babilônia, a Grande! Tornou-se morada de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes, porque abrigou as nações com o vinho do furor de sua prostituição (Ap 18, 2-3) (p.175). Nínive, Jatinã e Babilônia dialogam por compartilharem a noção de espaço impuro, mas, enquanto a primeira encontra a salvação, as duas últimas são aniquiladas. A prosa carreriana, contudo, ao contrário do Apocalipse, não acena com uma Nova Jerusalém. O Dragão, demônio apocalíptico, é associado no romance aos EUA, aos ambiciosos, ao coronel e, por fim, ao trator. É para ele, o Dragão de Jatinã, que Jonas compõe, ironicamente, uma Elegia: Vovô dormia com uma pepita de ouro enfiada no nariz Morreu asfixiado, pensando que era feliz. Mas como havia pedido foi enterrado nu. Os vermes fizeram a festa quando o ouro saiu do cu. (p.12) Obviamente, o reflexo distorcido dos episódios da história sagrada, na prosa, como uma imagem em uma casa de espelhos esféricos, configura a paródia, de acordo com o que bem define Bella Josef, em A máscara e o enigma: Paródia, segundo o étimo, significa canto paralelo: é um texto duplo que contém o texto parodiado de que ele é uma negação, uma rejeição e uma alternativa. A paródia é ao mesmo tempo especular e crítica e seu referente é bem marcado, pois ela dá-nos sua definição ao propor-se refletir outro texto. (1986, p.247) Miguel é outra personagem bíblica que dialoga com a carreriana, num jogo de proximidades e afastamentos. No romance, o padre-conselheiro lembra o menino de que seu nome significa “Guerreiro de Deus” porque foi “o Anjo Miguel quem expulsou a legião de rebeldes do Paraíso” (p.50). Essa revelação faz acentuar sua culpa por roubar a garrafa de vinho da Igreja para trocá-la pela Revista Mimeografada de Mulheres Nuas. Aquele que na correlação bíblica deveria guardar o Templo, a Casa do Senhor, o rouba. A personagem ao longo de toda a narrativa oscila entre o sagrado e o mundano. Apesar de na infância desejar ser santo e carregar o peso da religião, Miguel não apenas rouba, mas mente, bebe, usa drogas, participa de um assalto e se entrega com frequência a atos libidinosos. De acordo com o Apocalipse, é ele quem expulsa o Dragão do céu: Então houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. (Apoc. 12, 7-9). Todavia, no romance, Miguel não consegue conter o coronel e o trator (dragões de Jatinã) pelo caminho da Justiça dos homens – também possível metáfora para a Justiça divina –, em contraposição ao seu papel bíblico. Outra passagem que merece destaque é a do aniversário de Madalena. Miguel, embriagado, a despe e, ajudado por outros e incitado por Jonas, a faz cavalgar nua com uma vela na garupa. O jovem, em Selva Escura, parece traçar um paralelo entre o episódio e o trecho apocalíptico, no qual o dragão deseja devorar o recém-nascido, “que há de reger todas as nações com cedro de ferro” (Apoc. 12, 5)). Após afirmar que “De um lado estão a Besta e o Dragão, do outro a Mulher Vestida de Sol” (p.45), inicia o relato da “experiência demoníaca estúpida” (p.44). Logo, infere-se que os rapazes estão para o dragão e Madalena para a mulher vestida de sol que dá à luz o menino. A terceira personagem é Padre Paulo que corresponde, de certo modo, a São Paulo. Como o apóstolo, que escreveu inúmeras epístolas, ele envia cartas a Miguel. O clérigo também cita o santo ao longo do texto e, sobretudo, na mensagem enviada a Miguel com a qual a narrativa finda. Mesmo temendo uma interpretação equivocada da “imagem do corpo, segundo São Paulo” (p.188), apropria-se da palavra deste para defender que “não poderá existir alma plena enquanto o corpo definha e a carne padece” (p.189) e, assim, justificar seu apoio à criação da Comissão de Terra com o objetivo de auxiliar os camponeses, meeiros de Salvador Barros. Essas correlações bíblicas são evidenciadas em Selva Escura, “diário” no qual estão transcritas as passagens abaixo: ** Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o Dragão. Ap 12,7 ** Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor, e disseramlhe: “Por que fizeste isso?” Pois tinham compreendido, pela própria declaração de Jonas, que este fugia para escapar à ordem do Senhor. Jon 1,10 ** Paulo levantou-se no meio deles e disse: “Amigos, deveras devíeis ter-me atendido e não ter saído de Creta, e assim evitar este perigo e estas perdas. Agora, porém, vos admoesto a que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio”. At 27,21-22 (p.122) Enquanto Miguel e Paulo têm um papel protetor, Jonas é apresentado como culpado pelo infortúnio dos marinheiros. Todavia, na narrativa, todos, independente de se oporem ou não a Deus, fracassam. Nem pela luta (de Jonas), pela Justiça (de Miguel) ou pelo Amor (de Padre Paulo) os camponeses são salvos. Viagem no ventre da baleia é um texto apocalíptico sem possibilidade de redenção, de reconstrução. A Madalena carreriana parece também dialogar com a suposta “prostituta” dos Textos Sagrados, já que seu papel no episódio do assalto se restringiu a seduzir o policial. É ela também a responsável, possivelmente instruída por Jonas, por convencer Miguel a participar do crime: “Tudo o que fiz foi muito mais para agradar Madalena quando soube que ela estava envolvida com os ativistas” (p.157). Carrero, de modo carnavalizado, portanto, une a grande pecadora bíblica ao Anjo do Senhor. Para além da correlação com os Testamentos, outros nomes parecem carregar traços das personagens ou qualidades que a elas se pretende associar, como, por exemplo, o da cafetina e cortesã Hermengarda, que possivelmente deriva de Hermes, “condutor das almas para o Inferno” (Del Debbio, 2008, p.303). Em uma pequena passagem pela obra do escritor pernambucano, verifica-se que a prostituição está frequentemente associada ao Mal, à decrepitude. O rigor do filho de Joaquim Severo se revela no nome, Severino Severo, ou seja, duplamente “severo”. Salvador Barros, que lutou para ter um lugar sob o sol do sertão, parece carregar no nome a ideia de barro como terra e, assim, seria possível pensar, não sem algum risco, “naquele que se salvou da dor pela terra”. Todavia, há também uma correspondência de barro com lodo, excremento, compatível, portanto, simbolicamente, com seu comportamento vil. Diante do tormentoso (e apocalíptico) redemunho deste título carreriano, pode-se afirmar que, em oposição ao texto bíblico, não só Jonas foi encerrado nas entranhas do peixe (da vida), mas todas as demais personagens e, por extensão, os homens. Até porque, como afirma o autor na orelha de seu romance, somos todos “passageiros da Viagem no Ventre da Baleia”. 7 Maçã agreste 7.1 Intertexto e intratexto: raízes e frutos da ficção carreriana Isso é coisa de Machado de Assis. Pode estar certa: é influência de Machado. (Carrero, 1989, p.23) Maçã agreste, sétimo título de Raimundo Carrero, publicado em 1989, dialoga explicitamente com o romance Quincas Borba (1891), de Machado de Assis, alternando, por comparação, similitudes e dessemelhanças. Além disso, na história de Rubião, o autor carioca, de modo intratextual, retoma personagens de Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), assim como procede o ficcionista pernambucano: integrantes da família presente em Maçã agreste e/ou seus descendentes, frutos de relações incestuosas, ressurgem (ou aparecem pela primeira vez) nas obras posteriores Somos pedras que se consomem (1995), O amor não tem bons sentimentos (2007), Minha alma é irmã de Deus (2009) e Seria uma sombria noite secreta (2011)54. Se de fato já havia uma reiteração temática na prosa de Carrero, a partir deste sétimo romance a relação “intra” textos se torna ainda mais densa: as tramas dos cinco títulos são, portanto, entrançadas, constituindo uma obra composta a partir não somente da apropriação antropofágica de outros textos, sobretudo literários e bíblicos, mas também de si mesma. A ficção carreriana tem raízes imersas na machadiana e em outras fontes, e, como frutos, as quatro narrativas acima listadas. São muitos os pontos de toque entre Maçã agreste e Quincas Borba, quase sempre interligados pela questão do nome. É possível destacar da história de Rubião algumas passagens alusivas à nomeação. Num primeiro instante, o narrador revela atitude, pensamento e sentimento do capitalista quando recebe o bilhete de sua amada: [...] deu por si beijando o papel – digo mal, beijando o nome, o nome dado na pia de batismo, repetido pela mãe, entregue ao marido como parte da escritura moral do casamento, e agora roubado a todas essas origens e posses para lhe ser mandado a ele, no fim duma folha de papel... Sofia! Sofia! Sofia! (Assis, 2008, p.88). 54 Estes dois últimos romances, publicados após a aprovação do projeto de pesquisa, não terão capítulos dedicados exclusivamente a eles nesta pesquisa. Todavia, serão abordados nos tópicos referentes a Maçã Agreste, Somos pedras que se consomem e O amor não tem bons sentimentos sempre que necessário à compreensão das relações intratextuais. Em outro momento, o leitor é informado que a personagem Maria Benedita não gostava do seu nome porque era “de velha” (ib., p.137). Mas a mãe argumenta que “os nomes adequados às pessoas eram imaginação de poetas e contadores de histórias” (ib., p.137). Para Sofia, “os mais feios nomes eram lindos, segundo a pessoa” (ib., p.137-8). A pretendente que Dona Fernanda imagina inicialmente para o primo se chama Sonora. De acordo com a casamenteira, tinha esse nome bonito. O padre que a batizou, hesitou em dar-lho, apesar do respeito e da influência do pai da menina, rico estancieiro; mas, afinal cedeu, considerando que as virtudes da pessoa podiam levar o nome ao rol dos santos (ib., p.220). Mais à frente, Rubião repara que o casal Carlos Maria e Maria Benedita compartilhavam o mesmo nome, “espécie de predestinação” (ib., p.290). E ainda, em seu delírio, o ex-professor de Barbacena confunde Sofia com Eugênia, a esposa de Napoleão III, e ele mesmo seria, então, o imperador “Luís”. As impressões de Rubião, após o trabalho do barbeiro instruído a deixá-lo conforme o busto do monarca, são registradas pelo narrador: “era o outro, eram ambos, era ele mesmo, em suma.” (ib., p.258). Ironicamente, o soberano histórico declara guerra à Prussia por conta de um bilhete adulterado, selando seu declínio, assim como o martírio do amigo de Quincas Borba é marcado pelo “amoroso” bilhete de Sofia, na verdade redigido pelo Palha (ib., p.114). No entanto, quase todas as menções à questão dos antropônimos no romance machadiano são irônicas: Sofia jamais será de Rubião, ao contrário do que ele imagina ao ler o nome dela na pequena carta; a esposa de Cristiano defende sem nenhuma convicção que a pessoa pode tornar o nome bonito, apenas para “atenuar o caso, ou por outro motivo” (ib., p.137); o padre aceita o batismo de Sonora não por acreditar de fato “que as virtudes da pessoa podiam levar o nome ao rol dos santos” (ib., p.220), mas por ela ser filha do “rico estancieiro”; e não havia predestinação no matrimônio de Carlos Maria e Maria Benedita, que bem poderia ter-se casado com o ex-professor se este não estivesse equivocadamente obcecado pela mulher do amigo. O que Maria Augusta diz – nomes adequados às pessoas eram imaginação de poetas e contadores de histórias –, porém, deve ser considerado uma revelação do autor sobre um dos princípios de composição das personagens. Revelação também irônica porque dita não a um indivíduo, mas a um ser ficcional. E assim como Machado tantas vezes nomeou seus seres de papel de forma a fornecer pistas sobre as naturezas, comumente encobertas por capas de seda, Carrero também assim age, sobretudo pelas intrincadas trilhas intertextuais. Quando a Sofia carreriana se apresenta a Jeremias, afirma: Foram os meus pais que me deram este nome, um rótulo, nada mais do que um rótulo, um rótulo estranho, porque sou mercadoria sem embalagem, de maneira que as pessoas desconhecidas nunca sabem quem verdadeiramente sou. (Carrero, 1989, p.23)55 Na primeira menção à problemática do nome, há, portanto, a ideia de nãocorrespondência, de não-revelação. O nome-rótulo nada diz sobre a pessoa. Seria preciso conhecer Sofia para saber quem é Sofia. Ela é algo misteriosa porque, embora seja mercadoria, não se encontra definida em uma embalagem. Logo, não se revela na superfície. Para Jeremias, contudo, existem pontos em comum entre as muitas Sofias: Não sei, mas as mulheres com o nome de Sofia parecem-me frágeis demais, compreende? É um nome cheio de mistérios, revelando paciência e humildade, segredo e encanto, alguma coisa difícil de classificar. (ib.) Em seguida, ele afirma que isso é “coisa de Machado de Assis” (ib.). No entanto, após ler passagens do romance Quincas Borba (transcritas em Maçã agreste), enquanto ele e Sofia estão envoltos numa atmosfera erótica, conclui que não há “qualquer relação entre as duas mulheres – ela e a personagem” (p.24-5). Na verdade, Jeremias aponta, ao cotejá-las, sobretudo oposições. Elas parecem compartilhar assim apenas certa impenetrabilidade: Fechou os olhos e encostou-se na parede, pensando no mistério que poderia unir as duas Sofias, ao mesmo tempo cheias de segredos – os olhos de uma, os suores da outra; as roupas recatadas, os gestos ousados. (p.28) A questão dos antropônimos ganha novos contornos no diálogo entre Sofia e Jeremias. Primeiro eles pensam na possibilidade de uma pessoa trocar de nome todos os dias ou ao longo do dia. Em seguida, levantam a hipótese de haver ou não correspondência exata entre os sentimentos de dois indivíduos que tivessem o mesmo nome completo. Jeremias, que ainda não disse à companheira como se chama, questiona: “Já lhe disse que tenho um nome, e as atitudes de uma pessoa podem revelar que nome é este?” (p.29). Carrero, portanto, bebe na fonte machadiana e traz para o seu romance – em nova perspectiva – a discussão acerca da nomeação, presente (de modo menos marcante) em Quincas Borba, como já demonstrado. É na fala de Jeremias que se verifica ainda uma das raízes que lhe deu origem: “Sem dizer nada 55 CARRERO, Raimundo. Maçã agreste. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. Nas próximas referências a esta obra será indicado apenas o número da página. a ninguém lamentava-me por não ter permanecido no ventre de minha mãe para não ser obrigado a assistir ao desespero do mundo” (p.29). Após revelar suas angústias a Sofia, ela conclui: Nunca posso acreditar numa pessoa incapaz de se rebelar, embora não possa adivinhar por que você tem sentimentos tão medonhos. Creio que é por causa do seu nome, e as pessoas, é engraçado, representam muito bem os nomes que lhe deram, mesmo que não gostem deles e que não saibam sequer o significado. [...] E um nome é mais do que um nome, é um comportamento. (p.30) Carrero, que sempre dera enorme importância (e significado) ao batismo de suas personagens, nunca falara tão abertamente sobre essa questão em um romance. Para Rejane Dias, em matéria publicada à época do lançamento do sétimos título carreriano, “Jeremias e Sofia se perdem na opacidade do vazio existencial. [...] Sofia busca, através da outra Sofia do romance de Machado, pistas que pudessem compor seu auto-retrato”56. Até agora, pode-se afirmar, portanto, que a Sofia do autor pernambucano dialoga com a Sofia machadiana assim como o Jeremias, de Maçã agreste, tem correlação com o profeta bíblico que lastimou ter nascido. Mas ele também é (e não é) Rubião, ambos ex-professores. E, ao mesmo tempo, é (e não é) Carrero, o músico que toca saxofone. (p.33). No decorrer da obra do escritor pernambucano, encontram-se vários saxofonistas (Miguel, de Viagem no ventre da baleia, Jeremias, de Maçã agreste, Natalício, de Sinfonia para vagabundos, Matheus, de O amor não tem bons sentimentos...), compondo um redundante dado biográfico, como se o autor quisesse integrar por este fio sonoro sua própria obra. Na perspectiva de Ernesto, Jeremias assemelha-se ainda a Conrado, colega de faculdade que amava a morte. Parecendo também enfeitiçado por ela, o filho, músico como o “amigo”, tocava com “mais tristeza do que satisfação” (p.104). Logo, Jeremias é composto por retalhos: do profeta bíblico das lamentações, dos falsos adivinhos condenados por Deus e do próprio Criador – correlações que serão analisadas posteriormente –, de Rubião, de Conrado e de Carrero. Ao rememorar a infância, Sofia lembra-se da primeira vez que ouviu ser chamada pelo nome e do susto que levou ao perder o seu “segredo” (p.41). Ela, que sempre teve uma vida prática, “agora, no entanto, inquietava-se. Procurava desvendar o mistério do seu nome, um título que ela mesma não escolhera, e que cada vez que o pronunciava era como se outra pessoa estivesse no seu lugar” (p.42). Ela desejava ainda “a liberdade dos que não têm um 56 DIAS, Rejane. A face dilacerada do patriarcalismo rural. Correio Brasiliense. Brasília, 2 jul. 1989, Caderno Dois Livros, p.4. nome” (p.44). O nome, portanto, ora constitui um inevitável destino, atrelado a outros, um “roteiro” (p.183) a cumprir, ora é uma prisão insólita, já que seu significado ou carga simbólica em nada se assemelha ao íntimo daquele que o possui. Sofia compra e lê o romance de Machado e, por vezes, almeja ser a outra: “desejou profundamente, naquele momento, ter o corpo ‘elegantemente apertado em um vestido de cambraia, mostrando as mãos que eram bonitas, e um princípio de braço’” (p.55). Enquanto Raquel revelava seu sonho de prostituir-se, ela mais do que nunca, sentia desejo de recatar-se, a sombra da outra Sofia amparando-a; fechou o botão da blusa, deixando aparecer uma parte estreita do busto e, depois, abotoou as mangas compridas para que somente as suas mãos de dedos longos e finos ficassem à mostra (p.57). Pouco a pouco, ela incorpora características da personagem machadiana. Preocupada com o que a esposa de Cristiano Palha pensaria em determinadas circunstâncias, encomenda até “um vestido de lã fina cor de castanha, comprimindo parte dos seios, o busto descoberto pelo decote, e a cintura justa, igual àquele que a outra Sofia usara no jantar domingueiro” (p.63). A companheira de Jeremias encontra ainda na prisão uma menina, que deita a cabeça em seu joelho, assim como a Sofia-adolescente havia sido amparada pelo colo materno na noite de aniversário em que apanha do pai após se embriagar, e conclui: “[...] de repente, compreendi que ela e eu éramos a mesma pessoa” (p.155). Quando Sofia se encontra semiadormecida, surge uma garotinha na pensão. Nessa perspectiva sonâmbula (e pouco confiável) ela é Deolinda, aquela que a acompanhara no cárcere e que viera entregar o saxofone roubado a mando do jovem Daniel. É ela também quem insulta Jeremias, que havia salvado a sua vida, evitando o atropelamento. Desse modo, o “profeta” carreriano ocupa novamente o lugar de Rubião, já que o ex-professor, quando enlouquece, é ridicularizado e perseguido pelo menino Deolindo, o mesmo que anos antes salvara, impedindo a colisão com o coche (Assis, 2008, p.311). Ao gritar por Sofia na prisão, Jeremias também se metamorfoseia em Rubião: Chamei-a mais de uma vez: ‘Sofia, Sofia’, retornando ao livro de Machado, acreditando que eu mesmo imitava o canto das cigarras e que me transformava em Rubião, apaixonado pelo mistério da mulher e, ao mesmo tempo, incapaz de desvendar o seu segredo. (p.164). E se a Sofia de Carrero tem correlação com a de Machado e com a personagem Deolinda (cuja raiz está no Deolindo, de Quincas Borba), ela é ainda Emma Bovary, criação de Gustave Flaubert: Sofia sonhava com Jeremias, vendo-o entretido na leitura. Não era somente Jeremias que ela via, via também a história que ele estava lendo, e uma Sofia, muito diversa da dela, que não tinha os seus modos e suas vestes, mas que era ela, tensa e agitada, recatada e medrosa, dentro de um cupê com as cortinas fechadas, em companhia de um homem que agia diferentemente de Jeremias, mas que era Jeremias, usando bigode e pêra, insistindo em ser chamado de Luís, ao invés de Napoleão, Napoleão, não; chame-me de Luís. Havia, no entanto, mais outra Sofia e que dolorosamente se entregava ao amante no interior de uma carruagem fechada, sufocada pelas ânsias do sexo e pelos solavancos do veículo, tropeçando nas pedras irregulares da rua. (p.215-6) De fato, Carrero bem observa que a cena do coupê machadiano faz lembrar a do autor francês: o coupê entrara na rua Bela da Princesa. Sofia novamente pediu a Rubião que advertisse na inconveniência de irem assim, à vista de Deus e de todo mundo. Rubião respeitou o escrúpulo, e propôs que descessem as cortinas. (Assis, 2008, p.262) uma carruagem, com as cortinas descidas, e que reapareceria continuamente, mais fechada que um túmulo e balançando como se fosse um navio (Flaubert, 2007, p.247). Porém, o rejeitado Rubião não tem a mesma sorte que Léon. A questão é: em que se assemelham a Sofia, de Machado, e a Madame Bovary, de Flaubert? Ambas casadas sonham com aventuras amorosas. A primeira, ao contrário da segunda, não ultrapassa o flerte. Carlos Maria está para Rodolphe e Léon guardadas, portanto, as devidas proporções. E a carreriana? Ela é a moça de classe média que se apaixona pelo criminoso e abandona a família para integrar uma seita e segui-lo. Se a leitura de romances românticos leva Ema a uma vida de ilusões, está também em um texto ficcional, Quincas Borba, o elo entre as personagens carrerianas. Seres de papel que desejam ocupar o lugar de outros seres de papel. Essa costura de personagens, já bastante extensa, recurso muito utilizado por Carrero ao longo de sua vasta obra, ganha ainda novos e “fragmentados” integrantes. O marido de Dolores e pai de Raquel e Jeremias desdobra-se em Ernesto Cavalcante do Rego (o menino rico e mimado, filho de fazendeiros, que sonhava em ser rei, o que explica o uso da suntuosidade do nome completo), Dom Ernesto (estudante medíocre e interesseiro ironizado no título honorífico), O Rei das Pretas (rapaz prevaricador que só tinha prazer com as negras) e O Velho (senhor decadente, abandonado pelos filhos, atraído pela ideia de suicídio). Uma alcunha para cada etapa da vida. Ana Maria Machado, em Recado do nome, título no qual analisa romances rosianos, verifica que “[...] quase invariavelmente os protagonistas têm diversos Nomes, que se somam, se trocam, se substituem, se cruzam e se completam, criando uma faixa inteira de significação [...]” (Machado, 2003, p.50). Para a pesquisadora ainda, o Nome, em Guimarães Rosa, não atribui ao personagem uma característica marcante que o acompanha em todas as situações vividas, mas, ao contrário, vai recebendo em cada novo momento um novo significado e, freqüentemente, um novo significante, num processo de permanente mutação do signo. (p.50) Um novo significante para cada novo significado: assim também procede o autor pernambucano com várias de suas personagens e, em Maçã agreste, com o pai de Jeremias. Aliás, vale advertir que Dolores o tratava “apenas por Ernesto, sem tirar nem acrescentar” (p.115) – provável indício do seu pouco interesse ou por crer que nada havia no indivíduo (e em sua posição social) que justificasse colocar antes do nome, como os demais amigos faziam, o título de “Dom”. Além de ser o “homem dividido em quatro” (p.95) – ou cinco, considerando como o denomina a futura esposa –, ele parece compartilhar algumas características com Rubião e Cristiano Palha. Ernesto comprou o diploma de Direito e, incompetente para o serviço, decide fazer um enlace matrimonial vantajoso. Como também falha em seu intento, pensa em suicidar-se, mas reencontra Dolores e com ela se casa, lamentando apenas que não fosse preta. Após a morte dos pais, passa a administrar a fazenda levando-a definitivamente à bancarrota: “não entendia de engenhos nem de leis” (p.127). Já Rubião “antes de professor, metera ombros a algumas empresas, que foram a pique” (Assis, 2008, p.50), além de perder toda a herança deixada por Quincas Borba. Ambos incompetentes, ambos fracassados. Ernesto e Cristiano Palha se irmanam em outro ponto: o desejo de ascensão social, a sede de manter relações proveitosas. O primeiro, na juventude, estudante medíocre, usava de artimanhas para passar de ano: oferecia opíparos jantares aos professores, elogiava-os em discursos nas festas da faculdade, levava seus filhos para férias no engenho, apaixonava-se pelas suas filhas, suportando o namoro necessário, e não esquecia de mandar flores às esposas nos aniversários ou comemorações de bodas. Numa concessão à pobreza fazia-se amigo de bedéis que sempre lhe revelavam os pontos das provas ou alguma intimidade dos mestres, utilizando-a nos momentos mais apropriados. (p.96) Ernesto também se afasta de Conrado porque ele “isolava-o dos ricos e poderosos, daqueles que, um dia, seriam convocados para ajudá-lo. Dava nisso viver com a pobreza” (p.122). Do mesmo modo, no entanto com maior astúcia, Palha escolhe seus “amigos” pelo que seriam capazes de lhe oferecer e deles se distancia quando já não lhe servem mais. Carrero até então nunca havia construído uma personagem com traços tão machadianos, embora imersa (em parte) num ambiente rural. Esse filho mimado e incompetente, que fracassa em todos os seus ideais, também flerta – apenas flerta, já que outras características, somadas a estas, fazem dele um ser originalíssimo, carreriano, sem dúvida – com Brás Cubas. Todavia, não é apenas Jeremias, que, para a semiadormecida Sofia, também usava sandálias de Túnis (p.217), quem possui raízes em Rubião – além talvez de Ernesto, embora com relação a este não haja correspondência explícita – mas o estranho acompanhante da prostituta Raquel, o velho Alvarenga. O nome completo da personagem machadiana é Pedro Rubião de Alvarenga. E o que os dois têm em comum? Certa ingenuidade e uma devoção à amada, que pertence a outro (no caso de Raquel, a outros). Carrero bebe na fonte de Machado, mas carrega nas tintas. Seu “Rubião” tem aparência risível, patética e algo nauseante: “Quem era mais ridículo: ela [Raquel] ou ele que se movia, gordo, a barriga arriada, usando apenas uma cueca samba-canção, encardida, e calçando sandálias femininas?” (p.198). Espécie de devoto da mulher, nunca se deita com ela, e vela sua profissão, sentado no banco da frente da decadente hospedaria, enquanto durante toda a madrugada sobem e descem “vagabundos, mendigos, operários, estivadores, estudantes, nos tempos de boa freguesia, aguardando a vez” (p.199). Alvarenga, como Rubião, também possui um cachorro. Ele não tem o nome do primeiro dono, Quincas Borba, mas o de sua doutrina, Humanitas. De acordo com o princípio do filósofo, a guerra, necessária e benéfica, dá, ao vencedor, as batatas. O cão de Alvarenga, como uma foca, empina uma garrafa de cerveja no focinho nas apresentações religiosas (e circenses) dos Soldados da Pátria por Cristo, ajudando-os, portanto, a colher o “legume” do povo vencido. Para Jeremias, que renasce após o crime, e em harmonia com o princípio “borbiano”, “toda destruição é bendita, todo ódio sagrado e todo tormento divino” (p.222). Há ainda outros pontos de toque nos dois romances para além das correspondências onomásticas. Ernesto tem encontros musicais (e amorosos) na casa das tias de Rita Beatriz em paralelo com os que aconteciam na moradia da Sofia machadiana. A decadência da mansão do ex-capitalista Rubião é análoga ao “moribundo” estado tanto do Engenho Estrela quanto do casarão da Praça Chora Menino, no Recife. Enquanto Rubião perde a prataria, a família Cavalcante do Rego, em ruína e rumo à dissolução completa, já não tem telefone. Se o romance de Machado possui como pano de fundo a sociedade brasileira do Império, que caminha para a decomposição, o de Carrero revela a sociedade brasileira contemporânea e a queda do patriarcalismo rural. E enquanto Rubião sai da interiorana Barbacena para a capital, os seres carrerianos, enfim, partem, pela primeira vez, – já que em Viagem no ventre da Baleia, como já demonstrado, o caminho na verdade é de retorno, da cidade para o campo – rumo ao espaço urbano e lá se assentam. O modelo sertanejo rui para dar lugar ao Recife, também agreste, decadente, violento, febril, em consonância com o que Tânia Pellegrini detectara nas letras nacionais, a partir da década de 70: “A narrativa urbana no Brasil [...] foi se impondo como dominante, dentro da série da prosa literária, numa decorrência natural do seu processo de consolidação histórico-social” (2008, p.33). Se Rubião passa de ex-professor a capitalista (e a decadência, loucura e morte), Jeremias abandona o magistério (e a música) para se tornar o (falso) profeta-criminoso, e escapa assim ao destino do manipulado amigo de Quincas Borba. O militarismo (aqui mesclado à religiosidade, pois a seita é composta por “soldados”) possui duas fontes. Uma em Viagem no ventre da baleia, romance que funde fé e política, no qual o autoritarismo e a vaidade tanto dos oficiais da ditadura quanto (ou sobretudo) dos revoltosos são evidenciados. Outra no próprio título machadiano: em seu delírio, Rubião pensa ser o imperador francês e distribui títulos e patentes. No grupo religioso-militar-circense de Maçã agreste, Alvarenga é tenente; Sofia, sargento; Raquel, cabo; os meninos, soldados – todos acompanhados por prostitutas e liderados por Jeremias, o capitão, o profeta, o próprio Deus, cuja raiz (carnavalizada pela narrativa) se encontra na fértil terra dos Testamentos Sagrados. Na obra de Carrero, cada personagem é como uma colcha, feita com retalhos costurados de tantas outras, jamais inteiriça. Na Bíblia, Deus fala a Jeremias e lhe pede para anunciar a destruição de cidades, sobretudo por seus habitantes ouvirem falsos profetas e adorarem outros deuses: Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios, e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, de sorte que não se convertem da sua maldade; eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. [...] Assim diz o Senhor dos exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam a vós, ensinado-vos vaidades; falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. (Jeremias, 23, 14-16). De acordo com Bella Josef, “no espaço de uma escritura ambivalente, porque absorção e rejeição, situa-se a paródia” (p.247). De modo paródico, portanto, por apropriação e adulteração de sentido, Jeremias, o homem feito profeta por Deus, é, no texto carreriano, justamente o falso profeta contra o qual a personagem dos Testamentos fala em nome do Senhor. Ele, por vaidade, intencionando ocupar o lugar do Ser Supremo, altera em seu sermão a palavra bíblica conforme observa Sofia: “Não está certo, Jeremias, isso não está certo. Faz isso para glorificar-se e não para glorificar a Deus” (p.228). Após ouvir o povo repetir os trechos modificados, o pregador recifense “ficou abalado, sem dúvida seguro de que era mesmo o Guia, o Sol, o Resplendor” (p.229). Em seguida, lembra-se de Rubião “coroando-se com nada” (p.230). Quando Sofia tenta adivinhar o nome de Jeremias para entendê-lo melhor, ele lhe diz: “Não precisa me compreender, isso não tem significação alguma. Eu sou aquele que sou. Já ouviu isso? Na Bíblia está escrito: EU SOU AQUELE QUE SOU” (p.44). Jeremias novamente, ao reproduzir a palavra divina dita a Moisés (Êxodos, 3,14), embora tenha também a intenção de evidenciar a não importância do nome, ocupa o lugar do Pai, aquele que, em sua onipotência e onipresença, simplesmente é. Deve-se ainda ressaltar que o escolhido do Senhor para levar aos homens as suas palavras, após ser odiado por anunciar calamidades, lamenta sua existência: Maldito o dia em que nasci; não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: Nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. [...] Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente! Por que saí da madre, para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam na vergonha os meus dias? (Jeremias, 20, 14-18) O Jeremias carreriano, por motivo diverso, faz coro com o bíblico: [...] saí de casa, outro dia, ao anoitecer. Sem dizer nada a ninguém lamentava-me por não ter permanecido no ventre de minha mãe para não ser obrigado a assistir ao desespero do mundo, para não me ser imposta a visão de homens e mulheres que vivem os grandes tormentos, que formam a contorção da existência e que são incapazes de construir a estrada que nos leva à casa do sacrifício. (p.29) Em seguida declara que seu nome lhe é apropriado porque “nenhum outro personagem lamentou-se tanto por não ter permanecido no ventre da mãe” (p.31). O ser de papel carreriano, portanto, ocupa o lugar, tendo em vista agora os textos sagrados, do profeta Jeremias, dos falsos profetas a quem ele condena pela palavra divina e do próprio Criador, ao falar ao povo como um Deus. Esse redemoinho na composição dos indivíduos, que atravessa tantas obras, talvez tenha ainda alguma correlação com a ficção clariciana. É praticamente impossível não associar os títulos Maçã agreste e Maçã no escuro, pela equivalência da fruta e pela possível correlação entre termos “agreste” e “escuro”. Vale ressaltar que na “cronologia de Maçã agreste”, publicada no Diário de Pernambuco, em 1989, Carrero revela, no tópico “janeiro de 88”: Uma manhã acordei com um título me inquietando Maçã arcaica. Verifiquei, mais tarde, que Raduan Nassar havia escrito um livro com o título de Lavoura arcaica. Não dava certo. Era o melhor, mas não servia. Já havia, em certo sentido, a “Maçã” de Clarice Lispector. Até que me convenci definitivamente: “Maçã agreste”. Cada um que desvenda os seus mistérios57. Em entrevista ao biógrafo Marcelo Pereira, o escritor pernambucano afirma ainda: Eu não tinha simpatia pela literatura urbana. [...]. Essa rejeição com a qual permaneci por quase toda a minha vida, só vim a perdê-la depois dos 40 anos. Claro que eu tinha dificuldade de ler Clarice Lispector, essa literatura me preocupou muito e eu não pude me ligar a ela. Só mais tarde, quando perdi o preconceito, é que eu comecei a estudar a literatura urbana, até mesmo Machado de Assis eu comecei a ler tarde. (2009, p.69) Quando seu sétimo romance é publicado, Carrero está então com quarenta e dois anos. Não há dúvida de que lera Machado (a intertextualidade explícita comprova) e é possível que, na mesma época, considerando o depoimento acima, tenha se dedicado a outros escritores urbanos – Clarice aí incluída. Mas qual a provável correspondência entre os dois títulos? Pode-se pensar inicialmente em intenção crítica, por conta do declarado preconceito. A maçã de Carrero seria, assim, agreste, palpável, concreta, como a dura realidade de uma cidade e de seus habitantes, em contraposição à escuridão em que se encontra a fruta de Clarice. Estariam em jogo modos distintos de composição da história a partir de duas personagens com fomes reais e/ou simbólicas: Dolores (Maçã agreste) e Martim (Maçã no escuro). Essa perspectiva é reforçada pela declaração do próprio ficcionista pernambucano, à época da publicação do seu sétimo título, ao jornal El Matutino, da Argentina, a qual se refere Marcelo Pereira na biografia A fragmentação do humano: O autor de Maçã Agreste diz que não se sente integrante de nenhuma linha da novelística brasileira e reafirma que sua literatura é assinalada por tema e 57 CARRERO, Raimundo. Cronologia de Maçã agreste. Diário de Pernambuco, Recife, 14 abr. 1989, Caderno Viver, p.B-6. problema religiosos que surgem em função das questões sociais e econômicas do Brasil e não em função metafísica. (Pereira, 2009, p.37) Algumas passagens do título do escritor sertanejo, todavia, também parecem lançar luz sobre a questão. Imerso em uma atmosfera agônica, Jeremias reflete: Uma resposta é o que não espero nem pretendo. Que os outros procurem respostas para as danações que sou obrigado a carregar. Capitularei, se procurar uma única resposta para os meus gestos, para minhas atitudes, para a minha sobrevivência. Não tenho o direito de cascavilhar minha alma ou a minha consciência. (p.21) De acordo com o narrador, ele “compreendeu que devia, apenas, ser carregado pelas horas e pelos dias, sem ter sequer a necessidade de interrogar-se [...]” (ib.). O filho de Ernesto declara ainda: “A vida quer impulso, e eis-me impulsionado” (ib.). Seus pensamentos se opõem veementemente aos da maioria das personagens claricianas. Em outra passagem, contudo, o narrador parece afirmar que, ao contrário do que ocorre com Jeremias e Sofia – seres inquiridores – “há pessoas que dormem, comem, defecam, recebem salários e não fazem uma única interrogação” (p.46). Também Raquel pertence ao rol dos indivíduos que se indagam: Fui levada para o campo inútil das reflexões, sempre fui assim, mesmo quando não compreendia os pensamentos, misturados com sentimentos e visões, tem gente que não sabe apenas viver e indaga-se, indaga-se, muitas vezes perdendo o fio mínimo da existência [...] (p.175) É preciso considerar ainda que Sofia, a garota de classe média, começa a se questionar por causa de Jeremias: “Levou-a a reflexões, a constantes dúvidas [...]” (p.51). Logo, em oposição ao que afirma, o filho de Dolores talvez seja também um homem à procura de respostas. Ele, por exemplo, se esforça por compreender o olhar das meninas que se prostituem nas ruas da cidade indiferente: “Não é pelos olhos que elas começam a morrer? Desse tipo de morte que é estar, irremediavelmente, morto, e não poder ganhar uma sepultura porque ainda vive?” (p.18). A verdade é que Carrero poucas vezes antes da publicação deste romance apresentou personagens que se indagam (quando o fazem) para além do eixo da culpa, sobretudo cristã. Sofia, por exemplo, tem um “quê” nitidamente clariciano. Fora as problemáticas do nome e da não importância da verdade de um relato, que a acompanham durante a narrativa, ela se pergunta ainda: “Poderiam os ladrões e os homicidas sentir, em algum tempo, o prazer do crime?” (p.50) ou “Por que se despir à noite tem mais mistério do que durante o dia?” (ib.). Jeremias parece também dialogar com Martim. Enquanto este se transforma, renasce, a partir do suposto crime, aquele, encurralado no deserto (p.158), decide abdicar do papel de vítima induzida ao erro (bêbado participa de um assalto seguido de homicídio) para se tornar definitivamente o algoz: o único modo de escapar, de sair da margem e não ser esmagado. Há, portanto, duas metamorfoses que se desencadeiam a partir de graves delitos (ainda que a da personagem clariciana não tenha ocorrido de fato). Após o roubo do sax, o futuro falso profeta declara: “a única coisa que me resta é ser assassino” (p.82). Quando sai da prisão, une-se a um grupo de crianças que durante o dia o acompanham nas pregações, extorquindo o povo, e à noite roubam, estupram, matam. Ao final do título de Clarice, Martim afirma: “Porque eu, meu filho, eu só tenho fome. E esse modo instável de pegar no escuro uma maçã – sem que ela caia” (1999, p.335). A questão, portanto, não é apenas saciar a grande carência pela fruta símbolo de vida, prazer, pecado, conhecimento, todavia ser capaz de alcançá-la na escuridão. Sem luz, sem visão, sem compreensão, saciar o desejo que “o sustentava” (ib., p.334). Dolores, a que está repleta de “dores” (Oliver, 2005, p.382), na secura de sua existência, abandonada pelos filhos e viúva (talvez ela tenha matado o marido), é presa e só lhe resta, após a liberdade, a fome. Maçã após maçã, a velha solitária talvez busque também a vida em meio ao ambiente agreste, hostil e, por extensão, escuro. Quando retorna ao antigo lar em um domingo se dá conta de que “não haveria mais água nem luz. O casarão destituído” (p.241). Na manhã de segunda, desfaz o pacote, “onde não havia mais maçãs” (ib.). Vai, então, ao encontro de Jeremias na esperança de ganhar a fruta: “Só lhe faltava mesmo a maçã. Seria a primeira coisa que pediria ao capitão quando o encontrasse. Uma maçã” (p.245). Deve-se ainda acrescentar que a seguinte frase de Martim amolda-se com perfeição aos romances carrerianos: “Porque afinal não somos tão culpados, somos mais estúpidos que culpados” (1999, p.335). Independentemente de haver correlatos entre esses títulos, seja por oposição e/ou justaposição, o fato é que, em Maçã agreste, Carrero, sem dúvida, bebe em outras fontes, ou, seria mais apropriado dizer, come o fruto de outras árvores. Vale lembrar que, em História da literatura brasileira, Carlos Nejar corrobora a tese da correspondência entre as obras ao defender que este romance carreriano “dialoga com A maçã no escuro, de Clarice Lispector” (2011, p.907). Outro ponto que merece ser evidenciado é a violência urbana, a Recife indiferente e cruel, repleta de bêbados, prostitutas, ladrões, assassinos. Impossível agora não pensar em Rubem Fonseca e em um realismo brutal, feroz. Embora os textos carrerianos tenham alta carga erótica, a linguagem é costumeiramente contida, trabalhada. Nesta prosa, contudo, ela se torna mais direta. Após Ernesto ter diversas relações sexuais com uma negra, o narrador, por exemplo, declara: “a cabeça do pau explodindo e estalando, com medo de um colapso, infarto ou convulsão, implorava, mais do que pedia: - Minha filha, onde está a toalha?” (p.111, grifo nosso). Há ainda uma apoteose de vômito e merda nos relatos de Sofia e Jeremias na prisão. Enquanto ela conta o porre que tomara na infância que resultara em regurgitação, ele narra a experiência sexual com a mãe do desconhecido que vomita em seu rosto durante o gozo. Em seguida, ele defeca e é obrigado pelo policial a limpar o chão da cela repleto de suas próprias fezes com as mãos. Lafetá, no ensaio “Rubem Fonseca, do lirismo à violência”, nota que há uma modificação nos rumos do autor carioca “já a partir de Lúcia McCartney (1969)” (2004, p.385) romance no qual “a violência da linguagem imita a violência da luta e dos torcedores” (ib.). De acordo com o crítico ainda, “esse tipo de escrita vai ocupar, a partir daí, um lugar de proeminência na obra de Rubem Fonseca” (2004, p.386), embora ela não perca certa dose de lirismo e seja fruto de um “romantismo da desilusão”: “o romântico torna-se céptico, desiludido, cruel em relação a si mesmo como em relação ao mundo [...]” (2004, p.392). E não é exatamente o que ocorre com Jeremias, jovem que desejava apenas ser músico? Filho de um prevaricador incestuoso e decadente e de uma possível assassina, tem como irmã uma prostituta “social” e é enredado pela vida ao participar sem intencionalidade do assalto seguido de homicídio. Acuado no deserto, escolhe o crime, sua salvação, a maneira encontrada para escapar do destino de vítima. O terreno ainda é, portanto, o da árdua luta pelas batatas em que só os mais fortes (ou mais vis) sobrevivem. Todavia, não apenas a carga de lirismo em Carrero é acentuada, como também, neste romance, a presença do insólito, abarcando personagens e circunstâncias, fato que será esmiuçado no tópico seguinte e que parece afastá-lo brutalmente do colega de ofício carioca. Além das questões intertextuais aqui apresentadas, é preciso também considerar as relações intratextuais que se aguçam a partir de Maçã agreste. Embora elas evidentemente fiquem mais claras à medida que a pesquisa avança, o que significa tratar-se de um ponto que será com frequência retomado, é possível apresentar já alguns diálogos da obra carreriana consigo mesma. Dolores e Ernesto, em Maçã agreste, possuem dois filhos: Jeremias e Raquel. Raquel faz sexo com o pai e o texto sugere, a partir da perspectiva de Ernesto, que há algo libidinoso entre Dolores e Jeremias. Algumas personagens desta família são retomadas em Somos pedras que se consomem (1995), acrescidas de novas, fruto de relações incestuosas ratificadas na obra de 2007, O amor não tem bons sentimentos: Mateus seria, então, filho de Dolores e Jeremias, e Biba, filha de Jeremias com a irmã Ísis (que não aparece em Maçã agreste). Em Minha alma é irmã de Deus (2009), Carrero funde suas criações e torna este recurso o centro temático-estrutural do romance: Camila é, ao mesmo tempo, e novamente como uma colcha de retalhos, Raquel, Ísis, Mariana, Paloma. Esse mosaico, elaborado com cacos de vários destinos, talvez seja símbolo de uma ânsia (utópica) de completude. Deve-se acrescer que Sofia, de Maçã agreste, dá a entender ao pai (sempre lendo jornal), que fora sequestrada, e há circunstância semelhante envolvendo Camila, de Minha alma é irmã de Deus. Desse modo, ambas também se entrelaçam nessa costura de perfis de mulheres. Já em Seria uma sombria noite secreta (2011), o ficcionista recupera, sobretudo, as personagens Raquel e Alvarenga, tornando-as, agora, protagonistas. Nos títulos Sinfonia para vagabundos (1992) e As sombrias ruínas da alma (1999), os membros dessa da família incestuosa não aparecem – o que não significa que não haja outras relações estabelecidas entre esses textos. Pode-se afirmar, desse modo, que Maçã agreste é como uma árvore, uma macieira, cujos frutos correspondem a quatro outras narrativas, publicadas sem linearidade, pois intercaladas a outros títulos. Somando-se as obras intertextuais e intratextuais com as quais a sétima ficção carreriana dialoga, fica evidente que o modo de narrar em pleno redemunho, que tudo absorve e recria, ganha a cada novo romance uma velocidade estrondosa, lançando o leitor em direções múltiplas, plurais. 7.2 O insólito universo dos afetos Agora que Sofia viera e que o deixara só, parecia-lhe que um novo sentimento, indecifrável sentimento, começava a nascer na raiz da alma, ampliando a estranheza dessa coisa impalpável a que se dá o nome estúpido de felicidade, a víbora. (Carrero, 1989, p.29) De todas as narrativas carrerianas até então analisadas, a mais repleta de situações, sentimentos e personagens insólitos é sem dúvida Maçã agreste. À época do lançamento deste romance, o escritor Gilvan Lemos publicou uma resenha no Diário de Pernambuco, “Fome e sede de maçã”, em que, após dissertar sobre a questão da verossimilhança ficcional, identifica (com argúcia) na obra de Raimundo Carrero a presença de uma coerência interna erigida surpreendentemente por aparentes incoerências: Numa obra romanesca há de se entender que tudo nela relatado é ficção. O romancista não reproduz a vida, cria-a. Daí sua liberdade em apresentar os fatos, deturpá-los, emprestar-lhes a coerência que não será necessariamente a da vida real. Embora alguns críticos exijam um limite para as fantasias do romancista, eu, como romancista, gostaria de saber onde exatamente se situa este limite. Contrariando tais críticos, atrevo-me a substituir a palavra limite por verossimilhança. Verossimilhança, sim, é o que não prescinde a ficção, por mais absurda que nos possa parecer. E o bom romancista é justamente aquele que consegue impor sua verdade com verossimilhança. Ao ledor de romances cabe estar preparado para admitir o que de estranho ou passivo de acontecer na vida real possa surpreendê-lo, aceitar de bom grado o que o narrador lhe impõe, desde que este narrador tenha competência para fazê-lo. Raimundo Carrero é um ficcionista que a partir do seu primeiro livro – A história de Bernarda Soledade: a tigre do sertão – nos apresenta um mundo romanesco cheio de contrastes, incoerência, às vezes, símbolos obscuros, mas intencionais, que nos perturbam, vazado sobretudo numa linguagem forte, quase palpável em sua dramaticidade. Falei em incoerência? Incoerência, de fato, para o nosso mundo, não para o de Raimundo Carrero, que o vem produzindo e reproduzindo nos seus livros... coerentemente.58 Faltam, entretanto, ao texto de Gilvan Lemos, por conta do espaço limitado das resenhas, a apresentação detalhada desses elementos que causam certa estranheza no leitor e a verificação, evidentemente, do papel de cada um deles no romance. Onde está o insólito, explicável ou não pelos limites da razão subjugada ao “real”, e que efeito de sentido ele produz na obra são pontos que precisam ser esmiuçados na análise de prosa tão intrincada. Além disso, deve-se ainda perguntar de que matéria o extraordinário se constitui: é símbolo, metáfora ou apenas algo incomum, mas que, diante da totalidade do relato, se torna perfeitamente compreensível? Embora nem todas as passagens insólitas estejam atreladas aos afetos, é sobretudo através de curiosos laços entre as personagens – a partir de agora dissecados – que o estranho universo de Maçã agreste se configura. Quanto a Ernesto Cavalcante do Rego, há quatro tipos de relações de teor mormente sexual: com as negras (e incestuosamente com suas filhas e netas), com as brancas, com Dolores e com Raquel. Amamentado por uma mãe preta, como um típico filho da casa grande do início da segunda metade do século XX, desenvolve pelas mulheres negras uma obsessão sexual desencadeada pelo cheiro: Quase menino ainda, rapazote imberbe, apesar do corpo taludo, Ernesto descobriu que na pobreza do Engenho Estrela havia uma furna a ser explorada: as pretas. E ele já sabia, naquele tempo, o que significava explorar, em toda a sua dimensão opressiva e trágica. Ainda trazia no corpo acalentado, o cheiro dos fartos seios da mãe preta, por onde ele podia passar as mãos pequenas, tocando em carnes moles e sensíveis, porque houve um 58 LEMOS, Gilvan. Fome e sede de maçã. Diário de Pernambuco, Recife, 19 mai. 1989, Caderno Viver, p.B-6. dia em que ela gemera e estremecera toda, devolvida à juventude (e aos afagos da paixão). Quando encostava a cabeça para dormir, sentia as narinas pejadas de algo muito poderoso, do qual nunca pôde se livrar durante toda a vida. (p.108) Apesar do comportamento aparentemente patológico, há uma raiz psicológica, atrelada à infância, e outra social e histórica, fruto dos laços, fundamentados em desejo e poder, entre homens brancos e mulheres negras, nas grandes fazendas, que explicariam de modo satisfatório as compulsões do filho do Engenho. E quanto aos múltiplos casos incestuosos de Ernesto com suas filhas (e netas) há de se lembrar que era (e ainda é) relativamente comum no interior do nordeste brasileiro (e não apenas no interior, e não apenas no nordeste) o sexo entre parentes, estimulados ou não pela transgressão à interdição de que fala Bataille (“A interdição e a transgressão respondem a esses dois movimentos contrários: a interdição rejeita, mas a fascinação introduz a transgressão” (2004, p.104)). De acordo com o narrador, o Rei das Pretas temia ser chamado de pai, de ter de segurar aquelas mãos pequenas e sujas, estiradas para pedir-lhe a benção e um níquel. E mesmo assim alegrava-se, vendo a sua imensa clientela e os resultados, sabendo que entre as crianças tão desprotegidas quanto as mães, havia algumas meninas que, mais tarde, lhe serviriam de pasto ou de colchão. (p.113) O insólito, embora levemente acentuado pelo tom hiperbólico do relato, não ganha corpo já que todo o estranhamento se dissolve e resulta apenas em incômodo (ou repulsa). No entanto, Carrero cria uma situação de fato inusitada: incapaz de garantir ereção com as mulheres brancas, Ernesto, que pensa sofrer de uma doença medonha, o mal das pretas, carrega consigo um elixir miraculoso, o suor das negras reunido em um frasco, para untar as peles alvas durante o ato sexual. Embora a eficiência do procedimento também pudesse ser explicada pela louca crença do homem, o processo para obtenção do suor pertence indubitavelmente (e enfim) à categoria do maravilhoso: Minha filha, onde está a toalha? Traga a toalha, rápido, por favor. Faça minha filha, faça esse favor a seu potentado. Mesmo intrigada, ainda carregando no corpo todo o encanto da festa, e pensando no seu mistério insaciável, querendo mais ou um pouco mais, a mulher se levantava e apanhava a toalha no caixão que lhe servia de armário. Ernesto deitava-a, novamente, e, quando ela imaginava que seria mais uma vez cavalgada por aquele exagero de homem, ele a enxugava com a toalha, rápido e agitado. Em seguida, à maneira que ia esfregando pernas, braços, o sexo escurecido, o corpo inteiro, espremia a toalha, e o suor escorria para dentro do frasco. (p.111) Flávio Garcia, em texto de abertura do “IV Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”, procura esclarecer o significado desse objeto de estudo para além da extensa nomenclatura teórica que o envolve: A literatura maravilhosa, fantástica, sobrenatural, estranha, realistamaravilhosa ou absurda – e fique-se por aqui para não transbordar a nomenclatura – também é insólita. Mas o é duplamente. Num primeiro plano de leitura, seu caráter insólito sobressai pelo próprio fato de ser literatura – “Toda literatura é insólita”. Num segundo plano, o insólito emerge em correlação com a realidade exterior ao texto, aquela vivida pelo seres reais, os leitores, pois há eventos narrativos que não soem acontecer no quotidiano, surpreendem as expectativas, estão para além da ordinaridade e da naturalidade. Sem dúvida, trata-se de um limite muito tênue, uma linha muito fina, uma fronteira muito porosa.59 A reunião do suor das negras, com o auxílio de uma toalha, em um frasco para passá-lo em mulheres brancas com o intuito de garantir ereção, sem dúvida, é um evento que não soa acontecer no quotidiano, surpreende a expectativa, está para além da ordinariedade e da naturalidade. Há ainda o laço entre Ernesto e Dolores. Após ter fracassado na profissão e no intento de se unir a uma mulher abastada, imerso em ideias suicidas, o filho do Engenho, impedido ainda pelas pressões socais de se casar com uma negra, reencontra Dolores, moça simples que trabalhava na secretaria da faculdade, e decide, mesmo diante da decepção da família, por falta de alternativa, com ela subir ao altar. A filha de comerciário recebe o pedido sem recusa, mas também sem entusiasmo (p.136). Alternando durante toda a narrativa submissão e autoridade, fragilidade e força, a esposa, para a qual “um marido é um marido e a ele cabem todas as decisões” (p.127), contraditoriamente, “nunca aceitou a poção mágica” (p.122). Quando Ernesto morre com um tiro, abrem-se duas possibilidades interpretativas na obra: o suicídio, perfeitamente compreensível a um homem decadente, decrépito, que, desde a juventude, carregara consigo uma arma, com a intenção de se matar, ou o assassinato, possivelmente cometido por Dolores, e corroborado pela investigação policial que a conduz à prisão, embora ela alegue inocência. O delegado informa à viúva: “as impressões digitais não são do morto, embora ele tenha, também, segurado o rifle. A posição da arma indica que não 59 GARCIA, Flavio. IV Painel Reflexões sobre o Insólito na nanarrativa ficcional: tensões entre o sólito e o insólito. Rio de Janeiro: Instituto de Letras da UERJ, 2008. Disponível em http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Cadernos_de_Resumos_IV_Painel.pdf. Acesso em: 06 de março de 2012. foi ele quem deu o tiro [...]” (p.88). A narrativa, construída a partir de perspectivas contrapostas, não conclui o caso. Todavia, o estranhamento causado pelo episódio recai na verdade sobre a atitude de Dolores após a morte do marido, evidenciada no interrogatório: “Mexeu em alguma coisa?” “Não” “Que providências tomou em seguida?” “Fui lavar a louça” “A louça?!” “Não queria interromper o trabalho” (p.72). Quando retorna ao casarão depois de supostamente avisar a polícia sobre o ocorrido pelo telefone da residência vizinha, também permanece no seu ofício de doméstica, limpando e lavando. Apesar do comportamento atípico, pode-se compreender, pela totalidade da obra, a indiferença de Dolores e a não interrupção do seu papel social – “para isso é que as donas de casa servem” (p.70) – mesmo diante de fato tão violento. Mas, ao carregar nas tintas, Carrero consegue dar ao leitor a dimensão da distância afetiva entre as personagens que dividiam o mesmo (arruinado) teto e/ou talvez, considerando o possível homicídio, revelar a intensa e latente hostilidade que estranhamente os aproximava. É preciso ainda analisar a relação entre pai e filha. No relato de Raquel a Jeremias, ela diz não saber com quem perdeu a virgindade no escuro do decadente armazém: “Não me voltei para ver quem era, pouco me interessava descobrir o rosto. [...] Compreendi, imediatamente, que não devia reagir, porque ali começava a aventura do meu sangue” (ib.). Após o ato, o homem lhe diz: “Beba um copo d’água com sal para evitar gravidez” (p.169). Entretanto, o irmão revela: [...] vi você, Raquel, deitada com o velho no quarto, deitada com o Rei das Pretas, com Dom Ernesto, com Ernesto Cavalcante do Rego, os dois despidos, na ausência de Dolores, ele dizendo ‘tome mais um copo d’água com sal para não engravidar’, você, Raquel, a Grande Puta (p.179). Há algumas considerações necessárias para compreensão deste episódio. Primeiro, deve-se atentar para o fato de que Raquel e a mãe do desconhecido se fundem na perspectiva de Jeremias, já que ambas são chamadas por ele de “a Grande Puta”, complementando o curioso rol de personagens carrerianas construídas por retalhos e sobreposições. Segundo: parece pouco crível que a filha de Dolores não tenha reconhecido o próprio pai no armazém ao escutar sua voz. E, ao contrário da maioria das histórias reais, não há, em Maçã agreste, estupro; Raquel não apenas consente como aparentemente se deleita com o ato incestuoso. E, por último: a estranha inércia contínua de Jeremias, que, neste caso, embora tenha presenciado inúmeras vezes a mãe ser traída pela irmã e pelo pai, novamente não reage, assim como durante toda a trama que envolve a família do desconhecido (após fazer sexo com a mulher, mesmo enojado e amedrontado, acompanha todos no assalto seguido de assassinato, sem conseguir em nenhum instante se livrar das circunstâncias que lhe desagradavam). Gilvan Lemos observa que Jeremias “se deixa envolver em crimes pelos quais não tem o menor interesse”60. Carrero recria, no Recife, em sua primeira obra realmente de fundo urbano, a Jerusalém cuja destruição é anunciada pelo profeta Jeremias, em decorrência de os falsos profetas e habitantes serem, aos olhos de Deus, como Sodoma e Gomorra: “eles [os profetas] têm-se tornado para mim [Deus] como Sodoma, e os moradores dela [de Jerusalém] como Gomorra” (Jeremias, 23, 14). Há ainda a curiosa relação entre Dolores e Jeremias evidenciada principalmente na (pouco confiável, é claro) perspectiva de Ernesto explicitada pelo narrador: [...] à maneira que ele crescia (diverso de Raquel), fortificava-se a idéia de que estava diante de um ser muito estranho, sobretudo porque recebia carinhos dobrados e exagerados de Dolores. Tanto que o retirava do berço e colocava-o entre os dois, na cama. No seu orgulho, de macho e de senhor, sentia-se rejeitado. Ficou enciumado, muito enciumado, a ponto de surrá-lo qualquer que fosse o motivo fútil. (p.106) Uma afetividade incestuosa, portanto, é sugerida. Quando o foco recai sobre Dolores, as passagens apenas indicam que ela parece lamentar a ausência do filho e, estranhamente, de modo simultâneo, com ela se satisfazer: Começou a sacudir o pano dos móveis, somente de quando em quando querendo descobrir a razão que levara o filho a sair de casa. (p.70) [...] Não gostava de ruídos e ficou até aliviada quando Jeremias foi embora: desobrigara-se a escutar o saxofone. (ib.) Todavia, ao sair da prisão, a mãe vai ao encontro do filho na esperança de que ele lhe dê uma maçã; de que ele, talvez, lhe devolva à vida, ainda que associada ao erro e à Queda. Somente em O amor não tem bons sentimentos, obra publicada em 2007, a personagem Mat(h)eus, fruto da relação entre Jeremias e Dolores, legitima, pelo intratexto, a suspeita de Ernesto sobre a sombra incestuosa. O enlace entre o irmão de Raquel e Sofia é ainda mais insólito se for considerado que se inicia com um cuspe (“[...] cuspiu no rosto da moça que estava a seu lado e de quem, somente mais tarde, conheceria o nome” (p.21)) e não há sexo. O texto sugere apenas que, enquanto ele lê trechos do romance Quincas Borba, ela o masturba: “[Sofia] escorregou a 60 Op. Cit. mão por trás da cueca, roçando a pele, em busca ávida pelo membro ereto. Respirando junto ao seu ombro, envolvendo-o e gemendo. Ele [...] segurava o livro, lendo e lendo, e lendo [...]” (p.27). Outras duas passagens comprovam a ausência de cópula: “[...] embora não a tocasse um único instante, ele, Jeremias, não procurou suas coxas e seus seios, não a acolhendo nem enxotando, apenas se satisfazendo com a sua presença [...]” (p.194) e “[...] era dele sem nunca ter-se entregue aos duelos de cama” (p.216). Para Gilvan Lemos, os seres de Maçã agreste estão agrupados numa bandeira cuja finalidade não se define com clareza, não se repartem. Tampouco o fazem em sua vida íntima. Notar que Jeremias não chega nem a possuir fisicamente a amante, e se esta uma vez o satisfaz é na realização de um ato que costumamos chamar de solitário61 Ou seja, quando o sexo não seria natural, face aos dogmas sociais, como no caso dos incestos, ele, no romance carreriano, ocorre em profusão e, quando é esperado, como decorrente da união entre dois jovens que compartilham suas vidas, não acontece. Mas por que Jeremias e Sofia não consumam sexualmente sua união? Talvez essa recusa tenha raiz no processo de transformação pelo qual o filho de Dolores passa, sobretudo após a experiência com a família do desconhecido, mescla de crime, luxúria e escatologia. Jeremias renasce como o (falso) profeta e, ao ocupar o lugar do outro, passa a ser de fato outro. É possível ainda que uma relação sem sexo represente, mesmo em meio à lama em que vivem, um grau de pureza algo libertário, assim como ocorre aparentemente entre Raquel e Alvarenga. A filha de Ernesto, que fora libidinosa desde a infância, decide se tornar, por gosto, prostituta: Deve ter ficado bem claro, como, aliás, venho demonstrando em todos esses anos, que, se não cumpro uma missão, nunca pensei assim, nem julgo haver piedade em minhas atitudes, também não me interessava ser considerada excêntrica ou insólita. Sou prostituta ou, como queiram, puta. Sou tão prostituta como a menina saída do mocambo ou como a garota enganada pelo namorado nos subúrbios. Sou a mesma que se entrega para sobreviver, e igual àquela que se lambuza por infindável satisfação. (p.174) Carrero recusa o termo insólito para definir sua personagem ciente de que, comparada às inúmeras bacantes literárias, quase sempre conduzidas ao “erro” pela miséria ou desgraça, o apreço de Raquel pela profissão soaria algo incomum. Todavia, o autor pernambucano mantém o ambiente decrépito no qual toda a legião de prostitutas, presentes 61 Op. Cit. em sua obra, vive, assim como a imagem do corpo decadente, cujos seios eram “moles de bicos enegrecidos” (p.198). Sofia afirma, em contraposição, porém, que a irmã de Jeremias era bela (p.56). E, de acordo com o narrador, ela “vestia-se de vermelho para não fugir ao lugar-comum das prostitutas” (p.54). A composição desta personagem, portanto, abarca clichê assumido (uso do vermelho) – o que confere certa originalidade à narrativa – e traço insólito (sonho de ser puta), estrategicamente rejeitado como tal. Deve-se ainda notar que, ao se definir, Raquel engloba os vários tipos de meretriz, de acordo com o que as motivou, como se representasse todas, como se fosse todas, novamente dentro da proposta de construção dos seres ficcionais por retalhos. Ela ainda revela que seu “corpo não serviria de guarda e alojamento de criança, estava destinado a socorrer ânsias e agonias de todos os homens que não teriam onde desafogar suas dores” (p.174). Logo, opondo-se a seu próprio discurso, Raquel não apenas é uma personagem excêntrica como possivelmente age, não somente por gosto, mas também por “missão” ou “piedade”. Com seu “corpo social” ela se torna simultaneamente pecadora e santa, luxuriosa e abnegada. Quanto ao fato de não gerar filhos, parece dialogar com a bela Raquel bíblica, esposa de Jacó, a quem o Senhor fez permanecer por longo tempo estéril (Gênesis, 29, 31). Há ainda que se ressaltar a curiosa relação entre a filha de Dolores e o velho Alvarenga. Ele a acompanha servilmente, desdobra-se em cuidados e vela suas relações com outros homens, sentado à frente da pensão. De fato, o dono de Humanitas se assemelha ao cão em sua fidelidade à mulher. Eles não são parentes nem amantes e Alvarenga não é um cafetão. Os dois compõem, portanto, um estranho casal – talvez o mais (ou o único) afetuoso na narrativa: [Raquel] sentia compaixão por aquela figura medonha que se esforçava para tirá-la da agonia e imaginava como era esquisita a impulsão de dormir com um homem daquele. Mas se acostumara com ele, acostumara-se de tal forma que perdia o sono quando não aparecia, o que era raro, muito raro. (p.199) Existem ainda outras situações extraordinárias para além do âmbito “afetivo”. Conrado, por exemplo, colega de Ernesto, amava a morte e o século XIX e criava ratos no quarto dos fundos da casa, além de “andar de costas só para ver se encontrava o passado” (p.104). Aliás, a expressão “criar ratos” é utilizada pelo pai de Raquel, ao se referir a Dolores e a Jeremias, aparentemente como indício de que conspiravam contra ele. No entanto, Ernesto percebe que o louco amigo, que oferece vinho e serve aguardente, imagina possuir uma piscina e finge (ou pensa) ler os clássicos em língua original – num parentesco também próximo com Rubião que se coroava com nada –, à beira da morte, “treme e geme” (p.133). Em seu delírio, planeja se suicidar e idealiza a divulgação da notícia nos jornais, acompanhada de três fotografias imaginárias onde curiosamente está estampado o futuro das demais personagens: Conrado descreve todos os integrantes da seita Os Soldados da Pátria por Cristo. Embora não haja nenhum indício que corrobore a suposição, esta insólita personagem, amante do passado, representaria a condenação de um século XX decadente ou da própria realidade por ela negada pelo tortuoso caminho da alienação? Seria, ainda, essa alienação uma prova de existência de uma aguda consciência que a tudo vê, inclusive o porvir, e exatamente por isso não suporta o peso do “real”, deformando-o, distorcendo-o? Afinal, ao receber o interesseiro colega, Conrado lhe diz louca e sabiamente: “Com certeza veio conhecer a piscina. É isso: quando se tem piscina em casa, os amigos costumam aparecer, mesmo quando não são convidados” (p.131). É possível citar ainda: a inércia das personagens, incapazes de segurar as rédeas e conduzir seus destinos; a própria elaboração (também incomum) dos mesmos a partir de retalhos de tantos outros, identidades fragmentadas; a extraordinária fusão de elementos díspares para compor Jeremias, simultaneamente profeta e criminoso; a frouxidão dos laços familiares (proximidade física, cisão afetiva) e, ao mesmo tempo, o nó, composto de doses de indiferença, erotismo e aversão, que os mantém presos mesmo que espacialmente apartados. E o que dizer sobre as inúmeras influências, recortes costurados, em Maçã agreste, dando corpo a uma obra-mosaico – amplo (e inusitado) prisma intertextual? O fato é que, independente das patologias terem origem na infância ou serem fruto de uma realidade vil ou de uma cidade violenta e indiferente, o sétimo romance carreriano é composto por um realismo feroz – sem dúvida, também incomum porque hiperbólico – imerso no insólito. E se aquele configura a face trágica do romance, este é o responsável tantas vezes pela cômica, que engloba, por exemplo, os episódios sobre o elixir de Ernesto e a obsessão de Conrado. Aliás, logo no princípio do texto, a descrição das costumeiras conversas entre Jeremias e um amigo é indício da própria composição ficcional: “[...] as conversas entre eles eram cíclicas: indo e vindo [...], revelações sombrias cortadas por narrativas cômicas, indo e vindo [...]” (p.15). Vale lembrar que a linguagem carreriana se afasta ainda desse realismo cru praticado à época da publicação de Maçã agreste por alguns autores do eixo Rio-São Paulo, de teor, sobretudo, fonsequiano, ao manter na narrativa um tom lírico, poético, ainda que fruto da (ou em meio à) violência. É possível destacar, dentre muitas passagens, os ombros de Dolores que “começavam a arriar, comprimidos pela desesperança” (p.32) ou o “saxofone abandonado na cadeira, também ele enigmático, iluminado pela luz das velas, sem silêncio, sempre em silêncio, necessitando do sopro da vida” (p.35). Sobre a correlação entre infância e velhice, Sofia observa que esta “fora suficientemente antecipada, do fim para o fim, um abismo antes da estrada” (p.44) e as lembranças antigas de Ernesto são poeticamente definidas: “linha de bordar tapete puído” (p.124). Jeremias relata também por uma imagem impactante o inútil desejo de escapar da Grande Puta: “Ninguém consegue fugir quando está acuado por uma fera não exatamente num canto da parede, mas no espaço infinito do deserto” (p.158). É preciso também ressaltar que o riso nem sempre se encontra, em Maçã agreste, atrelado ao cômico. Ao contrário, ele brota comumente do trágico, ou melhor, do trágico (e talvez, de fato, cômico) absurdo da existência, e parece acompanhar Jeremias no abismo da loucura. Carrero atrela a “comédia inútil”, da epígrafe de Ernesto Sábato, à sua ideia correspondente de “riso martirizado” e com ambas as expressões (“A comédia inútil, o riso martirizado”) abre a “Primeira parte (Anverso)” de sua narrativa antecedida apenas pelo “Prólogo (Sacrifício)”. O trecho extraído da obra de Sábado expõe a tragicomédia da vida humana: Em um planeta minúsculo, correndo para o nada há milhões de anos, nascemos em meio de dores, crescemos, lutamos, adoecemos, sofremos, fazemos sofrer, gritamos, morremos, morrem uns enquanto outros nascem, para tornar a começar a comédia inútil. (apud Carrero, 1989, p.14) No excerto do próprio romance, que se refere ao estado de Jeremias após o crime no qual se envolve, situado na página em paralelo ao acima transcrito, o riso resulta da fusão entre “angústia e ansiedade” e “alegria e prazer”: Naquela semana – nos dias que antecederam a conversa –, toda a carga de risos e gargalhadas tinha se apossado dele. Não lhe faltavam angústia e ansiedade, assim como não estavam ausentes alegria e prazer. A isto chamava: sentir a vida (ib.) Esse riso-dor é ainda um grito de vingança dos miseráveis: [Jeremias] tem a impressão que os desgraçados invadem a cidade não só para pedir – talvez até considerem isso insignificante – mas, sobretudo, para rir, um riso pranteado de quem se vinga e, mesmo assim, sofre (p.16). Ao caminhar pelas ruas decadentes da cidade Jeremias ri e, na iminência do suicídio, tem vontade de gargalhar. Esse riso insólito, portanto, fundamenta-se no próprio caráter também insólito da existência, expresso no caos da “cidade-cruel” (p.18), numa espécie de Guernica literária, como bem observa Rivalter Pereira: Carrero expõe, “a exemplo do pintor espanhol Pablo Picasso, um quadro de dor, de horror, de opressão, angústia e frustração”62. E, se for considerado o estudo de Bergson, no qual conclui que “o riso é antes de tudo um castigo. Feito para humilhar, deve causar à vítima dele uma impressão penosa” (p.99), fica fácil entender seu aspecto vingativo (embora sofrido) explorado no romance: se a vida causa tristeza e angústia ao homem, ele pode chorar e assim despertar piedade, ou rir (ainda que um “riso pranteado”) para castigá-la, para humilhá-la, para dela desdenhar. Do mesmo modo, o suicídio também decorre, por vezes, de uma espécie de revolta, de um desejo de vingança. Ele alia a covardia de quem não é capaz de lutar à coragem de quem recusa a vida de modo supremo, abdicando dela. De acordo com Morin, quando o suicídio se manifesta, não somente a sociedade não conseguiu expulsar a morte, não somente não conseguiu dar o gosto pela vida ao indivíduo, como também está vencida, negada; nada pode por e contra a morte do homem. A afirmação individual obtém a sua vitória extrema, que é simultaneamente catástrofe irremediável. (1970, p.47) O caminho, contudo, escolhido por Jeremias, um suicida em potencial, é o do riso e do crime – formas de escapar ao papel de vítima, tornando-se o algoz: Não aceitaria mais ser empurrado para as margens, ser espremido nas paredes, ser atirado ao caos. Se alguma coisa ainda lhe restava e se não podia mais suportar o peso do próprio corpo, devia passar de vítima a homicida, transgredindo. (p.222) Há ainda no comportamento dos meninos-soldados um prazer sádico, uma violência banalizada, gratuita. Eles não roubam porque têm fome, mas assaltam, matam, abusam sexualmente, por diversão; crianças-monstros, filhos legítimos da cidade vil. No quadro de compromissos da seita, a partir das vinte horas estão todos liberados para “estupros, assaltos, putaria, chantagem, vadiagem, molecagem e outras atividades exclusivas dos integrantes da confraria” (p.207). Esse viés sadiano (“a repetição de uma essência, a do crime” (Barthes, 2005, p.4)) será novamente explorado por Carrero, e de maneira mais intensa, no romance Somos pedras que se consomem (1995). Diante de todas essas faces extraordinárias do sétimo título carreriano, seria natural pensar na utilização de uma base teórica que as fundamentasse. Todavia, a extensa (e por 62 PEREIRA, Rivalter. “Entrevista com Raimundo Carrero”. Campo literário. Jun. 2007. Disponível em http://campoliterario.blogspot.com/2007/06/entrevista-cm-raimundo-carrero-rivalter.html. Acesso em 13 de março de 2012. vezes confusa) nomenclatura que tenta dar conta do insólito não constitui elemento facilitador da compreensão deste romance, ao menos. Apenas em Todorov, por exemplo, seria possível encontrar a seguinte subdivisão: o fantástico (hesitação contínua entre o sobrenatural explicado e aceito), o estranho (sobrenatural explicado), o maravilhoso (sobrenatural aceito), e suas variações: o fantástico-estranho (“acontecimentos que parecem sobrenaturais ao longo de toda a história, no fim recebem uma explicação racional” (2004, p.51)), e o fantásticomaravilhoso (“narrativas que se apresentam como fantásticas e que terminam por uma aceitação do sobrenatural” (ib., p.58)). Bem, primeiro há de se considerar que Maçã agreste, apesar da forte presença de elementos atípicos, não constitui um exemplar da literatura “fantástica”. Segundo, não seria possível, tomando como base a terminologia do linguista, aprisionar os eventos insólitos do universo carreriano satisfatoriamente em nenhuma dessas categorias. Não há o suposto pêndulo do fantástico: nem leitor nem personagens oscilam entre explicações racionais e aceitação do “sobrenatural” – nome, aliás, pouco satisfatório, restritivo, para se referir ao insólito. Também, e apesar de certas circunstâncias causarem estranheza, não se poderia chamá-las de estranhas já que, de acordo com Todorov, elas teriam de ser elucidáveis por um raciocínio lógico e, na narrativa carreriana, obviamente não são. Restaria o maravilhoso, quase sempre exemplificado por contos de fadas, um mundo em que o “irreal” é aceito com naturalidade. Mas, no caso de Maçã agreste, seria preciso imaginar, no mínimo, uma (falsa) fada contando uma história maldita. Na verdade, essa “aceitação” no romance sequer existe se for considerado o ruído que o insólito causa no leitor, levando-o a pensar sob novos ângulos, a tentar compreender aquele mundo excêntrico de forma não-linear ou denotativa. Lenira Marques Covizzi, na obra O insólito em Guimarães Rosa e Borges, verifica que se o insólito “é tratado como habitual [...] numa abordagem inversa ao normalmente esperado, sua carga de estranheza se multiplica” (1978, p.26). Bella Josef, ao tentar aplicar o conceito de Todorov, conclui que “sua teoria tem utilidade indiscutível na caracterização do gênero. Mas no caso hispano-americano, sua premissa não tem razão de ser [...]” (1986, p.201). No caso do sétimo título do pernambucano, também não. Covizzi parece, portanto, escolher o caminho adequado ao batizar seu estudo de insólito (passos que esta pesquisa procurou seguir), “no sentido do não-acreditável, incrível, desusado” (1978, p.36) englobando todas as suas “manifestações congêneres” (ib.): ilógico, mágico, fantástico, absurdo, misterioso, sobrenatural, irreal, supra-real. Se o realismo tradicional “não foi o que imitou mais fielmente a realidade” (Josef, 1986, p.187), a incorporação do “irreal” talvez corresponda à tentativa mais eficiente da literatura contemporânea de desvelar o homem e o seu mundo para além dos limites impostos pela prosa mimética. Em Maçã agreste, o autor-intelectual amplia suas fontes e, por colagens e sobreposições, erige um universo próprio (de múltiplos e inusitados afetos), insolitamente verossímil. 7.3 Os multíplices ângulos da maçã Mas resposta com palavras, um mosaico de sentenças bem claras, não conseguia formar. (Carrero, 1989, p.189) O sétimo romance carreriano foi edificado sobre cinco pilares: os pontos de vista de Dolores, Ernesto, Raquel, Jeremias e Sofia, apresentados por um narrador que, por vezes, parece se ausentar por completo da narrativa. A ficção, que se estrutura em três partes – Anverso, História e Reverso –, abre com o “Prólogo”, intitulado “Sacrifício”, e fecha com o “Epílogo” homônimo, nos quais o foco incide sobre a matriarca da família Cavalcante do Rego. Cada uma das três subdivisões da primeira parte (Anverso) se inicia com epígrafe atrelada a trecho da própria narrativa, em referência a uma das personagens. Assim, a “comédia inútil” de Sábato corresponde ao “riso martirizado” dos homens (e do filho de Ernesto) na cidade vil: Em um planeta minúsculo, correndo para o nada há milhões de anos, nascemos em meio de dores, crescemos, lutamos, adoecemos, morremos, morrem uns enquanto outros nascem, para tornar a começar a comédia inútil. Ernesto Sábato Naquela semana – nos dias que antecederam a conversa –, toda a carga de risos e gargalhadas tinha se apossado dele. Não lhe faltavam angústia e ansiedade, assim como não estavam ausentes alegria e prazer. A isto chamava: sentir a vida. (p.14) Já o fragmento extraído da obra de José Cardoso Pires está para o trecho referente à Sofia, mas o fogo, ao invés de ser substituído pelo sangue, é pela “sombra por trás do espelho” (p.39) em alusão à presença constante da outra Sofia machadiana: Os reflexos de luz ora a dissolvem no vidrado dos azulejos, ora a recuperam, muito pálida. Mas há uma sombra que atravessa o espelho por trás [...]. Fogo não, sangue. José Cardoso Pires. Vinha o cochilo, o gosto de sono na boca e a lerdeza dos músculos repousados. Agasalhava-se ainda mais em si própria, no segredo de sua solidão, inteiramente entregue ao manso silêncio das horas. (p.40) E a epígrafe de Mary Gordon lança luz sobre a tantas vezes submissa Dolores, cumpridora do seu papel de mulher-dona-de-casa, que, na perspectiva de Glória, “é e será sempre apenas corpo” (p.120), logo, incapaz de desvendar o segredo, de alcançar a liberdade: A verdade era que, para realizar alguma coisa importante, a mulher tinha de sair do próprio corpo. Era esse o segredo que todos queriam descobrir. Mary Gordon Tinha sede, talvez alguém pudesse conseguir um copo d’água. Trancou-se no silêncio. Somente aquilo: estar em silêncio e sossegada. Olhar para a janela, feito um foco de luz suspenso no espaço. (p.68) O centro da ficção (Segunda parte / História) é ocupado por Ernesto e o excerto a ele associado, que bem se amolda ao libidinoso e cômico Rei das Pretas, pertence à obra de Ariano Suassuna: É por isso que toda mulher, quando goza ou quando entra em agonia, se contorce como uma Serpente. É por isso que todo homem, quando goza ou quando morre, estremece todo, cerrando os dentes e, logo depois, abrindo e fechando a boca, no feio e sagrado espasmo do Gavião profundamente ferido. E, finalmente, é por isso que todos os homens, e todos os filhos e filhas dos homens, são também filhos da morte, nenhum deles escapando a suas garras maternais e cruéis. Ariano Suassuna. Todavia, como Carrero segmenta o patriarca em quatro, de acordo com as fases de sua vida, foi destacado, logo abaixo desse trecho, o mesmo número correspondente de fragmentos. Na sequência aqui apresentada, essas fases equivalem à velhice de Ernesto, ao seu tempo de estudante, à sua relação com as negras (que se inicia no primeiro ano de vida durante a amamentação) e à infância no Engenho Estrela: Quando compreendeu, finalmente, que nas pernas faltavam-lhe os músculos, resolveu confinar-se no casarão da Praça Chora Menino, somente saindo, vez ou outra, para conversar com amigos no comércio ou para um passeio solitário pelas redondezas. Dom, o senhor não pode andar metido com essa gente miúda. Tem muito porte para pouca nobreza. Vou apresentá-lo a Rita Beatriz. Uma mulher de requintes. Sabe que ela toca violoncelo? Tantas delas estiveram em seus braços, e tantas lutaram para retê-lo, não exatamente feito cruzamento de marido e mulher, mas atraídas e, de certa forma, subjugadas e vencidas por aquilo que ele conhecia por membro viril, e que elas, na agonia do prazer e do estremecimento do gozo, chamavam de cacete. Não seria apenas um senhor de engenho, tão pouco para suas imensas possibilidades, mas um sacerdote de dinossauros, como acontecia antigamente. (p.94) Na primeira subdivisão da terceira parte (também repartida em três conforme a primeira), apesar de a epígrafe de Osman Lins (“Súplicas, promessas e ameaças encontraram a moça irredutível” (p.154)) se correlacionar apenas com a prostituta Raquel (“Até o dia em que fui arrastada, penosamente, para a outra face do abismo, e que não sendo, com certeza, o abismo que você nomeia, era muito mais profundo e muito mais esclarecedor” (ib.)), há outros dois trechos destacados, um referente ao ponto de vista de Jeremias (“A grande Puta lambia o meu rosto, passando a língua desde o queixo até os cabelos, a cachorra miserável, provocando minha ira e meu medo, e eu nem sabia por que não pedia para saltar” (ib.)) e outro ao de Sofia: Ficou mais fácil embalar a menina, na cela, porque a gente pode melhorar um sonho, acrescentando ou diminuindo, mesmo quando se trata de uma caça à rã e a rã não é real, apenas uma entidade sem matéria, que pode se tornar bela e mágica, companheira e solidária. (ib.) Na segunda ramificação da terceira parte, o foco volta a recair sobre Sofia e o trecho de Emily Dickinson (“Primeiro – arrepio – depois – estupor – depois – seja o que for” (p.182)) associa-se à voz da companheira de Jeremias na prisão e à do narrador: Deve ter ocorrido algo indefinido. Quando fui obrigada a tirar a roupa, no dia anterior, ficando nua diante de você e diante do policial, não senti vergonha, era mais do que isso: ocorreu-me estar sendo insultada diante da multidão, desprotegida e solitária. Só desejava agora, forçava mesmo, compreender o homem que estava ali diante dela, indagando se podia entendê-lo, se algum dia chegaria a entendêlo, vivendo mais do que ouvindo (ib.). Na última ramificação, o excerto de Rimbaud ilumina o (falso) profeta (“O verdadeiro problema é tornar a alma monstruosa” (p.210)) e os fragmentos destacados correspondem à perspectiva de Jeremias, exposta pelo narrador, e ao olhar de Sofia sobre ele: Dizia que a vítima é que é o monstro, não se conformando com a dor e com a morte, expelindo ódio ao invés de sangue, insultando o homicida, escarrando os próprios dentes, gritando, prendendo nos pulmões a última respiração e nela guardando paixão, raiva, horror. Sofia via nas lembranças, Jeremias andando numa rua escura, vestido num chambre e calçando sandálias de Túnis, os polegares metidos no cordão da roupa, o que lhe emprestava a sisudez de profeta pregando no deserto, sem nada de novo-rico ou de empresário no repouso. (ib.) Carrero, mais do que nunca, parece se preocupar com a arquitetura do romance. No Prólogo (que linearmente equivale ao desfecho) e no Epílogo, unindo as duas pontas do círculo, se encontra a matriarca Dolores. Maçã agreste faz, portanto, o percurso da dor (presente na simbologia do nome) à dor, do fim ao fim, em paralelo com a perspectiva de Sofia sobre a correspondência entre infância e velhice: Então restava-lhe, unicamente, caminhar para a velhice? Talvez tenha sido o que ocorreu quando a chamaram pelo nome: a descoberta de que já não era uma criança, uma menina quase despida de fundo de quintal, mas um ser estranho que não possuía dentes. Uma criatura demais antiga, demais antiga, começando a desfalecer, sem necessidade do próprio corpo para manter-se viva. [...] Talvez porque a velhice fora suficientemente prematura, antecipada, do fim para o fim, um abismo antes da estrada. (p.44) A narrativa se estrutura do mesmo modo que a existência: do (desdentado) “início” ao (desdentado) fim. Como Dolores ocupa as bordas do romance e Ernesto, o centro (posição que representa seu papel, o âmago da ruína das demais personagens), fica evidente que o leitor está diante de mais um título do ficcionista pernambucano no qual estão em pauta as relações familiares: o menino mimado do Engenho Estrela se torna na vida adulta o responsável pela decadência financeira e moral dos Cavalcante do Rego. Deve-se atentar ainda para o fato de que, enquanto no Anverso as perspectivas estão grosso modo apartadas, funcionando como uma apresentação das personagens, no Reverso, elas se encontram fusionadas e atreladas às rememorações (várias relacionadas à infância e/ou adolescência) de Sofia, Jeremias e Raquel. Logo, o passado corresponde ao Reverso, que é uma espécie de retomada ao ponto de partida. Neste momento, o narrador sai de cena e a prosa se transforma num imenso diálogo entre Jeremias e Raquel e Sofia e Jeremias, numa alucinante intercalação de vozes confessionais. A epígrafe de abertura, de Dostoievski (“Convenha, é uma desgraça para uma época não saber mais a quem respeitar. Não é mesmo?”), se harmoniza com a visão de mundo que perpassa a obra: uma família, uma cidade, um mundo, violento e decadente, insólito, absurdo, desumano. Curiosamente, o termo agreste, presente no título, quase sempre associado ao sertão, aplica-se aqui à cidade. É possível afirmar que este é o primeiro romance carreriano de feição urbana (já que em Viagem no ventre da baleia as personagens retornam ao campo) e esse espaço é ainda mais selvagem, rústico, áspero do que o sertanejo. Mas não se deve esquecer, no entanto, de que a fruta está sempre associada à Dolores: além de sentir falta dela, seu vestido cheira a “maçã arcaica” (p.5). Essa Eva de Raimundo Carrero, pura dor, mãe de todos os homens, não se situa apenas no Recife contemporâneo, mas na origem do drama humano. Os cinco ângulos (Ernesto, Dolores, Jeremias, Raquel e Sofia) do sétimo título carreriano dialogam com inúmeras vozes, em movimento intertextual, (conforme explicitado no primeiro tópico deste capítulo), que incluem ainda as das várias epígrafes acima destacadas. Outro aspecto interessante é a sutil presença de alguns trechos de metaficção. Quando Jeremias compara Sofia à personagem homônima machadiana, ela reflete: Então não sou uma mulher, mas uma personagem de romance [...] Não, não é bom sentir-me assim. Uma personagem que só pode estar viva nas páginas de um livro e, ainda assim, quando alguém o lê. Agora, por exemplo, devo estar morta num canto de biblioteca, espremida entre outros volumes. Ou então viva, vivíssima, em outro ponto da cidade ou do país. Quantas pessoas são capazes de ler Machado de Assis ao mesmo tempo e de transformar Sofia numa mulher de carne e osso? (p.24) O ser de papel compara a sua existência “real” a de outro ser de papel e está em discussão o jogo de vida e morte que a literatura engendra tão bem analisado por Blanchot: O que é uma obra? Palavras reais e uma história imaginária, um mundo onde tudo o que acontece é tirado da realidade, e esse mundo é inacessível; personagens que se querem vivos, mas sabemos que sua vida é feita de nãoviver (de permanecer ficção) [...] Mas a ficção [...] é vivida sobre as palavras a partir das quais se realiza, e é mais real, para mim que a leio ou a escrevo, do que muitos acontecimentos reais, pois se impregna de toda a realidade da linguagem e se substitui à minha vida, à força de existir. (1997, p.326) Em outra passagem, a problemática de Sofia (que procura conciliar diálogos paralelos, com Jeremias e com a menina aprisionada) corresponde sem dúvida a de Maçã agreste enfrentada pelo próprio autor: “Percebi a dificuldade de compor uma história que, não podendo ser uniforme, também não devia ser desarmônica, correndo o risco de descambar para o grotesco e para o caos” (p.167). Não há uniformidade no sétimo título carreriano nem desarmonia, no entanto o redemunho de vozes entrecortadas conferem à obra uma atmosfera (propositalmente) caótica em consonância com as febris e violentas ruas do Recife. Há ainda a discussão sobre a falta de importância da verdade (ou da realidade) do relato ou sobre o processo de recriação dos fatos pela memória. De acordo com Sofia, que mescla fantasia a histórias sobre o seu passado, “a gente pode melhorar um sonho, acrescentando ou diminuindo, mesmo quando se trata de caça à rã e a rã não é real [...]” (p.172-3). E, quando Jeremias se irrita pela impossibilidade de narrar com exatidão sua experiência com o desconhecido, ela adverte: “Não tem sentido ficar pensando na verdade. Para mim é só uma palavra” (p.65). A futura companheira do (falso) profeta acrescenta também: Acontece que o local do sonho não era fundamental. Importante era o sonho. Por isso lhe digo que não sei se a caça à rã foi verídica. Talvez nem tenha acontecido. [...] A verdade ou a narrativa não precisa, necessariamente, de uma paisagem ou de um território exclusivo, de um chão de pedra e cal, de um terreno ou de um cenário. (p.173) Essa aparente preterição da categoria de espaço, que não se comprova em Maçã agreste, romance no qual Recife se personaliza, encontra, todavia, eco nas palavras de Carrero e possivelmente reflete o cansaço do escritor frente às análises quase monotemáticas sobre sua ficção, centradas, sobretudo, na questão do regionalismo. Em entrevista a Marcelo Pereira, o autor sertanejo, ao responder sobre a ocupação do lócus urbano, plenamente realizada em seu sétimo título, ressalta que, no entanto, “o importante em uma obra de arte não é o lugar onde a narrativa transcorre, mas a técnica ou a alta técnica que o romancista utiliza” (2009, p.87). Deve-se ainda destacar a fusão entre música e literatura. Não apenas integra a narrativa o saxofonista e seu instrumento de trabalho, companheiro fiel do homem solitário, como também a própria composição literária-musical de Raquel, da libidinosa infância à concretização do sonho de ser puta: [...] fui formada como se compõe uma música. Sofia fala em realidades e sonhos, impossível separá-los, um tão dentro do outro como a intimidade do coração, enquanto procuro revelar a minha formação através dos sons [...]. Veja se não tem sentido: primeiro, uma nota perdida e insistentemente martelando na infância da criação, que é o princípio e o fio da meada, depois a tentativa de formar uma escala, com toda aquela agitação de movimentos desencontrados até se completar, e, finalmente a construção de uma melodia, inteira e compacta, pronta para ser mostrada em apresentações e espetáculos. (p.176) Como as personagens carrerianas quase sempre são apresentados inicialmente na vida adulta ou na velhice e, posteriormente, na infância, fase em que se encontra a raiz de seus atos, é possível supor que seu modo de construção dos seres de papel obedece comumente à sequência (embaralhada, contudo) de que fala Raquel: nota perdida, escala e melodia. A interação das duas artes, portanto, não se dá nesta narrativa através de recursos sonoros, como aliteração, assonância, sibilação, mas na “imitação de estruturas musicais pelo texto literário” (Camargo, 2003, p.10). Por conta de suas multiperspectivas, Maçã agreste foi definida ainda pelo jornalista Carlos Menezes, em O Globo, como uma “sinfonia a cinco vozes” (apud Pereira, 2009, p.36). O encontro entre esses universos afins, o da música e o da literatura, vai se intensificando a cada título lançado pelo escritor (e também saxofonista) pernambucano e tem seu ápice em Ao redor do escorpião, uma tarântula: orquestração para dançar e ouvir (2003), romance no qual a sonoridade se torna a base da elaboração ficcional. O escritor pernambucano também traz para a narrativa a questão da incompatibilidade entre o tempo “real” e o da narração. Jeremias “não podia entender como passara um dia e uma noite na prisão quando o tempo que media, pelo transcurso das histórias, não se ajustava” (p.189). Sofia, que tudo abandona para viver ao lado do enigmático companheiro, é equiparada ainda a Penélope, que “tece o tapete do destino” (p.206). E, na última, embora sutil, referência metaficcional, o (falso) profeta, em autoanálise, conclui que lhe falta sinceridade, porque “nega-se ao artista, Sofia, até mesmo o direito de ser sincero” (p.233). Estaria Carrero aludindo de modo implícito também às diretrizes impostas pelo mercado editorial? Em referência à prosa produzida nos anos 80 e 90, Teresinha Barbiere observa que a “recorrência de índices metaficcionais denuncia, com frequência, a presença do literário a toda hora invadindo o nível da elaboração ficcional, o que constitui constante bem característica do período em questão” (p.15). É inegável que, com Maçã agreste, o ficcionista sertanejo (sem dúvida original) incorpora à sua obra – de modo consciente, à procura de maior visibilidade para sua produção, ou inconsciente, levado pela onda de características constitutivas do fazer literário de sua época – elementos novos (espaço urbano violento, discurso implícito sobre as questões que envolvem a produção em prosa, incorporação de elementos extraliterários...) que serão, provavelmente, os principais responsáveis pela projeção (ou aceitação?) do autor por crítica e público cariocas e paulistas. A matéria publicada no Diário de Pernambuco, “Imprensa elogia romance de Carrero”, faz um inventário, abaixo exemplificado, da repercussão do sétimo título carreriano no sudeste do país: Um dos livros que tem merecido maior destaque na Imprensa do Rio e São Paulo, nas últimas semanas, é o romance Maçã Agreste, do escritor pernambucano Raimundo Carrero [...]. O caderno “Idéias” do “Jornal do Brasil”, classificou-o de romance denso, construído com longos monólogos [...]. O crítico Carlos Menezes, em sua coluna de “O Globo”, ressaltou que Maçã Agreste é uma narrativa atenta às preocupações sociais do nosso tempo [...]. A “Folha de São Paulo” registrou que Maçã Agreste “é o novo romance do pernambucano Raimundo Carrero [...]63. Há ainda a referência à resenha do paraibano Edilberto Coutinho, no O Globo, “Recife já tem seu romancista”. Para ele, Carrero preenche, enfim, o período de ausência de um grande ficcionista pernambucano na literatura contemporânea64. Ao que parece, mas embora ainda de modo tímido, o escritor sertanejo começa a garantir, com o urbano e violento Maçã Agreste, seu lugar ao sol nas letras nacionais, no momento em que Rubem Fonseca encabeça a lista dos mais vendidos com o romance Vastas emoções e pensamentos imperfeitos.65 Marcelo Pereira revela que o reconhecimento da qualidade da obra carreriana veio “na forma de prêmio. Carrero recebeu bolsa da Fundação Vitae e o convite do Internacional Writing Program [...] promovido pela Universidade de Iowa [...]” (2009, p.38). O último título da década de 80 e também o de maior fôlego (246 páginas) colocou o autor pernambucano definitivamente em evidência. Em Iowa, ele irá finalizar (e reescrever) Sinfonia para vagabundos, próximo título analisado nesta pesquisa. Além de incorporar as problemáticas que envolvem o fazer ficcional (a questão da verdade, memória, realidade...) e de aliar literatura à música em sua sétima obra, Carrero faz uso de elementos extraliterários. Se, em Sombra severa, ele explorou literariamente o baralho, aqui há uma profusão de novas experiências, como descrever os signos de Sagitário e Câncer, complementando, embora não haja correspondência explícita, a caracterização das personagens Jeremias e Sofia. O texto equivalente a ele: “envolvente, furioso e arrasador. Seus gestos generosos podem emocionar. Tendência às artes e religião” (p.194). E o relacionado a ela: “pessoa amorosa e sensível. Introspectiva, envolve-se com misticismo. Grandes emoções” (ib.). Há ainda um jogo de palavras cruzadas (com imagens), embaralhadas como o próprio romance, cujas lacunas devem ser preenchidas pelo leitor. Nas horizontais, “A comédia inútil, o riso martirizado” refere-se a Jeremias, “Súplicas, promessas e ameaças encontraram a moça irredutível”, a Raquel e “Primeiro-arrepio-depois-estupor-depois-seja o que for”, a Sofia. E, nas verticais, “O homem dividido em quatro” corresponde a Ernesto, “O elixir da macheza 63 IMPRENSA ELOGIA romance de Carrero, Diário de Pernambuco, Recife, 21 mai. 1989, Caderno Nacional, p.A-18. 64 COUTINHO, Edilberto. Recife já tem o seu romancista, O Globo, Rio de Janeiro, 14 mai. 1989, Caderno Livros, p.11 65 De acordo com a listagem “Os mais vendidos”, situada logo abaixo da resenha de Edilberto Coutinho. derrotado por uma branca (símbolo)”, ao Rei e “O segredo, se segredo existe, é sair do próprio corpo”, a Dolores. Se até a metade do romance o leitor não decifra essas equivalências, ele é convidado à reflexão por esse jogo, que funciona como uma espécie de pista deixada pelo autor. Em conformidade com a ideia de quartel, na união de religiosidade e militarismo, há na obra o quadro de horário dos Soldados da Pátria por Cristo. Eles acordam às 5h e, após os compromissos religiosos incluindo o “recolhimento do óbulo”, estão livres (a partir das 20h) para “estupros, assaltos, putaria, chantagem, vadiagem, molecagem e outras atividades exclusivas dos integrantes da confraria” (p.207). O quadro serve não apenas para reafirmar o caráter militar do grupo (ou organização criminosa), como também funciona como uma espécie de síntese do que consiste a seita liderada pelo (falso) profeta. Deve-se destacar também a questão social envolvendo os camelôs. De um lado o ponto de vista de Sofia: ela acredita que eles deveriam ser “expulsos das ruas” (p.191). De outro, o de Jeremias, que os vê como “desempregados perseguidos” (ib.). A discussão desemboca subitamente em uma listagem (em bloco) de produtos e tipos que podem ser encontrados nas ruas do Recife. No meio dela, como itens emaranhados na teia, encontram-se os nomes de Sofia, Jeremias, Ernesto e Dolores – também eles objetos da cidade-cruel. A relação, que parece explorar também a sonoridade do nome das personagens, finda com a palavra lixo, símbolo do horror no qual tudo e todos estavam imersos: [...] calcinhas, sutiãs, Sofia, selos, selas, estribos, perneiras, peneiras, capacetes, mendigos, sarapatel, chambaril, mão-de-vaca, feijão, arroz, farinha, carne, pimenta, Jeremias, manteiga, cocada, água, açúcar, alfenim, chapéu de couro, jornal, lenço para cabelo, lápis, bacias, canecos, Ernesto, traves, pneus, jantes, pincéis, martelos, ancinhos, faróis, enxadas, vassouras, espanadores, amoladores de faca, Dolores, pés-de-cabra, broches, cadernos, borrachas, capim, estojos, chicotes, santuários, fotografias de santo, orações, agendas, lixo. (p.193) Por último, é preciso acrescentar a descrição de três fotografias por Conrado, que as imagina ao lado do anúncio de sua morte nos jornais. Os retratos fictícios realmente constituem uma revelação. Estão lá, diante de Ernesto, todos os integrantes da futura seita Os soldados da pátria por Cristo. Signos, palavras cruzadas, quadro de horário, listagem de “objetos”, descrição fotográfica do futuro, todos esses “experimentos” conferem uma atmosfera lúdica à prosa carreriana. Por outro lado, se o redemunho em Bernarda Soledade (1975) estava associado sobretudo a almas atormentadas em consonância com um modo de narrar ziguezagueado, em Maçã agreste ele abarca não apenas esses dois pontos, mas também a multiplicidade e alternância veloz de perspectivas, a intertextualidade múltipla, o conteúdo metaficcional implícito no discurso das personagens, a incorporação plural de elementos extraliterários, uma gama considerável de temas e a fusão entre o trágico e o cômico, entre o insólito e o “realismo feroz”, elementos que, na ficção carreriana, dialogam e se complementam. É possível ressaltar ainda outros recursos literários, além dos anteriormente analisados (a estrutura circular do romance, as posições das personagens na obra – Dolores ocupa as margens e Ernesto, o centro –, as inúmeras epígrafes relacionadas aos seres ficcionais, a segmentação do patriarca em quatro etc.), que dão corpo a este romance. Um dos mais complexos é o extenso diálogo entre Jeremias e Sofia e Jeremias e Raquel, na terceira parte da obra, do qual o narrador se ausenta por completo. Essa conversa (em tom de monólogo) comporta pelo menos seis histórias entrecruzadas: 1. A de Jeremias sobre a prisão. 2. A de Jeremias sobre os acontecimentos que envolvem a família do desconhecido, que ele rememorou enquanto estava na cela. Ou seja: ele rememora neste diálogo a rememoração, além de mencionar também a briga no bar após o roubo do sax. 3. A de Jeremias sobre sua infância com Raquel, que é retomada por dois interlocutores: pela irmã e pela companheira, a quem ele, de acordo com a “fala” de Sofia, narrou a história enquanto estava na cadeia. 4. A de Sofia sobre o período do encarceramento. 5. A de Sofia sobre dois episódios da meninice (também rememorados nos momentos em que estivera aprisionada): a queda na cacimba e o dia do seu aniversário no qual se embriagara. 6. A de Raquel sobre sua trajetória “musical”: da libidinosa infância, passando pela perda da virgindade no armazém, ao momento em que decide ser puta, sai de casa e se instala na pensão. Ao final desse imenso diálogo em bloco, que ocupa vinte e cinco páginas do romance, há uma fusão das histórias na já caótica perspectiva de Jeremias. Nesse redemunho de rememorações, Raquel, a filha que se deitou com o pai, é chamada também de a Grande Puta, epíteto antes associado apenas à mãe do desconhecido. As narrativas paralelas parecem, portanto, em certos momentos, convergir, assim como ocorre com as lembranças tanto de Sofia quanto de Jeremias que descambam em vômito, acentuando a atmosfera de horror em que estavam imersos. O saxofonista tem de recolher ainda, conforme relata, a própria merda na prisão. E, durante a participação no assalto seguido de assassinato, pensou: “fiz merda, que merda que eu fiz” (p.178). Esse toque das narrativas a partir de um ponto em comum parece significar que, independente daquilo que se conta ou de quem conta, tudo é o mesmo: sofrimento, caos, agonia. Na primeira parte da obra, ao contrário da terceira, a voz do narrador, intercalada em toda a extensão do diálogo entre Jeremias e Sofia, está curiosamente marcada por travessão, como se ele fosse uma personagem inserida na conversa: – Acha que colocar nome nas pessoas é por causa de Machado de Assis? – Não, não exatamente um nome, mas Sofia. – Ele agora estava na frente da biblioteca [...]. – É possível que você não saiba, não tem obrigação de saber: ele escreveu um livro chamado Quincas Borba [...] (p.23-4) De modo diverso, o pensamento de Glória, entremeado à voz do narrador, encontra-se entre parênteses e aspas. E a própria voz de quem narra, por vezes, também surge entre parênteses para ressaltar algum dado sobre a personagem: Glória não se espantou. Fingia acompanhar (“quem não tem ouvidos deve saber usar dobrados os olhos”) apenas os movimentos dos músicos (emocionava-se com a ternura de Rita Beatriz) [...] (p.120). Quanto à esfera religiosa, deve-se atentar para o fato de que ela não está apenas ligada ao militarismo (e ao crime), mas também ao circo. A religião, enquanto espetáculo (e por extensão enquanto palhaçada) sofre, portanto, um processo de carnavalização, de apropriação paródica (“O povo escutou os toques da corneta; [...]. Davam a impressão dos participantes de um circo mas eram: os Soldados da Pátria por Cristo” (p.73)). De acordo com Bakhtin, a profanação é uma categoria carnavalesca, formada pelos sacrilégios carnavalescos, por todo um sistema de descidas e aterrissagens carnavalescas, pelas indecências carnavalescas, relacionadas com a força produtora da terra e do corpo, e pelas paródias carnavalescas dos textos sagrados e sentenças bíblicas, etc. (2008, p.141) Todavia, Carrero não intenciona ridicularizar crenças ou a própria doutrina religiosa, mas o uso interesseiro que o homem faz dela, a deturpação dos valores sagrados pela vaidade, os falsos profetas e a patética ignorância daqueles que os seguem. O narrador apresenta ainda o patriarca (para que o leitor o condene?), assim como Pôncio Pilatos indicou Jesus ao povo de Jerusalém: “Eis o homem” (p.95). E o epíteto “o Rei dos Judeus” é substituído por “o Rei das Pretas”. Em relação ao pai de Jeremias, um ponto ainda deve ser esclarecido: na orelha do romance, assinada por Antonio Carlos Vilaça, assim como em algumas resenhas publicadas à época do lançamento de Maçã agreste, há a referência ao empobrecimento de Ernesto Cavalcante do Rego como símbolo da ruína do patriarcalismo rural, supostamente enfocada por Carrero. Para Rejane Dias, por exemplo, “o narrador vai retratando a decadência do homem, bem como a decadência social, do patriarcalismo rural [...]”66). Todavia, é preciso lembrar que o mimado filho único não tinha, do mesmo modo que o Rubião machadiano, tino para os negócios. Foi tão mau advogado como mau administrador de Engenho. O que parece estar em jogo é menos um sistema econômico-social e mais o indivíduo vaidoso, com sede de poder, porém incompetente. A ditatorial “Ordem da Lagartixa com Asas sob o Sol de Estrela” criada (e liderada) pelo menino Ernesto tem parentesco indiscutível com a “Venerável Ordem Secreta da Castanha” chefiada pelo garoto Jonas em Viagem no ventre da baleia. Carrero, pouco a pouco, aumenta sua legião de personagens obcecadas por poder: Bernarda Soledade, Félix Gurgel, Jonas e o pai Salvador Barros, Ernesto e o filho Jeremias. A não elucidação do suposto crime (Ernesto foi assassinado por Dolores ou cometeu suicídio?) se repetirá em O amor não tem bons sentimentos (2007), no qual a vítima é Biba, filha de Jeremias com a irmã Ísis (que não aparece em Maçã agreste). Rejane Dias observa precisamente o redemunho carreriano: Carrero impressiona do início ao fim. Fim no que diz respeito ao número de páginas, porque linearidade é uma palavra desconhecida neste quebra-cabeça onde tudo se mistura numa trama circular sem princípio nem fim. [...] [...] Raimundo Carrero [...] trabalha o fragmento num ritmo alucinante, envolvendo o leitor num verdadeiro labirinto de decifração67. Um fato que parece ter escapado aos (ainda poucos) analistas do sétimo título carreriano é a presença de um amigo (não identificado), na primeira parte da obra, com o qual Jeremias conversa possivelmente após os episódios violentos envolvendo a família do desconhecido. O narrador, ao explicitar o frequente tom do diálogo, parece também (de modo metaficcional) antecipar a composição tragicômica, circular e ziguezagueante de Maçã agreste, assim como seus temas: Ainda estava sentado na cadeira ouvindo o amigo falar. Nem terminara a primeira conversa. E as conversas entre eles eram cíclicas: indo e vindo, decidindo o destino do mundo, sarando as chagas do país ou fazendo confissões íntimas, revelações sombrias cortadas por narrativas cômicas, indo e vindo. (p.15) 66 DIAS, Rejane. A face dilacerada do patriarcalismo rural. Correio Brasiliense. Brasília, 2 jul. 1989, Caderno Dois Livros, p.4. 67 Ibidem. Mas a grande novidade em Maçã agreste, em comparação aos títulos anteriores, é sem dúvida a ocupação definitiva do espaço urbano (ainda mais agreste que o rural), embora o interior, onde se localiza o devastado Engenho Estrela, ainda esteja presente. Carrero faz questão de citar as ruas do Recife como se mapeasse a cidade através dos caminhos percorridos sobretudo por Jeremias e Sofia. Praça da Independência, Praça Chora Menino, Avenida Dantas Barreto, Avenida Guararapes, Rua da Imperatriz, Praça Maciel Pinheiro, Avenida Manoel Borba são algumas localidades mencionadas logo nas primeiras páginas do romance. Na perspectiva de Jeremias (e do narrador) a cidade é cruel, infernal: Bastaria caminha um pouco mais, ir em direção ao miolo da cidade indiferente – ou já era uma cidade tão massacrada pela dor, pela fome e pela devassidão, que se tornava impróprio chamá-la de indiferente? Não apenas suja pela imundície nas calçadas mas, sobretudo, coberta pelo lodo da miséria, a atordoante miséria [...] indiferente é o cão raivoso espreitando carne viva e sangue gotejante? Era-lhe possível ver o sangue da cidade-cruel, para uns; indiferente, para outros – escorrendo pelos rios, canais, galerias [...]? (p.18). Mas o ficcionista pernambucano não abandona sua obsessão pela casa sempre decadente em conformidade com as suas personagens. A decrepitude moral conduz à decrepitude espacial. O casarão da Praça Chora Menino morre aos poucos em paralelo à paulatina cisão familiar. Todavia, enquanto ocupavam esse lócus, não estavam unidos, mas apartados, sobretudo, em seus quartos. Jeremias se pergunta: “os quartos são sempre opressores ou prisões voluntárias?” (p.33). Carrero estende a ruína do lar à da cidade e a solidão do indivíduo no seio da família é a mesma no (vil) coração da cidade. Ozíris Borges Filho, ao analisar a relação afetiva entre os seres ficcionais e o lugar que ocupam, verifica que ela “pode ser de tal maneira ruim que a personagem sente asco pelo espaço. É um espaço maléfico, negativo, disfórico”, o que configura a topofobia. Embora o medo não seja o principal sentimento despertado pelo topos no romance, não há dúvida de que os indivíduos se sentem envolvidos pela ruína e pelo horror. Contudo, é nessa atmosfera urbana, caótica e opressiva, que o autor dá vida a personagens mais intelectualizados. Se o predomínio bíblico de romances anteriores dividiu espaço com o histórico-social em Viagem no ventre da baleia, em Maçã agreste, ele cede lugar à esfera literária, que ganhará ainda mais corpo nos títulos subsequentes Sinfonia para vagabundos (1992) e Somos pedras que se consomem (1995). Sobre o massacre de Jeremias e Sofia após o roubo do saxofone, o filho de Ernesto conclui: “Aqueles putos tinham aproveitado para despejar sobre nossas cabeças todas as frustrações e todas as desilusões que conduzem nas vestes e nas almas [...]” (p.169). Essa é, portanto, a engrenagem social citadina: violência que gera violência num curso veloz e incessante. Jeremias, por ela tragado, conclui: “a única coisa que me resta é ser assassino” (p.82). A maçã de múltiplos ângulos carreriana desemboca na única (vã) saída: peregrinação. 8 Sinfonia para vagabundos: visões em preto e branco para sax tenor 8.1 Os instrumentos de uma (rotatória) regência [...] as águas criavam outro solo, sempre renovadas, sempre refeito. (Carrero, 1994, p.117) Lydia Barros, na resenha “Sinfonia do apocalipse”, publicada em 1993, observa, com relação ao oitavo título do escritor pernambucano, que “entre odes, poesias, recados, bilhetes, citações e cartas à redação, desenha-se a trajetória de suas personagens: Deusdete, Natalício e Virgínia [...]”68. Na verdade, a listagem de registros comporta ainda discursos (de teor líricodissertativo), sobre a beleza, o caos, a loucura, a dor e a música, e um “salmo dos salmos” amoroso repartido em seis fragmentos ao longo da segunda metade da obra. Esse “salmo” parece substituir a “ode ao pai” (também repartida em seis trechos), que ocupa a primeira parte da narrativa. Durante a reflexão sobre como se deve terminar uma história, o narrador pergunta: “romance, conto, novela, ficção, narrativa?” (p.144)69. A dificuldade de categorização da obra literária nunca foi tão explorada em um romance carreriano como em Sinfonia para vagabundos. É possível acrescer: o oitavo título do escritor sertanejo seria (ainda) um ensaio sobre o fazer ficcional? Therezinha Barbieri, em Ficção impura, verifica que, com a necessidade de competir com os meios de comunicação de massa, a prosa das décadas de 80 e 90 se torna intensamente híbrida: “A co-ocorrência e a concorrência de uma multiplicidade de discursos estimulam a literatura a entrar em comércio com outros sistemas semióticos, aumentando o grau de hibridismo da narrativa ficcional” (2003, p.20). Não há dúvida, entretanto, de que a ficção sempre foi composta de vários registros. As epístolas, por exemplo, foram utilizadas amplamente em obras literárias no Romantismo. Entretanto, o que parece ser o traço diferencial deste momento literário é a profusão de tipos textuais no interior de uma mesma obra. Poder-se-ia argumentar, por outro lado, que essa proposta é vanguardista, ou pertencente à primeira geração modernista, não havendo, portanto, nenhuma novidade estrutural: Oswald de Andrade já desafiara (e, posteriormente, integrara) o cânone com suas Memórias sentimentais de João Miramar. Todavia, não se deve 68 BARROS, Lydia. Sinfonia do apocalipse, Diário de Pernambuco, Recife, 5 mai. 1993, Caderno Viver, p.D-1 CARRERO, Raimundo. Sinfonia para vagabundos: visões em preto e branco para sax tenor. Recife: Edições Bagaço, 1994. Nas próximas referências a este título, será indicado apenas o número da página. 69 esquecer que Ihab Habib Hassan, no seu ensaio de 1971 sobre o pós-modernismo, POSTmodernISM: a Paracritical bibliography, se detém “em elementos que, de alguma forma, radicalizam ou repudiam os traços do modernismo” (Pellegrini, 2008, p.61). Eduardo Coutinho, em “Revisitando o pós-moderno”, também reflete sobre a complexa relação entre os dois movimentos literários: Não há dúvida de que muitos dos aspectos normalmente apontados como denominadores comuns nas obras consideradas pós-modernas já se achavam presentes na estética modernista, tendo alguns deles chegado mesmo a constituir dados fundamentais daquele movimento, como a autoreferencialidade, a ironia, a paródia e a fragmentação da narrativa, que são amplamente intensificadas no novo estilo, justificando em parte a posição de alguns críticos que viam no chamado pós-modernismo uma simples continuação do estilo precedente. No entanto, os traços de ruptura que se verificam nos textos pós-modernos com relação aos do alto modernismo são, inclusive, tão freqüentes e de tal modo significativos que a postura oposta se revela ainda mais adequada. Dentre estes, citem-se, a título de amostragem, o ecletismo estilístico, o resgate da historicidade ou a revista crítica ao passado, a consciência do caráter político da obra, a afirmação de uma subjetividade descentrada, a presença freqüente da mídia e a desierarquização entre o erudito e o popular. (2008, p.164). A questão, porém, é que na radical incorporação de registros pela literatura brasileira pós-moderna não há aparentemente o desejo de ruptura com um modelo ou estilo literário que motivou os primeiros modernistas. Está no ar apenas uma espécie de autorização generalizada (uma carência de sentido?). O escritor, já fora de todo tipo de amarra ditatorial, pode tudo. Essa permissividade (por vezes alimentada por certa gratuidade) faz da literatura um grande liquidificador no qual são lançadas múltiplas possibilidades discursivas. Barbieri ressalta (como anteriormente destacado) que “a recorrência de índices metaficcionais denuncia, com freqüência, a presença do literário a toda hora invadindo o nível da elaboração ficcional, o que constitui constante bem característica do período em questão” (ib. p.15). E, nessa ânsia pós-moderna de produzir metaficção, a prosa ganha por um lado, pois, ao tombar sobre si mesma, possibilita uma maior compreensão do escritor sobre o seu ofício, o que por vezes pode ser qualitativamente proveitoso, e perde por outro, porque o enredo comumente se atrofia, a história encolhe. Na balança, que deveria sempre estar em equilíbrio, o tema da forma se sobrepõe porque agora ela é o foco, enquanto personagens e tramas se tornam frequentemente marginais. Clarice Lispector, em A hora da estrela, talvez precursora nas letras nacionais desse boom temático, parece alcançar como poucos a correta medida entre a análise da obra e o percurso da história. Sobre o que chama “anarquia formal” na literatura das décadas de 80 e 90, Therezinha Barbieri pergunta: “seria sintoma de agonia ou sinal de revitalização?” (ib., p.57). Escrevendo sobre o seu tempo, ela parece notar a crise: um certo desnorteio do autor (e da obra literária). Isso talvez explique o desejo de ficcionalizar a figura do escritor, tornando-o centro do romance, com o intuito de refletir sobre o próprio romance – embora esta nobre causa por vezes encubra apenas uma imagem narcísica (ainda que, por vezes, simultaneamente satírica) refletida no papel. E, se, durante esse período, a profusão de personagens ou narradores-escritores de fato espelhou o desejo dos romancistas de encontrar um caminho, um destino para a literatura, e de autocompreensão, é inegável que, provavelmente por ter sido traço explorado em demasia, represente hoje uma abordagem literária com sinais de esgotamento (quantas obras não tematizaram, por exemplo, a angústia do ficcionista diante da folha em branco?). É interessante lembrar que, no conto “Intestino Grosso”, de Feliz ano novo, publicado em 1975, Rubem Fonseca já havia criado a sua polêmica personagem-escritor e dado à narrativa a forma de entrevista. Carrero, que por um longo percurso se manteve relativamente distante dos moldes da ficção produzida no eixo Rio-São Paulo e, por vezes, de boa parte das características mais marcantes da literatura pós-moderna, parece com Sinfonia para vagabundos ter explorado, sob todos os ângulos, novas (e velhas) propostas da ficção contemporânea. Curiosamente, sobre a obra em que a metamorfose se opera na íntegra e o escritor sertanejo abandona vários elementos que talvez singularizassem sua produção literária, ele afirma: “Estava cansado de escrever para os outros. Queria um romance que parecesse comigo”70. Marcelo Pereira ressalta que Carrero fez de Sinfonia para vagabundos uma obra que bem poderia ser alinhada na estética pós-moderna, pois é um metarromance de fortes traços renovadores em sua linguagem, com citações, odes, discursos sobre a beleza, o caos, a dor, a morte e a música, refletindo também sobre a arte do romance. (2009, p.38) Para Janilto Andrade, entretanto, a questão não é estética, mas social e cultural, já que as personagens do oitavo título carreriano “são navegadores à deriva, antes sonambúlicos que percorrem veredas (da cidade) cuja origem é a insensatez da sociedade pós-moderna cujo destino é o nada” (apud Pereira, 2009, p.39). Trecho da resenha de Aldo Del Rey, publicada 70 Ibidem. no Jornal do Brasil, em 1993, revela ainda a ânsia de reconhecimento dos ficcionistas do Nordeste pela (separatista) crítica carioca e paulista. De acordo com Aldo Del Rey, o romance de Carrero é “uma lembrança de que em matéria de vanguardismos os escritores nordestinos podem estar tão em dia quanto os mais atentos e velozes companheiros do eixo Rio-São Paulo” (ib., p.40). Resta a pergunta: esta atualização, este “estar em dia” significa de fato avanço, garantia de qualidade? O autor da resenha acrescenta também que muitos dos processos destinados a transformar uma narrativa em antinarrativa foram reunidos ao pé desta obra com a desenvoltura de quem está bem familiarizado com a tradição da antitradição e sabe optar no momento certo pelo recurso capaz de evitar que o romance (?) recaia nos modos convencionais. (ib.) “Não recair nos moldes convencionais”, escrever “antinarrativa”, portanto, parecem ser a tônica da época. Em “A nova narrativa”, Antonio Candido alerta: [...] a ficção procurou de tantos modos sair das suas normas, assimilar outros recursos, fazer pacto com outras artes e meios, que nós acabamos considerando como obras ficcionalmente mais bem realizadas e satisfatórias algumas que foram elaboradas sem preocupação de inovar, sem vinco de escola, sem compromisso com a moda [...]. Seria um acaso? Ou seria um aviso? (p.215). No entanto, apesar das tentativas de enquadramento da literatura carreriana, Aldo Del Rey nota que o texto de Raimundo Carrero possui uma “força lírica” capaz de resistir aos “propósitos simultaneamente vanguardistas e pós-modernistas” (ib.): por mais que o autor lote suas páginas de metaliteratura, o romântico e o rebelde que nele moram sempre conseguem encontrar uma brecha para erguer o braço, protestar contra a injustiça e reivindicar os direitos da história (ib.). Evidentemente, esse oitavo título não poderia ter uma excelente acolhida de público. É um romance feito para professores de literatura, críticos literários, escritores. O leitor que não integrasse os meios acadêmicos das faculdades de letras ficaria sem dúvida reticente diante de uma obra de apenas cento e cinquenta e duas páginas composta por mais de quarenta citações, ora sobre questões que envolvem o fazer literário, ora iluminando as personagens (ou a cidade) de modo intertextual. A ficção por vezes lembra uma um álbum no qual vozes são coladas para dar forma ao discurso. Carrero também mescla o erudito e o popular de maneira contrária a proposta inicial que norteou a composição de A história de Bernarda Soledade. Se o Movimento Armorial pretendia criar uma arte erudita a partir da incorporação e recriação das raízes da cultura popular, em Sinfonia para vagabundos, citações de grandes autores da literatura, de críticos e teóricos convivem harmoniosamente com trecho de uma canção de Jim Morrinson (p.77), a descrição de Virgínia como quem tinha “pose de top model” (p.40) e uma referência bemhumorada a Jack, o estripador (p.98). Se a letra do cantor norte-americano faz parte da rememoração de Natalício e se ajusta à desesperança e à solidão dos indivíduos, em conformidade com o íntimo das personagens dessa sinfonia carreriana, o que justifica sua incorporação no romance, a expressão “top model” e a menção ao assassino em série parecem apenas contribuir para a dessacralização da literatura que passa a incorporar a esmo termos e discursos provenientes dos meios de comunicação de massa. Após matar e violar o corpo de uma menina, Natalício, por exemplo, escreve uma “carta à redação” justificando a “caridosa” (em seu ponto de vista) atitude. Cinema (Jack, o estripador foi exibido em 1988) e jornal invadem a prosa do autor sertanejo. Pellegrine, ao abordar a perda da fronteira entre a cultura popular e a erudita na literatura contemporânea, alerta para a instauração de uma outra, a da “cultura de mercado” (2008, p.76). Evidentemente, Raimundo Carrero não produz aqui obra de cunho comercial, todavia não se pode negar que esse flerte sutil com as mídias impressas e/ou eletrônicas talvez expresse um desejo de acolhida por crítica e público já habituados a esse hibridismo literário. Ou seria apenas vontade de experimentar novos modos de composição do romance? O fato é que o ficcionista sertanejo insere, neste título, inúmeras “brincadeiras” textuais (o que já havia sido feito de modo mais tímido em Maçã agreste). Esse narradorautor é uma espécie de docente que conquista seus leitores-alunos pela via humorística: não apenas por vezes se apropria de citações com intenção de ironizá-las, como faz uso de simples trocadilhos: dois títulos dos fragmentos da “sinfonia” são “patrão de palavras” (no lugar de “padrão”), possível referência ao professor Deusdete, e “pagando sério” (no lugar de “falando”) em alusão ao fato de que ele sempre pagava por companhia. Ao final do primeiro bloco de “instantes” narrativos, o narrador se despede, “com licença” (p.22), marcando outra etapa do romance na qual a “história ficcional” avança e a teoria é momentaneamente suspensa. Sobre sua escolha de não elaborar diálogos (o que, na verdade, não ocorre), ele afirma, como se não tivesse domínio sobre o que se passa na mente das personagens, “não pratico telepatia” (p.62). E, assim, ao lado da tragicidade existencial de Natalício, Deusdete, Virgínia e dos demais habitantes da cidade miserável, corre o riso frequentemente satírico do narrador quanto às suas próprias escolhas discursivas. Se nos textos anteriores do ficcionista sertanejo é possível encontrar personagens trágicas e simultaneamente risíveis, aqui o lado cômico fica a cargo de quem narra. Vários críticos e teóricos apontaram a incorporação pela literatura pós-moderna das minorias sociais. Para Pellegrini, a ficção, a partir de 1986, introduz outras soluções temáticas, todas ligadas ao universo urbano: ganhando novos contornos, mulheres, negros, homossexuais tornaram-se personagens mais freqüentes e também autores conhecidos [...] (2008, p.71). Silviano Santiago faz coro com essa nova perspectiva ao concluir que tematizada e dramatizada pela prosa (de ficção, ou talvez não) brasileira atual, a questão das minorias aproveitou o canal convenientemente aberto pela prosa modernista e a dos ex-exilados, e se deixou irrigar pelas águas revoltas da subjetividade (2002, p.41). Vale citar também as palavras de Linda Hutcheon sobre essa apropriação pelo literário de quem comumente vive (ou sobrevive) à margem da sociedade: E, a partir da perspectiva descentralizada, o “marginal” e aquilo que vou chamar de “ex-cêntrico” [...] (seja em termos de classe, raça, gênero, orientação sexual ou etnia) assumem uma nova importância à luz do reconhecimento implícito de que na verdade nossa cultura não é o monólito homogêneo (isto é, masculina, classe média, heterossexual, branca e ocidental) que podemos ter presumido. (p.29) Para Eduardo Continho ainda, com o pós-modernismo, “a idéia de um discurso ou de uma cultura central, uniforme e exemplar, deixa de existir, e aquilo que era periférico, marginal ou excêntrico passa ocupar o mesmo plano” (2008, p.166). Ao trazer essa convergência de vozes para a análise da prosa carreriana, contudo, deve-se atentar que o narrador de Sinfonia para vagabundos é um homem, escritor e intelectual. Logo, por mais que o foco possa recair sobre personagens marginalizadas, elas ainda se encontram atadas a um ponto de vista de certo modo ortodoxo, atenuado pela potência gauche do artista. É preciso perceber ainda que, embora a miséria urbana e moral sejam tematizadas ostensivamente neste oitavo romance, as três personagens, Deusdete, Natalício e Virgínia, são cultas. Enquanto a primeira é um professor-escritor decadente que lê poemas de modo quase ininterrupto, a formação acadêmica da segunda é inegável tendo em vista o registro formal da “carta à redação” que redige revelando o crime cometido contra a menina de rua. E tanto Natalício quanto Virgínia citam Baudelaire, demonstrando conhecimentos literários. Eles passam fome, vivem em quase mendicância, perambulam pelas ruas, mas, ao contrário das demais personagens secundárias inseridas em um submundo de total miserabilidade, parecem ocupar essa posição marginal menos por conta das injustiças sociais ou pela condição econômica da sociedade brasileira e mais pela falta de esperança em um mundo melhor: são seres desiludidos, solitários, atormentados e/ou ensandecidos, asfixiados pela atmosfera opressiva da cidade violenta. Virgínia, a virgem, parece inclusive apenas seguir Natalício assim como Sofia, de Maçã agreste, seguiu os passos de Jeremias. Talvez a grande personagem excêntrica de Raimundo Carrero não seja o pobre ou o criminoso, mas o louco ou o que vive à beira do delicado abismo da loucura. E, se as mais de quarenta citações são sem dúvida o principal instrumento dessa orquestra carreriana, compondo o discurso metaficcional, não se deve esquecer a “ode ao pai”, o lado predominantemente lírico da Sinfonia. Lydia Barros revela que o pai de Carrero morreu em 1989, o que despertou “o desejo de uma reverência”71. Os seis fragmentos distribuídos na primeira metade da obra têm um tom de oração, até pelo modo contínuo (o texto não possui nenhuma pontuação) como cada um se apresenta. Em “Visão do Senhor Morto” (e “Senhor” parece carregar um teor religioso até porque grafado com inicial maiúscula assim como a palavra “Pai” ao longo do extenso poema em prosa), o leitor toma ciência de que se trata do pai de Natalício, embora não haja nenhuma menção explícita na ode. Os trechos revelam a proximidade e a distância paterna, certa veneração e o lamento pela perda, conforme se verifica neste último fragmento: Pai ó Pai se não envelhecemos lado a lado um segurando a mão do outro resta saber que os cabelos brancos não foram em vão os teus pelo encanto da tua velhice os meus por ter nas veias a chama do teu sagrado sangue não te inquietes mais nem exige muito de mim estou calado e o silêncio circula em torno do meu corpo minhas palavras não atravessam o vento e o meu segredo é repetir o teu nome ó Pai (p.45) A poesia invade a prosa de modo ostensivo. Além da ode, cada parte da obra abre com um poema de apenas uma estrofe. O primeiro, “Se é desejo assassinar a alma”, retoma a aspiração já presente em Viagem no ventre da baleia de suicídio, de matar corpo e alma, e ainda a vontade de conhecer o Mal (ou o submundo), atravessando “infernos e esgotos” (p.15). Embora pareça se referir à personagem Natalício, os versos iniciam trecho sobre a composição da obra, sobre o fazer literário, que engloba uma apresentação da personagem Deusdete. O segundo, “Serpentes com sol” (p.23), também está repleto de imagens atordoantes: o homem com a cobra enrolada no pescoço é obrigado a olhar para o sol que o queima. Na parte textual correspondente, Natalício, enraizado ao horror urbano, mata e 71 Op.Cit. violenta a menina. A serpente, portanto, encontra-se atrelada ao desejo, ao crime e ao – motivação recorrente na prosa de Raimundo Carrero – anseio de conhecer pelo crime (o sol que queima). Absalão, de As sementes do sol, também acreditava que, para ser homem, era preciso experimentar o Bem e o Mal. O terceiro poema, “Coração distante”, associa-se à narrativa voltada, sobretudo, para Virgínia e parece conter certa indiferença com relação ao universo circundante ou ao menos uma capacidade de essa “mulher inviolável” (p.51) manterse inalterada diante da dor (e do amor?): “O mundo que me chega / pela janela não violenta / a umidade da minha alma. / A chama que me queima / não abrasa meu coração” (p.47). Após essa apresentação das três personagens através da poesia, elas se fundem no trecho intitulado “Companheiros de subterrâneo”, título homônimo do poema que se apresenta em seguida. Logo depois, encontra-se uma listagem de “os companheiros”: Tennesse Williams, Oscar Wilde, Eclesiastes, Alberto Moravia, Truman Capote, James Baldwin, Allen Gisnberg, Rimbaud, Henry Miller, Clarice Lispector, Charles Baudelaire, Jack Kerouac e Santa Teresa de Jesus. Logo, “companheiros de subterrâneo” se refere tanto a estes que acompanham o narrador no processo de construção da narrativa, como a Natalício, Deusdete e Virgínia que se encontram nas ruas do Recife para atravessar juntos o inferno citadino, repleto de miséria, sofrimento, imoralidade. Na parte seguinte, o poema de abertura se chama “Destino extraviado”. Embora este “capítulo” abarque os pontos de vista das três personagens, Natalício corresponde mais adequadamente àquele que carrega “nos olhos a fome, a / depressão, a loucura, / a paixão da Terra (p.67). A segunda metade da obra se inicia com os quatro versos de “A dor que passa”: “Começo pelo ventre e depois / abafo minha boca em tuas coxas. / Começo pelo começo que assim / os amantes sabem que a dor passa” (p.97), em alusão clara ao relacionamento de Virgínia e Natalício: a visão do sexo como atenuante do sofrimento. Este trecho do romance retoma pela perspectiva dela o momento em que pega o táxi com os dois desconhecidos. A parte da narrativa intitulada “Arcanjos derrotados” abre com o poema “Derrotados” e fecha com “Epitáfio”. Enquanto o primeiro refere-se ao processo de escrita, provavelmente empreendido pelo narrador – catar palavras no lixo para louvar vagabundos – em paralelo com a composição do próprio romance, deve-se ainda lembrar que também Natalício, o saxofonista, que transforma em música o caos da cidade, tem amor ao sangue que goteja no lixo. Seja pela música ou pela literatura, esse lixo é, portanto, a substância da arte em louvor dos derrotados. Já “Epitáfio” trata do destino trágico dos livros após a morte de quem os possui: “Na terra encontram / traças, ratos e baratas [...]” (p.114). “Cicatriz da noite” revela a desesperança, a descrença de quem, mesmo atormentado, busca “absoltamente nada” (p.115) e está em conformidade com o indivíduo que sobrevive em meio ao horror e perambula sem direção, sem destino, pelas ruas da cidade. Em “Beijo no chão” encontra-se também a escolha, não apenas de Natalício, mas do próprio narrador: “beijar o chão quente”, não caminhar por “jardins e igrejas”, mas por “pântanos e ladeiras”, porque “o dia é pesado demais” (p.141) Sinfonia para vagabundos fecha com o poema “O dorso do anjo”, algo barroco, já que esse dorso pertence tanto ao ser espiritual quanto ao tigre, sendo suave como veludo e, ao mesmo tempo e de modo contraditório, conduzindo tortuosamente a montaria. A poesia parece aliar, no gosto carreriano, sagrado e profano, divino e mundano. Fica a pergunta: seriam todos os homens conduzidos pela vida no dorso sinuoso? É interessante ressaltar que Benedito Nunes abre o livro de ensaios O dorso do tigre com epígrafe da obra de Michel Foucault, Les mots e les choses: “[...] não é necessário lembrar que estamos presos sobre o dorso de um tigre?”72 (1969). Esta seria aparentemente a referência implícita dos versos carrerianos. Além da ode e dos onze poemas, há ainda, na segunda metade da obra, um “salmo dos salmos” também segmentado em seis partes: possível declaração de Natalício para Virgínia, embora não haja nenhuma menção nem de autoria nem de destinatário. Aliás, Carrero, que nos primeiros romances tinha o cuidado de se fazer compreender, de deixar pistas para que o leitor desvendasse os silêncios da narrativa, no seu oitavo título parece mais livre, menos preocupado se quem lê será ou não capaz de dar conta da história. É interessante notar como um romance tão pouco extenso abarca mais de duzentos e trinta fragmentos (e subtítulos), mais de quarenta citações, ode e salmo em seis partes cada, onze poemas, uma carta (à redação), excerto de canção e cinco textos de caráter líricodissertativo, sobre a beleza, o caos, a loucura, a dor e a música. Carrero não apenas mescla sagrado e profano, erudito e popular, trágico e cômico, mas traz para sua sinfonia vários “instrumentos” textuais. Embora não haja autoria atribuída aos trechos discursivos, eles possivelmente pertencem ao narrador. “Discurso sobre a Beleza” dialoga com a valoração pela narrativa do feio, do lixo: “Impossível querê-La única, buscá-La nas palavras puras ou nas imagens perfeitas [...] Se a noite é calma e terna, aí estará a Beleza; se é tempestuosa e alarmante, também aí estará a Beleza [...]” (p.68). O texto lembra, claro, o prefácio de Victor Hugo, Do grotesco ao sublime. Para o autor de Cromwell (1827), o grotesco é “uma das 72 “[...] ne faut-il pas nous rappeler que nous sommes attachés sur le dos d’um tigre?” supremas belezas do drama” (2007, p.50). “Discurso sobre o Caos” enfoca o horror entranhado na cidade. O texto é construído a partir da costura das vozes de Allen Ginsberg, Rimbaud, Gonçalves Dias, Henry Miller, que compartilham o mesmo tema, e do narrador (?) carreriano que a eles se dirige: [...] os pés, as mãos, o corpo acorrentado, os ladrões, os criminosos, os bandidos, os infanticidas, os parricidas, a sacrificada cidade sem conhecer o destino, cega, sangrando, vagabunda, louca cidade, bela e entristecida cidade onde os miseráveis trafegam com as mãos estendidas, choram, se lamentam, berram, e são insultados, esbofeteados, presos, humilhados, eu também vi, Ginsberg, e senti, Rimbaud, as prostitutas gemendo na escravidão, os nobres cidadãos do meu país cuspindo nos pratos dos pobres, roubando o resto que havia, eternizando-se no poder, um grupo de homens sujos assaltando palácios e governos, meninos, eu vi, Gonçalves Dias [...] (p.72) Já o “Discurso sobre a loucura” compõe-se das vozes de Rimbaud e Santa Teresa de Jesus embaralhadas à do narrador, para quem este estado psíquico é o modo mais amplo de compreensão da realidade circundante: [...] És santa! És bendita! És sábia! Conduz-me pelas chamas e pela neve, faz-me ver no labirinto da agonia humana o que só a piedade pode perceber: o sol maluco incendiando a cidade, a água escorrendo avermelhada pelos rios, e a dor, por dentro da dor, mais inquietante e mais selvagem, a dor na sua intimidade grotesca e violenta [...]. (p.78) Não se deve esquecer que com alguma frequência as personagens carrerianas, assim como o faz Natalício, louvam a loucura e os loucos. No “discurso sobre a dor”, o foco recai sobre aqueles que vivem à margem da sociedade, ignorados, pisoteados: [...] sabe-se que as portas estão fechadas e que as janelas não se abrirão para os degredados, para aqueles que esperam apenas o momento da espada, a hora em que os lobos atravessarão as cidades com os dentes afiados para beber o sangue dos atraiçoados pela própria vida [...]. (p.87-8) A estes degredados resta apenas escapar de vítima tornando-se algoz (assim como Jeremias de Maçã agreste). Assim fecha-se o círculo vicioso dos horrores, no qual violência gera violência: “[...] aproxima-se o momento em que o homem não será mais homem, está transformado, também ele, em lobo ou em rato, habitando esgotos, protegendose contra o sol, uivando à noite, desejando esmagar, roer e urrar” (p.88). Não há dúvida, diante dos discursos sobre a Beleza, o caos, a dor, e a loucura, que a literatura carreriana ainda empunha a bandeira contra a injustiça social. Viagem no ventre da baleia, o infantojuvenil O Senhor dos sonhos (não analisado por esta pesquisa), Maçã agreste e Sinfonia para vagabundos – por mais que as questões que envolvem o fazer literário tenham se tornado aparentemente o foco principal deste oitavo título – são obras de um escritor socialmente comprometido. O último discurso enaltece a música, sua abrangência e o seu poder de despertar sentimentos e, consequentemente, as ações dos indivíduos. Também não se pode negar que o traço religioso na prosa carreriana vai-se atrofiando. Diante de obras como As sementes do sol ou Sombra severa, cujas histórias têm inspiração bíblica, Sinfonia para vagabundos parece apresentar apenas resquícios de referências sagradas. Além da citação de Santa Tereza de Jesus sobre a miséria moral (p.78), de Santo Agostinho sobre a questão (não religiosa) do tempo (p.110), do Eclesiastes sobre uma espécie de inércia universal (“não há nada de novo debaixo do sol” (p.70)), da menção ao pai de Natalício como o “Senhor morto” (p.25), em possível paralelo (sacrílego) com Cristo e do tom oratório tanto da ode quanto do “salmo dos salmos”, deve-se destacar apenas o nome das personagens. Em Deusdete (do latim Deus dedit, lit. “Deus deu” (Oliver, 2005, p.131)), há Deus, em Natalício (nome que antigamente era dado “aos meninos nascidos em 25 de dezembro” (ib., p.246)), Natal e, por extensão, Cristo e, em Virgínia, a Virgem. A utilização desses antropônimos tem como intuito ratificar a presença da Mãe, do Pai e do Filho mesmo em meio à dor, ao caos e ao vício ou, como quer Janilto Andrade, representa um contraponto irônico a uma cidade e uma sociedade corrompida? De acordo com o crítico, a incoerência entre os seus nomes e o mundo em que se movimentam tem uma leitura: é a própria incoerência entre viver uma utopia (a música para Natalício, por exemplo) e uma realidade que vai transformando os indivíduos em gnomos que metem medo uns aos outros (apud Pereira, 2009, p.39) Para o escritor Antônio Falcão, entretanto, “cada qual guarda – no nome e na simbologia cristã que agrada ao autor – um traço comum a todos nós” (apud Pereira, 2009, p.39). Outra mudança expressiva ocorre na categoria de espaço: a casa perde o lugar para a cidade e, em Sinfonia para vagabundos, surge uma nova “família” composta por indivíduos sem laços consanguíneos, mas também atormentados e solitários. Seria possível pensar em troca do sertão pela área urbana, todavia, o que, na verdade, se passa é que o lócus se alarga, embora a atmosfera permaneça a mesma, aterrorizante e sombria. Se antes havia, sobretudo, o “lar” decadente, em consonância com a alma arruinada dos seres, agora o caos citadino também espelha a miséria social e moral dos indivíduos. Carrero, no entanto, mantém o gosto pela temporalidade em giro, com a narrativa retomando o mesmo ponto várias vezes de acordo com cada perspectiva, o que ocorre, por exemplo, com relação ao táxi no qual embarcam Natalício, Virgínia e Deusdete ou ao instante em que o professor e o saxofonista se encontram no bar. O narrador, no “Qüinquagésimo sétimo instante”, utiliza o subtítulo “Em torno do tempo” (p.109, grifo nosso), com o intuito de fazer nova “brincadeira” textual, já que associa o objeto “torno” ao tempo: “É verdade: não haveria melhor figura para significar o tempo: o torno. A roda. O círculo. O torno circular. A roda em torno de si mesma. Brinquedo de Carlitos: a bola do mundo” (ib.) Em seguida, revela os meandros da composição da narrativa: “Voltas e voltas”, neste romance”, significa repetição, eterno tempo presente visto por uma câmera cinematográfica em vários ângulos. Repetição e monotonia. Aparentemente pobre como enredo, rico, muito rico, com o que classifico de “movimento estático”. (p.111) No urbano Sinfonia para vagabundos, o narrador ironiza ainda: “É o tempo da roça. Não o tempo da cidade” (ib.). Essa regência em giro, entretanto, totalmente avessa ao movimento linear, não é elemento novo na prosa de Raimundo Carrero. Sua atmosfera é sempre espiralada em harmonia com o íntimo de seus seres atormentados. Natalício, por exemplo, “pensava em círculos” (p.122) em paralelo com o redemoinho das águas que anseia por transformar em música, metáfora não apenas da composição deste oitavo título, mas de toda a obra do ficcionista pernambucano. Além disso, deve-se atentar para elaboração das personagens a partir de diferentes tempos verbais: o presente para Deusdete, o passado para Natalício e o futuro do pretérito para Virgínia. Se o primeiro e o segundo não causam estranheza no leitor, a utilização ostensiva do futuro do pretérito provoca um incômodo, porque tudo relacionado a Virgínia parece estar apenas no terreno das possibilidades. De acordo com o gramático José Luiz Fiorin, “o futuro do pretérito tem, na maior parte das vezes, o caráter de uma antecipação imaginária. Se o futuro do presente não exprime uma modalidade factual, mas surge como expectativa, o futuro do pretérito tem um valor hipotético” (2010, p.160). Também para Maria Valíria Vargas, esse tempo “prolonga um hipotético passado” (2011, p.34). Mas, se os eventos relacionados a esta personagem de fato ocorreram, o que se comprova através dos pontos de vista de Deusdete e Natalício, porque o narrador insiste num tempo em que nada parece se confirmar? Talvez porque tudo aconteça para Virgínia antes de acontecer, mentalmente, no âmbito do desejo, da vontade: “Ela encostaria a cabeça no seu ombro [de Natalício] e, abraçada, começaria a acarinhá-lo” (p.89). Essa experiência um tanto ousada será retomada com maior domínio por Carrero em Ao redor do escorpião uma tarântula: orquestração para dançar e ouvir (2003). O autor pernambucano realiza ainda outros experimentos em sua Sinfonia. Há três prólogos, três epílogos e, inclusive, um pós-epílogo. O primeiro conjunto de prólogo e epílogo inicia e fecha a apresentação das personagens: Deusdete, no início, Natalício, no centro, e Virgínia, no final. Do mesmo modo, o segundo conjunto apresenta a princípio as ações envolvendo o professor e o saxofonista e por último a retomada do mesmo instante (e de momentos que o antecedem) sob a perspectiva da personagem feminina. A derradeira dupla, de prefácio e posfácio, compreende o destino de todos as personagens. Todavia, a narrativa avança ainda até o pós-epílogo que contém o “delírio de Natalício”. Este assume na primeira pessoa o romance (o narrador em terceira desaparece) e rememora o diálogo com Deusdete que se passara no bar, nova retomada, portanto, pela narrativa do mesmo episódio sob novo enfoque. Sinfonia para vagabundos é finalmente selado com solidão e desejo de morte, último parágrafo carnavalesco, povoado de anjos e baratas, em harmonia com a totalidade da obra: A solidão da minha alma convida-me à morte. Gostaria de trocar de alma para vencer as barreiras dos espelhos circulantes e mergulhar em subterrâneos onde habitam os anjos, os santos, os mártires e os místicos, cantando com serpentes e lagartos e acompanhando as baratas com o meu saxofone. Estou só e despeço-me: adeus. (p.151) Além de utilizar letras e números, para relacionar respectivamente os integrantes da fila da sopa e as ações de Natalício após o encontro com o menino morto, recurso que já havia sido utilizado em Maçã agreste, Carrero também mantém o gosto pelas pequenas histórias intercaladas. Neste oitavo título, elas abarcam, sobretudo, os indivíduos arruinados pelo sistema social que encontram no suicídio a saída definitiva da cidade labiríntica e opressora. A liberdade alcançada na morte e o assassinato por caridade se tornam pouco a pouco uma constante da prosa carreriana. Assim como Félix Gurgel, em A dupla face do baralho, manda matar o pai para poupá-lo de sua penosa existência, Natalício enforca a menina com o intuito de fazer algo por ela. Enquanto todos são indiferentes, ele é “piedoso”. Do mesmo modo, um homem lança no Capibaribe os filhos que passavam fome e, em seguida, se suicida, enredo que será retomado em As sombrias ruínas da alma (1999). Os vários instrumentos dessa pós-moderna regência giram ininterruptamente retomando sempre o mesmo ponto: todo o discurso musical funciona como metáfora do fazer ficcional; o narrador, Deusdete e Natalício são grosso modo uma única consciência tripartida, já que todos compartilham de uma forma ou de outra a questão literária; todos os suicídios, que se repetem ao longo da narrativa, têm o mesmo fundo comum, a sociedade economicamente esfacelada; várias circunstâncias são retomadas sob novas perspectivas; e toda a gama de registros conflui para criação de um painel desolador da existência humana no submundo urbano. 8.2 A orquestra literária Pode ser separada nota a nota, acorde a acorde, solfejada, momento a momento, silenciada, agredida, intervalo a intervalo, mas não perderá a harmonia. (Carrero, 1994, p.94) Raimundo Carrero escreveu Sinfonia para vagabundos entre o final de 1989 e o início de 1990. Em seguida, “recebeu uma bolsa da Fundação Vitae e o convite do International Writing Program (Programa Internacional de Escritores) promovido pela Universidade de Iowa, em Iowa City, onde passou três meses” (Pereira, 2009, p.38). Durante esse período, o romance é reescrito. Todavia, quando retorna, decide modificar quase integralmente a obra mais uma vez. A editora Estação Liberdade publica essa terceira versão em 1993. Em entrevista a Marcelo Pereira, o ficcionista pernambucano revela o paralelo deste oitavo título com o segundo, As sementes do sol. Enquanto o dilema do religioso Absalão, iniciado pelo tio Lourenço no “reino da putaria”, abarca o “perdão”, a “expiação”, a “lamentação”, Sinfonia para vagabundos é a “narrativa do pecado, do grotesco, da dor” (ib., p.116). De acordo com o autor, ambos refletiriam o período, no princípio da década de 80, em que ele viveu uma intensa crise, mergulhado na boemia recifense. Deve-se notar, entretanto, que Natalício não carrega a culpa de Absalão talvez porque a temática religiosa na obra carreriana, embora ainda esteja presente, já não possui a mesma proeminência. A matéria central agora é a própria literatura, a construção do romance. Seria possível também acrescentar a importância da música no texto. Porém, ela funciona como metáfora do fazer ficcional – o que já se evidencia no subtítulo “visões em preto e branco para sax tenor”. O termo “visões” possivelmente se refere aos pontos de vista da prosa e as cores “preto” e “branco”, às letras no papel: uma orquestra (várias vozes e/ou instrumentos), portanto, literária em conformidade com o conceito de sinfonia: “composição de proporções geralmente bastante vastas com diversos movimentos e servindo-se dos recursos da orquestra sinfônica [...]” (Hodeir, 2002, p.80). Douglas Moore, em Guia dos estilos musicais, conclui que o finlandês Jean Sibelius foi o grande nome da sinfonia moderna. Em sua obra, muitos dos andamentos baseiam-se numa recolha de idéias fragmentárias que se fundem à medida que a música se desenrola. Isso tem para o não iniciado, um efeito um tanto ou quanto caótico. A linha interrompe-se, a música é bastante desligada. O estilo parece mais pictórico e descritivo do que sinfônico (1991, p.233). Essa definição curiosamente poderia referir-se ao romance carreriano, também fragmentado (composto por cerca de duzentos e trinta fragmentos), caótico (o caos da narrativa, mescla de ficção – em uma temporalidade giratória – e teorização, tem paralelo com o caos citadino e existencial), visual e descritivo (tanto o Recife quanto suas personagens são descritos em detalhes, compondo um quadro de penúria material e moral). O narrador-escritor, que se confunde com o próprio autor, por conta da profissão comum, decide incluir na elaboração de seu romance as questões sobre o fazer literário. Para isso, incorpora ao texto inúmeras citações, sobretudo de autores, críticos e teóricos, com os quais dialoga ora em consonância ora em dissonância. À medida que reflete sobre cada etapa da feitura romanesca, avança um pouco mais na ficção propriamente dita. Esse narradorescritor tem ainda um quê professoral, como se intencionasse não apenas construir o seu texto, mas sobretudo ensinar ao leitor como elaborar uma obra. Sinfonia para vagabundos parece, portanto, conter o germe da oficina literária de Raimundo Carrero e de seus livros Os segredos da ficção: um guia da arte de escrever (2005) e A preparação do escritor (2009). O “primeiro instante” narrativo tem como subtítulo a pergunta “Como é que se escreve uma história?” (p.17). Para respondê-la, o narrador-escritor cita Graham Greene, Graciliano Ramos, Ítalo Calvino, John Steinbeck, para enfim concluir: O certo é que me ponho a caminho, sem a ajuda de Greene, Graciliano ou Steinbeck, sem pedir que desliguem a televisão, como Calvino, porque estou iniciando um novo romance – leitura e escrita –, sem esquecer que estou enjaulado em minhas preocupações. Tenho que recorrer às minhas próprias ferramentas. (p.19) Além desse narrador-escritor-professor, há uma personagem-professor-escritorintelectual, Deusdete, sempre recitando poemas ao longo da narrativa. Ele “sente-se poeta, mas não quer expor-se ao mundo” (p.111), sobretudo por temer a crítica incompetente e/ou cruel: Também não gostará de ser analisado por coisas que nunca disse nem fez. Muitos encontrarão significados terríveis em textos que às vezes escreveu por mero passatempo, por divertimento, por brincadeira. [...] tem um medo terrível dos críticos e prefere não publicar. (p.112) Essa depreciação da crítica literária parece ter parentesco com a visão de Autran Dourado exposta no capítulo “Personagem, composição, estrutura”, de Uma poética de romance: matéria de carpintaria. O escritor mineiro, algumas vezes citado no oitavo título do ficcionista pernambucano, ironiza as análises psicológicas e sociológicas das personagens e ressalta a frequência com que os críticos distorcem a obra: Às vezes o panorama do crítico é bem mais amplo do que o visualizado pelo criador, mais completo e ordenado, mais racional, vamos dizer assim, a tal ponto que muitos romancistas, na sua natural vaidade coruja, chegam a admitir que foram eles, e não os críticos, que criaram tudo de grandioso que lhes é apresentado. (2000, p.94) E sobre a problemática envolvendo escritor e leitor, o narrador revela que, para Deusdete, “os livros não são para ser lidos” (p.113) e “nenhum escritor gosta de ser interpretado” (ib.). A personagem também acredita que a literatura está em decadência e os intelectuais, “de uma maneira ou de outra, nasceram para carregar problemas, não para desvendá-los” (ib.). Essa perspectiva é, portanto, obviamente pessimista em todos os sentidos, quanto à crítica, ao leitor, à literatura e ao papel do intelectual. Deusdete também “escreveu e publicou uma brochura com a relação de lugares onde os escritores devem ser lidos” (p.20), de acordo com o teor de cada obra: Henry Miller, na cama, nu e bem acompanhado, sem broxar. [...] Faulkner, no cabaré, bebendo uísque. [...] José Lins do Rego, numa usina de fogo-morto. [...] Jorge Luis Borges, na biblioteca, com uma luneta. [...] Bukowski, no esgoto, bêbado, abraçado com uma puta sifilítica. [...] (p.201). Logo, Sinfonia para vagabundos mantém-se atrelado à esfera da construção literária. Mas, embora narrador e personagem se espelhem, como se um fosse o desdobramento do outro, deve-se notar que quem narra caçoa deste senhor empobrecido e decadente, com medo dos analistas literários, que lê ininterruptamente, até no sanitário e, “quando escreve, risca quase tudo ou coloca a culpa nas palavras para se livrar da aspereza dos críticos” (p.20). Esse olhar satírico para a personagem-escritor estaria então voltado para o próprio narradorescritor? E, por extensão, para o autor e para os autores de modo geral? É ainda Deusdete quem afirma, ao refletir sobre a inércia social dos indivíduos: “A vida precisa de vida mais do que de literatura e música” (p.149). Essa assertiva parece dialogar com a visão de Rodrigo S.M do também metaromance A hora da estrela: “Quanto a escrever mais vale um cachorro vivo” (Lispector, 2006, p.41). O social se sobrepõe, portanto, ao literário, diante da dura realidade dos habitantes da cidade cruel, seja ela o Rio de Janeiro, de Macabéa, ou o Recife, de Natalício, Deusdete e Virgínia. A segunda personagem apresentada é o músico, boêmio e vagabundo, Natalício. Assim como Carrero procura escrever a cidade (Lydia Barros, na resenha “Sinfonia do apocalipse”, publicada no Diário de Pernambuco, salienta que na prosa carreriana “o Recife é uma ‘moldura’ fragmentada pela degradação e tristeza dessas vidas marginalizadas e por sua própria decadência [...]”73), Natalício pretende “tocar” a cidade, metaforizada nas águas lamacentas do Capibaribe: Queria tocar de acordo com o movimento das águas, de conforme com os sons do vento soprando na superfície das águas, movimentos e sons que somente ele via e escutava, compondo ali mesmo, na ansiedade dos dedos, inventando. (p.116) Além de ter de acompanhar os “redemoinhos” que se formavam nessas águas (como os que se formam no íntimo dos seres carrerianos e, consequentemente, na estrutura da narrativa), precisava alterar sua composição de acordo com o som ruidoso provocado por duas crianças jogadas no rio pelo pai que, em seguida, comete suicídio: Não mais do que um segundo, os corpos desapareceram nas águas, o barulho impunha alterações na harmonia, de forma que exigia novos movimentos, pavana para crianças assassinadas. O homem pegou um faca e furou o próprio peito, duas, três vezes, esfaqueou o estômago [...] Natalício apressou os dedos, as águas iluminadas pelo sol, espalhando-se em ruídos redondos quando os corpos mergulhavam, às vezes um menino atrás do outro (p.117). Luís Arraes, na apresentação da sinfonia carreriana, faz coro com Lydia Barros ao afirmar que o autor pernambucano oferece ao Recife seu hino definitivo, mostrando-lhe sua verdadeira cara, seu cheiro, seus ruídos, seus medos e seus fantasmas. Era de uma sinfonia que a cidade precisava e, como toda sinfonia, feita de diversos movimentos, ora allegro, ora molto vivace ora allegro ma non troppo. (1994, p.11) O saxofonista toca até atingir o abismo da loucura e da morte, porque “estava disposto a se retirar somente quando a partitura estivesse pronta” (p.116). Não há dúvida de que a angústia do músico frente à obra inacabada é a mesma do escritor diante do romance incompleto. O artista deve, portanto, compor ininterruptamente, escrever ininterruptamente, até que a obra, musical e literária, esteja criada. 73 BARROS, Lydia. Sinfonia do apocalipse, Diário de Pernambuco, Recife, 5 mai. 1993, Caderno Viver, p.D-1. Em outra passagem, Natalício procura elaborar uma música em sintonia com o confronto entre sertanejos e policiais. O mundo circundante é, portanto, matéria de que se compõe sua arte, assim como Recife integra a Sinfonia para vagabundos carreriana: Sentado no degrau da igreja, Virgínia ao lado, Natalício continuou tocando. Tinha os olhos acesos acompanhando o combate, criava uma espécie de sinfonia, imitando o ruído dos cascos de cavalos, dos relinchos, gritos de comando – dos saqueadores e dos militares –, dos olhos aboticados, do sangue derramado, dos meninos correndo e protegendo comidas nos braços, mulheres histéricas, homens enlouquecidos; ruídos de chibatas, de palavrões, de dor e de desencanto. (p.132) A perspectiva de Natalício revelada pelo narrador parece se ajustar ainda à de Carrero, se for considerado que os títulos do autor pernambucano apresentam ampla diversidade temática e estrutural: “o que gostava era de criar, a sensação que a vida brotava no corpo, não queria torná-la eterna, sempre renovando o repertório [...]” (p.133, grifo nosso). E o receio do saxofonista é o de quase todo ficcionista que prima pela originalidade: “tinha medo de repetir outras melodias consagradas” (ib.). A ânsia do músico “para escutar todos os instrumentos, cada um isoladamente e todos num só instante” não teria paralelo também com a o escritor e/ou narrador em relação à elaboração da narrativa repleta de vozes independentes e, ao mesmo tempo, fusionadas? Esses instrumentos (ou vozes) interligados parecem se alinhar do mesmo modo ao trecho de Poética de Romance, de Autran Dourado, citado em Sinfonia para vagabundos: “Embora tão solitários, os meus personagens não existem sozinhos. Se ligam uns aos outros sem perceberem, subterraneamente [...]” (p.66). Natalício vive de esmolas, jogadas a cada vez que toca o sax pela cidade. Haveria aí também implícito um paralelo com o ofício da escrita? O músico, que na última parte do romance se torna narrador em primeira pessoa, relembra o diálogo com Deusdete no bar e conclui que o professor é ingênuo por acreditar no poder da palavra (da literatura?): Havia esquecido que ele nunca fingira, que é o que se pode chamar de um “intelectual austero”, um “homem de princípios”, e que já estava na mais absoluta decadência financeira, acreditando que os grandes livros e as “idéias edificantes” seriam capazes de encontrar uma saída para a “construção moral” da sociedade, corrompida por ladrões e farsantes. (p.150-1) Em seu discurso, contraposto ao do professor, Natalício parece ser indiferente a tudo e a todos, à sua própria condição miserável: “Não estou interessado sequer em me ajudar. Não me incomodo, em absoluto, com a sua vida ou com a vida de Virgínia. Absolutamente. O mundo é o que está aí e dane-se o resto” (p.150). Todavia, seus atos contradizem suas palavras, afinal o músico é quem carrega o corpo do menino assassinado pelas ruas e compõe para ele uma canção, enquanto as pessoas se incomodavam apenas como o cheiro do cadáver. Além disso, quando afirma “[...] tenho amor pelo sangue que goteja no lixo”, não apenas evidencia uma atração pelo universo marginal, mas também um compromisso sóciosentimental com seus companheiros de infortúnio. Não há dúvida de que a frase poderia ser o lema carreriano na construção de sua Sinfonia para vagabundos: escrever (ou tocar) por amor ao sangue que goteja no lixo. Fica evidente, portanto, que o Narrador, Deusdete e Natalício possuem uma preocupação em comum que engloba todas as questões sobre o fazer literário. Eles entram para o rol das personagens de Carrero independentes e, ao mesmo tempo, fusionadas: um é e não é o outro, espécie de (única) consciência tripartida. Outra tríade é composta por Deus (Deusdete), Jesus (Natalício) e a virgem Maria (Virgínia). O narrador apresenta a personagem feminina por último na narrativa e, por isso, ela se encontra no primeiro “Epílogo” do romance. E, então, ele inicia uma curiosa discussão sobre o papel social da mulher. Quando o leitor passa a considerá-lo preconceituoso (ele cita inclusive o livro sagrado da Índia no qual as mulheres são tidas como corruptoras da moral, inferiores e servis), conclui: A personagem, insisto: mulher, vem depois do personagem, homem, devido à particularidade da composição romanesca. Mulher em sociedade é disputa para cientistas sociais e, é óbvio, para colunistas sociais; sem esquecer as publicações eróticas; personagem, em literatura, motivo para análise de crítico literário. (p.50) Em seguida destaca trecho de A personagem do romance, de Antonio Candido: “Conclui-se, no plano crítico, que o aspecto mais importante para o estudo do romance é o que resulta da análise de sua composição, não de sua comparação com o mundo” (ib.). Curiosamente, no posfácio de Sinfonia para vagabundos, “Ponto e contraponto na escritura de Raimundo Carrero”, Janilto Andrade se refere ao mesmo excerto de Antonio Candido, utilizado pelo narrador carreriano, para a ele se contrapor: (Como se vê, estas notas visam “a comparação do romance com o mundo”, não à composição do texto. Antonio Candido, citado por Carrero, em Sinfonia para vagabundos, afirma que, no plano crítico, a composição é mais importante. Fiquei mais perto de algumas idéias de Flávio Kothe, para quem a compreensão do herói é estratégia para iluminar a identidade do sistema social que está reproduzido no mundo do romance). (Andrade, 1994, p.157) Pode-se notar que o narrador carreriano se utiliza de Virgínia para tocar numa espécie de vespeiro teórico-acadêmico. O que importa na análise do romance: forma ou conteúdo? Sua relação com o mundo ou apenas as relações estabelecidas no interior da obra, que possuiriam um universo próprio independente da vida “real”? Não há dúvida, entretanto, que, para esse narrador, não interessam análises sociológicas – fato um tanto contraditório se for considerado que este romance, apesar da primazia com a preocupação estética, tem como tema a miséria social e existencial. Natalício chega a citar o país: Ali estavam dois vagabundos, justamente dois vagabundos [ele e Deusdete], filosofando sobre o que fazer com a vida e com a morte. Grandes soluções! Grandes temas! Dois homens sujos e fétidos vendo o Brasil passar pela calçada e nem sequer sabendo o que fazer com este país (p.149) E o que significaria a revelação do próprio autor na orelha de Viagem no ventre da baleia: “Ficcionistas somos – pelo sim, pelo não – porta-vozes – ainda que não autorizados –, das dores, das inquietações, das alegrias e das angústias do nosso povo”? Não há como negar que a preocupação social da literatura carreriana se intensifica, sobretudo a partir desta narrativa, atravessa Maçã agreste e atinge Sinfonia para vagabundos – traço que parece arrefecer nas obras subsequentes. Esses três romances publicados entre a segunda metade da década de oitenta e os primeiros anos da década de 90 refletem o próprio momento políticosocial brasileiro, conturbado, indefinido, em que houve, por predisposição ou cobrança, um maior engajamento dos intelectuais. E, embora neste oitavo título ainda haja o peso desse compromisso da literatura com as questões sociais, as palavras do narrador, condenando a crítica sociológica, psicológica e/ou feminista, soam como um grito libertário do escritor. Sinfonia para vagabundos faz refletir: a literatura é instrumento para compreensão do mundo ou o mundo é instrumento para compreensão da literatura? As duas assertivas são verdadeiras, complementando-se simbioticamente, ou ambas falsas? A literatura não muda nada, como defende Natalício, ou ela é a única salvação como parece crer Deusdete? Questões do ringue acadêmico. Todavia, deve-se levar em conta que Antonio Candido sabiamente diz que a análise da composição do romance é o aspecto mais importante para o estudo do mesmo. Ele não fala em “único aspecto importante” e essa escolha vocabular faz toda a diferença. O interior da orquestra literária carreriana comporta ainda um “Discurso sobre a música” que encerra a primeira metade da Sinfonia. Nesse texto lírico-dissertativo são abordados o poder de alcance dos sons musicais e sua influência avassaladora sobre comportamentos, embora eles jamais sejam decifrados por completo: [...] não há um só ouvido que não ouça uma cantiga, no deserto ou nas cidades, no fundo do poço ou no subterrâneo, nos esgotos ou no lixo. [...] Há de causar ciúmes e desejos, prantos e suicídios, realidades e ilusões, mortes e vidas. [...] Um único som acelera os pulsos, convida à paciência, ou ao ciúme, ou ao crime. (p.93) Se antes o foco recai sobre a tentativa de Natalício em transformar os sons da cidade em música, aqui a questão é o poder transformador da canção sobre o ouvinte, embora ela nunca seja compreendida na íntegra. Não seria esse o mesmo poder da palavra? Joana, de Perto do coração selvagem, fala sobre a incapacidade do dizer e, simultaneamente, sobre sua capacidade de alterar o que se passa no coração do falante: “[...] no momento em que tento falar não só não exprimo o que sinto como o que sinto se transforma lentamente no que digo” (Lispector, 1998, p.21). É impossível negar, diante da obra do ficcionista sertanejo, que a ambição artística de Natalício se confunde com a do próprio escritor: Não se preocupava com a quantidade de esmolas, era com brandura e valentia que escutava a própria música, nunca saciando-se, sempre aprendendo a manejar as chaves, a dosar o sopro, buscando tonalidades, sons, dissonâncias, harmonias, as mais suaves e esquisitas, berros e choros, disciplinado, querendo o aperfeiçoamento que não fosse linear, que não resultasse em beleza tranqüila, pacífica, calma, paciente, queria mais, muito mais, queria a rebeldia dos santos e dos demônios, queria a rebeldia que vem da raiz do sangue para desaguar na vida cheia de sol e de sombras, de tormentos e alegrias, de animais e de pássaros selvagens, repleta de suor e de odores, de desesperos e de felicidades, queria o silêncio e o grito, o aleijado e o são, o profético e o profano, a luminosidade e a cegueira, mansidão e pressa, derramamento e forma sólida. (p.28) Silviano Santiago, em “A estrutura musical no romance: o caso Érico Veríssimo”, procura demonstrar, na análise de Clarissa, primeiro título do autor de O tempo e o vento, “que o Amaro músico é uma metáfora que explicita antes de tudo o propósito do narrador de Clarissa, empenhado também em buscar uma forma original de composição para a narrativa que está escrevendo [...]” (p.164). Do mesmo modo, Natalício saxofonista é metáfora da criação literária do narrador-escritor (que é metáfora do próprio autor, também músico e ficcionista). Música e literatura dialogam, portanto, nesta oitava sinfonia carreriana, em que todos as personagens, todos os discursos, convergem para um ponto comum: a produção literária e a problemática que a envolve. 8.3 A sinfonia do excesso: um mais além real [...] tocava movido pelo impulso dos derrotados, procurando algum encanto na alma, um encanto caótico que as pontas dos dedos trêmulos pareciam buscar na agonia: a música que só a crueldade conhece. (Carrero, 1993, p.24) Não há dúvida de que a violência sempre esteve presente na literatura carreriana. Em A história de Bernarda Soledade, o desejo de poderio da filha do coronel Pedro Militão arrasta tudo e todos à ruína. Embora esse primeiro título não possa ser considerado regionalista, já que seu elemento motor não é a realidade sociocultural da região, mas a sede de poder de Bernarda, há no romance um nítido diálogo com esse tipo literatura que representa a “violência ainda articulada a uma realidade social na qual, de fato, vigora ainda um sistema simbólico de honra e vingança individuais, uma vez que a lei ainda não pode garantir a igualdade entre os sujeitos” (Pellegrini, 2008, p.180). Do mesmo modo, na história de Absalão (As sementes do sol), a justiça é aplicada pelo indivíduo: o fratricídio se justifica pela condenação do incesto entre Agamenon e Mariana. Em A dupla face do baralho, a delegacia não é local dos que descumpriram as leis constitucionais, mas as de Félix Gurgel e dos poderosos – que matam e roubam sem punição. Sombra severa mantém o universo arcaico na traição do invejoso Judas, que violenta Dina e assassina o irmão. Está em jogo no romance o desejo (pulsão destrutiva) pelo desejo do outro. Mas o homicida é julgado apenas por sua própria consciência atormentada. Ao se aproximar do urbano, todavia, pouco a pouco a literatura carreriana sofre uma metamorfose, ainda tímida em Viagem no ventre da baleia, obra na qual estão presentes os dois mundos (similares): a cidade dominada pela violência ditatorial e o campo, lócus subjugado pelos “coronéis”. Maça agreste conserva a dualidade espacial, mas é dado maior relevo ao espaço citadino. Estão lá o pobre, o marginalizado, uma legião de excluídos, enfim, lado a lado com a decadência econômica (e moral) dos Cavalcanti do Rego, filhos do fogo morto do Engenho Estrela. Entretanto, é apenas com Sinfonia para vagabundos que essa metamorfose se completa. O meio rural (ou sertanejo) desaparece dando lugar a uma literatura integralmente urbana. Perdem o foco as relações incestuosas e a violência centrada, sobretudo, nos núcleos familiares (deve-se lembrar que Jonas, de Viagem, quer se vingar de Salvador Barros, por ter matado seu (suposto) pai, e, na Maçã carreriana, encontra-se ainda o sexo entre parentes e a tensão permanente entre os membros da família). A violência agora, presente no oitavo título do autor sertanejo, é fruto do caos urbano, que produz uma massa de marginais, sejam estes apenas pobres, miseráveis, ou criminosos. Neste romance, a penúria ou a perda financeira decorrente da situação econômica do país levam ao suicídio. Os crimes – roubos, assassinatos, lesões corporais – poderiam ser justificados pela miséria, mas parecem ter como fundo, sobretudo, a ausência de compaixão entre os homens que, na cidade veloz, se tornam indiferentes a dor do outro: perdem a humanidade. Curiosamente, os textos mais arcaicos de Carrero soam menos bárbaros do que a Sinfonia dessa urbana (e moderna?!) civilização. No ensaio “Quem é bárbaro?”, Francis Wolff conclui: uma cultura específica é “civilizada” quando, independente da riqueza ou pobreza de sua cultura científica, de seu nível de desenvolvimento técnico, ou da sofisticação de seus costumes, ela tolera em seu seio uma diversidade de crenças ou práticas (excluindo-se, evidentemente, práticas bárbaras). (2004, p.41-2) Os povos bárbaros, entretanto, costumam ser associados equivocadamente aos modelos arcaicos de sociedade (pré-urbanas) enquanto a chamada civilização é reconhecida pela modernidade técnica ou pelos recursos financeiros de que dispõe. Esse equívoco tem paralelo com a imagem do “primitivismo” do sertão contraposto às “modernas” e “civilizadas” capitais. Todavia, da mesma maneira, é possível afirmar que essa suposta “modernidade” não garante aos grandes centros urbanos uma “civilidade”. De acordo com a literatura carreriana, ao contrário, o bestial está no âmago do espaço urbano, miserável e repleto de “práticas bárbaras”. Ao rastrear a violência nas poucas páginas de Sinfonia para vagabundos, encontramse, dentre outros episódios: o enforcamento da menina de rua por Natalício seguido de necrofilia (p.31); a surra gratuita que o saxofonista leva (p.91); o roubo do pouco dinheiro que tinha (p.122); os saques realizados por sertanejos famintos e o decorrente confronto com a polícia (p.132); o menino encontrado morto no lixo com um tiro na testa (p.136). Na carta à redação, que redige, mas não envia, Natalício se justifica: Com piedade e amor ao próximo, tratei de enforcá-la, rapidamente, de modo a provocar-lhe poucas dores e morte imediata, livrando-a do castigo da vida, imposto para que, desamparada, pudesse sofrer pelas ruas, esmolando e dormindo nas calçadas. (p.32-3) Deve-se ressaltar que o assassinato por compaixão já foi explorado anteriormente na literatura carreriana (em A dupla face do baralho, por exemplo). Os saques dos sertanejos são justificados pela fome e de certo modo têm correlação com o crime do músico, já que ele é tocado, motivado, pela penúria em que (sobre)vivia a menina. E são provavelmente os miseráveis que lhe roubam o dinheiro: pobres que se entredevoram. Por outro lado, a gratuidade da surra revela que não está apenas na miserabilidade a raiz da violência, mas na total perda de valores morais: o urbano é o locus horrendus da anticivilização. Do mesma forma, o menino com o tiro na testa encontrado em meio ao lixo é símbolo não apenas da selvageria citadina, mas da indiferença pela banalização do horror (e da morte). Enquanto Natalício perambula com o corpo nas costas as pessoas se aborrecem apenas com o cheiro fétido que dele exala: “ninguém se incomodava com a sua passagem. Ou com a morte” (p.136). Carrero parece se aproximar do hiperrealismo ou realismo feroz (para Antonio Candido, esse “realismo” corresponde “à era de violência urbana em todos os níveis do comportamento” (1987, p.212)) ou ultra-realismo fonsequiano não só pela alta dose de brutalidade desta prosa, mas ainda pela confecção de uma literatura do excremento: mijo, merda e vômito também compõem a sinfonia de Raimundo Carrero. Em “Discurso sobre o caos”, o narrador cita Allen Ginsberg e expõe desse modo a tônica desse oitavo título do autor pernambucano: A noite inteira estava marcada por sons, por gritos lancinantes, palavras, soluços, gemidos, escândalos, corrupções, canalhismos, pancadas, podridões, sexo sobre camas imundas, nas escadas, nas calçadas cheirando a mijo, a merda, a vômitos, ratos e baratas, santos rezando e mártires incendiados [...] (p.72). As escadas da Boate Chantecler, em coro com os espaços decadentes, cheiravam “a mijo e vômito” (p.81). Natalício, que ansiava por aguardente e cigarros, tocava à noite à beira do Capibaribe, enquanto mulheres, indignadas com a recusa do músico em aceitar as bebidas alcoólicas que lhe ofereciam, “mijavam, cagavam, cuspiam [...]” (p.119). Reunindo coragem para se suicidar atirando-se da ponte nas águas do Capibaribe, o músico sente o odor de “mijo, merda e vômitos” (p.122). No elevado, escuta: “Conversas. Gargalhadas. Peidos.” (p.124). Acrescenta-se ainda o “romântico” encontro de Natalício e Virgínia nas vias do Recife: “Os dois deram-se as mãos, ergueram-se e começaram a passear pela zona, as ruas silenciosas, escuras, cheirando a esgoto e a perfume barato, a suor” (p.129). Tânia Pellegrine observa que, a partir dos anos 60, a industrialização crescente dá “força à ficção centrada na vida dos grandes centros, que engordam e apodrecem, daí a ênfase em todos os problemas sociais e existenciais decorrentes, entre eles a violência montante” (2008, p.183). Esse apodrecimento é, sem dúvida, matéria da sinfonia carreriana. Não se deve esquecer que, em harmonia com uma proposta mimética, de incorporação do “real” (ainda que a realidade objetiva não possa ser reproduzida fidedignamente porque sempre filtrada pela perspectiva do sujeito), Carrero traz para a narrativa não apenas a cidade (Recife), como ruas e praças (Rua Primeiro de Março, Praça da Independência, Praça do Dérbi, Avenida Conde de Boa Vista etc.), o bar São Francisco, a boate Chantecler e a Jazz Band do Recife. E é preciso reconhecer que as inúmeras citações e as referências midiáticas contribuem para aumentar ainda mais a (falsa) sensação de que a prosa espelha a realidade, assim como os diálogos, entre Natalício e Virgínia e entre o músico e o professor, em que se discute a condição nacional. Após ser surrado, Virgínia deseja que ele procure as autoridades, mas o saxofonista menciona a teia de corrupção que compreende os vários setores sociais e pergunta à companheira: “você ainda insiste em falar em justiça numa terra como essa?” (p.93). Ao final da narrativa (pós-epílogo), no delírio de Natalício, em que este rememora sua conversa no bar com Deusdete, o músico revela seu pensamento: “Dois homens sujos e fétidos vendo o Brasil passar pela calçada e nem sequer sabendo o que fazer deste país.” (p.149). Em A fragmentação do humano, Marcelo Pereira ressalta: Sinfonia para vagabundos “é livro de um escritor ferido, indignado, revoltado em sua cidade, na verdade, a cidade que o acolheu. O cenário é o centro do Recife, decadente e degradado, miserável, uma miséria que também é humana” (2009, p.38). Todavia, se grosso modo o oitavo título de Carrero parece se alinhar a uma estética hiper-realista, as especificações, ao contrário, revelam certo distanciamento. O texto não é narrado em primeira pessoa e a voz não pertence obviamente ao indivíduo marginalizado. O crime de Natalício não tem paralelo com o choque entre as díspares classes sociais, como costuma ocorrer em narrativas fonsequianas, por exemplo. Ao contrário, o músico mata por piedade, não por vingança; por desencanto, não por ódio (embora Virgínia apresente várias suposições causais para a escrita da carta: Exibicionismo, Remorso, Delírios (p.37-8)). E, claro, Carrero tempera sua Sinfonia com alta dose lírica, presente nos poemas, na ode ao pai, no salmo dos salmos, possivelmente composto para Virgínia, no afeto entre ela e Natalício, ainda que em meio ao lixo (ou, sobretudo, porque em meio ao lixo), no assassinato da menina por compaixão e na andança do saxofonista pelo Recife com o corpo do menino nas costas, para o qual compõe uma elegia, ainda que “sem lágrimas nos olhos” (p.137), antes de lançá-lo nas águas do Capibaribe. Os discursos sobre a Beleza, a dor, a música, o caos e a loucura também estão carregados de lirismo e o “real” surge não seco ou cru, mas por metafóricas (e, por vezes, aterrorizantes) imagens: “Nada é mais terrível do que assistir ao coração roído insistentemente pelos ratos” (p.88). Lydia Barros observa ainda que Carrero evoca os companheiros (escritores) “num fôlego lírico, em oposição ao realismo cru das suas próprias referências”74. Antônio Falcão nota do mesmo modo a simbiose entre lirismo e brutalismo: “Carrero esfarinha o que esta cidade tem de miséria, lirismo e boemia. É hino definitivo à carne e ao cheiro do Recife.” (apud Pereira, 2009, p.39). E, também na contramão do viés hiper-realista, Janilto Andrade aponta para uma vertente kafkiana na obra do autor sertanejo: As personagens de Carrero são kafkianas porque são indivíduos anulados pela monstruosidade do sistema e porque elas são “jogadas numa sinfonia” cuja melodia é a destruição da força psíquica e cuja contramelodia é a absoluta penúria material. (ib.) De fato, a tentativa de transpor para a ficção o absurdo da realidade parece torná-la, ao invés de “realista”, “insólita”. A reunião de todos os tipos de crimes, da miséria e de vários suicídios, em poucas páginas e numa temporalidade restrita, instaura, pelo excesso, pelo tom hiperbólico, um “mais além real”. Há em Sinfonia para vagabundos, por exemplo, inúmeros suicidas. No fragmento de “Bilhete emoldurado”, verifica-se a solidão dos indivíduos na cidade grande: Ninguém viu o corpo no ar, ninguém. O casal de velhos dormia, moça trepava com o namorado, o solitário assistia à televisão, Natalício e Virgínia estavam entretidos na dança da noite quando o corpo passou pela janela. Ouviram o ruído, ouviram sim. Mas que importância tinha um corpo estatelando-se no chão àquela hora da madrugada? (p.41). Ele deixa apenas um registro: “Desempregado” (ib.). Os homens mortos encontrados no telhado por Natalício escreveram: “Salários” (p.92). O pai que lança os filhos no Capibaribe e, em seguida, enfia faca no peito, antes de morrer, diz: “fome” (p.117). O banqueiro, que se enforcou, revela no papel: “Podridão” (p.128). Excetuando o último caso, todos têm uma motivação econômica. No texto de Peuchet, retomado por Marx, Sobre o suicídio, a miséria é tida como a maior causa para um indivíduo retirar sua própria vida (2006, p.24). No entanto, Émile Durkheim, em O suicídio, conclui que não é a pobreza a causa do 74 BARROS, Lydia. Sinfonia do apocalipse, Diário de Pernambuco, Recife, 5 mai. 1993, Caderno Viver, p.D-1 suicídio, mas a perda do equilíbrio, o que justifica este ato ser cometido por homens que alcançam uma riqueza repentina: Toda ruptura de equilíbrio, mesmo que resulte em maior abastança e aumento da vitalidade geral, impele à morte voluntária. Todas as vezes que se produzem graves rearranjos no corpo social, sejam eles devidos a um súbito movimento de crescimento ou a um cataclismo inesperado, o homem se mata mais facilmente. (2011, p.311) Carrero teria captado nesta sua onda suicida ficcional o desequilíbrio da sociedade brasileira que sai da euforia do “milagre econômico” para o fundo do poço financeiro e social? O fato é que, por um lado, esses suicídios procuram simbolizar o estado lastimável do país, fruto da hiperinflação, da recessão: “em agosto de 1989, a Folha revelava em manchete: ‘Brasil está em moratória há cinco semanas’” (Pilagallo, 2002, p.177). Por outro, com esse número extenso de mortes, o autor sertanejo extrapola conscientemente os limites da verossimilhança, pois se nutre do “real” e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, em consonância com a estética pós-moderna, o recusa. O absurdo instaurado pelo excesso: o mais além real carreriano. Deve-se ainda lembrar que as personagens principais dos últimos três romances têm desejos suicidas: Jonas, de Viagem no ventre da Baleia, Jeremias, de Maçã agreste, e, agora, Natalício. Esses seres não anseiam pela imortalidade, mas pela mortalidade plena, de corpo e alma, para que não corram o risco de serem espectadores da vida ou de para ela terem de retornar e crêem que o mal maior seria a condenação a uma existência “perpétua” (p.149). Como não conseguem cometer o ato libertário, encontram, na loucura, conforto. Assim como Jeremias, Natalício experimenta, em seu delírio, a “felicidade monárquica” (p.127). E, do mesmo modo que a literatura (a arte) perde sua aura (“A vida precisa de mais vida do que de literatura e de música” (p.149)), o sexo se torna animalesco, contrário aos princípios morais: Deusdete participa como expectador da cena lúbrica entre Virgínia e Natalício (p.90). Em outra passagem, cujo título é “Casais, animais”, um boêmio celebra o casamento à beira do Capibaribe e, “por uma questão de autoridade, foi o primeiro a trepar com a noiva gordíssima, enquanto o noivo cercava uma mulher grávida” (p.120). Complementando o quadro orgíaco, “um cachorro trepou numa cadela” (ib.) e uma prostituta “levantou a saia, sendo possuída ali mesmo [...]” (ib.). Todavia, o ato sexual também tem, na narrativa, um viés lírico: o coito por compaixão (já explorado por Carrero através da personagem Raquel de Maçã agreste, prostituta que possui um “corpo social”) ressurge na cena em que o músico é arrastado por uma mendiga e com ela copula: “Embora sujos, evocavam paixão e solidariedade [...]” (p.135, grifo nosso). E o relato de Natalício, em sua “carta à redação”, sobre o sexo com a menina morta carrega um lado horrendo e outro patético: Depois do assassinato, fui atacado por uma dessas crises de felicidade e tormentosa alegria, tendo, por isso mesmo, arriado a bermuda da criança até os joelhos e, ato seguinte, estuprei-a, convencido de que não havia outra alternativa, mesmo que se considere agora, diante dos olhos dos seus dignos leitores, uma violência e um pecado contra o corpo, segundo dizem os religiosos. Rejeito, veementemente, toda e qualquer idéia de violência. Naquele instante, o que me interessava era dividir com a morta a minha felicidade. Sei que ela, seja como for, sentiu o mesmo gozo e a mesma alegria que percorreu meu sangue piedoso. (p.33) Na festa no casarão decadente de Deusdete, miseráveis, prostitutas, loucos estão fantasiados de Rei da Etiópia, Rainha da Inglaterra, Príncipe da Espanha, Cleópatra, Soldado Romano etc., simbolizando não apenas o anseio de abandono da miserabilidade existencial como também a face carnavalesca da eclética sinfonia carreriana em que o lirismo e o tom hiperbólico do relato dão contorno a um mais além real. 9 Somos pedras que se consomem 9.1 A “centrífuga desesperada” (ainda) na teia do pós-modernismo De que lhe valia esta vida interior tão veloz e desesperada? (Carrero, 2001, p.36) Antes de iniciar a análise de Somos pedras que se consomem (1995), é necessário frisar que Os extremos do arco-íris, mescla de mistério e humor, publicado em 1993, não integra esta pesquisa por ser literatura destinada ao público infantojuvenil, o que demandaria outro enfoque e diferenciada abordagem teórica. Vale apenas ressaltar que, pela primeira vez, Raimundo Carrero “aceitou escrever um livro infanto-juvenil sob encomenda, feita pela Edições Bagaço” (Pereira, 2009, p.40). Quanto ao décimo título carreriano, não há dúvida de que dialoga em temática e em composição estrutural com Sinfonia para vagabundos. Marcelo Pereira, em a Fragmentação do humano, observa que a obra Somos pedras que se consomem está “mais uma vez recheada de citações literárias, sexo e violência (a exemplo de Sinfonia para vagabundos)” (2009, p.40). Porém, apesar da presença marcante do intertexto em ambos os romances, o conteúdo metaficcional, tão acentuado na narrativa de 1992, sofre uma intensa atrofia no título de 1995. Agora os inúmeros excertos, sobretudo de literatura, cinema e jornal, têm como intuito estabelecer um diálogo com enredo e personagens ao invés de discutir o fazer literário. O texto é composto por esse sistema de colagem, em que trechos de ficção, de poesia, de matéria jornalística e de cenas cinematográficas, múltiplas “vozes”, dão vida aos seres de papel (e de pedra) do romance e ao próprio romance. A impetuosidade do desejo entre irmãos é iluminada por fragmento erótico de John Updike – com descrição pormenorizada das cores que podem assumir o órgão sexual feminino – retirado de Os Machões Não Dançam, de Norman Mailer (p.13). Carrero cita Mailer que cita Updike. A construção lembra uma espécie de boneca russa textual. Em outra passagem, Siegfried havia lido reportagem de Andréia Curry para o caderno Cidade, do Jornal do Brasil, sobre meninos de rua, transcrita em Somos pedras, e concluído que eles “deviam morrer mesmo” (p.59)75. Em nova estrutura encadeada, cenas do filme Crepúsculo, dirigido por György Ferér, são comparadas a trecho do próprio enredo do romance (o crime cometido por Jeremias), que mimetiza ainda a realidade nordestina: 75 CARRERO, Raimundo. Somos pedras que se consomem. São Paulo: Iluminuras, 2001. Nas próximas referências a esse título, será informado apenas o número da página. Crepúsculo narrava aquela história, lenta e sombria, do assassinato de uma criança, de uma menina, mais justamente aos pés de uma cruz, assim como se vê nas cidades do Nordeste, nos sertões ou no sertão [...] (p.125). O poema de Marco Polo, que Ísis lê para Melissa (p.178), funciona como metáfora da relação “sadomasoquista”, ao mesmo tempo em que o verso “Somos pedras que se consomem” dá título ao romance e simboliza a brutalidade social. Esses são apenas quatro exemplos extraídos de uma infinidade de citações que dão corpo a esse décimo título carreriano. Deve-se ainda acrescer a presença do intratexto. Personagens de Maçã agreste invadem a trama e, então, se estabelece uma referência metaficcional: [...] Leonardo lembrou a Ísis um romance recifense, Maçã agreste, de onde saíram personagens para socorrê-los. Aonde lhes levaria a leitura de tantos romances e poemas, de modo que até personagens saíam das páginas para a vida, para a realidade? A verdade é que os personagens não estavam apenas nos romances, existiam de verdade. (p.27) A existência real é, portanto, estranhamente afirmada por meio de uma negação, já que Leonardo confirma mais uma vez a realidade de papel de Raquel e Alvarenga: “[...] pelo menos não eram personagens de romance estrangeiro. Era mais fácil de acontecer” (p.27). Marcelo Pereira ressalta que “recortes de jornais e também de revistas foram usados por Carrero durante o processo de preparação para escrever Somos pedras que se consomem [...]” (2009, p.40). E o escritor sertanejo faz questão de frisar, em entrevista para a matéria de Jacques Cerqueira, que seu décimo romance “é uma colagem de dois anos de pesquisa de fatos verídicos ocorridos no Brasil [...]”76. Logo, a intenção de ironicamente insistir na realidade das personagens de Maçã agreste tem paralelo com a mesma finalidade implícita na escolha da epígrafe, retirada da obra de John Fante, “Cada palavra deste livro é pura verdade”, para abrir Somos pedras: a arte não apenas imita a vida; a arte é a vida. Deve-se levar em conta, entretanto, que a personagem de Fante, Bandini, de Pergunte ao pó (publicado em 1939), é um aspirante a romancista que imagina esta sentença como resposta à fantasia de ter recebido o Prêmio Nobel: “O livro é baseado numa experiência real que me aconteceu uma noite em Los Angeles. Cada palavra deste livro é pura verdade. Eu vivi esse livro” (1984, p.30). Embora Bandini de fato escreva posteriormente um romance sobre uma mulher que conhecera, a dose de realidade na obra do autor americano é 76 CERQUEIRA, Jacques. À espera do Jabuti. Diário de Pernambuco, Recife, 19 jun. 1996, Caderno Viver, p. D1. infinitamente inferior à almejada por sua personagem. Bandini quer ter experiências que possa transformar em ficção, mas Fante, apesar de usar como tema o familiar drama do escritor, constrói um texto alicerçado em fluxo de consciência, no qual a imaginação, a fantasia tem peso preponderante. O mundo objetivo, portanto, interessa infinitamente menos do que o íntimo, o complexo universo subjetivo. A verdade em foco está na atordoante e por vezes incompreensível teia de contradições da mente. Carrero ter feito uso, como epígrafe, de uma frase imaginária sobre um fato também imaginário traz a mesma dose de ironia encontrada na afirmação da realidade das personagens de Maçã agreste (e, ao que parece, a mesma dose de ironia da obra de John Fante). O ficcionista sertanejo chega a citar trechos deste seu romance de 89. O atípico casal, Raquel e Alvarenga, surge na ficção quando a menina Biba, espancada por Siegfried, se atira da janela. Mais à frente, aparece Jeremias e o leitor é informado sobre o fim da seita “Os soldados da pátria por Cristo”. Ao contrário das demais personagens extraídas de Maçã agreste, que parecem soltas na trama, o falso profeta participa do sequestro da menina idealizado pelo alemão. Há ainda nova citação do romance de 89 contendo a justificativa de Raquel sobre a escolha de seu ofício como se a fala fosse agora endereçada a Siegfried (p.60). Em outra passagem, Ísis afirma ter acompanhado a história da seita de Jeremias pelos jornais, a morte de Ernesto e a acusação contra Dolores. Em seguida, mais um fragmento do romance sobre a prisão da mãe do falso profeta (p.86). Há até uma referência a Sofia, que agora está numa casa de repouso (p.102). Logo, embora de maneira tímida (e, por vezes, pouco articulada com o enredo de Somos pedras), o romance de 89 ganha uma continuidade na obra de 95. O mais curioso é que a reflexão de Biba sobre a presença de Jeremias, Raquel, Alvarenga e do cachorro Rubião – “não sabia o que eles estavam fazendo ali” (p.121) – parece satirizar essa inserção na trama das personagens de Maçã agreste, numa autocrítica em harmonia com os pressupostos pós-modernos. Outro trecho da perspectiva de Biba soa como ratificação dessa hipótese: “Raquel, Alvarenga, Jeremias; era como se não fizessem parte da casa no Beco da Facada” (p.177). Também merece destaque a transcrição na trama de dois contos atribuídos a Hermes Fonseca, “Blues em Agonia e Desejo” e “Madame Belinski”, que na verdade integram o livro As sombrias ruínas da alma (1999), de Raimundo Carrero. As personagens Siegfried e Madame Belinski do conto, no entanto, pouco se assemelham às de Somos pedras – o que provoca uma sensação de gratuidade na utilização do texto. Já “Blues em Agonia e Desejo”, que no título de 99 se chama apenas “Agonia e Desejo”, surge na narrativa como o predileto de Ísis, e esse apreço talvez se justifique pelo fato de que a protagonista Soluço com ela dialoga por conta do furor sexual que compartilham. O ficcionista sertanejo parece ter a intenção de promover sua obra, ao citar três textos de sua autoria no interior de Somos pedras que se consomem, ao mesmo tempo em que supostamente lamenta a pouca acolhida que até então tivera e revela sua ambição de atingir, sobretudo, a crítica, ao afirmar que Hermes Fonseca (em verdade, Raimundo Carrero) era “escritor secreto do Recife, apenas um escritor, nada mais do que um escritor, cuja obra ainda estava para ser revelada e estudada [...] Há escritores assim. Que se mantêm inéditos mesmo quando publicados” (p.169). Para além dessa profusão de relações intratextuais e intertextuais explícitas, citações sem indicação bibliográfica e referências implícitas invadem o romance. É impossível diante da crítica de Siegfried, por exemplo, – “e há quem ainda fale em flores, em rosas, em borboletas, em pastos silvestres, porra!, e em crepúsculos, porra! – não associá-la à perspectiva do escritor de “Intestino grosso”, de Rubem Fonseca: “Eu não tenho nada a ver com Guimarães Rosa, estou escrevendo sobre pessoas empilhadas na cidade enquanto os tecnocratas afiam o arame farpado” (1989, p.173). “Não dá mais pra Diadorim” (ib.) parece ser também, portanto, a tônica de Somos pedras que se consomem. A violência, a brutalidade mimetizada pela literatura, que inegavelmente tem uma pretensão social, de coibir a indiferença pelo choque, tomou conta de boa parcela da literatura brasileira contemporânea. Mas permanece a questão: essa escolha representa um ganho? Em comparação com os demais escritores latino-americanos, que optaram pela riqueza simbólica, metafórica, de textos “fantásticos”, qual seria a posição qualitativa das letras nacionais? Raimundo Carrero alcança neste décimo título algum equilíbrio no uso das citações em comparação com Viagem no ventre da baleia, em que elas surgem de modo um tanto inverossímil, em profusão, no interior de diálogos, e com Sinfonia para vagabundos, no qual a discussão sobre o fazer literário, repleta de referências, faz com que o enredo se atrofie. De qualquer modo, não há como negar que o excesso de fragmentos, ainda que bem melhor amarrados à trama, torna o texto extenuante. Contudo, deve-se acrescer que esse excesso contribui harmonicamente na criação desse turbilhão que é Somos pedras que se consomem. Marcelo Pereira destaca que a Folha de São Paulo, na nota em que recomenda As sombrias ruínas da alma, termina por fazer crítica ao romance de 95: “a trama escapa do cacoete da autorreferência literária (citações de Sylvia Plath, Updike, Mailer etc.), defeito de seu livro anterior [...]” (2009, p.42). O jornalista-biógrafo, entretanto, parece discordar dessa sentença quando afirma que o autor da nota deveria ter pouco conhecimento sobre “o passado e a repercussão que já tinha obtido a obra de Carrero” (ib.). Bem, quanto à repercussão, é evidente que o escritor sertanejo, pouco a pouco, foi se tornando mais conhecido do público e mais bem recebido pela crítica, embora a notoriedade da obra (e do próprio autor) ainda fosse tímida para além do espaço recifense. Somos pedras que se consomem, porém, foi considerado o “Melhor romance do ano” pela Associação Paulista de Críticos de Arte e ganhou a primeira edição do Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional, o que “ampliou as esperanças de chegar a um público leitor mais amplo” (Pereira, 2009, p.40). Também foi incluído “na lista dos dez melhores livros daquele ano pelo jornal O Globo e entre as dez melhores obras de ficção em seleção feita pelo Jornal do Brasil” (ib.). Marcelo Pereira observa ainda que nesse momento, começa-se a perceber um anacrônico interesse da imprensa do Sudeste e do Sul em tentar muito mais descobrir ou revelar quem é o Raimundo Carrero escritor do que se aventurar em análises críticas de sua obra, como se estivessem apresentando aos leitores um autor novato e estrangeiro – ou pelo menos estranho. Predominam, a partir de então, na imprensa, as reportagens e principalmente as entrevistas, nas quais Carrero surpreende com suas respostas desconcertantes e franqueza. (ib., p.41) Logo, a obra do autor pernambucano virou notícia, mas infelizmente foi pouco analisada – fato que se harmoniza com as irônicas palavras sobre Hermes Fonseca presentes em seu décimo título: “Há escritores assim. Que se mantêm inéditos mesmo quando publicados” (p.169). Jacques Cerqueira inicia a reportagem “À espera do Jabuti”, sobre Somos pedras, evidenciando a expectativa dos intelectuais de Pernambuco em relação à ficção carreriana: “Pela primeira vez na história do prêmio Jabuti – o maior concurso literário do País – um escritor nordestino e residente fora do eixo Rio-São Paulo tem chances reais de conquistar a estatueta”77. O décimo título de Carrero concorreu na categoria romance com mais 13 narrativas, mas perdeu para Quase memória, de Carlos Heitor Cony. O escritor teve de esperar um pouco mais, até 2000, para receber, então, finalmente esse prêmio pelo livro de contos As sombrias ruínas da alma (1999). Além das relações intratextuais e intertextuais, implícitas ou explícitas, com indicação referencial ou sem, é preciso ainda incluir as menções a fatos históricos. A questão do nazismo é frequentemente retomada ao longo de obra por conta do apreço de Siegfried, filho de um carrasco, pelos ideais hitlerianos que, de certo modo, funcionam como elementos impulsionadores das ações no romance: o alemão quer eliminar crianças que vivem nas ruas, 77 Op.cit. negros, portadores de deficiência. A obsessão pela eugenia e os preconceitos e crimes dela decorrentes, fundamentados ainda por uma relação com sadismo, abordada no tópico subsequente, povoam Somos pedras. Mas a principal e mais nítida referência histórica é a passeata pelo impeachment de Collor, fotografada pela personagem Ísis, que capta inúmeras imagens desse momento de efervescência política e social: Era a passeata convocada por todos os partidos políticos, em época de eleição para prefeito e vereadores, a fim de exigir a queda do presidente da República, envolvido em corrupção, isso não vai dar em nada, mas é bonito muito bonito, em bacanais, em drogas, em desvio de verbas, em arrocho salarial, grandissíssimo enganador, ela não queria pensar naquelas coisas, apenas nas fotos, só nas fotos [...], as luzes do Recife mudavam de cor, blocos de caras-pintadas cantando, fazendo alusão ao homem que se elegeu como símbolo da modernidade, levando o país ao Primeiro Mundo, atlético e elegante, correndo pelas ruas de Brasília todos os domingos, como numa missa campal, dizendo minha gente e era uma gente restrita e palaciana a que ele se dirigia [...] (p.67-8) Embora esta passagem esteja marcada pela desilusão e evidencie que a passeata não foi exatamente uma manifestação espontânea do povo, mas um movimento de articulação política, há uma dose de lirismo na multidão que se avoluma mais e mais, uma massa febril, para expulsar o homem que traiu a nação. Somos pedras que se consomem deixa escapar um resquício de esperança: Ísis lhe dissera, Léo, Leão, meu Leãozinho: foi a noite mais linda que já vi. A noite sobre o Recife, o horizonte alaranjado, as lâmpadas acesas nos postes, em cima uma calmaria de verão. E embaixo as cabeças do povo. As bandeiras. A Bandeira Nacional. As faixas. Aqueles meninos, os caraspintadas, pedindo a queda do presidente: a sinuosidade das ruas, os contornos dos edifícios, as cúpulas das igrejas. (p.78) Carrero colocou ponto final na obra em fevereiro de 1994 e só a publicou no ano seguinte, 1995. A mobilização popular pelo impeachment ocorreu em 1992 (em agosto deste ano “dezenas de milhares de pessoas fizeram passeata pelas ruas [...]” (Pilagallo, 2002, p.195), tempo em que, portanto, as ações se passam, embora não se deva esquecer a narrativa memorialista, obviamente anterior ao ano de 1992, sobre Siegfried e Nancy K. Todavia, Somos pedras não é romance histórico, até pela brevidade do relato dessa manifestação pública, mas pode ser considerado um “romance de extração histórica”, conforme proposta de Trouche ressaltada por Antônio R. Esteves (e já mencionada nesta pesquisa): Analisando a relação entre história e ficção no processo literário hispanoamericano, André Luiz Gonçalves Trouche (1997, 2006)78 defende a utilização da expressão “narrativas de extração histórica” para designar as diversas modalidades de narrativa que dialogam com a história. De uma parte, tais narrativas não se restringem ao âmbito do romance histórico propriamente dito. De outra, tampouco estão circunscritas ao que Linda Hutcheon (1991), aludindo à pós-modernidade e considerando basicamente a produção narrativa do chamado primeiro mundo, denomina metaficção historiográfica. Trata-se, como se nota, de um paradigma mais amplo, com condições de abranger “o conjunto de narrativas que se constroem e se nutrem do material histórico” (2010, p.232). Para Ignácio de Loyola Brandão, que escreveu a orelha desse décimo título carreriano, Somos pedras é um romance com “muito Brasil, pé no chão, gente que conhecemos, personagens desagradáveis da nossa história, como aquele presidente expulso pelos caras pintadas, e a morte das ideologias [...]”. Também Carrero faz questão de frisar que este “é um livro sobre a violência nacional”79. Essa tentativa de captação do real se dá, portanto, por diferentes modos: pela relação que se estabelece entre a narrativa e os fatos jornalísticos, pela incorporação de episódio histórico e até mesmo pela inclusão de referências cinematográficas e literárias. É preciso acrescer ainda a esta lista as descrições das ruas e cidades pelas quais transitam os personagens. Carrero sai do sertão dos seus primeiros títulos para ocupar o espaço urbano e, agora, não apenas as vias e praças do Recife, mas o Rio (para onde vão inicialmente Siegfried e Nancy K), a Alemanha (país em que nasceu o assassino hitlerista) e várias urbes americanas pelas quais passou o casal criminoso antes de se instalar no Brasil. Essa ampliação espacial, possivelmente impulsionada pela experiência do escritor em Iowa, talvez represente um desejo de projetar a obra em nível nacional e internacional. Mas, literariamente, quer significar, sem dúvida, nessa elaboração de universos paralelos, que o ser humano onde quer que esteja é o mesmo; que o extermínio de crianças no Recife, por exemplo, tem a mesma raiz do genocídio judeu, bem traduzida na proposição retomada por Bataille ao se referir à filosofia sadiana: “Todo homem tem em seu coração um porco que dorme” (2004, p.288), com a ressalva de que os porcos em Somos pedras estão despertos. Enfim, esse esforço diversificado de captação do real numa potência elevada tem como intuito evidenciar a violência social, urbana, política, sexual, relacionada no romance, 78 TROUCHE, A.L.G. A relação entre a história e a ficção no processo literário hispano-americano. Rio de Janeiro, 1997. Tese (Doutorado) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro; _____. América: história e ficção. Niterói: Ed. UFF, 2006. 79 CERQUEIRA, Jacques. À espera do Jabuti. Diário de Pernambuco, Recife, 19 jun. 1996, Caderno Viver, p. D1 sobretudo, a uma postura nazista e sádica. Esse paralelismo espacial gera um paralelismo temporal: não apenas os homens de todos os lugares, mas também o de todos os tempos (tempo de Hitler ou de Collor) é o mesmo. O universo de Carrero é o do giro veloz; da crença permanente de que “a marca registrada do mundo é a traição” (p.35). Curiosamente, as personagens carrerianas costumam fundar e liderar seitas, sociedades secretas. Judas (Viagem no ventre da baleia), na infância, criara a “Venerável Sociedade Secreta da Castanha” e, na juventude, liderou o “MR-13 de janeiro”. Jeremias e o menino Ernesto Cavalcante do Rego (Maçã agreste) são respectivamente os fundadores dos “Soldados da Pátria por Cristo” e da “Ordem da Lagartixa com Asas sob o Sol de Estrela”. Em Somos pedras que se consomem, Ísis dá origem a “Wild Woman”, “Mulheres Selvagens” – misto de loja e casta libertina – e Siegfried sonha em criar “uma sociedade secreta em Pernambuco, sob o símbolo da Cruz, do Fogo e da Cinza, para queimar negros e homens subservientes” (p.140). Independente do teor de cada “seita”, essas personagens compartilham sede de poder, de domínio – tema caro à obra carreriana desde sua estreia com a despótica Bernarda Soledade – seja ele social, político ou sexual. Outra questão é a escolha de nomes, que se harmonizam com as personagens e, portanto, oferecem mais um índice sobre as personalidades, ou que a elas se contrapõem ironicamente. De um modo ou de outro, os antropônimos dos romances de Carrero quase sempre funcionam como significantes repletos de significados que iluminam a obra. Siegfried, por exemplo, é composto pelos substantivos sieg, “vitória, triunfo”, (Tochtrop, 1996, p.486) e frie’de, “paz, tranqüilidade, sossego” (ib. p.235). Obviamente, a acepção combinatória “vitória da paz” faz contraponto ao indivíduo cruel, sádico e nazista, que empunha a bandeira do caos e do horror. Leonardo é nome de origem alemã e significa “valente como um leão” (Oliver, 2005, p.222). Tem, portanto, também um viés satírico, já que a personagem, com comportamento infantilizado, vive às voltas com brinquedos e é a única que experimenta alguma dose de piedade pelas vítimas diante dos assassinatos brutais cometidos por Joaquim e Jeremias. Já o significado de Ísis (do egípcio “Ast, ‘deusa suprema’” (Obata, 2002, p.110)), “nasci de mim mesma, não procedo de ninguém” (Oliver, 2005, p.424), se amolda com perfeição a esta mulher dominadora e selvagem. Deve-se acrescer que, no simbolismo, ela é “a Natureza personificada” (ib., p.424). Em Somos pedras, talvez essa personificação se refira, sobretudo, à natureza humana e suas destrutivas pulsões. Essa deusa egípcia era associada ainda “com serpentes e com a cor vermelha” (Del Debbio, 2008, p.332) – imagem apropriada para caracterizar a luxuriante libertina carreriana. Nanci, do inglês Nancy, é forma familiar de Ana, do hebraico Hannah, e denota a “benéfica, que tem compaixão” (Obata, 2002, p.27), sentido que indubitavelmente destoa da criminosa amante de Siegfried, capaz de matar friamente filha e mãe. Por fim, Biba, espécie de alcunha, embora não possua nenhuma acepção dicionarizada, expressa fragilidade. Ou, neste caso, seria uma característica da personagem que deu significado ao nome? 9.1.1 Devorados pela esfinge Além de todos os traços estruturais até aqui apresentados, resta mencionar o enigma aparentemente indecifrável de Somos pedras que se consomem. De acordo com a indicação do autor no início da obra, o livro pode ser lido de três maneiras: 1) Seguindo-se a leitura linear, da primeira à última página. 2) Acompanhando os capítulos centrais e observando-se as chamadas numéricas. 3) Lendo-se apenas os capítulos centrais, sem qualquer preocupação com as chamadas, e depois as partes denominadas Tom Sobre Tom ou inversamente. De qualquer modo serão mantidos o clima e a densidade da história. Obviamente, a opção número um não apresenta nenhum grau de dificuldade. Com relação à alternativa número três, há um pequeno obstáculo: definir o que o escritor sertanejo chama de “capítulos centrais”, já que a primeira parte da obra (I – A alma é quarto crescente) comporta seis subdivisões (I ao IV), entremeadas a três “Tom sobre tom”, e a segunda parte (II- Estrada para o inferno) abarca outras seis ramificações (VII ao XII) também intercaladas a outros três “Tom sobre tom”. Os capítulos IV e VII, respectivamente o que fecha a primeira parte e o que abre a segunda, seriam os centrais? Ou o escritor se refere aos centros da primeira parte (capítulos III e IV) e da segunda (capítulos IX e X)? Todavia, de uma maneira ou de outra, a alternativa três parece sugerir a leitura não integral do romance, já que a orientação restringe a leitura aos “Tom sobre tom” e aos tais enigmáticos “capítulos centrais”. Há ainda uma última possibilidade: esses “capítulos centrais” corresponderiam a todo o restante do romance para além dos tópicos “Tom sobre tom”? Bem, apesar da dificuldade de definição, o fato é que esses “Tom sobre tom” equivalem a episódios fragmentados, não-lineares, que não perderiam o sentido em qualquer posição que ocupassem na narrativa. O primeiro se refere à tentativa de suicídio de Biba após ser espancada por Siegfried e a repercussão desse fato na vida das demais personagens. Onde quer que o trecho fosse inserido na trama não causaria nenhum problema de leitura. O “Tom sobre tom” seguinte comporta, grosso modo, a perspectiva de Siegfried sobre o estupro de Biba, parte de sua história pregressa com Nancy K, o retorno da menina prostituta para casa no Beco da Facada, a captação de Leonardo e Jeremias para integrar o grupo criminoso e a prisão de Joaquim. Como não há nenhuma linearidade nos episódios narrados (o leitor ainda não sabe, por exemplo, o que levou Joaquim ao cárcere), novamente não existiria problema em inverter a ordenação da leitura, ou seja, essa passagem poderia também ocupar qualquer espaço no romance. Apenas no último “Tom sobre Tom” da primeira parte, pela perspectiva de Leonardo, sabe-se que Joaquim queimou uma criança. O tópico comporta as memórias da personagem sobre a relação incestuosa com a irmã, sobre o que lhe dissera Ísis a respeito da passeata e um diálogo com Biba. Em seguida o foco recai sobre Siegfried, que faz sexo com Ísis, e sobre Ísis, que além de tentar compreender o interesse do alemão pela foto da velha, rememora o passado das personagens de Maça agreste. O tópico termina com a indecifrável “roda do enigma”, dois círculos cortados por setas em que aparecem os números 55, 56, 4 (Força), 59, 14 (Êxtase), 57, 58. Na segunda parte, o primeiro “Tom sobre tom” abre com o olhar de Biba sobre Siegfried, que é substituído pelo diálogo do alemão com Ísis após a publicação da foto da velha nos jornais. Em seguida, há o relato do “estupro” de Ísis por Siegfried ouvido por Biba e a tentativa da irmã de Leonardo de matar o alemão. O tópico compreende ainda novo trecho de rememoração sobre Nancy K e a conversa entre as personagens a respeito das investigações sobre a criança assassinada por Joaquim. No segundo “Tom sobre tom”, Siegfried mais uma vez relembra sua história com Nancy K, Ísis cria e explica a seita das Mulheres Selvagens e Biba vive o sonho e a desventura de ser cigana. No último “Tom sobre tom”, que encerra a obra, há, além do destino das personagens, a transcrição dos contos, de Hermes Fonseca, “Blues em Agonia e Desejo” e “Madame Belinski”. Logo, um fator primordial possibilita a inversão da ordem de leitura: não há, com relação a nenhuma das pequenas histórias que compõem a narrativa, linearidade; elas são compostas de múltiplos fragmentos sem ordenação temporal. Deve-se ainda atentar que os tópicos se chamam “Tom sobre tom” exatamente porque alternam perspectivas, tons. Apesar de ser narrado na terceira pessoa, o narrador cede frequentemente a voz às demais personagens e o texto se transforma numa colagem de monólogos interiores. Carrero retoma, mais uma vez em sua obra, os episódios sob pontos de vista diversos e a narrativa fica, então, girando incessantemente em um ritmo alucinante. Não se pode negar que a proposta é ousada e interessante, apesar de confusa. Agora, a sugestão dois, ler “acompanhando os capítulos centrais e observando-se as chamadas numéricas” parece indecifrável enigma, já que, além da dificuldade de definição sobre quais seriam esses capítulos, essas chamadas numéricas formam compostos aparentemente incompreensíveis, tais como o que abre o tópico “Sedentos, aventureiros, sagrados” (p.169): 96 / (9-3) 6= 96 / 6 (+3) 9 = 69. Marcelo Pereira, em entrevista para A fragmentação do humano, pergunta a Carrero se ele acha que o leitor embarcou na proposta de várias leituras do romance. Ele responde: “Há vários tipos de leitores. Alguns, sim, acompanharam o meu roteiro; outros, não. Mas é assim. Depois de publicada o leitor faz o que quer com a obra” (2009, p.89). Bem, no material reunido por esta pesquisa, nenhuma reportagem ou nota menciona a questão dos números no décimo título do escritor sertanejo. Ao que parece, dificilmente restou, ao final da narrativa, leitor ou crítico que não tenha sido devorado pela esfinge carreriana diante de seu supostamente indecifrável enigma numérico. Vale ressaltar ainda, quanto à estrutura da obra, para além do já apontado, a intercalação de diálogo, monólogo e voz do narrador, em blocos sólidos, sem parágrafos, conferindo velocidade à narrativa, a exemplo do que ocorre no capítulo VI – “O tempo do homem político” (p.72-76). O redemunho em Somos pedras que se consomem se dá nos níveis temporal, porque acompanha as rememorações e as reflexões de cada uma das personagens de modo ziguezagueado, retomando os mesmos episódios sob novas perspectivas, e espacial, ao abarcar e intercalar inúmeras localidades que surgem e ressurgem na narrativa. O movimento espiralado também ganha corpo e velocidade no uso múltiplo de relações intertextuais e intratextuais (com a retomada de Maçã agreste e de contos de As sombrias ruínas da alma), na multiplicidade de vozes narrativas, na inserção de episódios de extração histórica, no jogo paralelístico entre sadismo e nazismo e, inclusive, na diversificada proposta de leitura. Sexo, literatura, drogas, violência se fundem nessa “centrífuga desesperada e agoniante”, expressão feliz de Ignácio de Loyola Brandão utilizada para iluminar o décimo título carreriano. Raimundo Carrero permanece, com esse romance de múltiplas referências, nas teias das propostas literárias pós-modernas, nas quais o discurso é “encenado no espaço do interdiscurso discursivo” (2003, p.20), conclusão a que chega Terezinha Barbieri ao analisar a ficção brasileira das décadas de 80 e 90. Se por um ângulo, essa multiplicidade discursiva é exagerada e torna o romance um tanto extenuante, por outro, é inegável que nenhuma análise, por mais ambiciosa que fosse, conseguiria abarcar a riqueza referencial, explícita e implícita, de Somos pedras que se consomem. 9.2 Prazer e dor: corpos que se consomem Me ofende como o mundo ofende a Deus. (Carrero, 2001, p.161) Somos pedras que se consomem, décimo título de Raimundo Carrero e o oitavo, analisado por esta pesquisa, é a quarta trama carreriana que aborda o tema do incesto. Em Bernarda Soledade, a tigre e o tio Anrique “duelam” no curral: o sexo representa para ambos, domadores de cavalos selvagens, a luta por poder. Apesar do intenso jogo erótico acentuado pelas inúmeras referências animalescas, há uma polidez textual, sem uso de termos ou expressões chulas. E ambas as personagens não carregam o peso da culpabilidade que atravessa a relação entre Mariana e Agamenon, de As sementes do sol. Nesta obra, que retoma o episódio bíblico do fratricida Absalão, o incesto está, indubitavelmente, atrelado à sequência interdição-desejo-transgressão-culpa. Já em Maçã agreste, Ernesto e Raquel, pai e filha, experimentam apenas prazer, levemente censurado, mas tolerado, pelo irmão Jeremias que a chama de “a Grande Puta”. Aqui se identifica talvez o embrião de uma nova linguagem e de outro modo de abordar a temática dos relacionamentos consanguíneos. Os irmãos, Ísis e Leonardo, de Somos pedras que se consomem, não fazem sexo uma vez ou algumas poucas vezes; o caso incestuoso não configura um episódio isolado na trama, portanto. Eles são um casal (sem contrato de fidelidade) que, com a chegada do alemão Siegfried, passa a compor um triângulo amoroso. Ao final da trama, Melissa, antiga amante de Ísis, entra em cena para integrar definitivamente a pequena sociedade libertina. Ela relembra o dia do encontro luxurioso com os irmãos: [...] Ísis levou-a para o quarto de Leonardo, Leo, Leãozinho, lhe dissera... – ...Vou fazer uma coisa extraordinariamente excitante... Melissa sentou-se na cadeira para ver os dois se amando, trepando, mordendo-se, tirando as roupas, Melissa nunca desejou tanto ter um irmão [...] (p.163). Não há mais resquício de censura – o que possivelmente denota o ápice da deterioração moral das personagens carrerianas: Leonardo inicialmente limita-se apenas a pensar “se era justo tramar a posse da irmã” (p.14) e, após o ato, pensa em suicídio (p.29), embora não esteja explícito se esse desejo de morte é fruto da culpa pelo incesto. A polidez da linguagem se desfaz e uma profusão de vocábulos de baixo calão invade o romance. Paralelamente, há ainda um possível desejo incestuoso nutrido pela mãe: ela gostava “[...] dos carinhos que oferecia ao filho, não muito à filha...” (p.18). E, em outra passagem: “Elas [Ísis e a mãe] conversavam pouco, muito pouco, talvez tivessem ciúme de Leonardo [...]” (p.19). Ele, por outro lado, não mantinha nenhum tipo de relacionamento sexual com sua progenitora, não por considerar moralmente indigno, mas porque a mulher lhe inspirava asco: Nunca quis, Leonardo nunca quis comer a mãe. Era possível, com certo esforço, comer todas as mulheres do mundo. Com exceção da mãe. Ela cheirava a urina, suor e uísque. Talvez não merecesse sequer uma mera punhetinha. (p.31) O círculo familiar fechado, tão próprio de Carrero, sofre um desmembramento. A primeira família da trama é composta por mãe e irmãos (o pai, que morrera de câncer, é apenas mencionado de modo fugaz). Mas um segundo núcleo social dá lugar ao primeiro: Siegfried, Leonardo, Ísis, Biba e as personagens retomadas de Maçã agreste, Jeremias, Raquel e Alvarenga, constituem uma nova casta, composta por indivíduos, criminosos e/ou cúmplices, atrelados por vínculos de violência. Vale ressaltar que parece haver uma correlação implícita entre essa primeira família e a do conto “Passeio Noturno I”, de Rubem Fonseca. A matriarca fonsequiana, assim como a de Somos pedras, bebe uísque e fica prostrada no sofá assistindo a novelas (“Cheguei em casa [...] Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa de cabeceira [...]” (Fonseca, 1989, p.61)). Ambos os casais de classe média têm dois filhos, um rapaz e uma moça. E todos os dias, assim como o marido de “Passeio Noturno I”, o pai de Ísis sai de casa à noite para dar uma volta misteriosa: [...] quando a novela terminava, era hora de ele sair... – Vou ali, filhinha, volto logo, bem-vestido, corretamente vestido, sapatos engraxados, não tinha vícios, nem bebidas nem cigarros, talvez tivesse amantes, ninguém nunca conseguiu provar, mesmo depois que Ísis aprendeu a manejar a máquina fotográfica e ia persegui-lo pelas calçadas, ele passeava na noite, ela na espreita, acompanhando-o à distância, até que desaparecia, um mistério de desaparecimento [...] (p.19). Não é possível afirmar categoricamente que o ficcionista sertanejo intencionou criar o intertexto. Os elementos comuns podem ser fruto de mera coincidência, apesar de a influência da prosa do autor carioca em Somos pedras ser indiscutivelmente mais nítida. Em Erotismo na literatura, Afrânio Coutinho, ao defender a obra de Rubem Fonseca e, sobretudo sua linguagem literária, por vezes obscena, afirma que ele expõe em suas narrativas casos que poderiam ser retirados do fait-divers dos jornais de todo dia. Casos de violência sexual, sedução, assassinatos, roubos, assaltos, exploração de menores, traficância de tóxicos, violências de toda a sorte [...] (1979, p.27). Dezesseis anos depois, seria possível dizer o mesmo de Somos pedras que se consomem, ainda com mais propriedade porque Carrero transcreve no romance matérias jornalísticas que aparentemente lhe serviram de inspiração. Vale ressaltar ainda que, por conta do suicídio da velha (mãe do candidato), o começo do romance Agosto chega a ser relembrado por Leonardo: A morte se consumou numa descarga de gozo e de delírio, expelindo resíduos excrementícios e glandulares – esperma, saliva, urina e fezes. Afastou-se, com asco, do corpo sem vida sobre a cama ao sentir seu próprio corpo poluído pelas imundícies expulsas da carne agônica do outro. (p.131) E o que é este décimo título carreriano senão um exemplar dessa literatura do excremento? Na quarta capa do romance, Ignácio de Loyola Brandão atenta para o fato de que o romance do escritor sertanejo está repleto dos cheiros, dentre outros, de “esperma”, “lixo” e “suor”. Em Literatura e violência, Ronaldo Lima Lins verifica a mudança que se opera no íntimo da produção artística nacional e deixa entrever, ainda, o anseio literário de mimetização da realidade: A clareza de propósito permite que a nossa época introduza, no círculo da criação, imagens, palavras, personagens e situações considerados até então excluídos da esfera estética [...]. Pessoas “sensíveis” para as quais a realidade e os excrementos devem permanecer na medida do possível escondidos e silenciados, fecham os olhos, criam sua própria “produção” assistível e agradável, pintando como desejam o que gostam de ver, mas não podem negar que a realidade e os excrementos se espalham por toda a parte e contam a verdadeira história do mundo e do nosso tempo. (1990, p.26) Mas, tornando ao conto após essa proposital digressão, se houve o intento de estabelecer um diálogo com “Passeio Noturno I”, é possível que Carrero quisesse trazer para a sua família ficcional, pelo jogo entre textos, uma característica da família fonsequiana: seus integrantes são estranhos sob o mesmo teto, sem laços positivos de afetividade. Além do incesto, Somos pedras está repleto de relações sádicas e, a princípio, masoquistas, em âmbito não apenas sexual, mas também (e talvez sobretudo) social. De acordo como comumente se comporta a literatura carreriana, as esferas se sobrepõem. Assim, ao trazer para a trama uma personagem alemã, com apreço pelo nazismo, o escritor pernambucano termina por incluir mais uma camada aparentemente sincrônica: Hitler e Sade se correlacionam assim como a cidade do Recife, o Brasil e o mundo. Somos pedras que se consomem, mescla de sexo e violência fusionados, foi tecido ainda a partir de retalhos literários que quase sempre compartilham essa mesma dupla e simbiótica temática. Quando Leonardo supõe que Siegfried, por quase não ter sotaque, na verdade, era um “alemão de Santa Catarina, do Paraná ou do Rio Grande do Sul” (p.15), Carrero parece lançar pista: aqui e lá, todos iguais. Há duas tramas envolvendo Siegfried. No presente, ele se encontra na cidade do Recife e tem como principais companheiros os irmãos Leonardo e Ísis. Ao primeiro, ele ensinou “a matar meninos” (p.58), por dinheiro e por prazer (“Siegfried tinha iniciado a matança por conta própria, porque tinha ódio a negros e aleijados” (p.47)). Passam a integrar, então, “um grupo de extermínio de meninos e mulheres” (p.37), encoberto pelo policial Joaquim. Não se preocupavam porque “[...] aquilo era comum, acontecia todos os dias, não apenas no Recife. Ou em São Paulo. Ou no Rio de Janeiro. Meninos mortos, meninos estuprados, meninos violentados” (p.44). Os três raptam ainda uma criança à qual Joaquim ateia fogo e crava uma estaca no coração, “só por maldade” (p.77). Após o assassinato, vão jantar. Mais tarde Siegfried convence Jeremias (personagem de Maçã agreste), que já prostituíra muitas meninas na finada seita “Soldados da Pátria por Cristo”, a participar dos crimes. Siegfried pretendia assassinar “meninos”, “meninas”, “aleijados”, “deficientes”, “negros” e “prostitutas” (p.60): “ele seria a mão branca que se encarregaria de limpar a raça brasileira” (ib.), “tratava-se de uma depuração da raça brasileira” (p.63). Do sequestro, tramado pelo alemão não por dinheiro, mas por perversidade (p.101), participam Ísis, Leonardo e Jeremias. Entretanto, o louco profeta, após se aborrecer com uma cena de lesbianismo no filme Coração deserto a que assistia, “pega uma chave de fenda e, por uma, duas, três vezes enterra-a na menina esparramando sangue pelo chão [...]” (p.105). Ele relembra ainda a fralda ensanguentada (“que mistério tinha aquela fralda ensangüentada” (p.128)) – possível indício de estupro. Vale ressaltar que a personagem Leonardo tem algo de infantil, passando boa parte do tempo em meio a brinquedos, e, embora costumasse matar crianças a tiros, demonstra algum incômodo com o excesso de brutalidade dos demais companheiros. Com Ísis, Siegfried tem um relacionamento sexual que, ao correr da narrativa, se torna mais e mais violento. Na festa aristocrática em que se conheceram, “ela o conduziu a um canto mais escuro, colocou-o de encontro à parede, suspendeu a minissaia, curtíssima e apertadíssima, prendeu a calcinha num alfinete e foi ali mesmo [...]” (p.18). Num segundo ato libidinoso, Isís, bêbada, se deixa possuir pelo alemão. Mesmo após o gozo, ela, fedendo a vômito, bebida e suor, não para. Ele, extenuado, tenta se livrar da mulher que, então, o humilha: “Grande merda que você é. Tem um caralho entre as pernas e ele agora está mole” (p.85). Ísis, portanto, derrota o alemão: “com o corpo, com o suor, com o sexo. [...] Os machões são cretinos. Vencidos, se dizem vencedores” (p.88). E, antes de sequestrarem a menina, ela, para relaxar, o incita à cópula, supostamente anal tendo em vista o poema de Adélia Prado recitado por ambos em que a frase “cu é lindo” se repete. Ao final, suor e esperma se misturam ao vômito de ambos: “ele limpou o rosto com o lenço, ela também se limpou, parecia mesmo que haviam vomitado merda e mijo, suor e sangue [...]” (p.98). A intensidade da passagem se acentua ainda mais por seu teor profano: Ísis está vestida de freira. Em seguida, ocorre uma espécie de estupro consentido, se for possível aceitar a contradição de termos: Ísis queria pedir que fosse mais lentamente. Não teve tempo. Como um animal olhou para trás. E ele estava ali exibindo o pênis sujo de sangue. Ela querendo dizer: nunca mais faça isso comigo. Estou exausta de prazer. Nunca ninguém me provocou tanto êxtase (p.114). Ela, então, conclui que “o sexo tem que ser violento. Violento e grotesco” (p.115). Todavia, atira no alemão. A bala atinge a parede e Biba vê “nos olhos de Siegfried o perdão, e nos de Ísis, o arrependimento” (p.117). Ele, “frio e perdoando. Ainda na fumaça da bala, perdoando” (p.118). Essa é uma das poucas passagens de Somos pedras em que Carrero extrai lirismo da violência, umidificando a secura da linguagem ou – poder-se-ia dizer – dá espaço ao belo ainda que em meio ao excremento. No mais, Leonardo, por conta do enterro da velha que se suicidara após ter sua foto, com a calcinha à mostra, clicada por Ísis, roubada por Siegfried e publicada no jornal, lembra trecho do romance Agá, de Hermilo Borba Filho: “o personagem, “Eu, Ditador”, colocava um vidro imenso no rosto e mandava a amante cagar, só para ele ver o cu se abrindo e a merda saindo, espojando-se em gozo, orgasmo [...]” (p.131). Para ele, “o corpo da velha dependurada na corda, jogava para o mundo, o mundo que ficava desastrado e torto, todas as nojentezas que uma pessoa pode carregar nas entranhas, no sangue, em suas veias” (p.131). Por fim, Ísis cria o “símbolo das mulheres selvagens” (p.141). A seita representaria “o domínio das mulheres sobre a terra. A vontade e a determinação das parideiras” (p.141). Siegfried e Leonardo seriam os guardiões. Os dois “w” da insígnia são as iniciais de “Wild Woman”. O alemão acresce uma cruz no centro para significar “que pela cruz as Mulheres Selvagens se unem aos homens por cima e por baixo, pelos extremos e pelos opostos, pelos pontos cardeais que são a orientação do mundo” (p.142). Ela monta, então, a loja M&S “com aparelhos de sofrimento e de alegria”. Melissa se une ao grupo para integrar a seita libertina, sádica (ou sadomasoquista?), na qual a dor é fonte inesgotável de prazer. Para Ísis, “o que interessa é o amor, o amor mais cruel, o amor mais selvagem, o amor mais animalesco, que é para que foram criados os corpos, não só para comer, cagar, mijar [...]” (p.160). Paralelamente, corre a narrativa em que Siegfried rememora seu relacionamento com Nancy K. O alemão, que sempre desejou ser um criminoso, nasceu em Nüremberg, mas, antes de se estabelecer no Recife, viveu em Mayflower, Chicago e, depois, no Rio de Janeiro (de modo não linear, o romance percorre esses e outros espaços. A literatura carreriana, portanto, amplia seus horizontes: do sertão não apenas para o espaço urbano, mas para o mundo. Não há dúvida de que a experiência do escritor em Iowa contribuiu para essa abertura espacial). A amante de Siegfried “matou a mãe e a filha simulando incêndio na casa onde viviam, fugiu para o Brasil em busca de drogas, sexo e festa [...]” (p.37). Após ela ser presa na cidade carioca, o alemão partiu para Pernambuco. Eles sempre compartilharam o desejo de serem “Bonnie and Clyde” (p.39); de viver “esperando a bala explodindo o coração” (ib.). Ambos não são apenas criminosos, mas cultivam também o gosto pelo relacionamento sádico – o que mais uma vez comprova a intenção do ficcionista de sobrepor o crime na esfera social ao sadismo sexual. Após desvirginá-la, Siegfried, [...] teve ímpeto de espancá-la, tanta beleza não se suporta, um tapa, outro tapa, um murro, sentou-se, controlando-se, outro gole, outros goles, Nancy por que você não veste uma roupa, parece prostituta, esmurrá-la no sono, acordá-la a pontapés [...] (p.43-4). Mais tarde, torna-se seu cafetão e eles assaltam juntos. Ela experimenta enorme prazer: “–...Mais forte, mais forte, me abraça, foi bom, não foi?, foi muito bom...” (p.100). De acordo com Siegfried, Nancy também apanhava, levava murros, e cada vez ficava mais excitada. A excitação em Nancy era algo que brotava em qualquer lugar. Bastava olhar um homem ou pensar num homem ou sonhar com um homem e já estava excitada, prontinha para amar (p.118) Sobre o pai de Siegfried, é interessante frisar que se chamava Otto (possível referência a Otto Abetz, embaixador da Alemanha nazista, ou a Otto Günsche, braço direito de Hitler). Ele “estivera na Segunda Guerra e morreu de arrependimento, de puro arrependimento, de remorso, pensou em chamar Siegfried de Adolf, desistiu [...]” (p.39). O filho lamenta não ter conhecido pessoalmente Mengele, o anjo da morte dos campos de concentração que viveu no Brasil, e espera encontrar no país outros carrascos nazistas (p.55). Lastima a morte do médico porque com ele poderia nascer no Brasil “o quarto império nazista” (p.58). Também se aborrece por não ter conhecido Wagner, “o seboso carrasco de Sobibor” que se estabeleceu em São Paulo, após a guerra. E é um homem frustrado por “não repetir a trajetória brilhante sádica do pai” (p.136). Ao lembrar de Nancy K, Siegfried menciona a relação entre Hitler e Eva Braum: “[...] Hitler deixando-se espancar pela amante. E era tão feliz que gozava e cagava. O grande temor da terra cagando de gozo” (p.63). Para Ísis, o alemão era “filho de nazista, também ele um nazista. Sádico, invejoso, traidor. Canalha” (p.88). Em outra passagem, confirma-se que Siegfried “tinha a determinação do pai, do carrasco, do nazista, de Mengele, de Wagner, de Rudolf. Até carregava na carteira um retrato do pai, a farda SS, um homem de queixo duro e olhar gelado” (p.109). A prostituta Biba é a única personagem que se mantém à margem dos crimes praticados ao longo da trama. No entanto, ela é submissa a Leonardo (“uma cadela de guarda” (p.90)) e, após comportamento de teor voyerista – com pedido de licença para uso deturpado do termo, porque na verdade não via, apenas ouvia – anseia integrar a cena libertina entre Ísis e Siegfried: “bem que tivera vontade de entrar, ou pedir para entrar, no quarto. Ser possuída por Siegfried. Possuir Siegfried. Ser possuída por Ísis. Possuir Ísis” (p.115). Também não se pode esquecer que Biba, como Madame Belinski, engana turistas. Mas ainda paira sobre a menina alguma ingenuidade e Carrero dedica a essa puta manca algumas doses de lirismo. Ela é espancada por Siegfried e atira-se da janela do andar superior de um bar na zona boêmia do Recife. O alemão, com a conivência de uma enfermeira com a qual faz sexo, entra no quarto e estupra a menina em coma. Em sua perspectiva, “as mulheres, seres estranhos e indecifráveis, gostavam de ser amadas, violentadas, estupradas... qualquer tipo de violência fazia muito bem às mulheres...” (p.51). A ideia de culpabilidade da vítima já presente em Maça agreste (“a vítima é que é o monstro” (Carrero, 1989, p.222)) é retomada em Somos pedras. De acordo com Siegfried, “São as mulheres, são as mulheres que pedem. Até imploram. As vítimas chamam os estupradores” (p.52). Quando sai do hospital, Biba retorna à casa, manca e doente, sem “poder escolher homens” (p.77). Para o alemão, ela “era agora uma mulher imprestável, Devia ser morta. Assassinada. Queimada” (ib.). Ela conta sua história a Leonardo: a vida sexual se iniciou com uma mulher, amiga da mãe. Aos quinze anos, Biba a ameaçou com uma gilete, fugiu de casa e se prostituiu. Ao contrário de Raquel, que fez uma escolha, a menina pertence à galeria de prostitutas da literatura brasileira que foram levadas ao meretrício pela vileza dos que a cercam. Ela queria abandonar o ofício, por isso sonha em se tornar cigana, e “sentia necessidade de rezar” (p.120): “Queria rezar um salmo. Um salmo leve, quieto, transparente. Mas não sabia. Não saberia nunca. Agora só lhe restava ser cigana. Conhecer segredos e mistérios. Transformar-se num ser translúcido” (p.122). Leonardo reflete sobre ela: Biba não seria capaz de tramar morte contra ninguém, tramar escândalo, que o que ela gostava mesmo era de sonhar, às vezes abrindo as pernas para homens e sonhando, esquecia até o que estava fazendo, não gemia, não suspirava, os olhos presos no teto enquanto o homem resfolegava e ela sonhando com as ciganas [...] (p.123) Após ser expulsa da casa no Beco da Facada, com o intuito de fazer da aspiração de ser cigana realidade, torna-se uma “máquina de foder” (p.145). Entretanto, como Madame Belinski, mantém o ofício de prostituta, “para ajudar nas despesas” (p.146). Ela, agora, sonha com a própria morte e teme seu suposto poder de adivinhadora do futuro. O pesadelo se concretiza porque Siegfried pichara as igrejas para que os ciganos fossem culpados; para “ver Biba presa, presa e espancada” (p.179). A menina é chicoteada na rua e expulsa da casa de Deus pelo padre: “não era mais do que uma cadela. E ela sabia disso. Se lembrava” (p.182). Ao final de Somos pedras, Ísis lê para Melissa o conto que diz pertencer a Hermes Fonseca, intitulado “Madame Beliski”, transcrito na narrativa. Curiosamente, esse conto, assim como “Blues em Agonia e Desejo”, também inserido na ficção, integra a obra As sombrias ruínas da alma, de Raimundo Carrero, publicada em 1999, embora se saiba que o autor recupera alguns antigos textos inéditos para compô-la. Mais estranho é o fato de que, ao término do romance, há uma lista de referências bibliográficas em que consta o título de Hermes Fonseca, Blues & Canções, Editora Quaderna, Recife, Pernambuco (p.189). Restam as perguntas: Hermes Fonseca existe? Ele é o autor dos contos? Se é, porque eles fazem parte de As sombrias ruínas da alma? Ou Hermes Fonseca, “escritor secreto do Recife, apenas um escritor, nada mais do que um escritor, cuja obra ainda estava para ser revelada e estudada” (p.169), seria um pseudônimo de Carrero? Todavia, o que interessa aqui é: Madame Belinski e Siegfried estão também lá na segunda historieta intertextual. Mas não são os mesmos. O estrangeiro tem “olhos piedosos” (p.184) e ambos travam um jogo de sedução que contrasta com a brutalidade dos guardas que matam a pauladas cães ensacados. Portanto, o diálogo entre as duas narrativas se dá apenas (e ainda) por conta da relação entre sexo e violência. Com relação ao outro conto, “Blues em Agonia e Desejo”, o predileto de Ísis, a menina Soluço, que “nem abriu os olhos direito já estava gostando de homem, o sangue fervendo de desejo” (p.171) parece pertencer à outra galeria de seres ficcionais carrerianos com um comportamento ninfomaníaco desde a infância. Nancy K, Ísis, Raquel e Soluço possuem um furor sexual que as conduz à devassidão. No entanto, há algo de poderoso, sobretudo em Ísis, que a aproxima de Bernarda Soledade. Tanto uma quanto a outra são mulheres com sede de domínio: a sertaneja Bernarda quer a terra, os cavalos e os homens, enquanto a urbana Ísis pretende subjugar ambos os sexos no restrito espaço da cama. É preciso destacar ainda a profusão de masturbações de Somos pedras e do gosto de Ísis pela violência sexual, já explícito nesse ato solitário. Relembrando-se do primeiro encontro com Siegfried, ela “terminou se masturbando, fazendo-se às vezes de agressiva para se atormentar” (p.21). Suas primeiras experiências nesta prática nos tempos do ginásio também são reveladas: Foi quando aprendeu a se masturbar, primeiro com assombro, rezando, depois com tesão, incrível tesão, bastava pensar numa revista ou no cinema, uma cena que bruscamente sofrera corte e ela dava continuidade, com o dedo, com a mão inteira, com o cabo da escova dental, ou com a escova de cabelos [...] (p.21-2) Diante do corpo de Biba estendido no chão após a tentativa de suicídio, Leonardo se excita: “foi ao banheiro se masturbar – suicídio e masturbação. Morte e gozo” (p.30). No final do trecho de Cabrera Infante, transcrito em seguida na obra, a definição do ato: “Pecado solitário no qual, pelo qual e graças ao qual venci minha solidão. Nunca me senti sozinho com a mão” (p.30). No banheiro do hospital, Ísis “com uma unha cortou a coxa – o sangue descendo em filete. Molhou o chocolate na pia. Untou o sexo de sangue e de chocolate – o prazer da dor e da masturbação” (p.34). Também Biba, ao ouvir o estupro de Ísis por Siegfried se masturba: “sentia: as carnes, os seios, o sexo latejando. Tirando a roupa. Trêmula. Quase rasgando a calcinha” (p.113). Em seguida, trecho de João Gilberto Noll: “E eu? Eu me masturbava, me masturbava desejando alisar, bolinar a bunda gloriosa de Amanda, aquela bunda já toda lanhada pelas unhas agudas da outra” (p.113). Todas as cenas de masturbação, portanto, são brutais ou são estimuladas por uma imagem de brutalidade. Mas o que pretenderia Carrero nessa junção de violência sexual e social; nessa relação entre incutir dor no outro (deve-se lembrar que os crimes são cometidos por gosto) e sentir prazer? O escritor pernambucano parece dialogar com a obra de Donatien Alphonse François, o Marquês de Sade, mencionado em Somos pedras (Siegfried gostava de escutar Ísis ler, dentre outros, romances do libertino para Leonardo (p.37)). O senso comum associa o sadismo sobretudo ao gozo com o sofrimento do outro, a algolagnia ativa. O adjetivo sádico denotaria, grosso modo, aquele que gosta de fazer maldades. Entretanto, a filosofia sadiana vai muito além. O Marquês crê que a natureza é má e a sociedade pratica o mal protegida por leis que servem apenas para cercear a liberdade, o temperamento, do indivíduo. Para ele, “sendo a destruição uma das primeiras leis da natureza, nada do que seja destruir poderá ser considerado crime”. (Sade, 1983, p.63). Defensor da libertação irrestrita das paixões, do desregramento, Donatien passa a associar o crime ao prazer: “Que as atrocidades, os horrores, os crimes mais odiosos te não causem espanto [...], o que for mais sujo, mais infame, mais proibido é [...] sempre o que nos faz gozar mais deliciosamente”. (ib., p.58). Sade, portanto, não se refere apenas à esfera sexual, mas também social. Na correlação de sua obra com a do libertino, Carrero acerta ao criar personagens que cometem assassinatos por sentirem satisfação diante do sofrimento alheio, embora os carrascos sadianos não costumem conduzir a cena ao ato definitivo, porque a morte do objeto significaria a morte, ainda que também o ápice, do prazer. Simone de Beauvoir põe em xeque o homicídio em Sade: “que faria um tirano desse objeto inerte que é um cadáver? [...] quando se prolonga [...] um assassínio, este (o libertino) apenas logra confirmar a derrota” (1961, p.31-2). O universo de Somos pedras que se consomem é indubitavelmente pervertido, sádico. Mas deve-se levar ainda em conta que o projeto sadiano não pode ser plenamente realizado. A libertinagem, para se manter, precisa ser uma casta isolada de todo o resto; não deseja a totalidade (seria o seu fim), mas manter-se à margem: todo carrasco precisa de vítimas, que são, na narrativa carreriana, sobretudo crianças, além da prostituta Biba, é claro. Procurando manter a proposta realista já evidenciada na epígrafe retirada da obra de John Fante (“Cada palavra deste livro é pura verdade”), o autor pernambucano reúne e transcreve inúmeros trechos jornalísticos que comprovam o extermínio de meninos e meninas no país. No entanto, Raimundo Carrero decide mesclar sadismo e nazismo, construindo uma sinonímia por sobreposição de conceitos. Siegfried mata não apenas por prazer, mas por compartilhar a ideologia hitleriana. Só que, embora a opinião pública considere Hitler um sádico pela prática do mal, em sentido restrito não se pode fazer tal afirmação, já que o fator determinante de seus atos não foi o gosto aleatório pelo crime, porém um conjunto de ideias ligadas ao conceito de eugenia que, na verdade, encobria, no comportamento antissemita, racista, sexista, a vontade de garantir uma suposta supremacia alemã ou, dever-se-ia dizer, a suposta supremacia do homem, branco e alemão. Em Hitler e o Nazismo, Dick Geary alerta que a intenção de promover uma higiene racial não se restringia ao Führer: “Tendo se originado na Inglaterra e sido adotada com algum entusiasmo nos Estados Unidos e na Escandinávia, a idéia de se esterilizar doentes e degenerados foi comum durante os anos 20” (2010, p.21). Ou seja, o que alimentou a crueldade a que o mundo assistiu foi não o prazer sádico de um homem, mas um conjunto de ideologias que há muito tempo já se proliferava pelos quatro cantos do planeta. Geary também reconhece que muitos tentam ainda justificar o genocídio por uma “personalidade supostamente “sadomasoquista”” (ib., p.20) de Hitler. Essa parece ser a linha carreriana em Somos pedras que se consomem. Tanto que, além de adjetivar continuamente Siegfried como o sádico alemão (o próprio Hitler, portanto), o narrador referese ao suposto relacionamento de teor masoquista do líder nazista com Eva, anteriormente transcrito. Sobreposto à esfera social, há o sadismo ou masoquismo sexual (deve-se observar que na esfera social não há a concepção de masoquismo: nenhuma vítima de Somos pedras deleita-se com seu papel). Mas quais são na verdade as cenas literárias de Sade ou Masoch que deram origem aos substantivos e adjetivos utilizados pelo senso comum? Na obra do Marquês é necessário que haja um carrasco e uma vítima, ao menos. E ela, obviamente, não goza com o seu papel. Se assim o fizesse, não despertaria prazer em seu algoz. No entanto, os libertinos sadianos podem sim trocar de papeis. E o fato de algumas personagens supostamente sentirem prazer ao serem submetidas à dor fez com que muitos estudiosos vislumbrassem de modo equivocado uma presença masoquista na obra do Marquês. No entanto, essa imprecisão pode ser facilmente corrigida através da análise de Barthes e de trecho extraído do ensaio de Simone de Beauvoir “Deve-se queimar Sade?”: A relação sadiana (entre dois libertinos) não é de reciprocidade, mas de desforra (Lacan): a desforra é um simples giro, um movimento combinatório. [...] Esse deslizamento [...] garante a imoralidade das relações humanas (os libertinos são complacentes, mas também se matam uns aos outros). (Barthes, 2005, p.198) [...] o estado de aviltamento [...] agrada-lhe, diverte-o, deleita-o e ele goza consigo mesmo ter ido bastante longe para merecer um tratamento assim. (Beauvoir, 1961, p.29) Também Octavio Paz integra o coro de vozes para corrigir o erro de interpretação: “o sadismo consiste em gozar com o sofrimento do outro. O prazer do sádico acabaria se percebesse que sua vítima também é seu cúmplice” (1999, p.104). Portanto, o libertino sabe que se o outro está punindo-o severamente é porque ele assim mereceu. O seu gozo não tem ligação com a dor que sente, mas com o prazer de ter sido cruel o bastante para suscitar tamanha violência. Por outro lado, a vítima de Masoch, normalmente um homem, é quem convence a parceira a se tornar algoz. Em A Vênus das peles, por exemplo, Severin persuade Wanda a ser “a mulher despótica” de sua “desvairada fantasia” (2008, p.86). Octavio Paz observa que “o masoquista se desdobra e é, simultaneamente, cúmplice do seu carrasco” (1999, p.104). Deleuze também verifica que a vítima “fala através do carrasco” (2009, p.25). Ou seja, o algoz de Masoch funciona muito mais como objeto manipulado pelo desejo do outro de expiação. Todavia, Severin inverte os lugares ao final da trama, rejeitando o papel de bigorna e tomando para si o de martelo. Para Deleuze, “é improvável que o sadismo do masoquista seja o de Sade, e o masoquismo do sádico, o de Masoch” (2009, p.40), porque “o sadismo do masoquismo impõe-se de tanto expiar; e o masoquismo do sadismo apenas sob a condição de não expiar (ib.). A expressão sadomasoquista encerraria uma impossibilidade linguística, já que “nunca um sádico de verdade aceitaria uma vítima masoquista [...] Mas um masoquista também não aceitaria um carrasco realmente sádico” (ib., p.41). Além disso, enquanto a linguagem de Sade é obscena, as descrições de Masoch são “sugestivas e decentes” (ib., p.37). E não seria improvável que a obra do autor austríaco contivesse um fundamento moral, diante da conclusão de Severin ao término de A Vênus das Peles: “Quem se deixa açoitar merece os açoites” (2008, p.158). É fácil concluir que Carrero une sadismo e nazismo como uma só perversão (o mal em Somos pedras é fruto da perversão humana) e agrega ainda “masoquismo” em algumas cenas de masturbação e no relacionamento, também supostamente sádico, entre os libertinos Leonardo, Siegfried, Ísis e Melissa. Há um movimento, portanto, de apropriação, acoplamento e distorção de conceitos, porque em sentido restrito essas personagens não poderiam ser consideradas sexualmente nem sádicas (já que as vítimas não são realmente vítimas, elas gozam) nem masoquistas, porque o carrasco não precisou ser convencido a ocupar esse lugar pelo outro que se quer escravo. E obviamente as declarações de Ísis a Melissa seriam impensáveis na quase casta obra de Masoch. A amante da alta sociedade, por exemplo, se deleita enquanto a irmã de Leonardo grita: “puta, cadela, vagabunda, vulgar” (p.160). Somos pedras que se consomem, no entanto, incorpora elementos tanto da literatura sadiana quanto da obra de Masoch. O chocolate com o qual Ísis se lambuza durante a masturbação é um dos alimentos preferidos dos libertinos para restabelecer as próprias energias gastas durante os atos libidinosos e para restaurar as vítimas, “engordadas para fornecer à luxúria “altares” roliços e rechonchudos” (Barthes, 2005, p.8). Além disso, um dos pontos cruciais da filosofia de Sade é provar a inexistência de Deus. Não que essa seja a intenção do escritor pernambucano nem de suas personagens, mas há no romance três trechos de caráter profano: A frase “Me ofende como o mundo ofende a Deus” (p.161) resume não apenas o gosto de Ísis e Melissa pelo papel de vítima como, por paralelismo, parece agregar ao Pai, o adjetivo masoquista, e ao homem, a qualidade de carrasco. “Apesar de Deus, tudo é permitido” (p.96), paródia da ideia contida em Os irmãos Karamazovi, de Dostoievski (“se Deus não existe então tudo é permitido”), é sentença proferida por Siegfried. Nota-se que Ele perde então a onipotência, substituída pela crença na supremacia humana. Para o alemão ainda, “a vida é o vômito dos deuses” (p.95). Esse conceito de perpetuação do horror pelo indivíduo (já que a vida é horror) também pode ser encontrado na filosofia sadiana. Do mesmo modo, quando Leonardo fotografa a cena lésbica, reproduz o gosto das personagens de Masoch que procuram eternizar o momento luxurioso artisticamente. Deleuze verifica que as cenas suspensas, “fotográficas”, na obra do escritor austríaco “têm grande importância, e de um duplo ponto de vista: o do masoquismo em geral e o da arte de Masoch em particular” (2009, p.36). Deve-se atentar ainda que, de acordo com Severin, personagem de A Vênus das peles, a natureza – Ísis – também é cruel, assim como as mulheres que são sua personificação: Eu via nas mulheres a personificação da natureza, da Ísis, e no homem o seu sacerdote, o seu escravo, e a via, a mulher, cruel para com ele, como a natureza, que afasta de si o que já a serviu se já não pode fazê-lo mais [...]. (ib., p.62) Carrero teria escolhido o nome de Ísis para sua personagem dominadora, capaz de vencer sexualmente Siegfried, com a intenção de agregar à sua personalidade essa força maléfica da natureza? Ao criar o universo pervertido de Somos pedras, mescla de prazer e dor, Carrero talvez intencionasse, na profusão de atrocidades cometidas e corroborados por matérias jornalísticas, evidenciar de forma condensada o mal a que todos estão diariamente expostos, como vítima ou como carrasco, embora se mostrem indiferentes, insensíveis. Ronaldo Lima Lins, contudo, faz alerta: O escritor simula, dentro do quadro ficcional, um círculo fechado homólogo ao da realidade, na esperança de que a visão do horror impeça uma nova implantação do horror. Resta saber em que medida comporta este um método eficiente para atingir os objetivos desejados. (1990, p.33) O próprio título da obra parece conter uma denúncia: se “somos pedras”, somos inumanos, rígidos, desprovidos de coração, de sentimentos. A imagem das “pedras que se consomem” remete a intensos atritos (capazes de desgastar rochas), à violência, portanto, e, por fim, ao aniquilamento mútuo. O poema “Vôo Subterrâneo”, de Marco Polo, de onde foi extraído o verso “somos pedras que se consomem” que dá título ao romance carreriano, se refere a um relacionamento entre um homem e uma mulher e é, na trama, lido por Ísis para Melissa. Logo, também na esfera amorosa ou sexual, todos são pedras que se chocam continuamente produzindo um “trepidar de centelhas” (p.178). De acordo com Octavio Paz, “as paixões se distinguem entre si pela violência. [...] As paixões secretas e as cruéis são as mais fortes. Seu outro nome é destruição” (1999, p.58). Também Bataille, em estudo sobre Sade, explicita o diálogo entre erotismo e morte: A volúpia está muito próxima da dilapidação ruinosa que chamamos “pequena morte”, o momento do seu paroxismo. Conseqüentemente, os aspectos que nos evocam o excesso erótico representam sempre uma desordem. [...] As sevícias e o homicídio prolongam essa movimento de ruína. Da mesma maneira a prostituição, o vocabulário chulo e todos os laços entre o erotismo e a infâmia fazem da volúpia um mundo de decadência e ruína. [..] Queremos um mundo virado de pernas para o ar, queremos o mundo ao inverso. A verdade do erotismo é traição. O sistema de Sade é a forma ruinosa do erotismo. (2004, p.266-7). Para Sade, portanto, “a vida era a procura do prazer, e o prazer era proporcional à destruição da vida” (ib., p.281). Obviamente, esse movimento destrutivo, essa convocação para o extermínio, se tomada a rigor, levaria a cabo a sociedade e os indivíduos, incluindo os libertinos; incluindo o próprio Marquês. Seria possível afirmar, então, que a doutrina de Donatien Alphonso François encerraria não apenas uma apologia ao homicídio, mas também ao suicídio, porque destruir tudo significa, em última instância, se autodestruir? O fato é que, no décimo romance carreriano, as personagens não apenas aniquilam o outro como são tomadas pelo desejo de por fim a própria existência. A sentença “a marca registrada do mundo é a traição”, conclusão a que chega supostamente Ísis após refletir sobre a vida de Biba, poderia pertencer a todos os demais títulos do autor pernambucano, espécie de temática permanente, e, sem dúvida, serviria bem como lema libertino. A concepção de que há algo de sádico no comportamento humano parece ser, portanto, o ponto de vista subjacente na narrativa. E mais: a ideia de que a barbárie vive no seio da civilização (e, por vezes, é seu produto); de que o homem continua sendo o lobo do homem. Carrero vai buscar, então, na própria história do Brasil (em paralelo com o horror da Alemanha nazista, com o sadismo), o libertino que traiu a nação e levou o povo às ruas para clamar por justiça: o presidente da República, envolvido em corrupção, isso não vai dar em nada, mas é bonito muito bonito, em bacanais, em drogas, em desvio de verbas, em arrocho salarial, grandissíssimo enganagor [...] que se elegeu como símbolo da modernidade e da pós-modernidade, levando o país ao Primeiro Mundo, atlético e elegante, correndo pelas ruas de Brasília todos os domingos, como numa missa campal, dizendo minha gente [...] (p.68) Somos pedras que se consomem é, portanto, universo de prazer e dor, de vítimas e carrascos, a realidade do homem de todos os tempos condensada nas páginas literárias, a filosofia do mal de Donatien Alphoso François novamente romanceada, transposta para a zona boêmia do Recife, numa construção metonímica, parte que representa o todo: Brasil, Alemanha, EUA, mundo. 9.3 Literatura e vagabundagem: pedras carrerianas [...] nas horas de folga da violência, visitava livrarias. (Carrero, 2001, p.137) A primeira personagem vagabunda de Raimundo Carrero é, sem dúvida, o tio Lourenço, de As sementes do sol. Deve-se lembrar ainda que o irmão de Davino gostava de criar e recitar poemas profanos e luxuriosos. Já neste segundo romance, portanto, havia a gênese da comunhão entre literatura e vagabundagem, embora ela ainda estivesse dissociada da intertextualidade. Já em Viagem no ventre da baleia, embora as personagens citem quase ininterruptamente seus autores favoritos, além de estes pertencerem quase sempre às esferas sociais ou religiosas, nem Miguel, nem Padre Paulo ou Jonas integram a legião de seres carrerianos propensos à vadiagem. Logo, é em Maçã agreste, com o falso profeta, ladrão e assassino, que Carrero retoma o indivíduo marginal com gosto pelo literário. Na verdade, o escritor carrega ainda mais nas tintas: Jeremias e Sofia se sentem sexualmente estimulados pela leitura do romance Quincas Borba (o gozo com o texto). Os fios – literatura, crime e sexualidade – se entrelaçam definitivamente. Em Sinfonia para vagabundos, Deusdete, Natalício e Virgínia compartilham a paixão pela poesia e pela música. Mas, ainda que o saxofonista também tenha assassinado e violentado uma menina, é preciso ressaltar que ele alega ter cometido o crime para salvá-la da vida. Assim como Jeremias se deixa tragar pelo universo de violência que o cerca, de certo modo vítima do caos, Natalício também parece ter sucumbido à desventura urbana. Ambos atingem um estado de mendicância, embora possuam um bom nível intelectual. Optam por (ou são levados a) uma vida errante. Todavia, no brutal Somos pedras que se consomem, evidencia-se, como já apontado, o gosto pelo crime, um prazer sádico de provocar a dor no outro. Todas as personagens centrais, Siegfried, Leonardo, Ísis, são criminosas e amantes da literatura; todas compartilham ainda o apreço pelo suicídio. Pode-se dizer, grosso modo, até este momento analítico, que a obra de Raimundo Carrero inicialmente está voltada sobretudo para a esfera religiosa (As sementes do sol, Sombra severa, Viagem no ventre da baleia como romance de transição), em seguida para a social (Viagem no ventre da baleia, Maça agreste, Sinfonia para vagabundos como romance de transição) e, finalmente, para a literária (Maça agreste, de modo tímido ainda, Sinfonia para vagabundos, Somos pedras que se consomem), embora esta esfera jamais se dissocie por completo das duas primeiras. Já A história de Bernarda Soledade e A dupla face do baralho são narrativas de difícil categorização. No início do décimo título, Ísis seduz Leonardo com trechos de romances do mesmo modo como, em Maçã agreste, Jeremias e Sofia se sentem sexualmente estimulados com a leitura de Quincas Borba. Leonardo ficava “ouvindo-a ler, ler e reler, excitando-o, capítulos, livros inteiros, sentada na cadeira macia, só de calcinha [...]” (p.13). Após o encontro entre o alemão e os irmãos, o narrador revela: “Estava selada a tríplice amizade, a tríplice aliança até que os dias rolassem pelas estradas, os três liam romances” (p.16). Ela vai buscar na obra de Scott Fitzgerald, porque tinha “mania de comparar a vida com a literatura” (p.31), trecho que lhe lembra Siegfried. Ísis, para se excitar, guardava “recortes de jornais, de revistas, páginas rasgadas de livros, poemas copiados” (p.33). O estrangeiro também “tinha o raro hábito de ler e decorar romances. Cartas. Poemas [...]” (p.52) e gostava de acompanhar os irmãos na leitura (ib.). Em outro instante, o narrador revela que Leonardo “parecia ter um relacionamento cheio de mistérios com Siegfried. Liam Goethe. Thomas Mann. Robert Musil” (p.91). E, Jeremias, o falso profeta de Maça agreste, ressurge em Somos pedras para integrar essa galeria de personagens envoltas nas tramas da literatura: Ainda que por algum motivo que não conhecia nem pretendia conhecer, gostava de recitar poemas secretos, poemas para a alma e para o mistério da alma, sabendo-se criminoso e charlatão, músico e literato, repetindo versículos bíblicos e palavras mágicas de escritores que ele jamais viria a conhecer [...] (p.100). Ele sabia ainda de cor “Frederico García Lorca, Elisabeth Bishop e Rimbaud” (p.101). Já Siegfried “chegou a pensar em ser poeta. Parecia romântico que um lavador de pratos viesse a ser poeta. Enviando poemas às editoras e eles sendo devolvidos. Um poeta fracassado era ainda mais romântico” (p.135). Do mesmo modo, Nancy K “gostava de literatura. Tinha hábitos de leituras. E de rabiscos. Escrevendo à Bukowski” (ib.). O alemão, “nas horas de folga da violência visitava livrarias” (p.137) e se sente glorificado quando percebe que o primo da menina assassinada por Jeremias escreveu uma poesia sobre o crime: “E à noite recitava o poema na cozinha da casa para lembrar a Jeremias que ele era o criminoso. E para lembrar a todos que tinham se tornado imortais – um poema torna o homem eterno” (p.137). Se por um lado a conclusão a que o alemão chega parece confirmar a concepção de imortalidade do literário, a ideia do homicida de que a composição poética eternizou o criminoso e o crime talvez contenha uma crítica irônica a essa própria ideia de imortalidade. Não há dúvida de que Somos pedras que se consomem promove a desauratização da literatura ao mesmo tempo em que, contraditoriamente, a glorifica, na composição da obra por justaposição de citações. As personagens se revelam, a si mesmas e às demais, por meio de intertextos e é, também, através desse múltiplo diálogo, que o leitor apreende os seres carrerianos. Fragmento de Pastores da noite, de Jorge Amado, por exemplo, é transcrito para compor a personalidade libidinosa do alemão: “é impossível comer todas as mulheres do mundo, mas é bom tentar” (p.17). As linhas dessa costura literária que estrutura Somos pedras são, portanto, extraídas de obras que de algum modo tratam de sexualidade e/ou violência. Logo, seja pela constante e intensa relação dos criminosos com a ficção e a poesia ou pelas temáticas dos excertos, a literatura está intimamente relacionada ao horror, à luxúria, ao excremento. Alías, deve-se lembrar ainda que fragmentos de romances se encontram lado a lado com trechos de citações de obras cinematográficas e de matérias jornalísticas. O paralelismo também contribui assim para uma espécie de equiparação, de nivelamento dos diferentes tipos de registros. Acresce-se ainda que, quando um fato publicado na mídia impressa serve de ponto de partida para a criação literária, como tantas vezes ocorre no décimo título carreriano, não se pode negar que o fazer literário se volta para a mimetização declarada (e comprovada) da realidade. Trecho supostamente retirado do Diário de Pernambuco, por exemplo, integra o romance: 4.611 meninos e meninas menores de 17 anos foram assassinados por exterminadores, entre 1988 e 1990 (52% por arma de fogo); 4,2 crianças e adolescentes assassinados por dia, em 1992 (85% era do sexo mesculino); 72% eram negros [...] (p.62) Assim como Trópico de Câncer, de Henry Miller, autor tantas vezes citado em Somos pedras que se consomem abre com a epígrafe, de Ralph Waldo Emerson, que evidencia a importância de “registrar verdadeiramente a verdade” (2003, p.6), o décimo título carreriano se inicia com trecho de John Fante, “Cada palavra deste livro é pura verdade”, índice desta preocupação mimética (embora irônica). Na matéria, “À espera do Jabuti”, publicada em 1996, no Diário de Pernambuco, Carrero revela, como já apontado, que Somos pedras é primeiro romance a trazer para a Literatura toda uma visão do comportamento brasileiro. É uma colagem de dois anos de pesquisas de fatos verídicos ocorridos no Brasil, feitas nos principais jornais e revistas do país. É um livro sobre a violência nacional.80 Lydia Barros também ressalta que o escritor sertanejo “lapidou um arquivo mórbido, sujo, sadomasoquista e real” (apud Pereira, 2009, p.41). Após a sequência de sexo febril com Melissa, Ísis lê para a amante a poesia de Marco Polo, porque “não há nada mais repousante, depois de uma noite de violências, do que uma tarde de poemas” (p.179). Logo, assim como o nazista Siegfried, nas horas de folga de seus crimes, visitava livrarias, a relação “sadomasoquista” (entre aspas pela incoerência do termo já evidenciada) também desemboca em literatura – mais uma evidência de que Carrero estabelece nesta narrativa um paralelo entre nazismo e sadismo. E é nesta zona boêmia do Recife, suja, fétida, pecaminosa, metonímia dos horrores praticados nos quatro cantos do mundo, que o literário vai se conectar também a um terceiro vértice: o anseio suicida. É mencionado trecho da obra de Silvia Plath, repleta de “visões de morte e de suicidas” (p.23) para dialogar com o ato extremo de Biba que, após ser espancada por Siegfried, se atira da janela. O alemão e Leonardo eram ligados pelos romances, pelos poemas e pelo suicídio: Mas o suicídio, sim, o suicídio era mais forte. A ligação pelo suicídio, amizade pelo suicídio, o amor pelo suicídio. Também ele, Leonardo, também ele sonhava às vezes em se suicidar. Quem sabe uma bala no ouvido. Hemingway metera uma bala no céu da boca. Pedro Nava na cabeça. Plath preferira o gás. Estes heróis. Ou cortar os punhos. Ou jogar-se ao mar com uma corda amarrada no pescoço. Siegfried dizia ainda vou me suicidar com um corte de navalha no pescoço. A dor e o prazer. Sofrendo e sorrindo. Santa Joana D’Arc na fogueira. Não quero desmaiar antes da morte. Pensara nisso. E muito. Sobretudo depois que possuíra a irmã (p.29). Todavia, embora compartilhem o gosto pela ideia de por fim à própria vida, o alemão é impulsionado pela estranha relação entre prazer e dor enquanto Leonardo talvez seja estimulado pela culpa decorrente do incesto. O irmão de Ísis, no entanto, não leva a cabo seu intento porque se pergunta: “Mas iria ficar longe dela?” (p.29). Para Leonardo, “a morte através do suicídio lhe parecia algo terrivelmente infantil. E romântica” (ib.). Ísis lhe conta que muitas socialites libertinas “queriam morrer também. Amavam o suicídio e a morte lenta. Trabalhada. Poema escrito palavra após palavra” (p.30). O irmão, diante da iminência da 80 CERQUEIRA, Jacques. À espera do Jabuti. Diário de Pernambuco, Recife, 19 jun. 1996, Caderno Viver, p. D1. morte de Biba, se excita e se masturba porque “a masturbação era uma forma de se suicidar” (p.31). Logo, o orgasmo, a “pequena morte” é a maneira encontrada de experimentar a morte, de dela se aproximar ainda que por poucos instantes. Siegfried e Leonardo conversavam sobre a “beleza e o gozo do suicídio”. Para ambos, Biba “estava sangrando perto de sentir as franjas deliciosas da morte” (p.29). Há também na vontade do alemão de ser criminoso, de “viver esperando a bala explodindo o coração” (p.39) um namoro com a ideia de morte, um gosto suicida. Ao contrário, o desejo de morte de Leonardo parece ser alimentado ainda pela situação lamentável de Biba e pelo assassinato brutal do menino por Joaquim: Leonardo continuava deprimido. Tomava remédios e bebia. [...] Não gostava de ver Biba mancando. [...] O que Leonardo pretendia, pretendia mesmo, e andava pela casa: era morrer, bebendo até morrer. Via ainda o menino queimando. Joaquim batendo a estaca no peito. (p.77) Apesar dessa suposta culpa, Leonardo continua a possuir Ísis e é também criminoso, embora prefira o tiro, menos cruel, no seu ponto de vista, que os métodos empregados pelo policial ou pelo falso profeta. A personagem talvez seja exemplo perfeito da volubilidade do indivíduo nas narrativas pós-modernas. Para Stuart Hall, o sujeito pós-moderno assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas (2006, p.13). Ísis, do mesmo modo, agia “sem que tivesse de trair” (p.74) e sofre por Biba (p.24), mas não titubeia em participar do sequestro da menina encabeçado por Siegfried. Não se pode negar que essa aparente inverossimilhança comportamental, essa aparente incoerência, revela, em verdade, a riqueza do eu, sempre múltiplo, sempre contraditório. Também Biba, que já tentara o suicídio, continua carregando o desejo de morte: O inferno. Pela segunda vez em toda a sua curta e violentada vida pensara em suicídio. Inferno e suicídio. Bastaria uma corda no pescoço. E logo, logo a vida não existiria. Inferno e suicídio. Parece que combinavam. Que rimavam. Embora depois de morta esperasse não encontrar coisa alguma. Vazio. (p.107) Logo, se Siegfried pensa em se suicidar porque experimenta prazer com a dor e Leonardo flerta com a morte por um possível sentimento de culpa, Biba anseia por fim à própria existência porque a morte é preferível à vida, puro martírio. A menina pensa ainda em se matar para evitar seu próprio homicídio: “A morte antes da morte. Evitá-la. Só poderia evitar o assassinato, matando-se. Que era a única forma de morrer, sem morrer” (p.149). Seria preciso, portanto, escolher caminhar sobre “a relva alva do suicídio ou o caminho vermelho do assassinato” (p.150). De qualquer modo, a morte lhe parecia libertária: “Morrer é a brancura do Divino” (ib.). Mas é a mãe do candidato, provavelmente pela vergonha de ver sua foto de calcinha estampada nos jornais, que de fato se suicida – mais um crime indiretamente cometido por Siegfried. Esse potencial destrutivo das personagens, de caráter social e sexual, não está voltado apenas para o outro, mas para elas mesmas. As pedras de fato se consomem no embate, no choque ininterrupto, até que todos virem pó. Vitor Hugo Adler Pereira destaca, no ensaio “A lei do silêncio da violência”, que há um componente racional na perversão contido na astúcia com que se dribla a ordem e transformado num artifício para satisfazer as pulsões, que ameaçam a integridade do outro e se constituem numa afirmação autoritária da singularidade do indivíduo (2004, p.31). Mas essas pulsões, no décimo título carreriano, não estão voltadas apenas para a vítima. O próprio carrasco sonha com sua aniquilação. Há algo de apocalíptico nessa trama em que os indivíduos – também num processo de afirmação autoritária – almejam a ruína plena. Georges Bataille conclui que o pensamento de Sade “não é redutível à loucura. É somente um excesso, é um excesso vertiginoso, mas é o excessivo cume do que nós somos” (2004, p.301). Para o escritor francês, “vivemos como sombras amedrontadas – e é diante de nós mesmos que trememos” (ib.). Donatien Alphonso François, portanto, preparou o caminho. Agora, o homem normal sabe que sua consciência devia se abrir para o que o tinha mais violentamente revoltado: o que mais violentamente nos revolta está em nós (ib., p.308). O décimo título carreriano compartilha esse excesso com a obra de Sade e reúne inúmeras reportagens jornalísticas que atestam o horror: a violência extrema ficcionalizada é – ideia subjacente no romance – absolutamente real; os indivíduos são pedras que se consomem. Quem o lê também treme ao notar que o motivo de sua revolta está em sua própria natureza humana, feroz. Deve-se atentar ainda para o fato de que o criminoso de Carrero não é o iletrado, o inculto. Ao contrário, as personagens, Ísis, Leonardo, Siegfried, Nancy K..., pertencem à classe média, possuem bom nível intelectual, conhecem os grandes clássicos da literatura. Eles também não ocupam a margem, mas o centro, já que seus pensamentos e atitudes são comumente os dos homens de todos os tempos e lugares, sejam eles carrascos nazistas ou presidentes corruptos. O que comumente os move é o prazer sádico, natural, decorrente e simultaneamente fonte da corrupção de todos os valores morais. Nessa vitória umbiguista (e demoníaca), do indivíduo sobre a sociedade – barbárie civilizada, racionalizada, teorizada – resta a ruína, o pó do atrito provocado pelo choque entre pedras, provável destino dos libertinos sadianos se seus ideais atingissem a totalidade. Francis Wolff observa no ensaio “Quem é bárbaro?” que o homem parece desnaturado pela perda da civilização, um defeito o faz desumano e semelhante a um bruto; de outro, o homem parece desnaturado por excesso de civilização, desumano como que por excesso, e semelhante a um demônio. E o que torna o genocídio nazista ainda mais terrível, mais opaco, é que ele une as marcas tangíveis da monstruosidade e da selvageria com os sinais mais evidentes do saber e da racionalidade. (2004, p.29). Somos pedras que se consomem foi edificado exatamente sobre esses pilares contrários apenas em aparência: monstruosidade e intelectualidade. Siegfried, sádico, nazista e culto é, portanto, metáfora da bárbara-civilidade contemporânea. 10 As sombrias ruínas da alma 10.1 A dimensão lírica: palavras em redemunho “negras as palavras e, ainda assim, incandescentes” (Carrero, 1999, p.73) Carrero afirmou em entrevista ao caderno “Prosa & Verso” do jornal O Globo, à época do lançamento de As sombrias ruínas da alma, que, para escrever Somos pedras que se consomem, pesquisou “revistas, jornais, porque precisava de informações e pretendia mostrar o que era o Brasil, os seus subterrâneos”81. E concluiu: “observei que o país era corrupção, sexo desbragado, droga, sadomasoquismo. O Brasil é uma Sodoma e Gomorra multiplicada por 20, um país louco” (ib.). Sem dúvida, a preocupação em recriar esse universo de brutalidade e indiferença alterou de modo intenso a linguagem do escritor sertanejo. Mais obscena, mais seca, menos imagética, ela perdeu a dimensão lírica dos primeiros romances. Com a publicação de As sombrias ruínas da alma parece ressurgir na maior parte das narrativas o Carrero de Bernarda Soledade, As sementes do sol, Félix Gurgel, Sombra severa e Maçã Agreste. Sim, apesar dos (poucos) contos urbanos, há novamente um cheiro de sertão. Mas, sobretudo, o leitor reencontra neste décimo primeiro título o namoro da prosa com a poesia – o melhor desse ficcionista da longínqua Santo Antonio do Salgueiro. Isso provavelmente se deve ao fato de que parte da obra foi escrita no ano de 1981 (Carrero, 1999, p.185). Todavia, é possível que Raimundo Carrero, após ter alcançado a notoriedade (justamente) almejada com a indicação para o Jabuti de Somos pedras, também tenha se sentido mais à vontade para tornar às raízes. Ou talvez, pressionado pelo mercado editorial para lançar um novo romance, tenha optado por reescrever textos antigos até então inéditos. De um modo ou de outro, esse retorno – após o mergulho na esfera político-social em Viagem no ventre da baleia, a exploração metaficcional de Sinfonia para vagabundos e a intertextualidade ostensiva de Somos pedras que se consomem – foi sem dúvida alguma um ganho para a obra carreriana. Com relação a As sombrias ruínas, permanece a preocupação em recriar o real – o que se verifica, por exemplo, na escolha da epígrafe de Padre Antonio Vieira “Não é tudo isso verdade?” e na escrita ficcional elaborada, por vezes, a partir de fatos jornalísticos. Permanece 81 LINS, Letícia. Deuses e demônios: Carrero conquista a literatura brasileira com suas histórias humanas e infernais. O Globo, Rio de Janeiro, 27 nov. 1999, caderno Prosa & Verso, p.1-2 ainda o entrelaçamento de literatura e cinema, como ocorre em “Felicidade, que horror!”, e a galeria de excluídos. Todavia, esse “real” não choca; ao contrário, comove. A linguagem não é nem seca, diante do horror, nem obscena, mesmo quando está em foco a pedofilia ou um comportamento ninfomaníaco. Sai de cena definitivamente a enxurrada de citações e Carrero volta a trabalhar com a relação intertextual implícita ou costurada à narrativa, como havia feito em As sementes do sol, título que retoma o episódio bíblico envolvendo os filhos de Davi. E, entre ruínas e sombras, há o capítulo “As Iluminações”, sobre a vida de Santo Antonio, carregado de fé e esperança: luz em meio às trevas. De acordo com Rivalter Pereira, “os contos de Iluminações são obras-primas de poucas páginas, possuem uma atmosfera de sonho, uns personagens e uma mensagem singela e positivista, que o aproxima de Guimarães Rosa” (apud Pereira, 2009, p.42). Embora a comparação com o autor mineiro soe questionável, não se pode negar a presença (atípica) desse teor positivista na “Segunda carta ao mundo – O Artesão II” e no tríptico “A vida escondida em Cristo”. Também Ariano Suassuna, na orelha do romance, destaca que, se Somos pedras é o romance do “abismo”, do “inferno”, “a obra de Carrero agora começa a emergir para um purgatório, cujo fogo aqui e ali procura se configurar em luz”. Outro ponto merece destaque: a intriga, a história bem contada, que havia perdido força nos títulos anteriores diante do conteúdo metaficcional ou intertextual, reassume sua importância. Raimundo Carrero não é exatamente o mesmo dos primeiros títulos. Evidentemente, houve um percurso, com ganhos e perdas, que se inscreve em sua prosa. Mas não se pode negar que em As sombrias ruínas da alma ele parece se desprender (se libertar?), ao menos em parte, da teia de obsessões da literatura pós-moderna. Se o autor sertanejo jamais tivesse se aproximado, pelo viés do realismo cru, de uma literatura valorizada no eixo Rio-São Paulo, ele provavelmente permaneceria à sombra da crítica e sua obra não teria ampla projeção nacional (e internacional). As (poucas) análises sobre seus romances continuariam se debruçando ad nauseum sobre a questão do regionalismo e Carrero seria “escritor secreto do Recife, apenas um escritor, nada mais do que um escritor, cuja obra ainda estava para ser revelada e estudada [...] Há escritores assim. Que se mantêm inéditos mesmo quando publicados” (Carrero, 2001, p.169). No entanto, felizmente, é As sombrias ruínas da alma, prosa em diálogo permanente com a poesia, que recebe o Jabuti, após o caminho aberto por Somos pedras, e se torna o livro de referência do escritor. Carlos Nejar acerta ao concluir que esse décimo primeiro título é uma das “maiores realizações estéticas de Carrero” (Nejar, 2011, p.907) A proposta desse tópico consiste em esmiuçar essa dimensão lírica presente nos contos carrerianos: a combinação inusitada de termos, o gozo provocado pelas imagens, pela união incomum, original, de termos, dando vida ao significado surpreendente, belo e, às vezes, enigmático. Se, como destaca Massaud Moisés, retomando diversos autores, “poesia vem do Grego poiesis, de poiein: criar, no sentido de imaginar” (2000, p.81), claro está que o “eu” poético “vê imagens onde se espelham os seres e as coisas do mundo exterior, não eles próprios; vê-os convertidos em imagens [...]” (ib., p.85). E essas imagens são construídas por metáforas, donde se conclui que “a poesia é a expressão do “eu” por meio de palavras polivalentes, ou metáforas” (ib., p.87). Mas qual a estrutura fundamental dessa figura? Para o teórico, “a palavra perde sua roupagem gramatical e lógica, as denotações do dicionário [...]” (ib.), ou seja, “a metáfora desincorpora as aderências provenientes de seu emprego convencional e “sensato”, e adquire características de linguagem cifrada, apenas acessível a iniciados [...]” (ib.). Todavia, vale ressaltar que nem toda metáfora é poética, ou por ter se tornado clichê pelo uso ou porque lhe falte ambiguidade ou por não ser “expressão do eu do poeta” (ib., p.89), como em “o pé da mesa quebrou” (ib.). Massaud Moisés atenta ainda para o fato da incapacidade de traduzir a metáfora, em razão de sua polivalência: “mesmo quando desvendáveis os seus principais valores, ainda ficam outros por descobrir” (ib.,p.97). Mas o que ocorre na prosa? Ela também pode ser dotada de poesia? Sim, em “trechos insulados” ou no todo da obra (ib. p.132). O presente trabalho, portanto, apresenta duas dificuldades: analisar as passagens imagéticas que, na verdade, são comumente intraduzíveis (se elas dizem o indizível, como explicitá-lo em palavras; como usar um (pobre?) arsenal denotativo para dar conta da escorregadia imagem metafórica?) e evitar (mais) perdas na explicitação do sentido, contextualizando-as, já que foram arrancadas do todo para serem estudadas isoladamente. Contudo, vale o esforço já que esse profícuo diálogo, da prosa com a poesia, em maior intensidade, constitui um dos maiores méritos de As sombrias ruínas da alma. Para caracterizar o espaço no qual o artesão Ismael (“Primeira carta ao mundo”) vive com os filhos na total miséria e o momento (um dia de domingo) em que decide cometer infanticídio e suicídio por compaixão, porque a morte é preferível à vida, Carrero opta por uma imagem: “Santo Antonio do Recife aos domingos é sempre assim: um mundo de sol e solidão” (p.18)82. Deve-se primeiramente levar em conta que o sol carreriano não costuma ser símbolo de luz (ou de conhecimento), mas de algo que queima, fere. Logo, este é um mundo de dor, de sofrimento. Além disso, o termo solidão, lado a lado com esse sol ferino, parece ganhar certa concretude, como se fosse um objeto – um estranho vazio – reduplicado incessantemente de que o mundo pudesse estar cheio. Verifica-se também que “um mundo de” costuma denotar plenitude e, desse modo, um mundo de solidão carrega num primeiro instante certa incoerência, porque a cidade estaria cheia, plena, de vazio. A aliteração sibilante contribui para reduplicar a relação harmônica entre a cidade e sua definição. Há ainda na repetição do som a ideia de algo que se arrasta, provocando uma sensação de cansaço, acentuada pela escolha do domingo, dia comumente ligado ao vazio, ao fastio. Se a tentativa de tradução é obviamente imprecisa, deve-se voltar para o que a imagem desperta: uma tristeza que pesa, uma falta de tudo. Para Octavio Paz, o ato poético, o poetizar, o dizer do poeta – independente do conteúdo particular desse dizer – é um ato que não constitui, pelo menos originalmente, uma interpretação, mas uma revelação de nossa condição. (s/d, p.179-180) Tomando de empréstimo tais palavras, pode-se afirmar que as imagens, ainda que em meio à racionalidade da prosa, convidam menos à interpretação do que à visão, que desperta no leitor sensações indispensáveis para apreensão do todo ficcional: é um entender pelo sentir. De acordo com Wolfgang Kayser, “o verdadeiro significado das imagens poéticas [...] não reside na visualidade, mas sim no seu conteúdo emocional e sugestivo” (1976, p.129). O narrador do tríptico “O Pequeno Pai do Tempo”, na segunda parte intitulada “Uma visão das labaredas interiores”, também utiliza uma metáfora dupla, com uma comparação implícita e outra explícita, para tentar dar conta do que se passa no âmago do menino ao ver a mãe que o abandonara ao lado do atual companheiro: “é o casal que surge, algo que lhe morde os nervos e late na mente como um cão” (p.30). Imagens violentas, construídas a partir de elementos internos do corpo, comumente ligados à ideia de vitalidade (sangue, nervos...), são usuais na prosa carreriana. As metáforas costumam ser impactantes, excessivas, intensas. É possível compreender que de algum modo a visão do casal o fere, o dilacera, pela escolha do verbo morder, e o tortura, pelo latido incessante. Esse latido, para acentuar ainda mais a agonia, não está fora, não é algo que ele ouve, mas dentro. É uma imagem surrealista, sem 82 CARRERO, Raimundo. As sombrias ruínas da alma. São Paulo: Iluminuras, 1999. Nas próximas referências a essa obra, será citado apenas o número da pégina. dúvida. O fato é que nenhuma outra escolha vocabular, sobretudo se escorada em conteúdo denotativo, daria conta de tamanho tormento experimentado pelo menino diante da visão do casal. Em “A inocência vem das sombras”, primeira parte do tríptico “Os intermináveis degraus do amor”, o narrador apresenta a menina miserável que vivia “esmolando mais carinho do que pão” (p.61). Como o termo esmola está ligado a donativo, comumente em dinheiro, a ideia de esmolar carinho soa insólita. O leitor “vê” essa menina com as mãos estendidas pedindo aos passantes para depositarem nelas um pouco de afeto. Quando o narrador opta pela comparação de superioridade, acentua ainda mais a miserabilidade da menina: se ela não tem o que comer, se ela passa fome, e, no entanto, precisa ainda mais de carinho, a necessidade afetiva é imensa – o que predispõe a relação com o velho que tem “rugas tão espalhadas que o sorriso se confundia com elas” (p.61). Não se pode negar que a visão desse rosto tão envelhecido que o sorriso se perde em meio às marcas do tempo é uma expressão original, inusitada, precisa, da decrepitude corporal. A velhice comumente associada à tristeza é sobreposta à alegria do sorrir e, contraditoriamente, esse sorriso se torna “ruga” e já não expressa felicidade. Em As sombrias ruínas da alma, Carrero parece provocar um redemunho nas palavras, que perdem seu sentido usual para receber outro, renovado, ou ganham novo emprego. Ao invés de dizer, por exemplo, que a menina faminta, ansiosa por receber a fruta do velho, sentia o gosto da laranja na boca, o que seria prosaico e comum, ele opta pela frase “o gosto de laranja já habitava o céu da boca” (p.62). A simples escolha do verbo habitar, que agrega o conceito de fixação, de permanência, dissolve o banal e instaura uma surpresa, um estranhamento feliz. Octavio Paz verifica que este é o sentido da criação poética, que se inicia como violência sobre a linguagem. O primeiro ato dessa operação consiste no desenraizamento das palavras. O poeta arranca-as de suas conexões e misteres habituais: separados do mundo informativo da fala, os vocábulos se tornam únicos, como se acabassem de nascer. (s/d, p.47) Ainda no mesmo conto, a sentença “ali mais lerdo era o silêncio e mais duradoura a paciência do tempo” (p.63), enunciada quando a menina finalmente ganha e descasca a laranja, provoca a sensação de vagarosidade, de quase inércia. Curiosamente, para tanto, são utilizados termos associados ao homem (lerdeza e paciência). Desse modo, silêncio e tempo ganham vida, concretude. Como se naqueles elásticos instantes, houvesse apenas ela e a fruta. Novamente, surge uma imagem estruturada a partir das entranhas. O beijo do velho tinha a “estranha ansiedade que faz toda a carne tremer, o sangue latejando nos pulsos” (ib.). Essa visão provocada pela combinação impactante dos vocábulos também sacode o leitor. Bolinada, Ismênia percebe que “uma espécie medonha de alegria entrava pelo sangue desvairando as veias” (p.64). A correlação de termos aparentemente antagônicos (uma alegria que é medonha) diz muito sobre o estado de excitação e temor experimentado pela menina diante do ato desconhecido, embora prazeroso. E, novamente, surge uma imagem do sangue no interior do corpo, veloz, impulsionado por esta alegria capaz de enlouquecer as veias. Já o conto “As astúcias da palavra” tem uma carga poética mais ampla, que abarca a totalidade textual, pois narra a história de amor e desejo entre uma menina e as palavras; entre a menina e o seu nome e constitui um caso em que o “índice metafórico” sobretudo “se revela quando a leitura chega ao fim” (Moisés, 2004, p.288). Ela soletra “Rosa”, “como se tocassem, levemente, nas formas redondas e sinuosas das letras” (p.71). A palavra ganha corpo – e um corpo sedutor – carregado de sensualidade: “Rosae. É como se a palavra tivesse mãos – e o desejo das mãos” (ib.). Ao pronunciar o antropônimo, a menina experimenta uma espécie de cópula, um gozo – provável metáfora do prazer estético, literário – em paralelo com o êxtase religioso: com a Gramática Latina na mão, “o mundo estava arrodeado de zumbidos e sons – a música estranha e terna de que é feito o desmaio” (p.72). Vale destacar o parágrafo em que a relação parece se consumar: Podia fechar os olhos – para quê? – e se sentir penetrada pela onda oblíqua e trêmula da inquietação. Um gemido esquecido no peito. Um gemido e um grito – desse medonho grito estrangulado e satisfeito –, os dentes mordendo os lábios, as unhas furando a palma da mão, o riso preso na garganta – o corpo possuído, a capitulação do pássaro na ânsia do último vôo. (ib.) O trecho fecha com mais uma imagem, que equipara a menina ao pássaro: o elemento de interseção é evidentemente a liberdade. A morte da ave (em pleno vôo) tem paralelo com a “pequena morte” que ela experimenta diante dos nomes. E, após recusar o casamento, Rosa “sentiu alegria iluminosa, prenhe de sorrisos e felicidades, subindo pelos corpos, agitando o sangue – passarinho que revoa no selvagem coração” (p.76). Ela ama o verbo, não os homens. E, se o relacionamento com eles castra, encarcera, o relacionamento com as letras liberta. Para Rosa, o escuro da grafia contrasta com as cores do fogo (do desejo) nela contida: “negras palavras e, ainda assim, incandescentes” (p.73). Também a tentativa da mãe de convencer a filha a se casar para livrá-las da penúria é explicitada por uma imagem: “Retemperou as palavras – as palavras em teia de aranha” (p.74). Palavras, portanto, que procuram aprisionála como a um inseto. Em “Quando eu for para o céu”, o narrador revela que a pequena Isolda, seduzida por Espinoza, não tinha ainda certeza da miséria nem da tristeza da miséria: Não lhe era permitido descobrir, como agora, árvores desfolhadas, galhos esturricados e retorcidos, terra escura, pedras cobertas de lodo, a paisagem que se multiplica, alternando posições, mas sem perder a cor e a monotonia (p.80). Toda a oração, toda a descrição do espaço circundante, funciona como metáfora da miséria que é permanente e imutável. Carrero poderia ter optado por dizer que a menina não tinha o que comer, vestir ou calçar, mas, como escritor que domina a arte da poesia, preferiu inscrever na paisagem toda sua miserabilidade. Essa linguagem úmida, fértil, de onde parece brotar a vida, constitui a essência da prosa carreriana. E, se o autor dela se distanciou em alguns momentos, talvez tenha sido apenas para mostrar que poderia sim “pintar com os pés”, se era essa a vontade de crítica e público. Do conto “Madame Belinski”, vale ressaltar a imagem criada para dar conta do comportamento retraído de Siegfried. Ele estende as mãos “com timidez, dessa timidez que se mostra no repuxo indeciso dos lábios” (p.85). Raimundo Carrero possui, sem dúvida, uma sensibilidade aguçada, capaz de atribuir, por exemplo, de modo preciso, indecisão ao repuxo dos lábios, que titubeiam entre a imobilidade e o retraído sorriso. É maestro no manejo das palavras que brincam, que participam do redemunho, próprio do texto poético. Talvez por preconceito, ou mesmo por conceito equivocado, soa curiosa a comparação entre esse escritor sertanejo, grande, dotado de uma voz potente e gutural, que gargalha de modo estrondoso e uma escritura que tem, por vezes, a delicadeza dos pássaros. Ainda para dar conta da timidez da personagem, o narrador revela que Siegfried, embora quisesse falar com Madame Belinski ou elogiá-la, descobre que “não havia riso de reserva” (p.85). E, com o intuito de explicitar sua penúria material no início da vida, afirma que o estrangeiro nasceu “arrancado por parteira em casa de poucas paredes” (p.86). Neste conto, duas histórias correm paralelamente, a de Siegfried e Belinski e a dos cães abatidos cruelmente pelos homens bêbados. Ao final da narrativa, o estrangeiro procura “as coxas [de Belinski] que se debatiam como os cães sacrificados” (p.88), unindo, portanto, essas duas histórias e, por extensão, a ideia de sexo e morte, desejo e violência. Em “Armadilhas do corpo”, Judite, “corroída pela doença”, sentia “os ossos batendo na pele, a carne sumida e a morte que invade as veias” (p.89). Novamente, portanto, Carrero constrói metáforas a partir das entranhas do corpo. E, nessas passagens, exala um quê da poesia, excessiva e repleta de imagens da morte, de Augusto dos anjos. Em “Felicidade, que horror!”, surge a cidade do Recife, “prenhe de fogo e luz, os rios incendiados e o mar de chumbo, sem ventos” (p.96). Uma atmosfera, portanto, asfixiante e dotada de uma luminosidade ferina. Pelo indireto livre, a personagem, que deseja ser criminosa, embora tenha aversão a sangue, questiona “A felicidade é coisa tão medonha que cria uma capa no rosto?” (p.99). Essa inversão significativa, associada à felicidade e à alegria, também pode ser encontrada ao longo da obra carreriana. E não haveria de fato uma dose de angústia em meio a tais estados de espírito? O autor pernambucano no título O amor não tem bons sentimentos, publicado em 2007, leva ao ápice o gosto por desnudar os afetos, expondo neles o que o senso comum vê como elementos opositivos. Construído em forma de diálogo, entre Rosa e Fernando, em “Lábios de tigre afoito”, ela corresponde ao pássaro e ele, ao tigre. Fernando, então, pensa: “que briga mais disforme. um tigre, um tigre, mordendo as asas de um passarinho” (p.107). Outra vez, uma imagem que poderia estar num quadro de Dali. Nessa disputa, ele lembra que “os canários têm garras – tão ternas e delicadas, e nem por isso deixando de ser garras – pequenas e afiadas, imitando a voluntariedade das feras” (p.108). E, conclui, posteriormente, que “a fragilidade do corpo está em relação à sombra” (ib.). Ao longo do texto, portanto, tigre e pássaro perdem a simbologia original e assumem características inusitadas: o felino é referido como terno, enquanto o pássaro assemelha-se à fera. Em “As iluminações”, encontra-se a segunda parte do conto “O artesão”, agora sobre a infância de Ismael. O menino vivia intrigado com o poço: “Como era que o rosto, seu terno e meigo rosto, aparecia no fundo das águas e não vinha no balde? Repetia só pode ser mistério. Sentava-se debaixo do Amor Triste e a melancolia se formava escura e magoada nos olhos” (p.111). Para além da comoção causada pela inocência do menino e por sua decepção diante da impossibilidade de solucionar o mistério, que já carrega uma boa dose lírica, verifica-se que o Amor Triste funciona como metáfora da melancolia que se instaura, reduplicando a tristeza. Essa melancolia se apresenta ainda por uma imagem: ela pode ser vista nos olhos do menino. O tríptico “A vida escondida em Cristo” retoma a vida de Santo Antonio, “uma alma que não se dobra a um único corte de sombra” (p.117). Não se deixar abater pelas sombras possivelmente significa não ser tomado pela dúvida ou pelo Mal. Entretanto a imagem “fala” mais sobre a alma do santo do que o mais preciso texto denotativo poderia dizer. E, diante da visão dos cinco mártires, Antonio “não desejou encontrar palavras, as palavras começavam a destruir a catedral de sua alma” (p.120). As palavras, portanto, são preteridas (podem corromper a fé, simbolizada na catedral?), enquanto a imagem e os sentidos ganham importância. O santo, após essa espécie de meditação, levita. Para atingir esse estágio, foi necessário aparentemente ir para um mundo aquém (ou além) da palavra. A terceira e última parte da obra – “As ruínas” – inicia com outro trecho de “O Artesão”. Agora, o atormentado Ismael tem visões aterradoras e as reproduz em esculturas. A imagem da menina nua tendo de um lado “um enorme falo, onde uma cobra se enrosca, desde os testículos até a glande [...]” e, do outro, “uma nádega roliça, ameaçada pela cabeça de um cachorro violento, com os dentes arreganhados e os olhos ferozes” (p.138) parece evidentemente corresponder ao conto “A inocência vem das sombras”, em que há uma relação de pedofilia. O cão (assim como a cobra), que ocupa o lugar do Velho, possui uma simbologia negativa de fundo bíblico: “tido como impuro, serviu no Antigo Testamento para dizer o que era trivial e desprezível” (Lurker, 2006, p.36). Do mesmo modo, o quadro central com um homem gordo, Lott, disputado por suas duas filhas, uma das quais é segurada por um bode, parece ter conexão com o conto “As armadilhas do corpo” em que as obesas Judite e Joana se alternam na luxuriosa relação com Jesus. Carrero, portanto, arquiteta não apenas um livro de contos cujas partes – “As sombras”, “As iluminações” e “As ruínas”– dialogam (questão que será mais detidamente avaliada em tópico posterior) como estabelece uma relação íntima entre algumas narrativas. O “Artesão III” funciona, portanto, como metáfora tanto de “A inocência vem das sombras” quanto de “As armadilhas do corpo”. Metáfora do pecado ou do homem subjugado pelo desejo, ou seja, numa perspectiva cristã, pelo Mal. Em “Discurso aos cães”, Carrero retoma a submissa personagem Alvarenga cuja existência apenas se justifica na presença da prostituta Raquel de quem é fiel escudeiro. Ele, após passar a noite insone para avisar às mulheres sobre possíveis clientes que passam na rua, pensa em revelar à amada seu cansaço, mas recua, envergonhado de si mesmo: “[...] lhe fosse possível esconderia o próprio pensamento” (p.142). A imagem do pensamento escondido, para que não ofendesse ou magoasse Raquel, é a tradução perfeita do homem escravo do amor. No conto “Alguém pensa que é sorte ter nascido?”, uma personificação confere beleza ao texto. Avisado por Isabela que o pai chegará em breve, o filho observa: “meus lábios estranhavam um sorriso. Não era bem um sorriso carinhoso, mas a expressão inquieta de quem não sabe onde colocar as mãos” (p.146). Esse trecho tem parentesco com o titubeio do “repuxo indeciso dos lábios” do conto “Madame Belinski”. Carrero cria uma combinação inusitada de palavras para revelar de modo poético o instante em que as pessoas sorriem sem de fato terem motivo para tal; sorriem sem vontade, apenas para cumprir uma formalidade. Sobre o pai, a personagem conclui: “A sua maior qualidade sempre foi a de recolher sofrimento sem despejar azedume pela casa” (p.147). Novamente, o escritor sertanejo instaura uma aura de novidade, de surpresa, porque, ao utilizar os verbos recolher e despejar, dá concretude a sofrimento e azedume. E, para caracterizar a força da resignada Isabela, sentencia em dupla hipérbole: “uma mulher que absorve todas as danações do mundo sem permitir que elas lhe provoquem uma única cicatriz” (p.147). O último tríptico “As sombrias ruínas da alma” sobre velhos que experimentam o sabor acre do “tarde demais” é um dos mais carregados de imagens, sobretudo da velhice. O bar em que se encontram guarda um inquietante sentimento de expectativa e tensão, de algo parecido com a solidão que está prestes a se arrebentar, de alegria arruinada, de festa que quer se aproximar mas que encontra a fina e sutil resistência da desesperança (p.151) Deve-se observar que toda a descrição imagética do espaço no início da narrativa funciona como metáfora do que ocorrerá na trama: os ex-namorados de Beatriz percebem pouco a pouco a impossibilidade de retomar a relação amorosa. A capacidade de Daniel de conter os sentimentos também é explicitada por uma imagem que contrapõe corpo e alma: “é um desses tipos que consegue controlar a natureza agitada da alma em movimentos sóbrios” (p.151). Após encurralar discursivamente Sebastião, ele “experimenta uma dessas alegrias estranhas que fica como um soluço preso na garganta, uma felicidade que açoita o coração” (p.155). Novamente, portanto, surge a ideia incomum de alegria-triste. Poder-se-ia levantar hipóteses para tentar dar conta dessa esquisita combinação de termos: Daniel experimentava culpa, arrependimento? A felicidade é tão intensa que dói? Todavia, as imagens mais bem construídas têm a velhice como tema. Daniel revela à amada: “os ventos começam a abandonar a alegria do meu corpo. Um homem sabe, Beatriz, um homem sabe quando os ventos se retiram porque a pele começa a ressecar e os cabelos já não se alvoroçam na sua cabeça” (p.161). Sobre a impossibilidade de alterar os rumos dos acontecimentos, Daniel afirma: “Assim é que são bordados os destinos e a mão que os tece sabe os pontos que vai dar” (p.162). É também através de uma imagem que Beatriz evidencia sua angústia ao ver primas e amigas se casando: “Até parece, desgraçadamente, que cada uma que partia levava um sorriso da gente” (p.162). Sebastião é caracterizado por uma metáfora que se dissolve após a explicação do que há de comum nos elementos equiparados: “o tímido Sebastião tem alguma coisa do mistério belo e trágico das cigarras: parece morrer cada vez que termina de tocar seu violão” (p.172). E a sentença proferida por Beatriz parece encerrar uma incongruência: “Passado somos nós e nós estamos aqui” (p.173). Apesar dessa presentificação dos corpos, a impossibilidade de tornar ao tempo das paixões e a velhice estampada na carne fazem dos quatro “passado”, porque a vida ficou lá trás: no agora não vivem, sobrevivem. Sobre o retorno dos antigos amantes, Beatriz constrói uma imagem: “estão aqui outra vez, como se a desgraça fosse uma cachorra que a gente precisasse insultar e atiçar permanentemente” (p.175). Essa ideia de vigília constante, de perigo iminente, desencadeada pela metáfora, provoca uma sensação aterrorizante. E, novamente, Carrero vira a alegria do avesso: de acordo com o narrador, “todos se mortificam, mas sentem prazer ao lembrar do passado, por isso é que se doam e se alegram – uma alegria áspera e dolorosa, que não provoca risos, antes de tudo: causa tormento” (p.176). É também Beatriz quem, através de metáforas (de gosto anjosiano), revela a ruína dos corpos: E agora, agora que não somos mais do que uma montanha de ossos procurando um pedaço de chão para cair, retornam. [...] E eu? Não estarei com medo também? Devorada pelo medo e pela certeza de que as formigas começam a subir pelas minhas pernas? [...] Que será de todos nós? Que será possível fazer agora que significamos menos do que as pedras e ainda menos do que os cactos? (p.181) Por último, vale ainda citar a descrição de Beatriz: “uma criatura que é uma espécie rara de bordado; a agulha e a linha, lerdas e lentamente recompondo a alma, as cicatrizes e as chagas ensangüentadas” (p.182). Esse movimento de costura corresponde à tentativa de recuperação do passado pela memória, ou seja, à boa parte do próprio movimento da narrativa. Embora o número de fragmentos analisados pareça extenso, houve uma seleção bastante restritiva considerando a quantidade infindável de imagens que povoam As sombrias ruínas da alma. Deve-se acrescentar que, se por um lado, o estudo desse (pequeno) inventário, ilhas de poesia na prosa, é imprescindível para a compreensão da estética carreriana, por outro, a tentativa de dissecação das imagens é algo frustrante já que, por vezes, se traduz em mera paráfrase. Massaud Moisés, em A criação literária (Prosa I), observa que não se pode retirar os trechos poéticos sem violentar a estrutura do romance, tão estreito é o liame entre a poesia e a intriga: ‘não é somente pelas passagens que o romance pode ser poético, é em sua totalidade’. Por isso, também as passagens poéticas perdem força comunicativa quando retiradas do contexto, pois apenas ali é que encontram sua verdadeira razão de ser [...] (2006, p.307) De qualquer modo permanece a certeza de que identificar, rastrear e analisar essa presença imagética, ainda que a análise fique sempre aquém da imagem, contribui ao menos para diferenciar este título carreriano das obras contemporâneas com maior alcance de público e crítica, marcadas, de acordo com Karl Erik Schollammer, pela presença do realismo cru cuja raiz está na ficção de Rubem Fonseca: Fonseca criou um estilo próprio – enxuto, direto, comunicativo –, voltado para o submundo do carioca, apropriando-se não apenas de suas histórias e tragédias, mas, também, de uma linguagem coloquial que resultava inovadora pelo seu particular “realismo cruel”. Outros escritores, [...] seguiam os passos de Fonseca [...], desnudando uma “crueza humana” até então inédita na literatura brasileira. (2011, p.27-8) Em As sombrias ruínas da alma encontramos o pobre, o miserável, o marginal, a violência, o sexo, a desumanidade, mas todos esses elementos envoltos em uma linguagem úmida, poética. A tematização de um universo brutal não precisa (e talvez nem deva) se dar por meio de uma linguagem seca. Essa secura reproduzida ad nauseum nas letras nacionais por vezes parece se opor ao que desde tempos remotos se chama literatura. Onde alguns críticos vêem harmonia entre forma e conteúdo não haveria, em alguns casos, empobrecimento literário? Godofredo de Oliveira Neto, em O pós-pós moderno: novos caminhos da prosa brasileira, defende o esgotamento de “uma estética violenta, fragmentada e febril” (2011, p.226) e verifica, em obras publicadas no último decênio, “o retorno do emprego metafórico e simbólico da linguagem e da poética” (ib., p.225) e o abandono da “indigência lexical” e da “oralidade propositalmente vulgarizada” (ib.). Talvez a diversidade de estilos sempre exista e não seja de fato possível apontar tendências (mesmo Karl Erik Schollhammer não nega a presença de outras tantas vertentes na prosa convivendo em paralelo com a de raiz fonsequiana), todavia é um pouco mais simples identificar o esgotamento de determinadas categorias. Identificá-lo, por vezes, não porque os autores deixem de fazer uso de certos recursos, mas, ao contrário, porque crítica e público começam a apresentar um sentimento de rejeição a alguns “experimentos” que se tornaram “lugar-comum”, espécie de grande e sonolento clichê. Há dúvida de que a literatura do choque agoniza (e já não choque ninguém)? Há dúvida de que a metaficção na qual o enredo quase por completo perde seu lugar ao sol está moribunda? Há dúvida de que a enxurrada de citações provoca náusea? Há dúvida de que o uso ostensivo de referências midiáticas, gracinhas textuais, já não faz mais sentido? Em Feliz ano novo, livro de contos de Rubem Fonseca publicado em 1975, o escritor de “Intestino grosso” afirma: “não dá mais pra Diadorim” (1989, p.173). Talvez seja o momento de a prosa brasileira concluir que “não dá mais pra Zé Pequeno”. Não exatamente pela falta de qualidade literária, mas sobretudo pelo esgotamento de uma estética brutal e crua. Com a publicação de As sóbrias ruínas da alma, Raimundo Carrero fez um movimento de retorno (ficou mais próximo de seus primeiros títulos) e de recusa (se distanciou sobretudo do último romance), consciente ou inconscientemente, o que se traduz num ganho para sua obra e para o leitor, presenteado com a vastidão de imagens surpreendentes que caracterizam o literário. 10.2 Os múltiplos correlatos da ficção Para Thomas Hardy, que me deu esta história. (Carrero, 1999, p.21) Ao contrário de Somos pedras que se consomem, obra repleta de citações, em As sombrias ruínas da alma a intertextualidade está comumente enraizada à narrativa, como ocorre, por exemplo, com o tríptico “O pequeno pai do tempo” que dialoga com o romance de Thomas Hardy, Judas, o obscuro, publicado em 1895. O próprio Carrero, após dedicá-lo ao autor inglês, adverte: “O Pequeno Pai do Tempo” sempre me pareceu uma curta novela inserida no grande e maravilhoso romance Judas, O Obscuro, de Thomas Hardy. Desde o primeiro instante este notável e profundo personagem me comoveu e me inquietou. Decidi, então, reescrevê-la, ou melhor, remontá-la, segundo a minha visão de mundo. Para a minha tarefa recorri à tradução de Octávio de Faria, da Abril Cultural, de 71, copiando alguns diálogos e trechos da carta de Arabella. (1999, p.22). E, se o leitor está diante de uma “remontagem”, de que modo ela se estrutura? Quais são os pontos em comum entre os textos e as dessemelhanças? Que visão de mundo resulta das escolhas do escritor pernambucano? Essa visão seria a mesma presente na obra de Hardy? Perguntas que só podem ser respondidas a partir do cotejamento das narrativas. O autor inglês inicia a obra pelo relato da vida de Judas (pai) ainda menino e o narrador revela todo o seu apreço pelo conhecimento. Vale ressaltar que ele, por conta da morte dos pais, é criado pela tia que o considera um peso (repetindo o destino do pai, posteriormente o Pequeno Pai do Tempo também será considerado um fardo pela mãe, pelo padrasto e pelos avós). O conto do escritor sertanejo, contudo, não compreende a infância de Judas, o matrimônio com Arabella, o interesse do jovem pela prima Sue, o enlace conjugal da amada com o professor Phillotson, o pedido de separação da mulher para se casar com outro e o início da relação entre Judas e Sue. Carrero parte, para a construção do conto, do capítulo “Em Aldbrickham e em outros lugares” (Hardy, 1971, p.285-360). Na página trezentos e um, da edição referida, já é possível encontrar frase de Arabella dita a Sue de que o ficcionista pernambucano faz uso: “Não há tolo mais terno do que Judas, quando uma mulher está em situação difícil e o adula um pouco” (p.26). Logo em seguida, surge no romance a carta da exmulher de Judas revelando que tiveram um filho e avisando da iminente chegada do Pequeno Pai do Tempo, considerado por todos “demais”. Num primeiro instante verifica-se a quebra da linearidade. A obra de Hardy obedece ao tempo cronológico, enquanto Carrero fragmenta a carta e a transforma em rememoração. E, ao invés de iniciar o relato por ela, opta por enfocar a chegada do menino à cidade, que ganha uma feição sertaneja pela presença de “matos secos, árvores ressequidas, pedras e aveloses” (p.23). A frase que o Pequeno Pai do Tempo “parecia dizer mentalmente” (Hardy, 1971, p.308), ao ver as pessoas rindo por causa de um gatinho, “Todo riso vem de um mal entendido. Se se olham as coisas como deve olhá-las, nada há de risível debaixo do sol” (ib.), é retomada por Carrero para justificar o tipo de riso do menino, “entre irônico e entediado” (p.29). Na sequência, recupera o “verso”, originalmente proferido por Sue, como ponto de vista do filho de Judas: “percebe a humanidade ‘como formas semelhantes às nossas, horrorosamente multiplicadas’”. (ib.). Antecedida pelas palavras do narrador – “olha Sue admirando as flores e lateja um discurso medíocre mas cheio de desesperança” (ib.) –, a oração dita pelo menino durante o passeio pelo pavilhão das flores na Grande Feira Agrícola, mais de vinte páginas depois no romance, surge lado a lado com as duas supracitadas: Papai e mamãe, tenho muita, muita pena [...]. Mas, por favor, não fiquem aborrecidos com isso! Nada posso fazer. Gostaria muito das flores, muito mesmo, se não ficasse todo o tempo pensando que dentro de alguns dias elas estarão todas murchas! (Hardy, 1971, p.333; Carrero, 1999, p.29) Percebe-se, então, que Carrero procura condensar os trechos de maior impacto verbal na narrativa (num movimento típico do conto) e privilegiar a perspectiva do Pequeno Pai do Tempo, já que, além de expor o discurso do menino, toma para este as palavras de Sue. Além disso, deve-se notar que utiliza aspas nas três orações possivelmente marcando a citação da obra de Hardy (ou apenas a fala do garoto). Em contrapartida outras tantas frases extraídas do romance, para além da carta de Arabella confessadamente copiada pelo escritor sertanejo, surgem no conto como livre apropriação, o que ocorre, por exemplo, em trechos do diálogo entre o menino e o agente do trem ou na explicação que o Pequeno Pai do Tempo dá para não ter sido batizado: “se eu morresse em estado de danação, isso faria com que se poupasse o dinheiro de um enterro cristão” (Hardy, 1971, p.313; Carrero, 2009, p.26). Sem dúvida, Raimundo Carrero, como ele mesmo adverte, remonta o texto do autor inglês. A história contada pela viúva Edlin sobre o homem condenado à forca ao tentar recuperar o corpo do próprio filho – provável metáfora do enforcamento do Pequeno Pai do Tempo – também é recuperada pelo escritor sertanejo. Mas, enquanto no romance de Hardy, a lenda parece ilustrar a infelicidade do casamento, no texto carreriano surge na rememoração de Judas como prova do amor de um pai pelo filho. Na verdade, deve-se acrescer que Carrero exclui a discussão sobre o enlace matrimonial que povoa todo o romance, assim como as ideias revolucionárias de Sue, e quase integralmente a preocupação obsessiva de Judas pelo conhecimento. Fica apenas um breve registro do homem “que aspirara a universidade e a sabedoria, e que agora não passa de pintor de lápides em cemitérios, igrejas e casarões” (p.25). Mas a grande mudança operada por Carrero a partir do texto de Hardy é a troca de perspectiva durante a Feira em que todos estão presentes: Arabella, o atual marido, Sue, Judas e o Pequeno Pai do Tempo. Se no romance quem tudo observa é Arabella, sem ser vista, no conto, o olhar que direciona a narrativa pertence ao menino envelhecido. As ações que se seguem são basicamente as mesmas, mas, agora, sob a perspectiva do garoto (Carrero acrescenta apenas a relação adúltera, com boa dose de erotismo, entre Arabella e um soldado que não ocorre no texto de Hardy). Essa troca de perspectiva reforça a dor do filho de Judas diante de uma mãe luxuriosa e perdulária e dá ainda mais motivos para o infanticídio e o suicídio. A narrativa carreriana também é muito mais imagética. Hardy, por exemplo, descreve a tragédia em poucas palavras: Atrás da porta, havia dois pregos seguidos de cabides. Neles estavam suspensos, enforcados num pedaço de corda, os corpos das duas crianças menores, enquanto, um pouco mais adiante, o corpo do pequeno Judas pendia, da mesma maneira, de um prego. Uma cadeira derrubada se encontrava junto dele, e o pobre menino, com os olhos esgazeados, parecia olhar fixamente o quarto. Os da menina e os do bebê estavam, porém, fechados. (Hardy, 1971, p.376) Já Carrero opta pelo relato detalhado que resulta em imagens místicas: [...] no armador de rede junto à porta está enforcado e dependurado o menino mais novo, com uma doçura na face, apesar dos olhos esgazeados, ainda vestindo a camisola alva, sem uma gota de sangue, dá a impressão de um anjo em pleno vôo, um ser diáfano e único que procura as nuvens. A face avermelhada. No outro armador, a cabeça pendendo para a direita, os olhos fechados e os cabelos louros caindo sobre a testa, a menina mais velha, um pouco amarga como se tivesse tentado reagir. A língua dependurada e os braços abertos, preparando-se para partir. A corda havia ferido o pescoço e os ferimentos aparecem em várias partes. Está vestida em um camisolão amarelo até os joelhos, os pés protegidos por meias de lã, uma espécie de ser que foi martirizado. Aproximando-se, Judas percebe que uma lágrima mancha-lhe a face direita. A tentativa vã de não se despedir da vida. No centro, a figura estranha e grotesca do Pequeno Pai do Tempo, voando, os pés nas botas escuras, as feições endurecidas e rijas, de capote e chapéu. Embaixo, um tamborete, que fora afastado ligeiramente. Assim como a menina tinha os braços soltos. Não era preciso adivinhar que fora ele o artesão. (Carrero, 1999, p.38-9) O tríptico carreriano finda com o bilhete deixado pelo menino “Feito porque éramos demais”, enquanto a narrativa de Hardy segue com várias peripécias até a morte de Judas. Ou seja: o protagonista de Carrero é o Pequeno Pai do Tempo e o do escritor inglês é o obscuro Judas, sua trágica existência que inclui a morte dos filhos. E se, ao contrário de Hardy, Carrero não enfoca a questão sobre os malefícios do casamento ou sobre personagens que pensavam muito à frente de seu tempo, ambos compartilham o tema da miséria, do peso da existência e da morte como libertação. Judas era tido como “demais” pela tia, assim como o Pequeno Pai do Tempo – envelhecido pela aspereza da vida, numa repetição cíclica – pela mãe, pelo padrasto e pelos avós. As narrativas compartilham uma visão de mundo: a de que “deve haver qualquer coisa de errado nas nossas fórmulas sociais” (Carrero, 1999, p.38; Hardy, 1971, p.366). E esse erro não compreende apenas a miserabilidade financeira, mas também a afetiva, já que ambos os textos põem em relevo o abandono do filho pela mãe totalmente desprovida de valores morais. Curiosamente, não é apenas o tríptico “O Pequeno Pai do Tempo” que dialoga com Judas, o obscuro, mas a primeira parte do conto que abre As sombrias ruínas da alma, “Primeira carta ao mundo: o artesão I”, de modo implícito. Ismael, assim como Judas, tem o ofício de artesão. Deve-se lembrar ainda que o Pequeno Pai do Tempo também é chamado “artesão” no texto carreriano, por conta do trabalho que tivera com os enforcamentos. Ao gosto de Carrero, as substituições são sincrônicas: Judas, o Pequeno Pai do Tempo, Ismael e seus filhos são (e não são) os mesmos. Compartilham a pobreza e o abandono. O menino e a menina de “Primeira carta ao mundo” são deixados pela matriarca assim como o menino envelhecido do romance de Thomas Hardy. E Ismael opta pelos infanticídios seguidos de suicídio – morte por compaixão pelo outro e por si mesmo – como o faz o Pequeno Pai do Tempo. O homicida, neste caso, se vê como uma espécie de benfeitor, ideia que já estava presente em As sementes do sol. De acordo com o autor pernambucano, em seu segundo título, “o personagem mata o irmão, e diz que o assassino é ‘aquele que antecipa a visão de Deus. Ou seja, antes que a morte chegue, ele faz com que a vítima chegue logo mais perto de Deus”.83 A concepção da existência como fardo, portanto, também está em o “Artesão I”: “Os dois, pesos da vida, tinham um e dois anos” (Carrero, 1999, p.17). Ismael e Judas fracassam por não conseguirem transpor a barreira (social) da miséria. Esse modo de arquitetar a obra, em que os contos dialogam (neste caso a intratextualidade se estrutura a partir da intertextualidade), constitui sem dúvida um dos grandes méritos da narrativa carreriana. Já o tríptico “Entre sangue e inocência”, no qual um estuprador – o “Louco do Bisturi” (p.53) – corta bunda das mulheres, parece ter sido inspirado num fato real que ocupou as principais manchetes da década de 80 no Ceará. Um maníaco atacava no Conjunto habitacional José Walter ferindo moças e idosas na “região das nádegas com golpes de objetos cortantes, talvez uma navalha, estilete ou uma simples gilete” (Viana, 2011, p.9). Ao contrário do que ocorre nos contos, no entanto, o criminoso não praticava violência sexual. A repercussão dos ataques foi tamanha que tornou a história uma espécie de lenda urbana, ficcionalizada por Jansen Viana em 2011 na obra Cortabunda: o maníaco do Zé Walter. Todavia, vale ressaltar que Carrero usa o fato como pano de fundo para construir uma narrativa a partir das perspectivas dos membros de uma família atípica: a da filha do casal que sempre estranhara o comportamento recluso e ao mesmo tempo algo extravagante dos pais em “As solenes bênçãos da casa”, a do homem movido pelo desejo vaidoso de ser um gênio do crime em “Meus dias felizes” e a da mulher que se apaixona pelo estuprador e com ele vive uma relação de teor, grosso modo, sadomasoquista em “Durma em paz, meu coração”. O autor pernambucano nunca escondeu que extrai de notícias jornalísticas material para prosa. No entanto, a correlação intertextual aqui (se há de fato), diferentemente do que ocorre com Judas, o obscuro, é implícita. Curiosamente, o autor pernambucano trabalha tanto 83 LINS, Letícia. Deuses e demônios: Carrero conquista a literatura brasileira com suas histórias humanas e infernais. O Globo, Rio de Janeiro, 27 nov. 1999, caderno Prosa & Verso, p.1-2 com a tradição, com o cânone, como – ao que tudo indica – com episódio real que repercutiu nas páginas do Diário do Nordeste. Já “As astúcias da palavra”, terceiro conto do quarteto “Os intermináveis degraus do amor”, parece dialogar, também de modo implícito, com dois contos claricianos “A imitação da Rosa” e “Felicidade clandestina”. No texto de Carrero, a menina Rosa mantém uma relação erótica com as palavras, sobretudo com o seu nome, e é apaixonada pela Gramática Latina. Além disso, vê no casamento uma forma de cárcere que se opõe à liberdade proporcionada ao declinar: “Rosa, rosae, rosa...” (p.76). Em “A imitação da Rosa”, ao contrário, há uma personagem encerrada na relação matrimonial cumprindo seu asfixiante papel de esposa. A partir da visão das rosas, ela passa a questionar sua morna existência (Lispector, 1998, p.34-53). De certo modo, a protagonista de Carrero corresponde, por oposição, a de Clarice. A paixão sensual pelo texto é tematizada em “Felicidade clandestina”. A alegria com que Rosa do texto carreriano encontra no baú a Gramática Latina do tio-padre e o êxtase, então, experimentado parecem ter correspondência com o entusiasmo da menina clariciana diante de “As Reinações de Narizinho”. Rosa “passou tempos com o livro nas mãos, sem coragem de abri-lo. Naquela hora o mundo estava arrodeado de zumbidos e sons – a música estranha e terna de que é feito o desmaio” (p.72). Já a personagem de Clarice revela: “Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter” (Lispector, 2009, p.314). É possível mencionar ainda o fato de que a menina de Carrero possui – como Joana do primeiro romance da autora ucraniana – um “selvagem coração” (p.76). Independente de as relações aqui estabelecidas terem fundamento ou não, é inegável que a paixão pela palavra, o desejo de liberdade (ameaçada pelo papel de esposa) e um lirismo por vezes sensual são elementos da prosa de Clarice que podem ser encontrados no conto do escritor sertanejo. E, assim como ocorre com “O Pequeno Pai do Tempo”, no qual Carrero faz uma remontagem de trechos do romance Judas, o obscuro, no tríptico “A vida escondida em Cristo”, o escritor pernambucano elabora três contos a partir de dados biográficos de Santo Antonio e alerta: Os fatos aqui narrados não são lineares. Foram reunidos arbitrariamente pelo Autor, usando como fontes Santo Antonio – Vida, Milagres e Culto, de Frei Basílio Röwer; Santo Antonio – Luz do Mundo, Nove Sermões, de Padre Antonio Vieira (Vozes); Vida de Santo Antonio, de Virgílio Gamboso (Santuário) e O Santo do Menino Jesus – Santo Antonio, Arte e História (diversos autores). (p.115) Carrero trabalha com fatos biográficos e explora ficcionalmente os sentimentos e pensamentos do Santo durante alguns dos episódios mais marcantes de sua existência. Em “Resplendor dos cinco mártires” o Frei se encontra em Assis no ano de 1221 e participa do Capítulo Geral da Ordem Franciscana ao lado de Filipino. Em seguida rememora o trajeto de dor e sofrimento até chegar finalmente a essa cidade: a passagem por Marrocos, a doença, a tentativa de retorno a Portugal, as tempestades, a chegada a Sicília. O relato de todas essas peripécias pode ser encontrado na obra de Frei Basílio Röwer: O ardoroso missionário [...] mal pôs os pés em terras de Marrocos, caiu doente. [...] só lhe restava voltar para Portugal. [...] Durante a travessia levantou-se fortíssima tempestade. [...] em lugar de alcançar a costa de Espanha ou Portugal, aproou na Sicília. (Röwer, 1988, p.29) O grande mérito dessa narrativa carreriana é, através sobretudo do discurso indireto livre, explorar o que se passa no íntimo de Santo Antonio, suas (prováveis) angústias e dúvidas: [...] adoeceu em Marrocos, atormentado por febres, gemendo, rezando e vencendo, até ficar de pé para tomar um navio de retorno a Portugal. Por que retornar? Que estranho desígnio estava contido naquilo? Não seria melhor lutar, pregar a permanência de Cristo, mesmo enfraquecido? (p.118, grifo nosso) Em seguida, o narrador intercala a visão (ficcional?) que Antonio tem dos cinco Mártires subindo aos céus à história real do suplício de “Bernardo, Pedro, Otão, sacerdotes; Adjuto e Arcúsio, irmãos não-sacerdotes” (Gamboso, 1994, p.33). Já o conto “A arca do verbo encarnado” trata do episódio em que um noviço, exausto por buscar água no poço distante, decide abandonar o convento e, após encontro com o diabo, retorna. Frei Antonio, contente com a volta do rapaz, decide cavar um reservatório mais próximo e é punido por seu superior. No claustro, tem a visão da Virgem e compreende que sua transgressão o levou a transcendência. Em Santo Antonio vida, milagres, culto encontramse duas passagens, que parecem ter sido fusionadas pelo escritor sertanejo, aqui transcritas para melhor entendimento do modo como Carrero elaborou “As Iluminações”: Um noviço resolveu voltar ao mundo. Retirando-se levou consigo o livro de salmos com comentários, escrito por Santo Antonio. [Santo Antonio] pôs-se a rezar pelo pecador e que lhe fosse restituído o livro. Nosso Senhor ouviu as orações. Ao passar o jovem por uma ponte, sentia-se detido e na sua frente via um negro que ameaçava lançá-lo no rio se não restituísse o livro. Aterrorizado [...] o jovem tornou ao Convento. (Röwer, 1988, p.51) Para abastecer o Convento de água, os frades tinham que apanhá-la longe. Certa vez, ausentou-se o Superior por alguns dias, para pregar fora e deixou Antonio por substituto. Compadecido este com os frades e para aliviá-los no trabalho, aproveitou a ausência do Superior e fez cava um poço perto do Convento. Na volta, o Superior achou o caso tão grave que se zangou, repreendeu fortemente a Antonio e o encarcerou por ter tirado aos frades o merecimento da penitência com o ir longe buscar água. (ib. p.61) Raimundo Carrero, portanto, se apropria desses episódios e os entrelaça. E, assim como a visão dos cinco Mártires é um trecho (aparentemente) ficcional, a aparição da virgem no claustro também não constitui dado biográfico. Ela, de acordo com os relatos sobre a vida do Santo, lhe aparecera na França (Röwer, 1988, p.45). Entremeada à narrativa sobre o noviço se encontra ainda a tentativa (verídica) de Santo Antonio de convencer os ouvintes da assunção de Nossa Senhora. No último conto do tríptico “Sermão aos peixes”, há uma história envolvendo o pai de Santo Antonio, acusado de assassinato. Para provar a inocência do homem, o filho, numa espécie de transe, surge na cidade onde ocorreu o crime, pergunta ao defunto se foi Martinho de Bulhões quem o matou e recebe, diante de todos, a resposta negativa – milagre também revelado na biografia do Santo (ib. p.93). A narrativa é ainda entremeada a fragmentos do Sermão aos Peixes. Durante a oratória, esses animais se reúnem para ouvir o Frei. A suspensão milagreira da chuva sobre os fiéis no momento do Sermão da Quaresma, no entanto, parece não ter correspondência biográfica e talvez possua relação com o episódio das hortaliças: para atender um pedido de Santo Antonio, uma mulher solicita à empregada que vá à horta. Chovia torrencialmente, mas ela não de molhava (ib., p.54). O reino do milagre tem parentesco com o universo do maravilhoso: há uma aceitação do relato pelo leitor que não anseia por nenhuma explicação racional. Mas não deixa de ser intrigante a presença dessa ilha de fé e esperança em meio às ruínas e às sombras do décimo primeiro título carreriano. E, assim como o Artesão I se harmoniza com o tríptico “O Pequeno Pai do Tempo”, conforme analisado acima, o Artesão II também possui estreita ligação com “A vida escondida em Cristo”. A “Segunda Carta ao Mundo” explora a infância de Ismael e o momento em que o menino, à procura da própria imagem refletida da água, cai na cacimba. O episódio de raiz biográfica – Carrero em criança caíra num poço – parece ainda dialogar com a história de Narciso. O escritor em entrevista a Letícia Lins mais uma vez menciona essa vivência: “A queda no poço por horas seguidas na minha infância, as experiências de vida de fundo de poço em outras dimensões, tudo isso contribui para a imagem que a gente forma do mundo [...]”84 Mas interessa aqui frisar que o menino Ismael vê (ou advinha) uma imagem feminina, “tocada de Beleza e Encanto” (p.112), que o acalenta. Após ser salvo, esculpe uma mulher com o menino nos braços, em provável alusão a Nossa Senhora. Um texto, portanto, iluminado, que, assim como o tríptico, mescla biografia, milagre, reverência à Grande Mãe e fé. Outras vozes talvez ainda povoem As sombrias ruínas da alma. Suassuna, por exemplo, na orelha da obra propõe uma correlação entre “Os intermináveis degraus do amor” – em provável referência a “A inocência vem das sombras” – e o romance Os demônios, de Dostoiévski, possivelmente em função do crime de pedofilia cometido pelo velho do texto carreriano e pela personagem Nikolai Stavróguin da obra do escritor russo: Em Os intermináveis degraus do amor, a implacável epígrafe de Dostoiévski recorda o terrível destino da menina que, ao ser violentada por Stavraguine, condena o violador a ver sua pequena e frágil vítima enforcar-se por desespero. Já Paulo Roberto Pires aproxima “O Artesão I” da ficção faulkneriana: Os excluídos pela sociedade, caso do protagonista de “Primeira carta ao mundo”, um mendigo que, movido à cachaça, repete na periferia de uma grande cidade não muito definida a sina dos personagens de “Enquanto Agonizo”85. E Carlos Nejar, sem apresentar razões, vê no tríptico “As sombrias ruínas da alma” uma relação com “Tristão, Isolda e o precipício” (2011, p.907). Cabe ainda ressaltar que, para além das vozes, em movimento intertextual, há as correlações intratextuais. Não apenas “Em agonia e desejo” e “Madame Belinski” se encontram na obra Somos pedras que se consomem, conforme já analisado em capítulo anterior, como Carrero recupera as personagens de Maçã agreste (e também de Somos pedras), Raquel e Alvarenga, no conto “Discurso aos cães”. Todavia o mais astucioso neste décimo primeiro título é o entrelaçamento entre O Artesão I, II e III e as demais narrativas. Assim como “O Artesão I” dialoga com o Pequeno Pai do Tempo e “O Artesão II” carrega a mesma mensagem de fé e esperança do tríptico “As 84 Op.Cit. PIRES, Paulo Roberto. Movimentos de confronto com o Mal. O Globo, Rio de Janeiro, 27 nov. 1999, caderno Prosa & Verso, p.1-2 85 Iluminações”, em “O Artesão III”, Ismael esculpe imagens aterrorizantes que funcionam aparentemente como metáfora dos contos “A inocência vem das sombras” e “As armadilhas do corpo” – questão já esmiuçada em tópico anterior. Carrero mais uma vez traz para a obra uma confluência de vozes, em movimento intertextual, que comumente enriquecem a prosa, e de modo intratextual, promovendo uma ampla correlação entre as suas narrativas – engenhosa construção própria de quem domina a arte da ficção. 10.3 O sentido da arquitetura e a arquitetura do sentido Fez tudo com o máximo de profissionalismo. Exatidão, simetria, harmonia: a perfeição que leva à Beleza absoluta. (Carrero, 1999 p.19) Finalista do Jabuti com Somos pedras que se consomem, Raimundo Carrero finalmente recebe o maior prêmio da literatura brasileira com o livro de contos As sombrias ruínas da alma, seu décimo primeiro título, considerado ainda “por críticos do jornal O Globo um dos dez melhores lançamentos de 1999”86. Após a premiação, saíram no Diário de Pernambuco várias matérias em que ficam evidentes o sentimento de orgulho dos pernambucanos e a dificuldade de um escritor nordestino ganhar projeção e reconhecimento nacional num mercado editorial dominado pelas cidades do Rio e de São Paulo, para onde se voltam também comumente os olhares da crítica. Cristiana Tejo, por exemplo, afirma que “o motivo da comemoração é que já fazia mais de quatro décadas que escritores do Estado não recebiam o título”.87 A jornalista inicia a entrevista ao autor com a pergunta: “Como você recebeu a notícia de ter sido o segundo pernambucano residente no Recife a receber o Jabuti?” (ib.). E mantém o foco mais à frente: “Você considera este prêmio importante também para a auto-estima dos escritores pernambucanos, em termos de se sentirem incentivados a produzir?” (ib.). Em outra reportagem (não assinada) lê-se: Pernambuco acaba de conseguir um feito inédito na área literária: emplacou dois nomes entre os vencedores do prêmio Jabuti na edição do ano 2000. O escritor Raimundo Carrero está entre os três nomes que ganharam na categoria “Contos e Crônicas”, com o livro As sombrias ruínas da alma; e o pesquisador Evaldo Cabral de Mello também figura entre os vencedores na categoria “Ensaios e Biografias”, com o livro O Negócio do Brasil88. 86 MACHADO, Alexandre. Apóstolo do excesso. Correio Brasiliense, Brasília, 23 jan. 2000, Caderno Dois, p.4 TEJO, Cristiana. O escritor tem que abalar a alma. Diário de Pernambuco. Recife, 10 abr. 2000, p.A5. 88 PERNAMBUCO GANHA dois Jabuti, Diário de Pernambuco, Recife, 6 abr. 2000, Caderno Viver, p.D6. 87 No mesmo texto, verifica-se a importância do prêmio para a divulgação da obra nos meios acadêmicos e literários: o jornalista enfatiza que Carrero “espera obter mais atenção e respeito da crítica especializada” (ib.). Porém, é possível notar que, antes do Jabuti, As sombrias ruínas da alma já dera ao escritor alguma projeção. Em 27 de novembro de 1999, são publicadas reportagem e entrevista com o ficcionista em duas páginas inteiras do caderno Prosa & Verso do jornal O Globo sob o título “Deuses e demônios: Carrero conquista a literatura brasileira com suas histórias humanas e infernais”, caminho possivelmente aberto, sobretudo, por Somos pedras que se consomem. À época do lançamento desse décimo primeiro título muito se falou sobre sua composição em trípticos. Adriana Dória Matos, por exemplo, observa que “As sombrias ruínas da alma é arquitetado a partir do número três: dividido em três capítulos que são quase todos trípticos”89. E, na matéria de Alexandre Machado, o próprio contista revela ao comentar sobre a forma da obra: “[o três] representa o grande número da Igreja. É o número mágico do Cristianismo. A Santíssima Trindade – Pai, Filho e Espírito Santo – e Maria, José e Jesus”90. Mas aparentemente não houve nenhum aprofundamento maior sobre a questão da engenhosa estrutura do livro de contos. Pode-se afirmar que As sombrias ruínas da alma possui dezoito contos se for considerado que cada um dos trípticos corresponde a apenas uma narrativa (totalizando quatro, portanto) e que o quarteto “Os intermináveis degraus do amor” e o quinteto (“caos”), “Roteiro para as paixões deste mundo”, ao contrário, possuem textos independentes (totalizando nove, portanto). Além destes, há “O Artesão”, I, II e III, que, apesar de possuírem uma unidade (todos tem como protagonista Ismael), por ficarem apartados na obra e por cada um manter certa autonomia, podem ser apreciados isoladamente. Avulsos estão ainda os contos “Discurso aos cães” e “Alguém pensa que é sorte ter nascido?”. Mas As sombrias ruínas da alma não apenas se divide em três partes (“As sombras”, “As Iluminações”, “As ruínas”), que se subdividem quase sempre em trípticos, como, em cada abertura de capítulo, um dos três contos de “O artesão” se relaciona intimamente com outros textos da obra. “Primeira carta ao mundo”, em que Ismael, supostamente abandonado pela esposa, miserável e exímio artesão, para livrar os filhos do peso da existência, decide matá89 MATOS, Adriana Dória. Tortuoso mundo de Raimundo Carrero. Diário de Pernambuco, Recife, 20 out. 1999, Caderno Viver, p.D1 90 Op.Cit. los, e em seguida se matar, funciona como metáfora de “O pequeno pai do tempo”, tríptico que remonta parte da obra Judas, o obscuro, de Thomas Hardy, redirecionando o foco para o menino envelhecido que, assim como Ismael e pelos mesmos motivos, enforca os irmãos e se suicida. Na “Segunda carta ao mundo”, o menino Ismael reproduz a visão que tivera no fundo do poço na escultura da Virgem com Jesus nos braços. Essa adoração a Nossa Senhora ressurge nos contos sequenciais que recuperam a vida de Santo Antonio. Carrero, portanto, promove um diálogo intratextual, antes marcado pelas “sombras” (“Primeira carta ao mundo” e “O pequeno pai do tempo”) e agora pela “iluminação” (“Segunda Carta ao mundo” e “A vida escondida em Cristo”). Já “Terceira carta ao mundo”, conto no qual Ismael esculpe imagens medonhas, parece se correlacionar não com as narrativas de “As ruínas”, mas com “A inocência vem das sombras” e “As armadilhas do corpo”. A primeira imagem da “menina nua”, com “os peitos ainda em formação”, próxima a “um enorme falo, onde uma cobra se enrosca, desde os testículos até a glande” (p.138) parece corresponder metaforicamente ao desejo pedófilo em “A inocência vem das sombras” e em “Quando eu for para o céu”. E a imagem da disputa de duas mulheres por um homem (inspirada no episódio bíblico em que as filhas de Lott o seduzem) tem paralelo com o triângulo amoroso composto por Judite, Joana e – deve-se reparar na correlação bíblica – Jesus (“As armadilhas do corpo”). Logo, Carrero sobrepõe três – novamente o número três – histórias. É preciso notar ainda que, em “As sombras”, a maior parte dos textos tem a paixão que leva à ruína como tema. E, no principal tríptico de “As ruínas”, que dá título à obra, as personagens envelhecidas, ao contrário, já se encontram em meio aos destroços e rememoram o ápice do desejo e a destruição dele decorrente. É como se as duas partes possuíssem o mesmo leitmotiv com apenas uma inversão de perspectiva. Em meio ao caos, uma ilha de fé e esperança – “As iluminações”. Em meio a tantos demônios, um Santo. Ao contrário de Dante, que estrutura A divina comédia em Inferno, Purgatório e Paraíso, Carrero opta por uma espécie de paraíso central, repleto de imagens místicas. Mas qual o sentido dessa arquitetura? A luz não é, na obra carreriana, o destino final das personagens, ou seja: apesar da presença no mundo da fé e da bondade (de poucos, dos santos), o homem comum vive nas sombras e está fadado à ruína seja ela financeira, moral ou física. Essa concepção pode ser visualizada no próprio percurso de Ismael que, se na infância esculpia imagens sagradas, na vida adulta é artesão de obra que mescla sexo e pecado. Suassuna, no texto que ocupa a orelha da obra, observa, contrariando o próprio autor, que “em nenhum momento o erotismo aparece como ‘aprovação da vida até na morte’”. De fato, em Carrero o desejo leva ao crime, à Queda, à morte. Ele não dá razão à existência; ele a destrói. O homem desejoso se consome, se aniquila, vive em pleno tormento, alma sombria e arruinada. No entanto, o olhar do narrador carreriano (e possivelmente do escritor) para este homem é menos de condenação do que de piedade. Suassuna também parece acertar quando diz que as tentativas na obra carreriana “de reagir contra o fascínio do Mal convencem menos do que os momentos de cumplicidade e entrega”. No entanto, talvez a questão não seja exatamente de cumplicidade com o Mal, e sim de compaixão pelo humano. Mas como esse sentido se arquiteta na obra? O narrador carreriano, por exemplo, conduz o tema da pedofilia em “A inocência vem das sombras” de modo que tanto a menina quanto o velho despertem no leitor pena. Se ela – que também se deliciara com o sexo – é inocente, ele não é apenas culpado. Há uma mão que apedreja e outra que afaga. A surra provoca catarse: o mais pudico dos leitores já se daria por satisfeito diante da punição severa. Entretanto aquele que bate, que corrige, está na iminência do (mesmo) crime: “até que descobriu a mão que escorria da coxa ao joelho, as palavras antigas repetidas pelo soldado com os lábios tocando a orelha: minha princesa” (p.66). Carrero destrói estereótipos ao expor pelo indireto livre as dúvidas da criança que se pergunta “os prazeres com refrega provocam vexames?” (p.66); a idolatria do velho, quase servil, pelo corpo (pela juventude?) da menina (quando ele aparentemente perde a coragem e chora – atormentado pela culpa? – ela desafivela o seu cinturão); e o comportamento do soldado que prende hipocritamente o homem pelo delito que está prestes a cometer. Paulo Roberto Pires, sem se estender, talvez por conta do tema delicado, apenas menciona que neste conto “o mais abjeto dos abusos sexuais ganha uma incômoda ambivalência”91. Adriana Dória Matos se arrisca um pouco mais ao questionar: “Como não estremecer de desejo sujo diante da pedofilia de A inocência vem das sombras”?92 Carrero parece conseguir que o leitor não apenas absolva o criminoso (e compartilhe com ele o desejo sujo) como se sinta culpado (estremeça) por essa absolvição e por esse compartilhamento. Em “Quando eu for para o céu”, a menina Isolda abandona a mãe e foge com o vizinho Espinoza. O homem pergunta por que ela aceitou ir embora com ele. A resposta 91 PIRES, Paulo Roberto. Movimentos de confronto com o Mal. O Globo, Rio de Janeiro, 27 nov. 1999, caderno Prosa & Verso, p.1-2 92 Op.cit. surpreendente: “quem fez o convite fui eu” (p.82). O leitor está diante de assassinos e pedófilos, portanto, que não despertam horror. Os primeiros porque matam na tentativa de livrar aqueles que amam do peso da existência (Ismael de “O artesão I” e o menino envelhecido de “O pequeno pai do tempo”), os segundos (o velho de “A inocência vem das sombras” e Espinoza de “Quando eu for para o céu”) porque, apesar de seduzirem, são, sobretudo, seduzidos. Referindo-se às personagens fracassadas e decadentes, de “As sombrias ruínas da alma”, Ivana Moura destaca que Carrero “lança um olhar generoso sobre essas fraquezas humanas”93. E o próprio autor revela: Para mim, a literatura é um poço sem fundo, porque escrever é tentar a compreensão da alma humana. E mergulhar no mais fundo do indivíduo é tentar compreender o homem com tudo que ele tem de bom e ruim94. Essa tentativa de compreensão instaura novos ângulos de visão que ampliam a perspectiva do leitor abalando crenças e convicções. As relações intratextuais aqui mencionadas (e outras como a reutilização de narrativas e personagens presentes em outras obras do autor) e intertextuais foram analisadas mais detalhadamente no tópico “Os múltiplos correlatos da ficção”. Mas vale ressaltar que através delas a obra se estrutura. Encontram-se neste décimo primeiro título, o diálogo do tríptico “O pequeno pai do tempo” com o romance Judas, o obscuro; a provável utilização do fato real sobre o maníaco “cortabunda” como fonte de “Entre sangue e inocência”; a proximidade entre textos claricianos e o conto “As astúcias da palavra”; assim como o emprego de dados extraídos da biografia de Santo Antonio para compor “A vida escondida em Cristo”. Além das aproximações feitas por outros críticos (Suassuna propõe a relação entre Os demônios, de Dostoievski, e “A inocência vem das sombras”; Paulo Roberto Pires aproxima “A primeira carta ao mundo” de Enquanto agonizo, de Faulkner; Carlos Nejar vê algo em comum entre “As sombrias ruínas da alma” e Tristão e Isolda), seria possível apontar ainda uma infinidade de correlatos intertextuais: a presença de citações e imagens bíblicas em vários contos; a escolha dos nomes Isolda e Espinoza (“Quando eu for para o céu”) que provavelmente têm alguma correspondência com a personagem da lenda medieval celta e com 93 MOURA, Ivana. Espetáculo disseca as ruínas da alma. Diário de Pernambuco, Recife, 26 mai. 2005, Caderno Viver, p.C6. 94 LINS, Letícia. Deuses e demônios: Carrero conquista a literatura brasileira com suas histórias humanas e infernais. O Globo, Rio de Janeiro, 27 nov. 1999, caderno Prosa & Verso, p.1-2 o filósofo racionalista; a raiz sadiana e masoquista em “Entre sangue e inocência”; a fusão de cinema e literatura em “Felicidade, que horror!”, e tantos outros. Essa riqueza intra e intertextual, esse redemunho de conexões, faz com que a análise sobre a obra nunca abarque a totalidade. Carrero utiliza como fonte, portanto, de modo por vezes implícito, por vezes explícito, jornal, cinema, literatura, as Escrituras, sua própria história (“reproduzida” na queda no poço em “O artesão II”) ou fatos reais que presenciou, como ocorre em “As sombrias ruínas da alma”: o autor pernambucano revela que um dos seres do tríptico “existiu, ele virou alcoólatra por conta de uma mulher que perdeu”95. Esse texto foi escrito inicialmente para teatro e se chamava O misterioso encontro do destino com a sorte. Marcelo Pereira ressalta que o contista “foi buscar no baú da memória algumas figuras que compõem a galeria de personagens fracassados e decadentes, como Rasga Tristeza” (2009, p.42). E, se são várias as fontes, há também uma infinidade de registros: carta (“Pequeno pai do tempo”), bilhete (“Quando eu for para o céu” e “Felicidade, que horror!”), relato de filmes (“Felicidade, que horror!”), música (“As sombrias ruínas da alma”), poema (“As sombrias ruínas da alma”), trechos bíblicos (“A inocência vem das sombras”) etc. Deve-se ainda ressaltar os elementos redundantes que perpassam a obra: a solidão; a miséria financeira (e afetiva); a sombra, metáfora do Mal, da angústia, do abandono; a ruína física e mental; as paixões que levam à destruição; e o sol que queima, fere. Adriana Dória Matos observa com argúcia que os personagens de Carrero são mesmo almas em ruínas. Pessoas para as quais o sol apenas brilha para torturá-las, queimar a tez, encandear. E a noite, que poderia trazer algum alento e aconchego, projeta as sombras horríveis do medo e do abandono96. A confluência desses elementos confere ao livro uma atmosfera opressora, atordoante. Com exceção de “As astúcias da palavra” em que a menina tem uma relação quase sexual com o próprio nome e a gramática latina, de “Felicidade, que horror!”, que, apesar do apreço da personagem pelo crime, tem um tom cômico, e obviamente do iluminado tríptico “A vida escondida em Cristo”, todos os demais contos possuem, em maior ou menor intensidade, um clima agônico. “A face inquieta do amor”, no qual amantes brincam de roleta russa, e “Lábios de tigre afoito”, em que há um embate verbal e imagético entre namorados, parecem antecipar 95 MOURA, Ivana. Espetáculo disseca as ruínas da alma. Diário de Pernambuco, Recife, 26 mai. 2005, Caderno Viver, p.C6. 96 Op.Cit. o tema (a guerra entre os sexos) de Ao redor do escorpião, uma tarântula (2003). Neste romance uma mulher, após o ato sexual, pensa em matar o marido. O poder de destruição do amor, questão central de “As sombrias ruínas da alma”, também retorna em O amor não tem bons sentimentos (2007), que trata da relação incestuosa e trágica entre Mateus e a irmã Biba. Surpreende na obra a presença do termo “rosa” em inúmeras narrativas. Rosa é nome de personagem em “As astúcias da palavra” e em “Lábios de tigre afoito”, é a cor da casa em que moram Isolda e Espinoza, em “Quando eu for para o céu”, possível símbolo da vida harmoniosa que levavam o homem e a menina; é a flor que Madame Belinski, do conto homônimo, traz na orelha e também a flor que Judite oferece a Jesus em “As armadilhas do corpo”; e é ainda o tom dos seios de Bianca em “A face inquieta do amor”. Parece que a força textual de “As astúcias da palavra”, em que a jovem declina sensualmente o substantivo, contamina o restante da obra. Curiosamente, perpassa o livro repleto de sombras e ruínas um vocábulo comumente associado à beleza e à feminilidade. O termo “rosa” talvez represente, assim, metaforicamente o erotismo em “As sombrias ruínas da alma”. O suicídio, recorrente na ficção carreriana, aparece em “O Artesão I” e em “O pequeno pai do tempo”, assim como a temática do assassinato por compaixão. Carrero observa com espanto: “relendo toda a minha obra, descobri que não tenho um só livro em que não haja uma situação de suicídio”97. O suicida, na prosa do escritor pernambucano, parece ter relação com o homem revoltado de que fala Camus: “A revolta nasce do espetáculo da desrazão diante de uma condição injusta e incompreensível” (s/d, p.21). Ismael e o menino envelhecido decidem enfrentar a vida destruindo-a. O ato reúne simultaneamente a covardia de quem decide abandonar a existência e a valentia de quem, inconformado com o destino, encontra na autodestruição uma forma de se rebelar, de se libertar. Em “Alguém pensa que é sorte ter nascido?” o patriarca moribundo se suicida, na perspectiva da filha, porque “um homem como este sabe escolher a própria morte” (p.146). Mais uma vez o suicida é considerado, portanto, antes de tudo, um forte. Como bem salienta Paulo Roberto Pires, a morte em Carrero muitas vezes é “uma forma de protesto radical contra os diversos tipos de sujeição do que se chama civilização”98. Ao contrário dos romances anteriores em que algumas das personagens principais eram vadias ou criminosas (Maçã agreste, Sinfonia para vagabundos, Somos pedras que se consomem), amantes de literatura, em As sombrias ruínas da alma, pela primeira vez o foco 97 LINS, Letícia. Deuses e demônios: Carrero conquista a literatura brasileira com suas histórias humanas e infernais. O Globo, Rio de Janeiro, 27 nov. 1999, caderno Prosa & Verso, p.1-2 98 Op.Cit. p.2 recai sobre seres de fato miseráveis, como Ismael de “O artesão I”, Judas de “O pequeno pai do tempo” e a menina de “A inocência vem das sombras”. A pobreza presente nos títulos anteriores de modo intenso, mas não central, passa a protagonizar a ficção. Mesmo em Viagem no ventre da baleia, embora Miguel e Jonas defendam os fracos e oprimidos, eles na verdade pertencem à classe dos intelectualizados, que tiveram acesso à educação, e nunca passaram fome. Dos títulos até agora analisados, apenas A dupla face do baralho foi escrito na primeira pessoa. Pode-se afirmar que Carrero tem apreço pelo narrador heterodiegético, embora ele por tantas vezes não detenha o domínio da ficção ou não tenha (ou faça astutamente parecer que não tem) sobre ela total onisciência. Esse narrador muitas vezes pelo uso do indireto livre cede (parcialmente) a voz às personagens ou explora várias perspectivas sobre o mesmo fato, fazendo com que a prosa ganhe múltiplos olhares. Dos dezoito contos de As sombrias ruínas da alma, quatro foram escritos na primeira pessoa: “Entre sangue e inocência”, “Em agonia e desejo”, “Lábios de tigre afoito” e “Alguém pensa que é sorte ter nascido?”. Em “Entre sangue e inocência”, contudo, há não uma, mas três pessoas. O tríptico se subdivide em “As solenes bênçãos da casa”, sob a perspectiva da filha do casal; “Meus dias felizes”, sob o olhar do pai, assassino e estuprador; e “Durma em paz, meu coração” narrado pela mãe, mulher seduzida pelo crime e pelo criminoso. Essa estrutura permite que elipses, no texto da menina, por exemplo, do mesmo modo como ocorre nas duas outras narrativas, sejam preenchidas por outro ponto de vista. Assim o leitor é fisgado na tentativa de compreensão do conto pela sobreposição de olhares. Já “Lábios de tigre afoito” edifica-se em diálogo no qual duas perspectivas se alternam do início ao fim da narrativa. E em “Alguém pensa que é sorte ter nascido?” a primeira pessoa, o filho adotivo, dirige-se a um narratário, um “tu”, o pai que está morto. Carrero, portanto, consegue em As sombrias ruínas da alma apresentar uma ampla variedade estrutural, típica de quem domina a arte da ficção. A linguagem com alta dose de lirismo, conforme apontado em capítulo anterior, é ainda concisa, com predomínio de frases curtas. Essa escolha faz com que o texto tenha mais “vazios”, “silêncios” significativos que devem ser decodificados pelo leitor. Nas primeiras frases de “O Artesão I”, por exemplo, pode-se verificar que a contenção é positiva; o não-dito torna o texto rico e belo: “A mulher fugira há dias. Talvez meses. Hospitais, cemitérios, hotéis: buscas palmo a palmo” (p.17). Na imprecisão temporal, fica implícito que Ismael perdeu a noção de quanto tempo decorreu desde que sua esposa desaparecera. Na relação dos lugares, evidencia-se seu desespero, a agonizante e extensa procura. O leitor já sabe que ele pensou na possibilidade de ela estar doente, ou morta, ou de tê-lo simplesmente abandonado (talvez, para viver com outro). O texto inteiro é estruturado dessa maneira: poucas palavras, muitos significados. A tônica de As sombrias ruínas da alma é dizer pouco, mas “significar” muito. Marcelo Pereira destaca que, à época do lançamento desse décimo primeiro título, a Folha de São Paulo recomenda o livro, embora ressalte que “a sintaxe simplista, as frases excessivamente curtas, pontuais, tornam o texto meio artificial, pouco espontâneo” (2009, p.42). Sem dúvida, o jornalista da Folha não soube avaliar adequadamente a prosa do escritor sertanejo nem reconhecer que explicar detalhadamente o que se quer dizer, em literatura, é muito mais fácil (e desinteressante) do que promover essa – expressiva – economia textual. Deve-se ainda acrescer: embora sintético, o texto carreriano é excessivo. Esse excesso não está na quantidade de palavras, mas na seleção de termos que, combinados, expressam o turbilhão de sentimentos presente no íntimo das personagens, capaz de contagiar o leitor. Concisão e densidade, portanto, dão forma ao estilo visceral de Carrero. Paulo Roberto Pires observa que na contramão do cinismo asséptico dos jogos literários, Raimundo Carrero não tem o menor pudor em ser excessivo e faz desse excesso a principal força de sua literatura. Se às vezes suas imagens estão um tom acima é porque o mundo em que ele se move não admite semitons. As sombrias ruínas da alma é a poética do excesso, da parte que nunca, jamais, será domesticada no humano99. A carência de diálogos também é uma característica do texto carreriano. O autor afirma: “meus personagens falam muito, mas falam sós”100 – o que acentua mais ainda a atmosfera de solidão das narrativas. Os contos de As sombrias ruínas da alma alternam o sertão, seco, sombrio, solitário, e o espaço urbano, violento, febril, de, por exemplo, “O artesão” e “Entre sangue e inocência”, respectivamente. Carrero recupera não apenas o lirismo (um tanto esquecido em Somos pedras) como o gosto pela história bem contada. O retorno do enredo, que perdera lugar para as citações e o discurso metaficcional de títulos anteriores, é sem dúvida alguma mais um ponto positivo para a ficção carreriana. Mas o grande mérito desse livro de contos está em sua macroestrutura. Se, em “As sombras”, predomina o erotismo e, em “As ruínas”, a decrepitude, seria possível pensar no percurso do desejo à destruição, correspondendo às fases da vida: 99 Op.Cit. p.2 MATOS, Adriana Dória. Tortuoso mundo de Raimundo Carrero. Diário de Pernambuco, Recife, 20 out. 1999, Caderno Viver, p.D1 100 juventude e velhice. Há luz no mundo – sentido do tríptico central “As iluminações” – mas o paraíso não é o destino do homem. Por outro lado, se a arquitetura geral da obra lhe confere um tom pessimista, Carrero edifica os textos, como já demonstrado, de modo que o horror cause menos indignação do que piedade. Os seres, por mais culpados que sejam, são antes de tudo vítimas de sua própria condição humana: incapazes de se desvencilhar do (destrutivo) desejo e fadados à ruína. 11 Ao redor do escorpião... uma tarântula: orquestração para dançar e ouvir 11.1 Ao redor do escorpião... uma teia de vozes O sorriso na sombra do sax tocando entre a decisão e a coragem. (Carrero, 2003, p.99) No décimo segundo título carreriano (e o décimo analisado nesta pesquisa), publicado em 2003, as correlações inter e intratextuais são ainda menos evidentes do que no livro de contos As sombrias ruínas da alma. Pouco a pouco, Carrero perde o gosto pela citação, pela referência explícita. Perde, talvez, o receio de não identificar para o leitor os pontos de contato do romance com outras obras. Desse modo, aumenta a dificuldade de reconhecimento das vozes externas entremeadas ao texto, o que torna a ficção, pela riqueza das entrelinhas, ainda mais interessante. Durante as cento e sessenta e quatro páginas de Ao redor do escorpião... uma tarântula?101, por exemplo, Alice, na constante iminência do crime, ouve um negro tocando sax. Como não associá-lo ao músico de A hora da estrela? Rodrigo S.M. revela que “a história será igualmente acompanhada pelo violino plangente tocado por um homem magro bem na esquina. A sua cara é estreita e amarela como se já tivesse morrido. E talvez tenha” (Lispector, 2006, p.26). Ambas as personagens, saxofonista e violinista, não participam ativamente da trama, mas são responsáveis por uma espécie de trilha sonora significativa. No título clariciano, o som da morte é o do violino, triste e agudo; a cor da morte (do moribundo), o amarelo, metáfora do destino de Macabéa. Na trama do escritor pernambucano, o sax do negro simboliza a dor, a angústia, o pranto – o que fica ainda mais evidente se for considerada a possível relação com o conto “Em agonia e desejo”, de As sombrias ruínas da alma (também presente em Somos pedras que se consomem), no qual um homem apaixonado por blues lamenta ser branco, porque, de acordo com a revelação do filho, ele acreditava que somente os negros sabem cantar com essa tristeza na alma, seja negro brasileiro, ele dizia, ou negro norte-americano, negro tem sofrimento de séculos, nem precisa sofrer e já está sofrendo, basta olhar nos olhos deles e a gente já sabe que trazem uma dor antiga (Carrero, 1999, p.69). 101 Edição da Iluminuras publicada em 2003. E é justamente esse negro americano – Dexter Gordon, o dg, “o bird assassinado pela droga e pela – pela bebida”102 (p.21) – que surge, sob a perspectiva de Alice, no décimo segundo título de Carrero. Vale ainda ressaltar que a personagem Soluços, de “Em agonia e desejo”, mescla, em harmonia com o título, pranto e volúpia. Da mesma maneira, a esposa de Leonardo é composta por sofrimento e gozo. De acordo o narrador, contaminado pelo turbilhão emocional de Alice, “quem ouve compõe soluços” (p.27). Esse termo – soluços –, pranto entrecortado de suspiros estimulado pelo som do sax, irá atravessar o romance lado a lado com a intensa libido do casal de Ao redor do escorpião. Duas canções são mencionadas na trama: “The people of the rainbow” (“[Alice] sobre as ramagens do mosquiteiro ouvindo o negro tocando o povo do arco-íris no saxofone [...]” (p.68)), música que celebra a paz e o amor, e “The shadow of your smile” (“o sax de dg tocando a sombra do seu sorriso” (p.21)), de Johnny Mandel e Paul Francis, sobre o fim de um relacionamento. A primeira composição contrasta com o romance, repleto de ódio, como se o som do sax fizesse contraponto à obra, como se o mundo, as relações, sobretudo amorosas, se opusessem ao lema da “Família Arco-Íris”. Já a segunda se harmoniza com o enredo que trata do fantasma do rompimento amoroso. Alice também possui uma sombra no sorriso (“dg está tocando a impossível sombra do seu sorriso” (p.26)), provável metáfora do sofrimento que a acompanha ou da incógnita sobre o ato trágico: matar ou não Leonardo. Curiosamente, em Os extremos do arco-íris (1993), obra infantojuvenil na qual música, cinema e literatura se fundem na mente de um homem aparentemente desequilibrado, que se esforça por desvendar um suposto crime, há referências às duas canções presentes no romance de 2003. O ensandecido detetive coloca na radiola sua “faixa favorita: The Shadow Of your Smile [...], com Dexter Gordon” (p.21). E, em seguida, menciona: “Dexter Gordon Quartet acabava de tocar The Rainbow People [...]” (p.24). No entanto, ele cita ainda filmes homônimos: “A sombra do seu sorriso”, “história de amor que envolve um pastor e uma pintora famosa, viúva, com um filho histérico [...]” (p.26) e “O povo do arco-íris”, no qual “um jovem de idéias delirantes (Insane Boy) procura desvendar um crime que ocorreu em meio a mistérios e fantasias” (p.32) – sinopse que se confunde com a própria trama do título infantojuvenil. A mulher do primeiro longa-metragem tem “um sorriso sombrio” (p.30), assim como a secretária Susie: ela “tinha sombras no sorriso como se estivesse sempre magoada. Sorria para esconder o sofrimento” (p.69). Ao que parece, as duas obras, separadas no tempo 102 CARRERO, Raimundo. Ao redor do escorpião... uma tarântula: orquestração para dançar e ouvir. São Paulo: Iluminuras, 2003. Nas próximas referências a essa obra, será indicado apenas o número da página. por dez longos anos, foram costuradas pelo autor pernambucano e compartilham, portanto, tanto a imagem do arco-íris em cujos extremos estão a sanidade e a loucura, o sonho e a realidade (o escorpião Leonardo está na ponte flutuante do céu), quanto o sorriso das personagens femininas repleto de mágoa. Impressionante como apenas um elemento da trama, o sax do negro, conduz ao giro ao redor de Clarice, de Dexter Gordon, de canções americanas e, intratextualmente, em volta de “Em agonia e desejo” e de Os extremos do arco-íris. Vale salientar ainda que, no décimo segundo título carreriano, o som desse instrumento de sopro ora funciona como estímulo ao ato trágico (uma das formas de vigiar as próprias dores (p.47)); ora serve para manter Alice acordada (ela inventa o sax do negro para afastar o sono (p.54)); ora contribui para acentuar a dor (ela compõe soluços (p.59)); ora reflete pela canção um traço da personagem, o sorriso sombrio; ora é sinônimo “da noite atormentada do escorpião” (p.118). Raymond C. Westburn, que escreve o posfácio do romance, propõe novas correlações. Para o professor de literatura brasileira da Diamond University, uma das “fontes fundadoras” do romance “é o poema ‘Especulações em torno da palavra homem’, de Carlos Drummond de Andrade: O poema, todo montado em interrogativas, investiga a palavra Homem, e não o ser – alguns versos inclusive aparecem como epígrafes da sua novela As sementes do sol – o semeador. Causa dor e alegria, algo que atormenta profundamente. Drummond investe numa palavra, questão de linguagem, e não num ser, questão filosófica. (2003, p.179-80) Westburn, no entanto, não aprofunda a análise. Tomando a aproximação proposta, seria possível afirmar que tanto o eu-lírico da poesia drummondiana quanto a personagem carreriana não param de indagar. Além disso, e contrariando ao que parece a perspectiva do professor Raymond, o romance de Carrero possui sim um viés filosófico. A questão não está centrada apenas no significante, mas no significado: o que é homem (o ser), quais os seus limites? O escritor sertanejo propõe implicitamente uma reflexão sobre escorpiões e tarântulas que habitam o humano no seio das relações afetivas, ambos presos à teia do desejo e da dor, do amor e do ódio, do gozo e da morte. O docente americano apresenta em seguida outra possível relação intertextual com O ciúme, de Alain Robbe-Grillet, o criador do noveau roman, onde a palavra e a frase cristalizam o movimento, sem no entanto investir nos ritmos, que é sempre o ritmo do narrador, do organizador do texto, daquele que monta a partitura (ib., p.180) Há de fato uma similaridade entre os princípios formais de ambas as narrativas: repetições da mesma “cena” por outro ângulo, descrições de caráter cinematográfico e enredo quase estático e inconcluso. Raymond cita a passagem de Franck, personagem de O ciúme, à mesa, aqui transcrita parcialmente: A mão direita pega o pão e o leva a boca, a mão direita recoloca o pão sobre a toalha branca e apanha a faca, a mão esquerda segura o garfo, o garfo penetra na carne, a faca corta um pedaço, a mão direita põe a faca sobre a toalha, a mão esquerda coloca o garfo na mão direita, que pega o pedaço de carne, que se aproxima da boca, e esta se põe a mastigar com movimentos de contração e extensão que repercutem em todo o rosto, até as maçãs, os olhos, as orelhas, enquanto a mão direita retoma o garfo a fim de passá-lo para a mão esquerda, depois segura o pão, depois a faca, depois o garfo... (RobbeGrillet, s/d, p.71-2; Raymond, 2003, p.180) No posfácio da obra francesa, sem indicação de autoria, diz-se que, em O ciúme, “os acontecimentos e os caracteres só pouco a pouco são revelados e quase sempre de forma incompleta” – traço também do romance do escritor pernambucano. Outra correlação sugerida é com a obra de Fiódor Dostoievski: Acertadamente, o autor foi ao encontro de Dostoievski – ‘o que o mundo é para a personagem’ e ‘o que ela é para si mesma’ – fazendo a personagem se manifestar sempre com as ‘mudas’ e a ‘personificação’ – as ‘mudas’ são os sinais de pontuação [...] e a ‘personificação’ se manifesta em todas as palavras que lhe são exclusivas e lhe dão uma personalidade artística e exclusiva. (Raymond, 2003. p.182) Essa conexão, entretanto, já se evidencia na terceira epígrafe do romance carreriano, retirada do estudo de Bakhtin, Problemas da poética de Dostoievski: “Para Dostoievski não importa o que sua personagem é no mundo mas, acima de tudo, o que o mundo é para a personagem e o que ela é para si mesma”. Carrero crê na autonomia dos seres ficcionais e de fato levou essa crença ao extremo em seu décimo segundo título, no qual até mesmo a pontuação foi personificada: Alice é marcada pelas interrogações (ela é a própria dúvida: matar ou não matar o marido) enquanto Leonardo vive em meio às reticências (ele é a própria expectativa: morrer ou não morrer pelas mãos da esposa). É interessante ressaltar que as cinco epígrafes de Ao redor do escorpião tratam da questão da arquitetura ficcional: o trecho de Osman Lins (Guerra sem testemunha) sobre o ato de escrever; a passagem de Os frutos de ouro, romance de Nathalie Sarraute que discute a reação dos leitores à obra; o excerto de Bakhtin já mencionado; fragmento de Cortázar (O fascínio das palavras) sobre a potencialização do dizer e, finalmente, extrato sobre O ritmo da escrita, de Lourenço Chacon, que evidencia a importância do ritmo e da pontuação na construção textual. Carrero, em Sinfonia para vagabundos, construiu uma metaficcão explícita, repleta de citações teóricas. Todavia, pode-se afirmar que seu décimo segundo título também possui uma boa dose – agora implícita – de discurso sobre o fazer literário (indiciado na escolha das epígrafes), na medida em que propõe uma forma ousada de composição romanesca: cento e sessenta e quatro páginas construídas a partir sobretudo de uma única frase que sofre alternâncias e acréscimos. Na carta enviada ao professor Raymond, em 12 de dezembro de 2002, o escritor pernambucano revelou seu intento: “pretendo apenas escrever um livro de ficção e ao mesmo tempo discutir os processos de criação” (p.169). Westburn também defende que a esposa de Leonardo tem raiz na personagem homônima de Alice no país das maravilhas, de Charles Lutwidge Dodgson (Lewis Carrol): “[...] a interrogação é a chave de Alice. Pergunta e pergunta e pergunta, parece sempre correndo em curvas, sinuosas, evasivas, retas, enfrentando abismos, é Alice e o Coelho” (ib. p.171). Ambos os romances parecem compartilhar, além do comportamento inquiridor das protagonistas, a atmosfera de sonho, fantástica, surrealista: um escorpião na ponte flutuante do céu (p.64) ou uma mulher com uma tarântula na orelha (p.16) ou ainda uma aranha vítima do carneiro celeste (p.158), por exemplo, são imagens que têm o mesmo teor insólito do coelho permanentemente atrasado ou das contínuas seis horas da tarde do chapeleiro maluco. Deve-se atentar que Alice, de Carrol, adormece, enquanto Alice, de Carrero, vive no atormentado limbo entre o sono e a vigília: “ainda não penetrara inteiramente no negro bosque vicejoso da noite [...]” (p.20-1). De todo modo, ambas compartilham o absurdo onírico, quase sempre simbólico no décimo segundo título carreriano. Já Dulcinea Santos, em estudo sobre Ao redor do escorpião, menciona o caráter anagramático de Alice103, comumente contestado. Para o pesquisador Nelson Oliver, este nome “não é anagrama de Célia” (2005, p.336). Interessa frisar, porém, que tanto o significado de Alice – do germânico Adalheidis (Adelaide), “de estirpe nobre” (ib.p.329) – quanto o de Célia – “dos céus” (ib. p.365) – nada acrescentam, por similaridade ou oposição, à protagonista de Carrero. Parece que o ficcionista pernambucano de fato foi buscar no romance de Carrol elementos para compor sua Alice. Mas, enquanto a menina do escritor 103 SANTOS, Dulcinea. O que faz uma mulher apontando o revólver para o marido? XIII Jornada de Estudos do Traço Freudiano Veredas Lacanianas. Recife: 30 de maio de 2009, p.5. inglês saboreia sua aventura e lamenta tudo tornar à “realidade monótona” (Carrol, 2010, p. 171), a personagem carreriana vive pesadelo, mescla de desejo e dor, do qual jamais acorda. Porém, a escolha do antropônimo pode ter como fundamento apenas a proximidade sonora com o adjetivo “linda”. “Alice linda” (ou “linda Alice”) é uma espécie de expressão repetida (e invertida) ao longo do romance. Sua beleza, portanto, é ratificada no próprio nome – interpretação coerente numa prosa que prima pelos efeitos acústicos. Já Leonardo possui raiz intratextual. No romance de 1995, Somos pedras que se consomem, ele mantém com a irmã Ísis uma relação incestuosa, mata por prazer e por dinheiro sob o comando de Jeremias e é guardião da “seita” sadomasoquista “Mulheres Selvagens”. Carrega ainda um traço de infantilidade (de perturbação mental?) já que vive em meio a brinquedos e está sempre sob o comando ora do falso profeta ora da irmã. Oito anos depois, retorna como o escorpião marido de Alice e mantém o traço pueril (“Leonardo dormindo desprotegido despreocupado demente na cama com carrinhos de brinquedo [...]” (p.137)) que contrasta com o comportamento agressivo, sádico, do esposo capaz de cortar os cílios da mulher: “Alice boa de maltratar” (p.78). Pela perspectiva da mãe, sabe-se que os atos de violência são constantes: “[...] nessa hora ela, a filha, tinha levado a primeira surra monumental de Leonardo, os lábios arrebentados, o olho direito sangrando [...]” (p.138). Todavia, ele também possui um elemento característico das personagens de As sombrias ruínas da alma: Ismael, do conto de “Primeira Carta ao mundo”, e o pequeno pai do tempo, do tríptico homônimo. Os três são chamados de artesão. Ismael por conta do ofício e, simbolicamente, por ser uma espécie de artista da morte: homicida – que esculpe os ataúdes dos filhos e os entrega vivos à travessia – e suicida: “Entrou no caixão, exímio artesão, parafusou por dentro” (1999, p.19). Já o Pequeno pai do tempo enforca os irmãos e a si mesmo para poupar a todos do peso de suas existências: “Não era preciso adivinhar que fora ele o artesão” (ib., p.39). Ambos crêem que a morte é preferível à vida e o assassinato, nas duas narrativas, decorre da compaixão. Na atitude de Leonardo, entretanto, não há nenhum viés misericordioso, mas boa dose de sadismo: “ela percebendo quando os cílios foram cortados, minucioso artesão e exato artífice [...]” (p.42). Dulcinea aponta para essa “dança de ressonâncias sadianas”104 no décimo segundo título carreriano. Vale ressaltar que se Leonardo goza com a dor que provoca, Alice se contorce para saborear o crime: Agora só pretende amar por amor ao crime, única e exclusivamente por amor ao crime, viver sem viver, morrer sem morrer, viver por morrer, morrer por 104 Op.Cit. viver, deixar o mundo sem abandoná-lo, viver para matar, morrer para matar, matar para viver. Despojando-se de todas as outras vontades, delírios ou sensações, dominada pela verdadeira e decisiva determinação: amo matar, amo matar, amo matar. As palavras ajustando-se. Repetindo-as. Visualizando-as. Revolvendo-as. (p.120) Ela pretende escapar da posição de vítima tornando-se algoz, metamorfoseando-se em Leonardo, mas há algo tão perturbadoramente prazeroso nesta relação que suas inúmeras tentativas são sempre frustradas. Alice oscila entre o desejo de possuí-lo e de matá-lo: permanece “na iminência de”, a vingança em suspenso. Embora o assassinato não constitua o crime sadiano por excelência, não se pode negar que o vínculo entre Leonardo e Alice é pincelado com o vermelho do sadismo, mescla de paixão e sangue. O Marquês destila suas ideias: “Que as atrocidades, os horrores, os crimes mais odiosos te não causem espanto [...], o que for mais sujo, mais infame, mais proibido é [...] sempre o que nos faz gozar mais deliciosamente”. (1983, p.58). Alice não quer assassinar Leonardo apenas para pôr fim ao horror da violência ou para se vingar dos cílios cortados, ela quer, sobretudo, amar matar; ela quer, portanto, sentir o mesmo prazer que o marido experimenta ao feri-la. A metamorfose ansiada (sádica?) – vítima que se transforma em algoz, algoz que se transforma em vítima –, contudo, jamais se completa. Deve-se, entretanto, considerar que talvez o verdadeiro ato sádico não esteja no crime, mas nesse tormento eterno, nessa experiência limítrofe da expectativa da bala: morrer ou não morrer. Então, seria possível afirmar que Alice alcança seu (cruel e vingativo) anseio. Ela não mata e assim não perde o objeto de prazer e, ao mesmo tempo, lança sobre ele a agonia da constância do perigo. Quanto às correlações intratextuais, pode-se destacar ainda que o horror da mulher à ideia do corpo paralisado de Leonardo parece ser similar à repugnância do menino Félix à doença do pai que se tornara, na perspectiva do filho, um “aleijão” (2005, p.337). Em Ao redor do esporpião, Alice reflete: [...] não preciso fazer mira nas costas, contando costela, perfurando o pulmão, não corro risco de atingir a coluna, o imprestável ferido carregado pelas ruas, no bagageiro de bicicleta, ou num carro de mão, lívido, parado e solitário (p.57). A imagem da paralisia pode ser encontrada de modo implícito (ou metafórico) em Seria uma sombria noite secreta (2011)105: Alvarenga “[...] permaneceu assim no meio corpo, as mãos no chão, o peito erguido, a baba escorrendo nos lábios. Só faltava latir” 105 O romance não é analisado nesta pesquisa por ter sido publicado em data posterior à aprovação do anteprojeto de doutorado. (Carrero, 2011, p.36). Logo, a literatura carreriana tem mais uma, dentre tantas, temáticas recorrentes. Já quanto à teia intertextual, vale citar ainda a observação do poeta Fabrício Carpinejar: [...] na superfície urbana da trama, na linguagem coloquial de Raimundo Carrero, existe um inconsciente simbólico, que reúne o ancestral e o novo em uma só procura. Raspando a consciência da linguagem, aparecem signos medievais do nordeste como o carneiro, a donzela, o arco-íris, o príncipe, elementos determinantes do universo armorial de A pedra do reino, de Ariano Suassuna. Carrero concilia duas dimensões, a princípio incompatíveis, servindo com clareza o imaginário sem desfavorecer a realidade, o folclore sem descuidar da tessitura contemporânea106. De fato é possível encontrar, nos inúmeros e simbólicos estandartes do décimo segundo título carreriano, uma similaridade com as bandeiras de Bernarda Soledade e, nos “causos” da mãe de Alice, um quê da literatura de cordel: “vou lhe contar o folheto, minha filha, da mulher que prendeu o fogo na garrafa [...]” (p.141). Carrero teria ensaiado neste romance um novo diálogo com o Movimento Armorial? No entanto, as imagens do carneiro e do arco-íris, apesar do medievalismo apontado por Carpinejar, têm como fonte o Dicionário de Símbolos, de Chevalier e Gheerbrant, que a personagem de Os extremos do arco-íris consulta para desvendar um suposto crime no capitulo intitulado “A ponte flutuante do céu” (deve-se lembrar que a segunda parte do romance de 2003 chama-se “Na ponte flutuante do céu, o escorpião”). A citação do Dicionário na obra infanto-juvenil, de 1993, ocupa uma página e meia e, estão lá, as quatro cores do arco-íris, o carneiro celeste que fecunda o sol e urina as chuvas e a serpente nefasta. Os dois primeiros elementos pertencem à crença dos Dogons (povo do interior da África) e o último ao budismo tibetano ou à cultura inca. Curiosamente, é no Japão que o arco-íris corresponde à ponte flutuante do céu. Logo, as imagens presentes em Ao redor do escorpião... uma tarântula? possuem outras raízes. Também há no romance algumas referências bíblicas, tais como as chagas (terminologia comum nos Testamentos) nas quais Alice pretende jogar sal, estímulo simbólico à dor, para reunir coragem e matar Leonardo e a referência a São Miguel, de quem Leonardo seria afilhado, possivelmente por conta de seu espírito guerreiro. Todavia, é o próprio autor quem revela ao jornalista Augusto Pinheiro uma correlação inusitada: o título do romance foi inspirado no quadro de Dali “Sonho causado pelo vôo de 106 CARPINEJAR, Fabrício. Autor de Ao redor do escorpião... uma tarântula reúne antigo e novo em prova vulcânica. Estado de São Paulo, Caderno 2/Cultura: 14 de março de 2004. uma abelha em volta de uma romã. Um segundo antes de despertar”107. No cotejo das obras, pictórica e literária, realizado no tópico subsequente, evidenciam-se inúmeras similaridades: o décimo título carreriano está imerso na onírica e insólita dimensão surrealista, mais um fio de seda da teia de vozes que se entrecruzam e envolvem o leitor – aranha que seduz a presa. 11.2 Trama de ressonâncias simbólicas e surrealistas A vida escorrendo pelas ramagens dos olhos sujas de sangue. (Carrero, 2003, p.95) Carrero afirma ao jornalista Augusto Pinheiro que o título de seu romance publicado em 2003, Ao redor do escorpião... uma tarântula: orquestração para dançar e ouvir, tem inspiração no quadro de Dali “Sonho causado pelo vôo de uma abelha em volta de uma romã. Um segundo antes de despertar”108. A titulação longa, que, assim como em A história de Bernarda Soledade: a tigre do sertão, poderia ter raiz no romanceiro nordestino, dialoga, portanto, na verdade, com o nome de um quadro do pintor catalão. Todavia, o breve cotejamento das obras, pictórica e literária, leva a crer que possuem ainda outras similaridades. No óleo sobre tela (1944), Gala parece dormir e as imagens que a cercam pertencem, supostamente, parte a “realidade” que desencadeou o sonho (a abelha em torno da romã) parte ao universo onírico: a fruta de cujo centro sai um peixe que “expele” pela boca um tigre, os elefantes com pernas estendidas, o rifle etc. Para Eric Shanes, “nós tendemos a vê-los [os eventos oníricos] ocorrendo dentro da mente da pessoa, como uma manifestação de seu sonho mais do que a projeção do sonho per si” (1991, p.112)109. Já Margarida Perera Rodríguez destaca que “a romã, símbolo de paixão e erotismo, e o tigre, de paixão e violência vital da natureza, dão a esse sonho um conteúdo erótico” (2007, p.79). Deve-se lembrar ainda que tudo se passa um segundo antes do despertar. Em paralelo com a pintura, Alice e Leonardo, do romance carreriano, vivem numa oscilação entre o sono e a vigília. Logo, as imagens presentes na narrativa pertencem ora à realidade circundante ora ao mundo dos sonhos, ambas, no entanto, sempre simbólicas. O décimo segundo título do escritor pernambucano também mescla paixão e violência, desejo e 107 In: PINHEIRO, Augusto. Carrero radicaliza o verbo em novo livro. Diário de Pernambuco, Recife, 4 dez. 2003, Caderno Viver, p.C1 108 Ibidem. 109 We tend to see them [the dream-events] as occurring in that person’s mind, as the manifestation of her dream rather than as the projection of a dream per se […]. morte. Assim como há, no quadro, uma arma apontada para Gala, na ficção, a esposa mira o marido permanentemente com o revólver. Por fim, pode-se afirmar que, assim como tudo se passa em um segundo na obra daliniana, todo o romance decorre durante apenas parte de uma madrugada. Luiz Nazario verifica que os surrealistas, contrários à razão, à lógica, utilizaram muitas formas para fazer brotar a “surrealidade” do outro mundo, dentre elas o “maravilhoso”: Os surrealistas admiravam o pensamento medieval que mesclava incoerência e imagens absurdas; amavam o folclore verdadeiro ou inventado; cultivavam os fantasmas, a feitiçaria, o ocultismo, a magia, a mitologia, as mistificações, as utopias, as viagens reais ou imaginárias, os costumes dos povos selvagens, o bricabraque, o vício e as paixões (2008, p.25). Outras formas empregadas foram o automatismo, sobretudo sabotando a gramática, e o método do sono, “que enfraquecia a consciência e dava lugar ao inconsciente” (ib., p.27). Carrero, entretanto, não tenciona a sabotagem das regras gramaticais em seu décimo segundo título – seria proposta indubitavelmente anacrônica –, embora utilize a linguagem de tal modo inusual que parece inaugurar uma arquitetura literária: alternância de tempos verbais, infindáveis repetições, pontuação personificada, enfim, todo o romance admiravelmente sustentado, sobretudo, em uma única frase torcida e retorcida ao longo de cento e sessenta e quatro páginas110. Além disso, o “método do sono” parece ser aplicado pelo autor – não em si mesmo, claro – mas em suas personagens que dormitam do princípio ao fim da narrativa. Assim, os planos da realidade, da memória e da fantasia onírica se entrecruzam na mente dos seres ficcionais, tornando-se, por vezes, indistinguíveis: “[Alice] pensando e não dormindo, a lembrança dentro do sono, mais vigília do que sono, mais lembrança do que sonho, mais sonho do que sono [...]” (p.60). Imagens absurdas (e, por vezes, de difícil compreensão), próprias do “maravilhoso” surrealista, do mesmo modo povoam a trama: ... via... Leonardo, via... quem?... via a donzela Alice na ponte flutuante do céu, o negro tocando o povo do arco-íris no sax, esta mulher Alice rindo essa mulher, sentada na poltrona de espaldar alto, esta serpente celeste de quatro cores, esta Alice essa donzela cavalgando no carneiro celeste que fecunda o sol... quem?... vê... Leonardo vê a donzela Alice vária na ponte flutuante do céu [...] (p.82) 110 Edição da Iluminuras, 2003. Vale ainda ressaltar que Dali foi defensor do “método paranóico-crítico”, forma de conhecimento irracional por associação sistemática, em que triunfa a “idéia obsessiva” (Rodríguez, 2007, p.52). Através desse método “o inconsciente e o consciente, o sono e a vigília fundem-se numa super-realidade (a surrealista) na qual toda contradição humana fica aceita” (ib.). A arte seria, assim, o espaço que permite veicular aspectos “simbólicos e arquetípicos” (ib.) da humanidade. Essa equação de imagens oníricas, obsessivas e simbólicas é sem dúvida alguma a tônica do décimo segundo título carreriano. No romance, as personagens são animalizadas (ou os animais são personificados?). Alice e Leonardo correspondem à classe dos aracnídeos – caracterização pejorativa? – tarântula e escorpião respectivamente. Ambos são tidos pelo senso comum como animais venenosos. No entanto, a tarântula é dotada apenas de pêlos urticantes. Carrero parece apropriar-se também da significação popular de teor sexual: a aranha corresponderia visualmente ao púbis feminino e, por extensão, à vulva. E o escorpião, por conta do formato de seu ferrão, corresponderia ao pênis (instrumento de dor e prazer, veneno e gozo). O uso de clichês é compensado pela construção de sentido: Alice e Leonardo são reduzidos (ou potencializados?) a órgãos sexuais, metáforas, portanto, de desejo. No entanto, considerando a violência entre as personagens (o marido mantém com a esposa uma relação sádica que a conduz à iminência do assassinato), a escolha dos animais tem outra motivação além da erótica: tanto escorpiões quanto aranhas, tendo em vista, principalmente, a escassez de alimentos, devoram animais da mesma espécie. Quanto às aranhas, é interessante ressaltar a “ocorrência de eventos de canibalismo sexual, nos quais a fêmea mata e se alimenta do macho” (Gonzaga, Santos & Japyassú, 2007, p.244), comumente após a cópula, – imagem que se amolda com perfeição ao texto carreriano. Após o “clamor do sexo” (p.15), a pergunta retórica passa a dominar a narrativa: “o que faz uma mulher apontando o revólver para o marido que dorme?” (ib.). Alice-aranha, portanto, pronta para devorar, após o coito, Leonardo-escorpião. Esse estranho casal é ainda uma espécie de ápicesimbólico da ideia de conflito amoroso recorrente na obra do escritor sertanejo: Carrero revela a Augusto Pinheiro que “Em A semente do sol: o semeador, já existe uma luta psicológica entre marido e mulher”111. E essa perspectiva de algo malévolo no seio das relações afetivas se torna também o fio condutor do romance de 2007, O amor não tem bons sentimentos. No subtítulo, “orquestração para dançar e ouvir”, encontra-se talvez outra associação com os animais da classe dos aracnídeos. O tarantulismo é uma “afecção nervosa 111 Op.Cit. caracterizada por desejo incontrolável de dançar, atribuída à picada de aranha (tarântula)”112. Além disso, o escorpião comumente segue um rito de acasalamento, tipo de “dança nupcial” (Marcussi, 2011, p.23) que varia “de espécie para espécie e, em algumas, ocorre até a chamada “ferroada sexual” (ib.). O sexo, na narrativa, também é equiparado a uma louca dança de pernas e braços, movimento de ombros e quadris, balé de gestos e afagos, gemidos de agonia e gozo, gemidos de agonia e estertor, gemidos de agonia e dor, dança de gemidos e agonia, movimentos de alegria e pernas, balé de gozo e dor [...] (p.112) Embalados por esse som de sofrimento e gozo, um eterno gemer, aranha e escorpião, Alice e Leonardo ensaiam passos, portanto, de uma dança erótica e mortal. Obviamente, há ainda a sonoridade da própria obra, repleta de assonâncias, aliterações, sibilações, ecos, e o bailar das palavras que, dentre outros tantos movimentos, trocam de posição ininterruptamente nas frases – questões que serão analisadas no tópico subsequente. É importante também reiterar que a narrativa é embalada pelas angustiantes canções tocadas pelo negro no sax, em harmonia com a aflitiva atmosfera que envolve marido e mulher. E a suposta canção da mãe, “você vive a meu lado e eu não tenho você” (p.17), também parece se referir à proximidade física do casal em contraponto a esse “não-pertencimento”. Para Raymond C. Westburn, o romance é, sobretudo, um “efeito acústico” (2003, p.174): Alice e Leonardo dançam em muitos sentidos: dançam mentes e corpos, dançam em dúvidas e perguntas, dançam em busca, dançam em afirmação, vontade e oscilação, dançam objetiva e psicologicamente (ib.). Carrero complementa ainda o “cenário” com o mosquiteiro, espécie de véu-tela-teia que ora protege o “homem-menino” ora aprisiona o “esposo-presa”, conforme atestam respectivamente os exemplos seguintes: “[...] observa-o na cama larga de lençóis alvos, travesseiros altos, envolto pelas ramagens do mosquiteiro – hábito velho, vício insistente, a infância embaixo de proteção [...]” (p.54) / “[...] a bala percorrerá desde o revólver até o corpo da vítima presa embaixo do mosquiteiro [...]” (p.55). Como essa “rede” é algo que os separa e impede a visão integral talvez funcione ainda como metáfora da cisão entre Alice e Leonardo. Há ainda uma infinidade de elementos simbólicos que se repetem continuamente ao longo do romance, constituindo uma trama de obsessões. Chama a atenção, sobretudo, a recorrência das imagens dos olhos (e dos cílios) na narrativa, reflexo do tormento de Alice em 112 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 1.0. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009 razão da atitude sádica de Leonardo. Na primeira referência, o leitor ainda não foi informado sobre o corte das pestanas da esposa: “Segurando o revólver na mira certeira do coração do homem, sente os olhos ardendo, a falta dos cílios [...]” (p.38). E é o olho de Alice “que procura o passado, procura a ira” (ib.), caracterizando o trauma que a motiva. Ao longo do texto, ainda, tanto Alice quanto Leonardo rememoram inúmeras vezes o cruel episódio. As franjas oculares do esposo recebem também foco contínuo ressaltando que ele possui o que ela não já não tem: “Continua deitado de costas, os olhos sobre as ramagens do mosquiteiro e sob as nuvens de cílios, procurando o lustre apagado [...]” (p.70). O imperativo “olha e vê” que permeia a ficção, além de abri-la e fechá-la, talvez não seja apenas um convite ao leitor para adentrar em uma prosa imagética, visual, ou uma referência do narrador às perspectivas alternadas de Alice e Leonardo, mas parte integrante dessa obsessão ocular. Sabe-se, através de informações esparsas, que a esposa era maltratada, surrada. No entanto, é o corte dos cílios (a desproteção dos olhos seria, por extensão, símbolo de desamparo?) que acirra o ódio, a ira, a revolta, o desejo de vingança. E, intencionando estimular esses sentimentos que lhe darão munição, enfim, para o tiro, Alice remói o evento sucessivamente: Precisa passar do meigo para o ódio, procura percorrer os caminhos que conduzem ao crime, percebe que é preciso – impiedosamente necessário – alimentar o animal grotesco que provoca a raiva a partir daquele momento em que Leonardo pediu vem cá, amor, vem cá, e traga a tesourinha, na tarde de domingo [...] (p.101-2). A estrutura de Ao redor do escorpião... uma tarântula? lembra o poema, de Augusto dos Anjos ,“Eterna mágoa” (Anjos, 1994, p.290), no qual o inventário das reiterações – da mesma palavra (homem/homem, nada/nada, sabe/sabe, Mágoa/mágoa/mágoa/mágoa, vida/vida), de termo derivado (triste/tristeza), resistir/resiste) ou até de oração inteira (é que essa mágoa infinda/é que essa mágoa infinda) – é extenso para um número tão restrito de versos. Essa construção em eco, em harmonia com um eu que remói suas dores, angústias, tristezas, também constitui a tônica do décimo segundo título carreriano. Schneider Carpeggiani, em reportagem no Jornal do Comércio, publicada em 2005, ressalta que a narrativa como um todo consiste “no desenrolar obsessivo de uma só frase, de uma só cena – um casal enfurnado num quarto maquinando amor e ódio, como se os dois sentimentos fossem uma coisa só (e são?) [...]” (apud Pereira, 2009, p.42). Outra ideia fixa de Alice, que se verifica primeiramente através de uma imagem de traços surrealistas, é atingir o coração de Leonardo “sem ofender as carnes, os músculos, os nervos”: [...] a morte, igual a um abajur aceso, cavalgando no lustre apagado e atravessando as sombras densas, está a caminho, e passando finalmente, pela porta fechada, para alimentar o gosto de sangue sobre o corpo de Leonardo, bicando o corpo amargo, sem precisar cortar a pele e as carnes que é a melhor maneira de matar sem ofender o corpo (p.32) O “desejo de possuir o corpo vivo de Leonardo” (p.55) se repete no decorrer da narrativa assim como a “visão” do “marido nu saindo do banheiro” (p.38). Ele também pensa “em possuir o corpo vivo de Alice” (p.110). Essa compulsão pelo corpo do outro, pela integridade do corpo, pela posse do corpo, reforça o potencial erótico da narrativa e a concepção de que o casal (escorpião-pênis, tarântula-vulva) é pura metáfora de desejo. A esposa quer matar o homem, mas não destruir o objeto do seu prazer. Após o narrador perguntar “Alice e Leonardo em um só corpo?” (p.156), quase ao fim da narrativa, o foco no texto passa dela para ele e vice-versa continuamente como se houvesse a intenção de fundilos. O desejo é composto de boa parcela de dor, já que nasce de uma falta e, consequentemente, do anseio de completude: a felicidade, portanto, atrelada à ideia de posse. O romance parece repetir o “lema” schopenhauriano: “querer é essencialmente sofrer, e como o viver é querer, toda a existência é essencialmente dor” (s/d, p.14). Alice, após “consumir” Leonardo, não cessa de desejá-lo, a princípio porque o objeto ainda existe e está diante dela. Logo, o desejo permanece e se torna ainda mais aflitivo, sobretudo porque o marido é o homem que a maltrata, que a surra, que corta com uma tesourinha seus cílios. A culpa de desejar aumenta o interdito que só faz alimentar o desejo, num ciclo vicioso, tema de Bataille em O erotismo: “A interdição e a transgressão respondem a esses dois movimentos contraditórios: a interdição rejeita, mas a fascinação introduz a transgressão” (2004, p.104) No seio do amor está o ódio (o amor não tem bons sentimentos, afirma um dos títulos carrerianos). A esposa pretende alimentar esse ódio lançando sal sobre suas chagas, potencializando suas dores, para, enfim, matar o objeto desejado (amado), razão de suas angústias. A vítima (de coloração masoquista, embora explicitamente não experimente prazer na dor) pretende subjugar o sádico, inverter posições. Mas Alice fracassa em seu intento: a madrugada da iminência do crime é também uma cena repetida ad aeternum. Entretanto, mesmo que matasse Leonardo, não poria fim à angústia de desejar porque a morte do objeto não constitui a morte do desejo. Logo, Alice e Leonardo são presas da vontade. Ele, que também anseia possuí-la, revela, supostamente se referindo não apenas à dor do seu desejar, mas a agonia (e o prazer?) de ser continuamente alvo: [...] esta filha da puta me devora, virgem, quente e doce, essa filha da puta me devora, virgem filha da puta, virgem e virgem, me devora, tão completamente virgem e tão inteiramente puta [...] (p.113). Para Dulcinea Santos, Ao redor do escorpião... é uma dança “mortífera”, “de ressonâncias sadianas”, “entre Eros e Thanatos”113; para Fabrício Carpinejar, o romance é um “ménage à trois: Alice, Leonardo e a morte”114. O poeta ressalta que “a compulsão pela morte não destoa da pulsão sexual. A morte excita ainda mais, aproxima o par, inibindo qualquer separação, distração e fuga” (ib.). Além das obsessões já analisadas, outras imagens são recorrentes na trama, tais como: a “rosa lúbrica”, em mais uma referência também à vulva feminina, o “som do negro” e o “estandarte”, já mencionados no tópico anterior, o “domingo”, dia “sisudo” (p.150), em que os cílios de Alice foram cortados, o enigmático “sorriso” da esposa, na iminência do assassinato (ela sorri por amor ao crime, à vingança?), o “lenço”, possível símbolo de lamento, e, que, quase ao fim da narrativa, pega fogo (realidade ou ilusão?), caracterizando, talvez, não apenas, por conta das chamas, o desejo, mas, no tecido queimado, a ânsia pelo fim da angústia. Vale ressaltar ainda que ela segura o lenço na mão esquerda e a arma, na direita, possíveis metáforas de tristeza e revolta. A mãe também surge na narrativa, na rememoração da filha, como anunciadora da tragédia (ela sempre soube qual seria o drama de Alice ao lado de Leonardo). Em certo momento, vestida de negro com um cajado na mão, aquela que adivinha sofrimento canta “hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora” (p.34). As imagens do carneiro, do arco-íris (ponte flutuante do céu, escada de sete cores) e da serpente foram extraídas pelo ficcionista, conforme demonstrado no tópico anterior, do Dicionário de Símbolos, recurso utilizado também em Os extremos do arco-íris (1993). O segundo capítulo da obra intitula-se “Na ponte flutuante do céu, o escorpião” (p.63). De acordo com Chevalier e Gheerbrant, O arco-íris é caminho e mediação entre a terra e o céu. É a ponte, de que se servem deuses e heróis, entre o Outro-Mundo e o nosso. [...] [...] no Japão, a ponte flutuante do Céu; a escada de sete cores, através da qual o Buda torna a descer do céu, é um arco-íris [...] (2005, p.77) 113 SANTOS, Dulcinea. O que faz uma mulher apontando o revólver para o marido? XIII Jornada de Estudos do Traço Freudiano Veredas Lacanianas. Recife: 30 de maio de 2009, p.4-5. 114 CARPINEJAR, Fabrício. Autor de Ao redor do escorpião... uma tarântula reúne antigo e novo em prova vulcânica. Estado de São Paulo, Caderno 2/Cultura: 14 de março de 2004 Logo, o escritor sertanejo se apropria da ideia e a adapta ao romance: Leonardo, à espera, sentado, não na ponte entre terra e céu, mas no espaço entre vida e morte, na expectativa da bala. Carrero faz uso ainda de mais um trecho do Dicionário de Símbolos, talvez apenas pelo caráter insólito da imagem (algo surrealista?) que bem se amolda ao mundo onírico das personagens: “Entre os dogons, o arco-íris é considerado como o caminho graças ao qual o Carneiro celeste, que fecunda o sol e urina as chuvas, desce sobre a terra” (ib.). É possível destacar do romance, como exemplo correspondente, a passagem seguinte, dentre tantas outras: [Alice] aponta o revólver pesado e niquelado, preparado, para o marido dormindo com o travesseiro entre as pernas, sob as ramagens do mosquiteiro, este escorpião alado que persegue a tarântula, a aranha negra, vítima do carneiro celeste, mijando no sol e a chuva caindo na ponte flutuante do céu? (p.158). Do mesmo modo a visão malévola dos incas sobre o arco-íris, uma “serpente celeste nefasta” (Chevalier; Gheerbrant, 2005, p.79) que “exigia corações humanos como alimento” (ib.), também é incorporada à narrativa, com intuito aparentemente de potencializar a atmosfera de pesadelo na qual estão encerradas as personagens. No fragmento seguinte, o animal rastejante pode corresponder tanto a Alice, quanto à arma ou à própria morte: “desejando a morte tensa, o guerreiro via a serpente celeste... teme o ataque, teme a morte, teme o coração...” (p.76). Ao redor do escorpião... uma tarântula?, mescla de simbólicos pesadelos e obsessões, poderia ser indubitavelmente quadro do pintor catalão. É possível reunir um inventário de imagens de ressonâncias surrealistas: a mulher com a tarântula na orelha, a morte cavalgando o lustre, o carneiro mijando no sol, a serpente celeste nefasta, o escorpião sentado na ponte flutuante do céu... O décimo segundo título do escritor sertanejo, ao que parece, foi “causado pelo vôo de uma abelha em volta de uma romã. Um segundo antes de despertar”. 11.3 O incessante rodopiar das letras nas sinuosas linhas do romance [...] frase ferida fechada – um redemoinho – abrindo-se fechando-se abrindo-se – fechando-se abrindo-se fechandose – e abrindo-se fechando-se abrindo-se [...] – infinitas possibilidades – círculo circular circula (Carrero, 2003, p.138) O décimo segundo título do pernambucano Raimundo Carrero afugentou o público e desnorteou a crítica por conta da experiência formal extrema. Muito foi dito, e grosso modo, sobre o fato de que a obra se estrutura basicamente sobre uma única frase e a pontuação é personificada, mas poucos tentaram desvendar o sentido dessa inusitada arquitetura. Além disso, há vários outros recursos, utilizados pelo autor em Ao redor do escorpião..., que confluem em harmonia para a configuração de um romance-teia agônico e permanentemente circular. O texto é marcado pela repetição em vários níveis. No decorrer da narrativa, algumas passagens revelam que a mulher aponta o revólver para o marido num movimento cíclico de retorno contínuo: “[...] não será a primeira vez. Noites inteiras ela ali, segurando o revólver” (p.20). O imperativo “olha e vê:”, que pode ser convite ao leitor ou indicação da perspectiva da personagem, abre e fecha a ficção, indiciando, portanto, a retomada futura da cena, a continuidade do drama de Alice e Leonardo. É interessante frisar que o próprio título antecipa o uso da pontuação na trama: reticências para Leonardo-escorpião, na expectativa da morte, e interrogação para Alicetarântula, no eterno titubear entre a decisão e a coragem. Raymond C. Westburn afirma, retomando as palavras de Carrero, que a pontuação – mais a seleção dos adjetivos, a opção por certos verbos, as mudanças de tempo verbal, a linguagem do personagem, enfim –, revela ao leitor quem está falando. Ou ao longo do texto, basta a pontuação – a linguagem – e o personagem estará identificado (2003, p.183). O título em forma de pergunta se adéqua ainda com perfeição à narrativa em aberto: Alice matou, Alice matará, Alice mataria? – o leitor inevitavelmente questiona. Deve-se considerar do mesmo modo que a locução “ao redor” também carrega a ideia de círculo. O início do último tópico do capítulo final equivale ao princípio do romance, num movimento novamente de retomada: “O que faz uma mulher apontando o revólver para o marido?” (p.15; p.151). E o romance se estrutura no plano sintático sobretudo por acréscimos, repetições e alternância na posição dos termos. A partir da frase-matriz, por exemplo, num primeiro instante, “o que faz” é reproduzido e “sentada” e “que dorme” são incluídos: “ – o que faz – o que faz uma mulher sentada apontando o revólver para o marido que dorme?” (p.15). Em seguida, “que dorme” reaparece, agora entre travessões, e o vocábulo “terna” passa a qualificar a mulher: “– que dorme – o que faz uma mulher terna sentada na poltrona apontando o revólver para o marido que dorme?” (ib.). Nesse movimento, adjetivos (aparentemente) antagônicos são utilizados para caracterizar Alice, como tranquila e tensa, marcando desde o início a convivência íntima dos contrários que tem seu ápice no par amor/ódio. A frase-matriz alcança na terceira página do romance, após vários acréscimos, quatro linhas: – o que faz? – uma mulher terna sentada tranqüila na poltrona de espaldar alto confortável apontando tensa o revólver pesado na mão direita sobre a esquerda espalmada na coxa com uma aranha grande peluda felpuda na orelha esquerda? (p.17) Com os travessões, Carrero promove uma pausa maior, forçando o leitor a permanecer, durante a leitura, mais demoradamente nos fragmentos destacados. A repetição dos termos leva à visualização detalhada dos objetos que compõem a “cena”, como se o narrador estivesse diante de um mesmo quadro com uma câmera na mão alterando a distância focal em planos variados. Todavia, embora esse quadro pareça fixo, ele sofre pequenas mudanças bem marcadas por essa “filmadora” literária. A rigidez externa – Alice e Leonardo pouco se movimentam, o espaço é restrito –, em conformidade com a ideia de personagenspresas, contrasta com a movimentação interna – tanto o marido como a mulher vivem o tormento da iminência do crime e rememoram incessantemente alguns episódios, sobretudo o sisudo domingo em que os cílios da esposa foram cortados. Tudo, portanto, se repete; tudo torna ao mesmo ponto, criando uma angustiante atmosfera de cárcere: estão aprisionados no quarto escuro, no mosquiteiro-teia, pelos incontroláveis pensamentos em (re)moinho, pelo sono e pelos sonhos, pelo desejo e pelo ódio. Se em “A tarântula ronda a morte e improvisa” o foco recai sobre a perspectiva de Alice, em “A ponte flutuante do céu”, encontra-se o ponto de vista de Leonardo. Ao gosto carreriano dos episódios vistos sob diferentes perspectivas, os pontos suscitados por ela são retomados pelo olhar dele e, curiosamente, em vários momentos coincidem. Alice conclui, por exemplo (repetição com intuito de convencimento),“não passará de hoje – de hoje – de hoje não passará” (p.19) enquanto Leonardo reflete “não passará de hoje, ela quer, ela vai atirar, não passará...” (p.70). Do mesmo modo, a satisfação da mulher em saber que o marido está vivo só para ter o prazer de matá-lo é reintroduzida na narrativa pela perspectiva dele: “mas desconfia que ela pensa: é uma sorte, uma sorte, uma grande sorte, que Leonardo esteja vivo” (p.92). Assim, a segunda parte da narrativa volta de certo modo à primeira, como se o narrador com sua câmera focasse sob os mesmos ângulos ora o marido ora a mulher. Ao final da terceira e última parte, “O escorpião beija a rosa da tarântula”, em harmonia com a provável relação sexual, as perspectivas se alternam continuamente, possível mimesis do coito: “A mulher. O escorpião deitado. A mulher, a serpente, o escorpião” (p.146). E o texto recebe, enfim, outra pontuação predominante: os dois pontos que supostamente simbolizam a junção das perspectivas. Entretanto esse texto carreriano é não apenas visual, mas principalmente sonoro (é um romance para ser lido em voz alta, sem dúvida). Além do sax que acompanha a agonia das personagens, a própria recorrência da pergunta-matriz, com acréscimos e repetições (sobretudo dos trechos entre travessões), confere à narrativa uma tonalidade ritualística, como se a música (a sonoridade das palavras e frases repetidas ad aeternum) e a dança (dos corpos e dos termos), num movimento ininterrupto em giro, intencionasse levar ao êxtase místico. E talvez resida aí uma justificativa para a equiparação de Alice a uma índia da tribo Ticuna: [...] é a Mãe do Vento, máscara tukúna no rosto, dança, baila e gesticula, quase de cócoras – é a Mãe do Tempo, máscara de índia tukana, sentada em si mesma, as pernas arqueadas, os braços imitam as asas do ar – é a Mãe do Sonho, máscara de feiticeira tukanana, segura o revólver na mão semelhante a uma macará, agitando-o, girando-o, circulando-o. (p.126) A repetição, que também se conforma ao remoer próprio da mágoa, ocorre ainda nos níveis semântico, pela junção de termos com sentidos comuns ou que compartilhem uma mesma ideia, e fonológico: aliterações, assonâncias, sibilações complementam a orquestração carreriana. Alice, por exemplo, vê o marido “despojado na mansidão lerda do sono” (p.15). Todos os termos da frase remetem a certa preguiça, moleza, que é aparentemente acentuada pelos sons nasalisados /m/, /n/, /ã/ e sibilantes /s/. Já na continuidade da descrição, “observa-o na cama larga de lençóis alvos, travesseiros altos, envolto pelas ramagens do mosquiteiro” (ib.), encontram-se principalmente a repetição da lateral /l/, das fricativas /v/ e /s/, da nasal /m/, e a assonância em /a/. A sonoridade complementa a atmosfera de aconchego, de sonho, e algo misteriosa possivelmente em decorrência dos sons fricativos. Toda essa aura de calmaria é desfeita pelo início da sentença seguinte: “Revólver na mão [...]” (ib.). O vibrante /r/ promove uma quebra na maciez das sentenças e instaura o ruído. Não é apenas o sentido da palavra que gera uma ruptura – uma arma na alcova em meio aos brancos lençóis – mas seu efeito acústico. Do mesmo modo a sequência “seio moreno manso maçã pêra” (p.22) alia a maciez das sonoridades nasais (/m/, /n/, /ã/) e sibilantes à erótica associação entre mama e alimento, embora a escolha tanto de uma fruta quanto de outra tenha a intenção de dar conta sobretudo do tamanho do seio, sempre pequeno quando se trata de uma mulher desejável na obra carreriana. Toda a narrativa, portanto, como demonstrado nos exemplos acima, tem a preocupação em construir sentido pelo som, em diferentes níveis. Deve-se ainda acrescer a presença de parônimos que carregam, sobretudo, uma oposição de sentido, como em armando/amando: “Alice desconfia... a mão amando...amando e armando...” (p.78). A ideia do amor/ódio da mulher verifica-se neste par verbal que aproxima elementos supostamente incompatíveis. O mesmo ocorre na dupla apagá-lo/apegouse. Diante do fogo, Alce “ao invés de apagá-lo apegou-se” (p.139), possível metáfora da incapacidade de a personagem abdicar do desejo. As palavras dançam na oração, as letras dançam nos vocábulos. Luis Camargo assim inicia a apresentação do livro de ensaios Literatura e música: As vogais e as consoantes dão a cada palavra uma sonoridade particular. As palavras também podem imitar os sons aos quais se referem: zumbir, tilintar, farfalhar. A disposição das sílabas, fracas e fortes, dá a cada palavra um ritmo. Por uma espécie de economia fonética, esses ritmos são recorrentes, assim como cada língua utiliza um número reduzido de fonemas. A sonoridade e o ritmo, que estão presentes em cada palavra, são, assim, o ponto de partida para a musicalidade da poesia e, por extensão, da literatura. (2003, p.9) Raimundo Carrero compõe sua orquestração literária de modo musical e poético, conferindo à narrativa um estrato sonoro significativo: prosa enamorada da poesia. Outro fator insólito em Ao redor do escorpião... é a escolha do narrador heterodiegético para um enredo simples (sem ações ou peripécias) em que o foco recai sobre a memória e o sonho, logo, sobre o que se passa no íntimo dos dois protagonistas. O discurso indireto livre perpassa a obra, entremeado às detalhadas descrições de cena. No trecho seguinte, por exemplo, encontra-se claramente a “voz” de Alice, seus pensamentos: Alice sentada seria cruel – seria escandaloso atirar no marido – atirar no peito de quem ama – amada amante a mãe cantava no deslize da noite sem sono, a mãe cantava e brincava Alice, amada, amante, esse amor sem preconceito, que não sabe o que é direito – o que é direito o que não é direito atirar no peito de quem ama [...] (p.34) Carrero poderia ter optado por dois narradores homodiegéticos, mas escolhe alguém “de fora” que não está apenas colado aos personagens, mas é, na verdade, contaminado pelas atordoantes perspectivas de Leonardo e Alice. Na metáfora musical, verifica-se a alusão à estrutura arquitetônica da obra a partir de dois pontos de vista: “[...] grave agudo sol maior saindo para o dó de duas escalas uníssonas semitonadas harmoniosas desafinadas integradas aceleradas renovadas [...]” (p.119). Essas duas escalas buscam “o abismo interior” (p.122) – esforço, portanto, das personagens e do próprio romance. Há ainda vários trechos de monólogos como se o narrador abandonasse a cena quase por completo. No exemplo seguinte a voz de quem narra encontra-se (possivelmente) apenas nos trechos grifados: não restará a este filho da puta outra alternativa senão sair do mundo – sair do mundo sangrando esquisito – expulso da vida – sangrando – expulso da minha sombra – sangrando – expulso sangrando monótono – não passará de hoje – expulso sangrando da vida repetido – sem mover o dedo encostado no gatilho – sangrando da vida – de hoje – sangrando – sentindo o frio e a maciez da arma niquelada – sangrando expulso sangrando – pronta pra o tiro [...] (p.19-20, grifo nosso). Separar a voz das personagens da do narrador, portanto, requer atenção, já que os três compartilham uma forma discursiva um tanto sonâmbula e ensandecida. Esse narrador não é reflexivo, não emite opinião ou julgamento, mas constrói seu relato em conformidade com a agonia dos seres ficcionais, como se o tormento da mulher e do marido fossem também o seu martírio. E mais: ele narra de uma perspectiva inusitada, oscilando entre a vigília e o sono. Ao redor do escorpião... uma tarântula? é o relato do que se passa sobretudo no período de um aflitivo cochilo. Buscar uma composição que correspondesse adequadamente a esse instante tornou o romance sem dúvida surpreendente. Em crítica publicada na Folha de São Paulo à época do lançamento do décimo segundo título carreriano, Manuel da Costa Pinto conclui que “a estrutura concêntrica da obra a torna soporífera ao invés de hipnótica” (apud Pereira, 2009, p.43). De fato a narrativa, pelo excesso de repetições e de movimentos cíclicos, provoca certo cansaço. Mas esse giro, esse sistema rotatório – espécie de ápice da literatura em redemunho do pernambucano Raimundo Carrero – não objetivaria levar o leitor ao mesmo estado de suas personagens? Além de Alice e Leonardo, o público também é presa desta trama que quase não avança, retornando sempre aos mesmos pontos. Outro recurso utilizado em Ao redor do escorpião... é a alternância de tempos verbais. O verbo “fazer” aparece primeiramente no presente do indicativo na pergunta-matriz (“O que faz uma mulher apontando o revólver para o marido?” (p.15); depois, é substituído pelo futuro do presente – “o que fará?” (p.18) –; e, posteriormente, pelo futuro do pretérito – “o que faria?” (p.20). Nota-se que “faz” é substituído por “fará” após o surgimento de uma resposta à indagação (ou da confirmação à suposição que a pergunta por si só suscita): Não sossega – ela não sossega, esta mulher, essa tarântula, que sonha sentada em abrir as franjas do mosquiteiro e aproximar o revólver, no abismo do silêncio e das sombras, do corpo de Leonardo, numa distância em que não precise chamuscar a pele. (p.17-8) Em “o que faz” está implícita a ideia de intencionalidade (que propósito tem a mulher sentada diante do marido?) e, em “o que fará”, a atitude propriamente dita – Alice matará ou não matará Leonardo. Já a questão “o que faria” lança tudo no terreno das possibilidades: em dada circunstância hipotética qual seria o comportamento da mulher? A partir dessa tríade verbal, o autor promove a alternância de tempo de outros verbos, como no exemplo seguinte: O que fará – o que fará esta – essa mulher esta mulher – que vestia – veste vestia veste – um longo robe verde que chega – o que fará – o que fará esta mulher que veste um longo robe verde que chega aos pés – o que fará – o que fará essa mulher terna sentada tranqüila que vestia um longo robe verde que chegava aos pés [...] (p.18, grifo nosso) Por um lado essa alternância se conforma a uma narrativa cíclica que oscila entre lembrança, sonho e realidade e por outro se amolda a um narrador tão contaminado pelas perspectivas também pendulares das personagens que parece (ou finge) desconhecer seus destinos, a “verdade” da trama, tanto que ela é estruturada sobre pontos de interrogação e reticências, o que obviamente instaura um clima de suspense. Tudo, na verdade, no romance, está em suspensão, inconcluso. E, se o leitor tinha esperança de encontrar respostas ao final da narrativa, a vê se esvair por entre novas – ou dever-se-ia dizer as mesmas? – perguntas: “o que fará esta mulher nua? – ... o que faz este homem nu dormindo dorme... – o que fará esta mulher Alice nua que vestiu um longo robe verde? [...]” (p.156). O término é reinício: a mulher novamente após o sexo em mais uma noite com a arma na mão diante do marido amado-odiado. Pode-se ainda citar a interrupção abrupta da frase, possível justamente porque o leitor é capaz de completá-la pela memória, já que se trata de uma repetição. Em “um longo robe verde que chega” (p.18) sabe-se que “chega aos pés” e, quando o narrador recupera “não passará de hoje” fora de contexto fica fácil inferir que se refere ao pensamento de Alice quanto à morte de Leonardo: [...] Leonardo sandálias de couro este guerreiro a face crestada esse cavaleiro esta velha vária protegido pelo mosquiteiro não passará de hoje não passará muitas num só corpo difícil de carregar espiando a fera que se ergue [...] (p.51) Também é possível completar a seguinte oração com “dorme” após “que” e “passará de hoje” após “não”: “[...] e não acendera o abajur sobre a mesa e não passará de hoje – para se atormentar – ressaltando a curva dos joelhos e de propósito e apontando o revólver para o marido que e não e dormia [...]” (p.22, grifo nosso). Evidentemente, esses cortes repentinos também refletem o pensamento descontínuo, não-linear, entre o sono e a vigília. Deve-se também destacar que a dúvida permanente não é marcada apenas pela interrogação ou pelas reticências, mas pela alternância do sim e do não. O advérbio de negação não só é substituído pelo de afirmação na sentença “não passará de hoje” repetida inúmeras vezes, como sua inserção ao longo da obra desconstrói tudo o que já havia sido dito: Alice sentada não tranqüila que ainda sim penetrara inteiramente e pensava sim passará de hoje e no negro bosque viscejoso da noite e que não veste um longo robe verde que não chegava aos pés na poltrona de espaldar alto não confortável e sim passará e sim acendera o abajur sobre a mesa e sim passará de hoje [...] (p.26) O ápice se dá em parágrafo do capítulo cinco (p.55-6) que compreende 56 advérbios, sendo vinte e sete de afirmação e vinte e nove de negação. Esse recurso alinha-se aos demais na configuração de uma prosa da relutância, da dúvida. A ideia do assassino que presta um favor à vítima, tão recorrente na prosa carreriana, ressurge em Ao redor do escorpião... como uma das estratégias que Alice usa para se convencer a matar Leonardo: [...] acredita que o marido quer ser assassinado, entre as ramagens do sono, pensa que ela deve ser a criminosa, entre as ramagens da vigília, imagina que ele quer se suicidar e não tem coragem, jura cruzado nos dedos que desde que a viu, desde que a conheceu, deve ter pensado, é imperioso que mate (p.58-9). As personagens também aparentemente migraram de Santo Antonio do Salgueiro para o Recife: “todo amor é trágico, dizia-lhe a mãe, cantando adeus às ilusões sentada na calçada da casa em Santo Antônio do Salgueiro, preparando Alice para a viagem ao Recife [...]” (p.21). Mas a obra mantém traços medievais em maior conformidade com o sertão: Alice é a donzela que sonha em matar o cavaleiro Leonardo (p.39). Para o poeta Fabrício Carpinejar “é interessante perceber o quanto na superfície urbana da trama [...] existe um inconsciente simbólico, que reúne o ancestral e o novo em uma só procura”115. No décimo segundo título carreriano, o espaço é restrito (um canto do quarto); o número de personagens também (dois protagonistas, Alice e Leonardo, e dois coadjuvantes, a mãe e o saxofonista, pertencentes aos planos da memória e – talvez – da ilusão, 115 CARPINEJAR, Fabrício. Autor de Ao redor do escorpião... uma tarântula reúne antigo e novo em prova vulcânica. Estado de São Paulo, Caderno 2/Cultura: 14 de março de 2004 respectivamente); o tempo, curto (parte de uma noite que se repete); o enredo simples (uma mulher entre a decisão e a coragem; um homem na expectativa da morte); as frases, quase sempre as mesmas. No entanto, possivelmente foi o romance mais trabalhoso de Carrero, em que todos os movimentos confluem para o giro ininterrupto, desde as menores unidades significativas que compõem as palavras à totalidade da trama que inicia e finda com os verbos no modo imperativo. Vale frisar que o tempo cronológico (a linear madrugada da constante iminência do crime) colide ininterruptamente com o tempo psicológico (a recordação da infância de Alice, do corte dos cílios, do momento em que houve felicidade, das relações sexuais, das palavras quase premonitórias da mãe...), que se propaga num movimento típico da ficção carreriana, bem definido por Massaud Moisés: O tempo psicológico, porque interior, se desenvolveria em círculos ou em espirais, infenso a qualquer ordem, exceto pelos próprios fluxos emocionais que lhe estão por natureza vinculados (1991, p.102). Ao redor do escorpião... uma tarântula é prosa-teia, redemunho de fios “sinuosos, às vezes, puxados e densos, às vezes, encaracolados” (p.28). Olha e vê. 12 O amor não tem bons sentimentos 12.1 O duplo nas veredas da prosa: bifurcações Jamais gostei de espelho. Naquelas horas era bom olhá-lo e olhar-me, os dois se enfrentavam na maioria das vezes, e eu enfastiado. (Carrero, 2008, p.30) O amor não tem bons sentimentos, publicado em 2007, é o décimo terceiro título do autor pernambucano Raimundo Carrero. Suas personagens centrais são membros de uma família incestuosa, que começou a ser delineada no romance Maçã agreste, de 1989, e reaparece também em Somos pedras que se consomem, de 1995. Carrero incita a reflexão sobre o amor ao destacar a ausência de bons sentimentos ou, por oposição, ao enfatizar uma presença maléfica no corpo desse afeto maior. Se o amor não tem bons sentimentos, sua estrutura se faz, portanto, de um composto, de um mosaico de maus sentimentos. O enredo possui uma pseudo simplicidade: a partir da recordação da provável morte de Biba (fruto do incesto entre os irmãos Jeremias e Isís), Mateus/Matheus (filho da relação também incestuosa entre Jeremias e sua mãe Dolores), envolto nos fios emaranhados da memória – sempre repleta de fantasia –, procura restaurar seu passado remoto e recente. A narrativa ganha complexidade com a exploração da vida interior desse narradorpersonagem atormentado que “carrega um doido nas costas”116 (p.42). Ao adotar, pelo viés da loucura, multiperspectivas, Mateus/Matheus, por vezes, demonstra uma lucidez para além dos limites asfixiantes da razão. Há diferentes versões para a suposta morte de Biba: suicídio, afogamento ou assassinato. A menina pode ter sido morta por Dolores, pelo próprio irmão ou pelas pessoas, de forma indeterminada. Apresentam-se, ainda, duas outras possibilidades: ela vive porque “nada disso está acontecendo” (p.141) ou porque ela apenas dorme ou finge. Para as versões de homicídio, há inúmeras variações de como e onde a menina morreu. A movimentação do fluxo de consciência é espantosa e se dá de maneira mais intensa durante a “rememoração” do corpo da irmã boiando nas águas do Capibaribe. É preciso ressaltar que, se toda memória fala do que já não há, ela é, por excelência, um elemento ficcional, ou seja, ela é ficção na medida em que não corresponde ao “real”, sendo sempre uma (re) criação do “real”. Carrero parece 116 CARRERO, Raimundo. O amor não tem bons sentimentos. São Paulo: Iluminuras, 2008. Nas próximas referências a essa obra, será indicado apenas o número da página. levar a extremos o grau de imaginação, de fantasia, de que toda memória é mais ou menos composta, ao erguer uma obra sobre os alicerces da contradição. Deve-se desconfiar triplamente desse narrador: primeiro, porque está narrando do seu ponto de vista; segundo, porque esse ponto de vista não é uno, mas múltiplo; terceiro, por ele mesmo afirmar: “Devo logo dizer em minha defesa: a mentira é uma das melhores qualidades do meu caráter.” (p.34). O amor não tem bons sentimentos possui a marca do duplo. No desdobramento inicial encontram-se, de um lado, o narrador como aquele que seleciona a matéria narrada e reflete sobre os acontecimentos, promovendo um distanciamento crítico e, de outro, a personagem que vivencia os eventos narrados. No entanto, essa duplicidade é nuançada, pois esse narrador, ao trazer à luz suas reminiscências, por vezes presentifica os fatos como se ocorressem naquele exato instante, promovendo, assim, uma fusão entre presente do enunciado e presente da enunciação. A alternância de tempos verbais ratifica não apenas a capacidade da memória de fazer (re)viver o passado, mas sobretudo a perturbação mental do narrador: Mateus/Matheus imerge de tal forma em suas lembranças que elas ganham uma nova existência. Há uma constante desordem temporal: “Naquele remoto amanhecer, e que é agora, em que descobri o corpo da menina boiando nas águas do rio, tive vontade imediata de mergulhar para salvá-la [...]” (p.98). A outra duplicidade advém da própria personagem: Mateus/Matheus é o outro dele mesmo com o qual dialoga incessantemente. Esse “tu” reitera o desejo de distanciamento reflexivo, com o intuito de compreensão do “eu” e do universo que o cerca. Todavia, é também um atenuante da solidão, própria dos sujeitos carrerianos. Deve-se atentar para o fato de que, na obra, há duas grafias para o nome, admitindo a existência do duplo: Mateus e Matheus. Para Cristhiano Aguiar, quando Mateus é substituído por Matheus, já passamos da metade do livro. A mudança acompanha, talvez, uma modificação sutil do tom, pois a partir deste ponto a loucura do narrador e sua confusão parecem aumentar ainda mais. Se estávamos nas bordas, agora despencamos. (2007, p.33) Aguiar acrescenta que o acréscimo do “h” em Mateus “pode ser uma forma de realçar a busca por um “theos”, ou seja, por um deus, ou por outro aspecto sagrado da existência” (ib.) O irmão de Biba, diante de seu corpo, surge descalço, sem camisa, somente de calças. No entanto, no decorrer da narrativa, há um homem de terno branco, chapéu Panamá e sapato bicolor que o acompanha. Esse homem elegante, que fuma cigarro com piteira, é também o duplo do maltrapilho, atormentado e não tabagista Mateus/Matheus: Tudo rebelião desse homem de branco com chapéu Panamá, fumando na margem do rio e observando o corpo boiando nas águas, e que faz parte de mim: um ser extraviado de cócoras, sem camisa e sem sapatos, indiferente à morte da menina, procurando choro na garganta. (p.68-9). Permanece a questão: o homem de branco seria aquele que Mateus/Matheus gostaria de ser ou o que ele se tornou, o ser distanciado dos eventos narrados? Pela exposição realizada até o momento, seria possível imaginar que a narrativa é marcada pela duplicidade. No entanto, ela se expande e dá lugar a uma descrição múltipla do eu. O próprio narrador, após admitir que “A gente pode ser três ao mesmo tempo.” (p.19), afirma quase ao final do romance: Nós nunca nos demos bem. Os dois divergem de mim, me inquietam, me atormentam. O que não significa que eu seja doido. É uma questão de temperamento. Meu temperamento não gosta de mim, o que é que eu vou fazer? Gostar já não digo, diverge. Meu temperamento diverge de mim mesmo. Assim como meu corpo. Desconfio que até mesmo o meu sangue. Somos muitos – eu, meu outro eu, meus muitos eus, meu temperamento, meus pensamentos, meu corpo, meu sangue. (p.155) De fato Mateus/Matheus, tantas vezes duplo de si mesmo, se confunde ainda com as demais personagens. Ele, ao olhar para o corpo de Biba estendido sobre as águas sujas do rio, se vê. Quando afirma “O morto era eu.” (p.18), deixa transparecer toda a dor pela perda da menina. Ela fazia tanta parte dele que, de alguma maneira, também era ele. Quando veste as roupas de Ernesto, ex-marido de Dolores, que cometera suicídio ou fora assassinado por sua esposa – morte jamais esclarecida –, imaginando ser esse seu pai, e é ridicularizado por um vizinho, esbraveja: “Tive vontade de voltar gritando eu sou meu pai, filho da puta, você não está vendo que eu sou meu pai?, vim buscar meu filho que anda abandonado pelo mundo.” (p.31). Novamente, movido por uma solidão dilacerante, Mateus/Matheus toma o lugar do outro em busca de atenuar sua agonia. O filho nota ainda a semelhança com Jeremias, seu verdadeiro progenitor: “[...] parecia demais comigo.” (p.39) Costuma-se, talvez por conta da trama repleta de mortes não esclarecidas, aproximar Carrero da narrativa policial – o que não se justifica. Nos textos carrerianos, não há, normalmente, elucidação do crime; por vezes, não se sabe sequer se há crime. Esses fatos não interessam à sua prosa, marcada pela preponderância da interioridade. Apesar de o texto da contracapa de O amor não tem bons sentimentos apresentar a informação de que Mateus/Matheus matou Dolores e Biba e de o título do último capítulo do romance ser “Nem eu mesmo sabia que era eu”, deve-se no mínimo suspeitar dessas afirmações, já que o desequilibrado irmão de Biba narra inúmeras versões para a possível morte da menina. Aliás, em seu delírio, Mateus/Matheus chega a crer que também fora assassinado por Dolores. José Castello, em resenha publicada à época do lançamento da décima - terceira obra carreriana, avalia o caráter escorregadio do romance: Talvez alguém se arrisque a dizer que O amor não tem bons sentimentos trata de um crime. Mas, em literatura, resumir é matar. Crime? Ao longo do relato, Matheus sequer sabe se a irmã Biba, que ele encontrou inerte nas águas barrentas do rio Arcassanta [sic], está morta. Talvez a mãe, Dolores, que já foi acusada de assassinar o pai, a tenha matado. Talvez ele mesmo, Matheus, seja o assassino. Disfarces, mantos, escudos, a enjaular o miolo do real.117 As virtualidades desse romance compõem um tripé estrutural: o plano da interioridade, desvendando os meandros de uma consciência atormentada, a preponderância das imagens, conferindo poeticidade à narrativa, e a prosa fervilhante, em que a subjetividade se encontra em estado permanente de ebulição. Dorrit Cohn, na obra La transparence intérieure, frisa que “os personagens de ficção mais autênticos [...] são os que nós conhecemos mais intimamente, e de um conhecimento que nos é precisamente interditado na realidade”118. (1981, p.17-8) Para corroborar suas palavras, cita Schopenhauer: Quanto mais há num romance de vida interior e menos há de vida exterior, mais nobre e elevado será seu desígnio [...]. A arte consiste em chegar a um máximo de movimento interior com um mínimo de movimento exterior; porque é a vida interior que constitui nosso verdadeiro interesse119. (ib., p.212). Assim procede o autor de O amor não tem bons sentimentos ao elaborar uma obra que tem por intuito esmiuçar a interioridade de Mateus/Matheus e revelar o que está oculto, 117 CASTELLO, José. “No arrastão das palavras”. O Globo. Rio de Janeiro, 14 jun. 2007, Caderno Prosa&Verso p.2. 118 “[...] les personnages de fiction lês plusauthentiques [...] sont ceux que nous connaissons le plus intimement, et d’une connaissance qui nous est précisément interdite dans La réalité”. 119 Plus il y a dans un Roman de vie intérieure et moins il ya de vie extérieure, plus noble et élevée será as viseé [...] L’art consiste à parvenir à um maximum de mouvement intérieur avec un minimum de mouvement extérieur; car c’est la vie intérieure qui constitue notre véritable intérêt”. submerso, expondo toda a nudez de sua alma. O narrador menciona seu receio: “Temo que as pessoas me vejam nu por dentro, que é a pior maneira de se ver uma pessoa. Eu mesmo não sei olhar, confesso. [...] Tenho tantos medos [...]” (p.91) Carrero, que considera a leitura de poesia imprescindível para o ficcionista, cria belas e intensas imagens, como: “Ninguém pode pensar sem ter a certeza de estar cortando o vento com agulha de sangue.” (p.94) ou “Matar a pessoa que a gente ama é enterrar a pessoa dentro da gente. Escondê-la no nosso segredo. No nosso segredo e no nosso mistério. [...] Não deixála por aí se oferecendo às feras.” (p.117). E, ainda, sobre a beleza: “[...] a beleza é uma fatalidade. Força de punhal sangrento, ímpeto de bala zunindo, barulho de tiroteio. Tem gosto de sangue, meu Deus.” (p.110) Essa personagem louca, que reflete sobre a própria loucura, geralmente com a intenção de dominá-la, mostra-se dotada de grande lucidez. Subverter a lógica resulta em uma maneira no mínimo inusitada, surpreendente, de ver o mundo. Vale ressaltar que os seres carrerianos são comumente loucos ou enlouquecem ou estão no limiar da insanidade. É pelo viés da sandice que ocorrem os momentos de reflexão mais interessantes acerca da força das palavras e dos pensamentos, e do domínio que os outros podem exercer sobre o indivíduo, mesmo que o pensamento do outro seja apenas fruto de sua própria imaginação. Mateus/Matheus, ao refletir sobre a nudez de sua mãe, termina por expor o poder que ela exerce sobre ele: Toda mãe fica nua, eu sei. Toda mãe tem o seu jeito de ficar nua, compreendo. Toda mãe tira a roupa, sem dúvida. E o que seria, seria a nudez de minha mãe – daquela mãe que estava deitada no quarto dormindo? E também era o alguém que estava me seduzindo dessa forma tão penosa, eu me perguntava como era que eu havia dado ordem para meu pensamento não pensar e ele continuava pensando? Só podia ser artimanha dela. Mãe gosta de contrariar. Com certeza ela dissera a meu pensamento, na contra-ordem – pensa, pensamento, pensa. E o pensamento que era meu, obedecia não a mim, mas a ela, com o maior descaramento. (p.95) Anatol Rosenfeld, em “Influências estéticas de Schopenhauer”, destaca a tese do filósofo alemão de que “a loucura se origina do violento ‘expulsar para fora da consciência’ de certos fatos insuportáveis, o que só é possível ‘pela inserção na consciência de qualquer outra ideia’ que não corresponde à realidade.” (1991, p.175). Em O real e seu duplo, Clément Rosset afirma, corroborando e complementando a sentença de Schopenhauer, que a loucura e o suicídio são duas das formas mais radicais de recusa do real, sendo que aquela age muitas vezes como subterfúgio desta: é possível “suprimir o real com menores inconvenientes, salvando a minha vida ao preço de uma ruína mental [...]” (2008, p.15) No entanto, essa aversão ao real em Carrero tem relação não apenas com o universo exterior, mas principalmente com o interior. O foco não se apresenta nas ações, mas num “eu” capaz de agir no mundo de tal maneira impulsionado por suas paixões que termina por se tornar senhor de grandes tragédias. Os seres na obra do autor pernambucano são quase sempre agentes desse real degradado e ensandecem, ou ao menos se encontram à beira do delicado abismo da loucura na tentativa de escapar ao horror de se saberem humanos. As relações incestuosas, nos romances carrerianos, parecem ser fruto de uma afetividade ora ausente ora contida. As personagens, submersas em mágoas profundas, têm, com alguma frequência, bocas silenciosas. O universo familiar fechado e solitário e a linguagem mais corporal do que verbal talvez contribuam para que toda forma de ternura resvale para a esfera da libido. As palavras de Mateus/Matheus não condenam o incesto familiar, ao contrário, pressupõem aceitação e certo orgulho: “na nossa família as coisas se resolvem aqui mesmo, não precisamos de estrangeiros para nada. Nem de outros lábios, nem de outras bocas, nem de outros corpos.” (p.63). Para compreender a formação dessa família, há de se recorrer a Dolores, matriarca e esposa preterida. Seu marido, Ernesto Cavalcante do Rego, era conhecido como Rei das Pretas e, para manter relações sexuais com mulheres brancas, necessitava reunir o suor das negras em um frasco – elixir miraculoso – e untar as peles alvas. Ernesto, além de estuprar a filha Raquel, leva a família à ruína financeira. Todos são, portanto, ligados pelos fortes laços do crime. Culpa e fatalidade, resultantes, por vezes, dessas relações incestuosas, são elementos que promovem a confusão mental e a movimentação veloz de fluxo de consciência que tão bem se coadunam às formas sinuosas, espiraladas, das narrativas de Raimundo Carrero. A estruturação ficcional em redemunho, portanto, não é estéril; ela se harmoniza perfeitamente com a matéria narrada – preocupação típica de um autor que soube pensar e elaborar os segredos de sua própria ficção. Maçã agreste, Somos pedras que se consomem e O amor não tem bons sentimentos compartilham a mesma família incestuosa e promovem, assim, uma curiosa intertextualidade. Talvez possamos compreender o enigma do incesto em Carrero tomando como base o desejo incestuoso de Mat(h)eus pela irmã Biba – elemento desencadeador do possível destino trágico da menina morta nas águas do Capibaribe. Bataille, em O erotismo, destaca da obra de Lévi-Strauss, As estruturas elementares do parentesco, que a proibição do incesto “constitui o passo fundamental graças ao qual, pelo qual, mas sobretudo no qual se realiza a passagem da natureza para a cultura.” (2004, p.311). Em seguida, o pensador francês contemporâneo conclui que, sob esse prisma, “haveria no horror ao incesto um elemento que nos distingue como homens, e o problema que disso decorre seria o do próprio homem na medida em que ele acrescenta à animalidade o que tem de humano.” (2004, p.311) Em Carrero, há um componente dual e conflitante nos seres: se por um lado o sujeito incestuoso revela seu caráter animal e, portanto, natural, por outro, é justamente o indivíduo enquanto ser cultural que irá realizar sua própria condenação. Todavia, se considerarmos que o componente primordial do jogo erótico é a interdição, pode-se levar em conta que, por ser cultural e não natural, o homem avança sobre o grande interdito do incesto. A culpa, dessa maneira, recairia não apenas sobre a animalesca essência humana, cuja cultura seria a tábua de salvação, mas sobre a própria cultura que alimenta o desejo ao criar o interdito. De toda forma há muito por descobrir sobre o incesto em Carrero. Em algumas personagens, como Mateus/Matheus, a afetividade contida, a solidão e o desamparo fazem com que o homem conheça do amor apenas seus maus sentimentos. Esse afeto maior, cuja carnadura na obra carreriana se faz primordialmente de apetite sexual, conduz quase sempre ao crime. O desejo deseja sua própria morte na aquisição, na conquista, na absorção ou na aniquilação do objeto, todavia a morte do objeto não configura a morte do desejo e é exatamente por isso que o sofrimento de Mateus/Matheus não finda após o suposto assassinato de Biba. Deve-se ressaltar ainda o diálogo, que o filho de Dolores estabelece com ele mesmo, dando vida ao duplo. Aos olhos de Mateus/Matheus, Biba é seu “peixinho dourado”. Ela representa algo reluzente, brilhante e frágil num mundo podre, fétido; ela é seu bem maior, algo que precisa ser afastado das “feras”, que precisa ser enterrado no mais íntimo, no segredo e no mistério. Ao contemplar as águas sujas do Capibaribe, Mateus/Matheus afirma que “os peixes dourados morriam sempre. Asfixiados pela sujeira das águas.” (p.61). Essa afirmação seria outro indício do destino de Biba: sufocada pela vida, esmagada pelo amor cuja carnadura se faz de maus sentimentos? A música – única companheira fiel das personagens carrerianas – também se encontra em O amor não tem bons sentimentos, para afugentar a dor e a solidão ou para intensificá-las. Há um coro composto pelo canto dos pássaros e de tia Guilhermina e pelo som do saxofone. Para Mateus/Matheus, bastava a presença da tia, “com o jeito de alguém sempre muito distante, [...] os dois [...] envolvidos pelo silêncio, pássaros, cantigas [...] protegidos pela solidão, pelas horas caladas, pelo vazio.” (p.32). Ao contrário da maior parte das narrativas das últimas décadas, a solidão em Carrero não é o resultado do excesso de individualidade, do consumismo exacerbado no qual as relações humanas se espelham, da efemeridade dos sentimentos amorosos ou da pressa constante que impede o estabelecimento dos laços afetivos – clichês do comportamento humano, amplamente debatidos por sociólogos e filósofos da contemporaneidade e ficcionalizados até a exaustão pelos autores da literatura brasileira recente. Northrop Frye, em O código dos códigos, atenta para o fato de que a primeira função da literatura, em particular da poesia, é a de ficar recriando a primeira fase da linguagem, a metafórica, durante o reinado das outras, representando-a como uma modalidade de linguagem que nunca devemos nos permitir subestimar [...]. (2004, p.48). Talvez boa parte da literatura contemporânea padeça do mal de tornar a secura ou a suposta pobreza do real forma literária. Onde havia poesia, há descrição; onde havia a metáfora, que carrega o sentido novo, inusitado, há fotografia. Na prosa carreriana, o sofrimento entranhado na alma parece enrijecê-la, mas, ao mesmo tempo, sobrevive o primitivo, o animalesco. A carne é o mal dessa família, o que a destrói, todavia é também o que, contraditoriamente, a une. Considerando a formação cristã do autor, talvez se possa afirmar que, embora o desejo carnal carregue um componente trágico, ele é inerente ao homem, impulso de vida e morte. Há algo de selvagem nos romances de Carrero, próprio de uma existência pré-civilizada, que se coaduna melhor à essência humana. A escolha do nome Dolores (que remete a dor, lamentação) para a matriarca dessa família sem dúvida não fora casual. A solidão é tamanha que Mateus/Matheus não apenas dialoga consigo mesmo, estabelecendo um “tu”, mas constrói ainda diálogos imaginários a partir de supostos pensamentos de outras personagens: Acho que ouve um instante em que ela pensou: – Mateus está pensando que eu vou matá-lo aqui no terreiro. Tive vontade de pensar: – Bobagem, já estou saindo daqui. (p.141) O espaço em O amor não tem bons sentimentos merece destaque. Os lares em que Mateus/Matheus reside são personificados e ganham imagens sombrias: Os cantos da casa sempre me inquietam. São abismos que nos espreitam nas salas, quartos, corredores, dando a impressão de que iremos naufragar numa fenda de choros, lamentos e gemidos, de soluços que se repartem e se desdobram. (p.102) A também dual tia Guilhermina (pois seu temor aos homens contrasta com seu aspecto de cantora de cabaré, com sua imagem voluptuosa, com seu desejo de ser prostituta) é “apenas uma das partes que formava a casa.” (p.35). Na perspectiva de Mateus/Matheus, “eram duas – uma tia Guilhermina para a rua, apressada e desconfiada, com medo de homem; uma tia Guilhermina para a casa, lenta e elegante, doce, apegada ao menino” (p.165). Locus e pessoas compõem, assim, um todo orgânico, um organismo vivo, envolto na mesma escuridão. Deve-se atentar ainda para o nome Arcassanta. Considerando que a primeira parte da composição dessa palavra, arca, é o local onde se guardam os pertences familiares (ou pode ser uma espécie de caixão), Arcassanta (a arca da aliança bíblica?) é simbolicamente o sítio em que essa família se encerra. Para Mateus/Matheus, “irmão é santo, irmã é santa, pai e mãe são santos, toda família é santa, foi por isso que veio ao mundo, que veio povoar o dorso quente do mundo, a terra bruta do mundo.” (p.75). Todavia, o espaço da interioridade, indubitavelmente, prevalece no décimo terceiro título carreriano. O tempo adquire também um caráter duplo: há dois processos de rememoração, marcados por temporalidades distintas, embora entrelaçadas. A narrativa parte da “morte” de Biba nas águas e nesse espaço de tempo – que compreende as poucas horas, da madrugada ao amanhecer – se cruzam todas as lembranças da vida de Mateus/Matheus (de forma não linear), desde seu nascimento até momentos posteriores ao provável encontro do corpo no Capibaribe. Pode-se afirmar, então, que a narrativa também se duplica. O irmão de Biba sente-se perseguido e vê o outro e, principalmente, o destino como uma ameaça: “As maquinações contra a gente começam no cisco do canto da parede, no vento frio que passa por baixo da porta, no pedaço de cigarro que restou no cinzeiro.” (p.152). Dessa visão de mundo resulta boa parte de sua angústia: uma personalidade em estado constante de alerta, pronta para duelar com a existência e em conflito, sobretudo, com seus múltiplos “eus”. Duas imagens parecem bastante simbólicas. O desejo de recuperação do café que Mateus/Matheus joga na pia pode ser fruto da ânsia (e da impossibilidade) de reaver Biba, assim como o barco em que Mateus/Matheus supostamente foge – e que ele não sabe “se saiu do lugar” (p.176) – se assemelha a própria narrativa que também “girou”, “rodopiou”, mas, como privilegia o espaço da interioridade, não produziu uma considerável movimentação exterior. Em Amor, Poesia, Sabedoria, Edgar Morin afirma que o problema do amor reside no fato de que o possuímos e ele nos possui, logo, “possuímos o que nos possui” (2008, p.22). O décimo terceiro título carreriano é, para além de todas as formulações teóricas, um discurso sobre a possessão de que Mateus/Matheus é alvo em sua ânsia de possuir; um discurso, sobretudo, sobre os maus sentimentos que dão corpo ao amor e fazem dele o âmago das grandes tragédias. Para o irmão de Biba, se por vezes o amor é trágico, “no mais, o amor é festa. Mesmo debaixo de bala e facada” (p.115). 12.2 Estilhaços do eu no redemunho da memória A vida é a reunião desses pequenos detalhes. Costura daqui, costura dali, está formado o grande tapete da vida. Vêm as traças e estragam tudo. (Carrero, 2007, p.157) Se em Ao redor do escorpião..., Carrero ousou ao criar o narrador heterodiegético contaminado pela perspectiva das personagens, capaz de dar uma feição à narrativa que se harmoniza com o estado de Alice e Leonardo, entre o sono e a vigília, em O amor não tem bons sentimentos o leitor está diante da perspectiva de um homem insano que procura, distanciado das – hipotéticas – vivências relatadas, compreender seu passado e a si mesmo. Para Schneider Carpeginani, em matéria no Jornal do Comércio, o escritor pernambucano fala, neste romance, “a língua dos loucos e degradados” (apud Pereira, 2009, p.45). E, se em Ao redor do escorpião..., lembranças e sonhos se misturam à realidade na mente dos seres ficcionais, no décimo - terceiro título carreriano, várias camadas do tempo pregresso são desenterradas sem ordenação linear. Todavia, elas trazem à tona uma parcela de imaginação, fruto das mais secretas motivações do eu, em proporção que se coaduna à personagem imersa no abismo da insanidade. Jonathan K. Foster, em seu estudo sobre os processos de rememoração, distingue a memória “recordada” da “reconstruída” e conclui que “a memória que montamos pode conter alguns elementos reais do passado [...], mas – do ponto de vista do conjunto – é uma reconstrução imperfeita do passado localizada no presente” (2011, p.20). O narrador ensandecido, portanto, tende a recriar, a reconstruir a memória muito mais do que efetivamente recordá-la, numa potência acima do comum, o que se comprova nos inúmeros marcadores de imprecisão (advérbios de dúvida, verbos no futuro do pretérito, interrogações...) presentes na obra assim como nas múltiplas versões de várias histórias apresentadas por Mateus/Matheus. Ele, por exemplo, se pergunta ao supor que está perdendo o juízo diante da visão da menina nas águas: “era possível que estivesse enlouquecendo, mas quem enlouquece chora, se lamenta, reclama. Não tenho dúvidas. Ou tenho dúvidas?” (p.41). Em O tempo na literatura, Hans Meyerhoff também ressalta que “o passado – mesmo o passado de nossas próprias vidas – deve ter um status ou natureza diferente de nossas lembranças dele” (1976, p.7). Para o teórico, a complexidade da memória decorre do fato de que suas relações exibem uma “ordem” de eventos “dinâmica, não uniforme”. As coisas lembradas são fundidas e confundidas com as coisas temidas e com aquelas que se tem esperança que aconteçam. Desejos e fantasias podem não só ser lembrados como fatos, como também os fatos lembrados são constantemente modificados, reinterpretados e revividos à luz das exigências presentes, temores passados e esperanças futuras. (ib., p.20) Essa recuperação do passado (ou dever-se-ia dizer recriação?) pela memória não obedece princípios de causalidade, mas, ainda de acordo com Hans Meyerhoff, da associação livre, por “redes de relações significativas” (ib., p.34), de modo que a narrativa, apesar de aparentemente caótica e fragmentária, pode ser “recomposta” pelo leitor. A reunião desses fragmentos ou estilhaços do “eu” (ou dos vários “eus” do indivíduo) por associações tem como intuito a procura da unidade perdida, a superação da fragmentação: Esse método em si [do fluxo de consciência ou associação livre] é uma admirável expressão da fragmentação do tempo na consciência do homem moderno; por outro lado, é uma tentativa de superar essa fragmentação mostrando que mesmo esse fluxo caótico do tempo e experiência contém certas qualidades de duração, interpenetração, continuidade e unidade em termos dos quais alguns conceitos do eu podem ser preservados. (ib., p.102) Massaud Moisés observa que a tarefa de análise do romance introspectivo “consistiria em descosturar essa aparente colcha de retalhos” (1991, p.106) do tempo, logo em perseguir uma espécie de unidade perdida, perdida quando o homem desvelou os abismos da memória e pôs-se a esquadrinhá-los cada vez mais distante da ordem postiça atribuída ao tempo e ao mundo físico (ib.). Deve-se, no entanto, questionar: O amor não tem bons sentimentos é um romance psicológico, com os dramas localizados na consciência, como define Massaud Moisés (ib., p.99), ou introspectivo, capaz de desvelar “a subconsciência e a inconsciência, o que equivale perquirir o mundo da memória, dos sonhos, dos devaneios, dos monólogos interiores, dos lapsos de linguagem e das associações involuntárias” (ib.)? Apesar de não haver ruptura considerável na pontuação tradicional e de as reflexões permanecerem tantas vezes no nível da consciência, a morte da menina nas águas suscita a rememoração desenfreada de eventos que, embora não possuam lógica aparente, contribuem para a compreensão do estado psíquico da personagem e de seu comportamento. Um mergulho, portanto, ora psicológico ora introspectivo, intercalando níveis de consciência e de inconsciência. Mateus/Matheus foi abandonado por Jeremias e Dolores, pensa que Ernesto é seu verdadeiro pai e se aflige por não saber se ele se suicidara ou fora assassinado pela esposa, foi afastado de Guilhermina, para retornar ao decadente casarão da praça Chora Menino, e de Biba, após a matriarca ter visto os irmãos dormindo juntos. Seu corpo não o agrada, não domina seus pensamentos e seu desejo pela mãe, pela tia e pela irmã, necessidade de afeto transmutada em apetite sexual, o consome. Seu “amor/desejo” é repleto de maus sentimentos por sua existência ser marcada por ausência, silêncio, solidão, enfim, pela falta de amor. Para Cristhiano Aguiar, os crimes de O amor não tem bons sentimentos “têm origem justamente nessa fome pelo outro” (2007, p.33). Fome devoradora, destrutiva. Distanciado da (possível) morte da menina no rio Capibaribe, mas partindo deste ponto (e sempre a ele tornando continuamente ao longo da narrativa), para depois avançar a momentos posteriores e retroceder a momentos anteriores, Mateus/Matheus tenta compreender sua agônica trajetória. A loucura é ao mesmo tempo pavorosa, algo que o personagem tenta conter, manter “a relho” (p.42), e libertária, forma de aliviar suas dores: “Está certo, eu sempre quis ser doido. A loucura é uma proteção muito boa, espacial, ajuda a suportar a dor nos ombros, ajuda a suportar o corpo, ajuda a suportar a alma” (p.109). E, nesse sentido, se assemelha ao próprio rememorar que recupera o passado afligindo o indivíduo com a presentificação das angústias vividas (e, portanto, revividas) e simultaneamente o recria na possível intenção de enganar a si mesmo, eximindo-se da (suposta) culpa e atenuando o sofrimento pela perda. Se a visão do “real” pelo indivíduo nunca corresponde ao real objetivo, porque filtrado pela subjetividade que ora suprime ora acrescenta, distorcendo e moldando o mundo de acordo com o “eu”, a memória é duplamente criativa, porque resgata e reconstrói uma realidade já anteriormente modificada pelo limite da perspectiva individual. De acordo com Ronaldes de Melo e Souza, a narrativa de primeira pessoa representa a odisséia da consciência em busca do auto-conhecimento. Narrar-se quer dizer interpretar-se. O eu que se narra se desdobra no intérprete e no sujeito interpretado. [...] O eu que se enuncia em primeira pessoa não é o eu que persiste idêntico a si mesmo, mas o que se forma e se transforma em cada etapa de seu itinerário existencial. A história narrada pelo sujeito desdobrado em narrador e protagonista dramatiza a história da consciência vocacionalmente dotada do desejo de se conhecer a fim de reconhecer a realidade que a circunda. O ensinamento mais precioso da narrativa de primeira pessoa consiste no reconhecimento de que a significação da realidade depende da subjetividade que a representa. Não há realidade em si mesma. Toda realidade é duplamente filtrada pela reflexão do narrador e pela emoção do protagonista (2007, p.153) Não há dúvida de que O amor não tem bons sentimentos, um dos poucos textos carrerianos em primeira pessoa, é uma tentativa de Mateus/Matheus de compreender a si mesmo e sua realidade circundante através do resgate do passado. O problema reside no fato de que o narrador – embora distante dos acontecimentos narrados – tomado pela loucura, cola no protagonista (que ele foi, aquele que protagonizou os eventos) e revive suas angústias, presentificando-as. A alternância de tempos verbais ratifica a confusão mental: “Estou magoado com o mundo. [...] Quer dizer, estava magoado com o mundo. Naquele tempo em que fui levado para o casarão fiquei muito magoado” (p.33, grifo nosso). Há pouquíssimas passagens que evidenciam algum distanciamento crítico como em “somente agora estou percebendo que não poderia viver sem Biba” (p.33). O eu narrante, ao contrário do esperado, tem visão restrita, sem confiável saber prévio (e, por vezes, insolitamente irrestrita, para além dos limites da lógica, como quando parece rememorar o dia do seu nascimento) e não é racional, deixando-se levar pelas emoções de outrora. Através dos estilhaços do eu, o leitor consegue compreender algumas razões que podem ter motivado o crime – se é que houve crime, se é que foi cometido pelo filho de Dolores e Jeremias –, mas como Mateus/Matheus, na posição seja de protagonista ou de narrador, não é capaz de encontrar respostas (ou ao menos de confiar nelas). O décimo terceiro título do ficcionista sertanejo é, portanto, a narrativa das possibilidades. Em sua busca a personagem só reencontra o horror, como bem atesta Schneider Carpeginani: O amor não tem bons sentimentos parte de um lance antifreudiano: garoto é abandonado pelos pais ao nascer, é criado pela tia e passa o resto da vida procurando remendar as partes de uma família que nunca fora sua, num mundo que já não é mais possível. Ao contrário da psicanálise – onde o paciente se volta ao passado e (em teoria) volta fortalecido – em Carrero o retorno só estreita os laços com o trágico. (apud Pereira, 2009, p.44) Mateus/Matheus acumula medos, “de tantas coisas, de lugares fechados, de lugares abertos, de lugares altos, de lugares escuros, de alma penada, sobretudo de alma penada” (p.20), e convive com a atordoante sensação de que o mundo conspira contra ele: os cantos solitários da casa sempre me inquietam. São abismos que nos espreitam nas salas, quartos, corredores, dando a impressão de que iremos naufragar numa fenda de choros, lamentos e gemidos, de soluços que se repartem e se desdobram (p.102). Atormentado por olhos que o perseguem constantemente, sem dominar seus pensamentos, comandados, no seu ponto de vista, quase sempre por outro ou por outros, ele carrega uma grande mágoa (embora, por vezes, negue-a). Mágoa por ter sido enviado ao casarão, por perder Biba (“[...] meus lábio nos teus lábios. Nunca mais. Talvez por isso estava sentindo tanta mágoa. Estive. Estive sentindo mágoa. Nem estava nem estou, apenas estive” (p.33-4)) e pelo que imagina que as pessoas pensariam dele segurando as roupas da menina (“[...] as pessoas pensam logo que ele vai fazer isso porque brigou com Biba. [...] Fiquei magoado. Magoado com o mundo desde sempre, desde que deixei tia Guilhermina para morar com Dolores [...]” (p.104)). No capítulo treze, a personagem, presa ainda mais nas teias da loucura, revela: Tenho medo de viver, tenho medo de estar vivo, tenho medo. Vivo com essa sensação de que alguma coisa informe, informe e inquieta, está ali à espreita, prepara o golpe, é cruel demais. A barriga fica vazia, os pulmões se fecham, o frio escorre na coluna. As mãos geladas. Então ela se aproxima, está sempre chegando – a maltratar e a ofender –, ameaçando. A mágoa se instala no peito. Tenho medo por causa dela. É a mágoa – essa coisa informe, informe e profunda – que balança meu corpo, a sensação de que estou sendo estrangulado, a terra fugindo dos meus pés. Os homens são sempre escarnecidos, humilhados. Estou com medo. (p.115) É essa mágoa, esse remoer, esse giro amargo e ininterrupto no peito, o elemento que impulsiona a narrativa e instaura o solilóquio. Mateus/Matheus dialoga consigo mesmo à procura de si mesmo, num eterno ruminar dos eventos que instauraram a Mágoa. Nesse movimento, termina por equiparar momentos em que experimenta sentimentos equivalentes: “Sentado de cócoras [...] considerava que aquele momento era em tudo igual às madrugadas que atravessei soprando o maldito saxofone [...]” (p.59) ou “sem camisa e descalço achava que aquele instante era em tudo igual às tardes em que me sentava embriagado na poltrona rasgada do meu quarto e começava a tocar [...]” (p.60). No desespero de alma aflita, volta-se a Deus: “Deus, não me deixe nesse buraco” (p.44), “Tanto que eu queria ser feliz. Livrai-me, meu senhor Deus, da insensatez e da infelicidade [...]” (p.45) e ainda na pergunta retórica após cravar o prego na carne “O que é que não dói na vida, meu Deus?” (p.95). A atração e repulsa pelo cabaré, presentes em outras obras do ficcionista, ressurgem em O amor não tem bons sentimentos. A volúpia aparece contraposta ao desejo de morte e à culpa evidenciada na tentativa de diálogo com Deus: Pelas três ou quatro horas da manhã a única coisa viva num cabaré é a vontade de morrer [...] a cabeça doía, gemia e suspirava ó meu Deus o que é que estou fazendo. [...] Desejava a violência da carnes dilaceradas, porque tanto maior era o cansaço maior era a vontade de me exaurir, de atingir os limites, de chegar o momento em que a corda quebra e o corpo cai no espaço. (p.49) Do mesmo modo, os demais espaços também carregam o silêncio e a solidão típicos das narrativas carrerianas, assim como o ambiente decadente está em harmonia com a alma decrépita. O casarão de tia Guilhermina era retirado, envolvido por árvores e muros, aonde convergiam tristeza e abandono. Ficava numa esquiva, estranhamente recuado, o último da rua, feito senzala ou quintal, castelo de agonias e soluços, de um silêncio tenso e denso [...] (p.23) A solitária, monótona e rotineira tia de Mateus/Matheus, que deseja ardorosamente os homens, mas os teme muito mais, tem comportamento recluso que se assemelha, portanto, ao ambiente em que mora. Já os “escombros do casarão” (p.35) de Dolores se coadunam aos destroços (financeiro e moral) dos Cavalcante do Rego: Raquel tornara-se prostituta; os irmãos Jeremias e Ísis mantêm uma relação amorosa e, líderes da hipócrita e violenta seita “Os soldados da pátria por Cristo”, praticam crimes; Ernesto, que dormira com a própria filha, se suicidara ou fora assassinado por Dolores; a matriarca cumpriu pena e é a síntese do silêncio e da solidão; Biba é filha do incesto, assim como Mateus/Matheus, ser dilapidado pela carência afetiva. A casa “possuída de funda e fria severidade” (p.87) reflete ainda o comportamento hierático de Dolores. E seus cantos sombrios são, na perspectiva da personagem, “abismos” (p.102). O lar, portanto, distanciado da ideia de aconchego, torna-se, no romance, sinônimo de perigo, de frieza, de corrupção. Massaud Moisés ressalta que, no romance introspectivo, “a geografia pode confundirse com o protagonista ou tornar-se-lhe mero prolongamento” (1991, p.108). É o que ocorre com o sujo rio Capibaribe, metáfora da imundície de sentimentos, oriundos do amor/desejo, que conduzem à destruição. Biba é o peixinho dourado sufocado pela sujeira das águas/pela sujeira da alma. Em entrevista a Marcelo Pereira, Carrero revela: “Tive de criar uma cidade, chamada Arcassanta, para ambientar minhas narrativas, ali estou livre, pode ser mais ou menos a Várzea, onde eu acho que se passa O amor...[...]” (2009, p.105). Mateus/Matheus é, portanto, em boa parte do romance, uma personagem ribeirinha. Hans Meyerhoff revela que a “conotação literária mais comum” para dar conta do fluxo contínuo do tempo é o simbolismo do “rio” e do mar [...]” (1976, p.15). Além disso, a metáfora da “corrente” ligada à consciência tornou-se o símbolo de uma técnica narrativa. A “corrente de consciência” significa que o simbolismo do tempo e do rio sempre quis transmitir, isto é, que o tempo experimentado tem a qualidade de “fluir”, sendo essa qualidade um elemento perdurável dentro dos momentos sucessivos e constantemente mutáveis do tempo. (ib., p.16) Todavia, em O amor não tem bons sentimentos, o Capiparibe representa não a continuidade do fluir, mas uma espécie de (contraditório?) fluxo em giro, em harmonia com a narrativa (que quase não avança e retoma sempre o mesmo ponto) e com o remoer magoado de Mateus/Matheus. Quanto o irmão encontra a menina no rio, seu corpo está em rotação: Achei que podia descansar – e descansar de quê?, dormira bem a noite inteira e não sentia emoção, ali sentado, observando o corpo girar, toda a vez que o vento se agitava ela ficava boiando e não avançava, devia ser a corrente das águas. Não, outra coisa não fazia. Rodava ou quase rodava. Batia numa margem, rodava, rodava, rodava, batia outra vez. Batia noutra margem, rodava, rodava, rodava. (p.45) E o barco no qual supostamente Mateus/Matheus tenta fugir com Biba também não flui linearmente: “Naquela abundância de luz e de água, tocado pelo vento da manhã que ameaçava esquentar, avancei um pouco, bati com as mãos na água, o barco girou, rodopiou, não sei mesmo se saiu do lugar” (p.176). O décimo - terceiro título de Raimundo Carrero está repleto de outras tantas referências ao redemunho que dá forma a sua prosa. Atordoado com a interferência da mãe em seus pensamentos, a personagem conclui: “Ali me dei conta de que estava iniciando uma aventura, estava dentro de uma aventura, no redemoinho que me consumia a luz: Dolores me enredava num crime” (p.74, grifo nosso). Ainda sobre o controle que os outros exercem sobre o indivíduo, Mateus/Matheus reflete: Ocorre que somos controlados pelos pensamentos de quem nem se desconfia. Com certeza o mundo é assim. Basta verificar que quase todos os dias aparece um problema ou outro para causar dificuldade, vai ganhando dimensão, causando dor de cabeça, preocupando, ocupando a mente, coisas que nem mesmo interessam, circulando, circulando, circulando. Irritando. (p.80-1, grifo nosso) Em uma das versões para a morte de Biba, na qual ela se atira no rio e se afoga (após já estar morta), o irmão imagina: “Sustentou a morte nos dentes. A pele azulada. Subiu até quase a cintura, os peitinhos apontavam para o céu, e ela arriou, e flanou, de costas sobre as águas, depois rodou, rodopiou, redemoinhou [...]” (p.84, grifo nosso). É preciso destacar ainda o título do capítulo dez: “As revolutas dos pensamentos” (p.95, grifo nosso), em que a imagem das voltas (do giro) também se encontra presente em conformidade com o movimento circular da mente do filho de Dolores. Por fim, uma menção ao músico Capiba (Lourenço da Fonseca Barbosa), “de chapéu de sol aberto pulando o frevo no meio do redemoinho” (p.107, grifo nosso). O narrador Mateus/Matheus busca uma unidade, um sentido ao espalhar pela narrativa os estilhaços de sua vida pretérita. Ao fim dessa viagem espiralada, talvez só seja possível encontrar as razões que o levaram a desejar derrotar mãe e irmã: o ciúme e a sensação de que fora preterido diante da visão (ou da suposição) de que “as duas dormiam juntas, lindas” (p.179); a perda da capacidade de manter a loucura a relho, libertando-a e libertando-se (“tão bom enlouquecer naquela madrugada” (p.180)); a dor pela ausência daquele que imagina ser seu pai (“Não agüentara a lembrança da morte do meu pai (p.182)) e a tentativa de escapar da posição de vítima transmutando-se em algoz (“Agradava-me a sensação de que me tornaria um criminoso. De que seria igual a ela [Dolores]. As pessoas teriam medo de mim, não ficariam mais me olhando daquela forma e nem mandariam no meu pensamento” (p.181)). No desespero de ser amado, o protagonista carreriano amou/desejou vorazmente. Pela impossibilidade de ter, de possuir os objetos, Dolores e Biba, almejou destruí-las, aniquilando sua dor, vingando-se por sua carência e abandono. Todavia, essa (hipotética) destruição não é catártica, pois o faz mergulhar ainda mais no universo de silêncio e solidão. Resta a Mateus, Matheus apenas, seus estilhaços, os fragmentos de passado, de memória, sua agônica aventura no redemoinho. 12.3 Vínculos ficcionais e a genealogia do incesto Basta ir preenchendo os vazios, aí se descobre tudo. (Carrero, 2008, p.132) Mateus/Matheus e Biba, de O amor não tem bons sentimentos, são filhos de personagens de Maçã agreste. Neste romance, publicado em 1989, Dolores e Ernesto Cavalcante do Rego se casam e têm os filhos Jeremias, saxofonista que funda e lidera a criminosa seita “Os soldados da pátria por Cristo”, e Raquel, mulher dotada de grande libido que perde com o pai a virgindade e se torna prostituta por ter um “corpo social”. Em O amor..., Biba é fruto da relação entre os irmãos Jeremias e Ísis. Todavia, Ísis não está em Maça agreste. E nem poderia ter nascido posteriormente, pois além de Ernesto morrer nesta trama, ela não teria idade para ser mãe da menina. O leitor, então, se pergunta: é um erro de continuidade? Mas Carrero parece saber o que faz, já que o narrador afirma: As mulheres – Raquel e Ísis – muito parecidas, com idades próximas. Raquel mais velha, conforme me disseram, mas para mim não se distinguia de Ísis, a mais nova, ou Ísis não se distinguia de Raquel. Preferi não me atormentar e chamei Raquel de Ísis e Ísis de Raquel. (p.37) Logo, elas são e não são as mesmas, conformando-se ao gosto carreriano pelas sobreposições de personagens. E as correspondências não findam neste ponto. Ísis, na verdade, pertence originalmente a Somos pedras que se consomem, título no qual ela é irmã e amante de Leonardo e mantém com Jeremias (ele, mais uma vez) uma relação sadomasoquista. Neste romance de 1995, ela compartilha com Raquel o caráter libidinoso, embora o componente da violência associada ao prazer a distancie da mulher que se prostitui quase como por caridade. Já Leonardo, espécie de discípulo do criminoso Jeremias, ressurge em Ao redor do escorpião... uma tarântula como o sádico marido de Alice. E, em Seria uma sombria noite secreta (2011), trama em que Raquel e Alvarenga são alçados a protagonistas, ele é tido como um dos filhos do casal Dolores e Ernesto, “porque Leonardo era Jeremias, ou Jeremias era Leonardo, conforme as ocasiões” (2011, p.123), constituindo, portanto, uma nova sobreposição. Se Biba é filha de Jeremias e Ísis, Mateus/Matheus é, aparentemente, filho de Dolores e Jeremias. Em O amor não tem bons sentimentos, não fica claro por que, após seu nascimento, ele é levado para tia Guilhermina. O leitor precisa, para dar conta do texto, seguir a orientação “basta ir preenchendo os vazios, aí se descobre tudo” (p.132). O menino pensa ser filho de Ernesto, o que não seria possível, já que, em Maçã agreste, o Rei das Pretas cometeu suicídio ou foi assassinado pela esposa. Dolores cumpre pena e, depois de ser solta, busca por Jeremias. Somando-se a este fato, diante da foto do irmão, ele nota, de modo insistente, a semelhança de feições, além de mencionar o gosto de ambos pela música, pelo sax: Verifiquei que eu parecia muito com Jeremias. Sobretudo nas fotos da infância e da adolescência, tínhamos boca grande, nariz espalhado, olhos curiosos. Ainda herdei dele o gosto pela música (p.37-8) Guardei na carteira uma das fotos do meu irmão ainda menino, muito parecido comigo [...] (p.38) Por coincidência havia um retrato meu quase igual ao dele. (ib.) Jeremias parecia demais comigo. (p.39) Mateus/Matheus também parece suspeitar de algo quando, ao constatar que ele, Jeremias e Biba vestiram a mesma roupa para tirar foto, afirma: “Podia sentir o que estava se passando, a razão pela qual as fotografias se repetiam” (p.40). Merece ainda atenção a perspectiva de Ernesto, explicitada pelo narrador, no romance de 1989 (Maçã agreste), sugerindo a relação entre mãe e filho: [...] à maneira que ele crescia (diverso de Raquel), fortificava-se a idéia de que estava diante de um ser muito estranho, sobretudo porque recebia carinhos dobrados e exagerados de Dolores. Tanto que o retirava do berço e colocava-o entre os dois, na cama. No seu orgulho, de macho e de senhor, sentia-se rejeitado. Ficou enciumado, muito enciumado, a ponto de surrá-lo qualquer que fosse o motivo fútil. (1989, p.106) Mas a confirmação vem apenas no título de 2011 (Seria uma sombria noite secreta): “Matheus era filho de Dolores com Jeremias” (2011, p.123). Deve-se ainda destacar que Camila, de Minha alma é irmã de Deus (2009), possui uma identidade múltipla, ápice das justaposições carrerianas, pois se desdobra em Raquel, Ísis, Mariana (de As sementes do sol?) e Paloma. O único elemento dissonante nessa teia é Biba. Em Somos pedras, ela é uma prostituta apaixonada por Leonardo e espancada por Siegfried, que se traveste de cigana (Madame Belinski), na esperança de mudar seu próprio destino. Não há na trama nenhuma menção ao seu parentesco com Jeremias e ela não faz lembrar, exceto pelo nome, pela libido acentuada e por sua vitimização, a menina de O amor não tem bons sentimentos. No mais, está, portanto, formada a grande família incestuosa que atravessa boa parte da obra do pernambucano Raimundo Carrero. Jeremias (Leonardo) e Raquel (Ísis) são filhos de Dolores e Ernesto. Biba é fruto do incesto entre os irmãos Jeremias e Ísis e Mateus/Matheus, do laço consanguíneo entre Dolores e Jeremias. Maçã agreste (1989), Somos pedras que se consomem (1995), os contos de As sombrias ruínas da alma (1999) – “Madame Belinski”, que retoma a personagem homônima (na verdade, Biba) e Siegfried, de Somos pedras, e “Discurso aos cães”, sobre o casal Alvarenga e Raquel –, O amor não tem bons sentimentos (2007), Minha alma é irmã de Deus (2009) e Seria uma sombria noite secreta (2011)120 compartilham personagens de uma insólita árvore genealógica que começou a se delinear no romance de 89. 120 Os romances Minha alma é irmã de Deus (2009) e Seria uma sombria noite secreta (2011) não são estudados detidamente nesta pesquisa por terem sido publicados após a aprovação do anteprojeto de doutorado. No entanto, são mencionados na medida em que podem trazer algum benefício às análises dos títulos anteriores. Este histórico das relações sexuais entre parentes lança luz sobre o desejo de Mateus/Matheus. Ele conclui, ciente do atípico comportamento familiar: “na nossa família as coisas se resolvem aqui mesmo, não precisamos de estrangeiros para nada. Nem de outros lábios, nem de outras bocas, nem de outros corpos” (p.63). O filho de Jeremias, herdeiro do incesto, deseja a tia, a irmã e a mãe. Rememorando sua meninice, revela: Nos primeiros anos [tia Guilhermina] sentava-se na bacia comigo, os seios tocavam no meu rosto, aquelas duas pérolas nervosas, aquelas montanhas de prazer, os peitos pareciam dois passarinhos, e eu beijava-os só pra mim. Não os beijava como se beija ao natural, encostando os lábios nos bicos. Imaginava. Imaginava-me beijando-os. A saliva enchia a boca. (p.165) Ao longo de toda obra, há várias referências ao apetite sexual de Mateus/Matheus por Biba, como, por exemplo, quando a vê boiando nas águas do Capibaribe: “Nua, estava nua, e nem era uma mulher ainda. Nua e morta. Lindeza de pernas e coxas, macias, macios peitos e terno ventre, meu peixinho dourado” (p.16). Todavia, é a mãe nua, o que mais atormenta a personagem: “naquela solidão da nudez tão mais íntima que Deus pode conceder do que os olhos podem suportar [...] A nudez de Dolores, minha mãe, e nua” (p.92) Esse desejo por Dolores parece decorrer de uma ânsia vã de afeto. O relacionamento com a matriarca é controverso, mescla de idolatria e medo, amor e ódio. Ela, supostamente homicida, hierática, “calada como quem espera pela sepultura” (p.56), sóbria e sombria, ora parece acolhedora (“minha mãe era um ventre de mãe” (p.70)), ora distante e fria, alguém que o olhava com nojo e desprezo (p.58). Duas rememorações evidenciam a origem da mágoa de Mateus/Matheus. Pensando em alegrá-la com uma música, ele toca o sax. Ela, então, pega um martelo e, sem dizer nada, dá uma pancada no instrumento. Ele também cozinhava para Dolores: “quando a comida já estava na mesa, tanto trabalho, cheiros e sabores, ela ia à padaria e comprava pão com ovo” (p.58). Além disso, sofre tanto pela possibilidade de ter mãe assassina quanto de ter pai suicida: “Para mim significava muito saber se meu pai fora assassinado – e por ela, por minha mãe – ou se suicidara. Se minha mãe era ou não uma criminosa. Se meu pai era ou não um suicida” (p.79). O atormentado narrador revela, frente às trágicas opções, sua preferência: “um pai suicida é menos grave do que ter uma mãe assassina” (p.157). Quando finalmente conhece Dolores, após passar infância e parte da juventude com tia Guilhermina, Mateus/Matheus pensa, decepcionado: “Mãe era aquilo? Aquele desencanto de gente? Sem palavras, sem cantigas e sem beijos?” (p.29). E, ao mesmo tempo em que nutre por ela uma estranha obsessão (“Quem tem mãe não precisa de amigos muito menos de amigas” (p.70)), o filho de Jeremias quer derrotá-la: “O único desejo sincero que carreguei no sangue durante toda a vida foi matar minha mãe” (p.175). Parece ainda fantasiar que a matriarca dos Cavalcante do Rego o seduz no capítulo “Desconfiei de um discretíssimo batom”. Na perspectiva dele, ela sorria sempre que o “encontrava no corredor” (p.57): “E me procurava na cozinha. É possível que tenha piscado o olho” (ib.). Ao final do romance, após a “revelação” de que matara a irmã e a mãe, Mateus/Matheus conclui: Dolores gostava muito de mim. Naquele silêncio entranhado de facada e sexo, feito bolero de Tia Guilhermina. Gostava tanto que resolveu me surpreender com o perfume nos cabelos, mesmo sem dizer uma palavra. E viva. Para sempre. (p.182-3) Essas últimas palavras do romance ratificam a intensidade da ausência afetiva do filho de Jeremias, a imensa vontade de ser amado. Em entrevista a Marcelo Pereira, Raimundo Carrero revela: “O amor não tem bons sentimentos me atormenta. Sobretudo quando Matheus, na sua criminosa inocência, diz [...]: ‘Eu nunca pensei que fosse possível ter pai e mãe’ [...]” (2009, p.103). O escritor pernambucano define bem sua personagem: criminoso e inocente, ou seja, simultaneamente, culpado e vítima, humano, enfim. Cristhiano Aguiar, no artigo publicado na Revista Continente, em 2007, corrobora essa dualidade: “o narrador de O amor não tem bons sentimentos [...] oscila, de maneira ambígua, entre ser carrasco e ovelha, o que lhe confere uma dimensão humana” (2007, p.33). Dentre as obras analisadas nesta pesquisa, como já apontado, o décimo – terceiro título carreriano dá continuidade, portanto, à grande família incestuosa que abarca os romances Maçã agreste, Somos pedras que se consomem e O amor não tem bons sentimentos. No entanto, é preciso destacar que o incesto está presente ainda em Bernarda Soledade (1975), na relação entre tio e sobrinha e, em As sementes do sol (1981), na relação entre os irmãos Agamenon e Mariana. Essa temática dos laços sexuais consanguíneos está atrelada à tese dos maus sentimentos do amor que atravessa a obra do escritor pernambucano. Na ficção de estreia (A história de Bernarda Soledade), o amor ao poder destrói todos os laços afetivos da tigre do sertão, levando as personagens à ruína financeira e psíquica ou à morte. Na história de Absalão (1981), o incesto é o alimento do trágico. Além disso, para desfazer o triângulo amoroso, Lourenço exige que Ester, casada com Davino, se suicide: a impossibilidade de possuir o objeto de desejo leva ao desejo de destruição do objeto. Em A dupla face do baralho (1984), Félix manda matar o pai, para livrar-se do tormento que lhe provocava aquela existência e livrá-lo da dor de ser um fardo. Neste título, encontram-se duas concepções frequentes na obra carreriana: a do homicídio por amor e a do amor-ódio. A crueldade com o menino amalucado Camilo decorre ainda de sua semelhança com o progenitor do comissário. Na ficção de 1986, Sombra severa, o desejo pelo desejo do outro (a inveja) conduz ao crime: Judas mata o irmão após possuir sua mulher. Em Viagem no ventre da baleia (1986), o coronel Salvador Barros encomenda a morte do marido da mulher com a qual tem um caso desencadeando uma sucessão de tragédias. Já no romance Sinfonia para vagabundos, vale destacar a personagem secundária que lança no rio os próprios filhos (e em seguida se suicida), para livrá-los da fome, da dor, da vida: novamente, portanto, a ideia do homicidaamoroso. Em As sombrias ruínas da alma (1999) é possível encontrar o mesmo tema no conto “O artesão I”, no qual o pai lança às águas os filhos encerrados em ataúdes, e no tríptico “O pequeno pai do tempo”, em que o menino mais velho decide, por amor aos pais, matar os irmãos e se suicidar (a morte também preferível à vida), eximindo-os do fardo. Maçã agreste (1989) compreende não apenas o incesto entre pai e filha, mas o possível assassinato de Ernesto pela esposa Dolores, sem motivação explícita, e a insólita relação entre Raquel e Alvarenga. Ao que parece o amor do velho pela prostituta de corpo social é o único ausente de maus sentimentos, embora leve à submissão, à anulação do eu. Em Somos pedras que se consomem (1995) entra em cena o amor-desejo violento, o sadismo e o masoquismo, o prazer atrelado à dor, e, novamente, a relação incestuosa entre irmãos (Ísis e Leonardo). Todavia, está em Ao redor do escorpião... (2003) o ápice do amor-ódio. Alice oscila entre o desejo sexual pelo sádico Leonardo e a vontade de matá-lo, numa tensão intensa e contínua. O romance O amor não tem bons sentimentos, portanto, no qual Mateus/Matheus quer possuir irmã e mãe e, simultaneamente, derrotá-las, carrega no título a tese suprema carreriana. O carente filho de Jeremias, marcado pela ausência afetiva, quer destruir aqueles que ele ama odiando, fontes de seu sofrimento. Para José Castello, no décimo-terceiro título carreriano, “o amor induz ao erro, atiça a perversidade e alarga a brecha que nos separa de nós mesmos [...]”121 Esses seres atormentados do universo de Raimundo Carrero são com frequência loucos ou vivem no delicado abismo da loucura. E, em decorrência, se suicidam ou 121 CASTELLO, José. “No arrastão das palavras”. O Globo. Rio de Janeiro, 14 jun. 2007, Caderno Prosa&Verso p.2. demonstram apreço pelo suicídio. As sacrílegas palavras-prece do filho de Jeremias sintetizam essa afeição pela libertária morte do eu: [...] a porra da improvisação não passava de uma mentira, uma grotesca mentira que eu tinha de inventar todos os dias para suportar a vida, para suportar a vida canalha porque não tenho coragem de me suicidar – Dai-me senhor, o dom do suicídio. Senhor, dai-me a mortalha que cobrirá o meu corpo mutilado, Senhor. Dai-me o caixão que sufocará minha vida. Senhor, Senhor, Senhor. (p.60-1). Mateus/Matheus, incapaz de dar cabo da própria existência, revela ainda as razões que o levam a admirar os suicidas: Gosto demais da vida, embora ela me custe demais. O que me impressiona é o abismo do suicídio, o escuro do suicídio, o fundo negro do suicídio. Ou a morte. Qualquer tipo de morte é sempre escuro. Entretanto, ir para o escuro, para o negrume ou para o suicídio por livre e espontânea vontade me parece um mistério inviolável, atordoante e grotesco. Mesmo assim, encanta-me o fato de que são maravilhosos os suicidas e os apaixonados, sabem que a vida é um instante, sabem num instante. Decifram a charada no ar, sabem o gesto do assombro (p.79-80) É comum na obra do ficcionista sertanejo a personagem que se sente alvo, que se sente permanentemente perseguida. A imagem dos olhos, símbolo do medo do outro, visto como uma ameaça constante, está, por exemplo, em A dupla face do baralho e em Seria uma sombria noite secreta. Mateus/Matheus experimenta a angústia diante desses supostos olhares: “Os olhos de Dolores me atormentavam. Sempre achei que os olhos vêem demais, chegam e vão devastando tudo [...]” (p.91). O irmão de Biba crê que seu duplo oferecia algum amparo: “Enquanto eu dormia deitado, o homem de roupa branca ficava de pé [...], protegendo-me contra os olhos que insistiam em me devorar” (p.182). Há, para além do amor-desejo, do amor-ódio, outras correlações intratextuais. Mateus/Matheus, como Jonas e Miguel de Viagem no ventre da baleia, em conformidade com o gosto carreriano pela sobreposição de personagens, também vivenciou o período ditatorial: [...] eu já conhecera a droga desde os tempos em que havia aquele bar-teatro na cidade, com todo o mundo fingindo brabeira, querendo derrubar o golpe dos militares com cachaça e cerveja, alguma leitura, uns certos romances, encenações e quem sabe poesia, uns poucos poemas podres, de uma tal mediocridade que nunca mais encontrei outros no mundo. (p.46) Aliás, o filho de Jeremias é mais um dos vários saxofonistas que povoam a obra do também instrumentista escritor pernambucano. Autor e personagem compartilham ainda o mesmo sentimento de mundo. Em entrevista a Marcelo Pereira, Carrero revela: Sou pessoa que vive acuada pela vida. Viver para mim é complicado, é pesado. Sou uma pessoa que carrega um doido nas costas, tenho que conciliar meus problemas com minha loucura. Sou uma pessoa que tem medo de elevador, de escuro, de gente (muita gente me maltrata)... Viver para mim é um tormento muito grande. Eu não tenho nenhuma felicidade de viver, não. (2009, p.108) Para o atormentado Mateus/Matheus, que carrega do mesmo modo um doido nas costas (p.42), “a vida é um abismo, um fundo abismo em que não se conhece sossego e onde não existe qualquer tipo de esperança” (p.24). O amor não tem bons sentimentos reúne alguns elementos que caracterizam a literatura pós-moderna: a referência às drogas, o uso de palavrões, a escatologia, a violência, dentre outros. Cristhiano Aguiar conclui que o décimo - terceiro título de Raimundo Carrero aproxima-se perigosamente de alguns lugares-comuns da literatura brasileira contemporânea: além do excesso de violência e da escatologia, é uma constante na nossa prosa um mesmo personagem-narrador, homem, geralmente de meia-idade, que está sem rumo e observa tudo a seu redor com cinismo e enfado [...] (2007, p.33) No entanto, para Aguiar, o autor escapa do clichê ao dar a Mateus/Matheus uma dimensão humana: “a violência de O amor não tem bons sentimentos não se torna banal, pois consiste numa investigação dos instintos humanos na lama da maldade. Nenhum sangue, na obra de Carrero, é derramado em vão” (ib.). Em uma análise mais detalhada do romance, verifica-se que as drogas não são apontadas como escape de uma vida sem sentido, vazia, abordagem típica das narrativas pósmodernas. Ao contrário, a personagem diz ter feito uso da substância sem ter nunca sentido nada. Ele inclusive crê que a maioria dos colegas e ele mesmo fingiam estar sob os efeitos da maconha, ridicularizando-se e ridicularizando-os: “Meus amigos diziam que eu tocava melhor quando me drogava. Mentira deles e mentira minha. Também eu percebia quem estava puxando fumo e fingindo” (p.48). Os palavrões também não são gratuitos e denotam o desespero e a fúria do filho de Jeremias. A escatologia, excessiva em Somos pedras que se consomem, surge da mesma maneira bem dosada, em conformidade com a trama, funcionando como metáfora dos sentimentos de Mateus/Matheus e de suas ações. Os excrementos dos meninos lançados no Capibaribe com a intenção de matar os peixes fazem com que os peixes os matem: “A gente matava os peixes e os peixes estavam matando a gente [...]” (p.62). Esse feitiço virado contra o feiticeiro é o mesmo experimentado pelo irmão de Biba: matá-la nas águas significa matar a si mesmo. O rio, “selvagem e imundo, apesar dos peixes dourados” (p.15) tem ainda paralelo com o íntimo dessa personagem dominada pelo amor-ódio. A violência, por fim, não é decorrente da desarmonia social da esfera urbana ou do individualismo contemporâneo. Ela é arcaica. Carrero escava profundamente as entranhas do humano e traz à superfície seus medos e desejos mais secretos, ocultados, por vezes, pelo manto da civilização. O leitor não é capaz de condenar as personagens do escritor pernambucano, por maior que seja a crueldade de suas atitudes. Há um sentimento de piedade, de compaixão, por estes seres – ao mesmo tempo algozes e vítimas – incapazes de escapar ao destino de serem humanos. Além disso, a dimensão poética do texto o afasta da linguagem seca de boa parte das narrativas contemporâneas, que procura se harmonizar com uma saturada estética da violência banalizada. Beatriz Resende, em sua busca pelas “expressões da literatura brasileira no século XXI”, afirma que Em torno da questão da violência aparecem a urgência da presentificação e a dominância do trágico, em angústia recorrente, com a inserção do autor contemporâneo na grande cidade, na metrópole imersa numa realidade temporal de trocas tão globais quanto barbaramente desiguais. Na força deste cotidiano urbano onde o espaço toma novas formas no diálogo do cotidiano local de perdas e danos com o universo global da economia, também a presentificação se faz um sentimento dominante e aqui e agora se modifica pelas novas relações de espaços encurtados e de tragicidade do tempo. A cidade – real ou imaginária – torna-se, então, o lócus de conflitos absolutamente privados, mas que são também os conflitos públicos que invadem a vida e o comportamento individuais, ameaçam o presente e afastam o futuro, que passa a parecer impossível. (2008, p.33) Na verdade, a pesquisadora identifica elementos (presentificação, tragicidade, violência urbana...) que são a tônica da literatura nacional das últimas décadas do século XX e que possivelmente perduram em autores do novo milênio, embora tenham se tornado, pela repetição ad nauseam, categorias-clichês, com sinais de esgotamento. Carrero desses elementos se enamorou (e com algum atraso!), sobretudo, em Somos pedras que se consomem, romance publicado em 1995. Em O amor não tem bons sentimentos, a ideia de espaço urbano violento e desigual, desencadeador de conflitos, já havia se dissipado e a trama se volta novamente para as revolutas do “eu”, motivo talvez pelo qual o autor a considere sua “obra da maturidade” (Pereira, 2009, p.104). Raimundo Carrero menciona ainda o “lirismo brutal” (ib., p.102) de Mateus/Matheus e, assim, termina por dar a tônica de seu décimo terceiro título. Enredado na teia das narrativas carrerianas, o leitor é colocado, não frente a uma realidade violenta, mas diante de si mesmo, também carrasco e ovelha, porque humano, capaz de, à beira do delicado abismo da loucura, se atormentar no redemunho dos maus sentimentos do amor. 13 Conclusão Após essa extensa pesquisa, que comporta onze títulos do autor pernambucano Raimundo Carrero e desvela sua estética em permanente redemunho, é possível apresentar um resumo crítico das obras ficcionais a partir do que se verificou em cada capítulo, em harmonia com a concepção de que “a tarefa analítica precede e prepara a síntese crítica” (Moisés, 1991, p.14). Em Bernarda Soledade, encontra-se uma preocupação do jovem Carrero: ele teme que o leitor se perca na narrativa espiralada e, por vezes, retoma desnecessariamente as indicações de parentesco. O fato de as roupas de Pedro ficarem banhadas do sangue da perda da virgindade de Inês, a ponto de todos no povoado pensarem que ele estava ferido, também soa excessivo (embora deva-se considerar que o excesso caracteriza a narrativa e, portanto, o episódio está inegavelmente em consonância com a obra). Todavia, os pequenos detalhes não comprometem essa prosa agônica e imagética e o escritor sertanejo faz sua entrada nas letras nacionais de modo triunfante. Em As sementes do sol, vale destacar que os trechos nos quais Absalão expõe suas angústias religiosas, como quando procura compreender o papel da mulher na Bíblia, apesar de interessantes do ponto de vista teórico, comprometem um pouco a fluidez do enredo. O livro (estruturalmente) maduro desta primeira fase – se é que se pode falar em fase – é A dupla face do baralho, marcado pela presença oscilatória do duplo. Todavia, não se pode negar o fascínio que a domadora de cavalos selvagens, mulher toda luta, provoca no leitor. Bernarda, em termos de alcance de crítica e público, continuou sendo o grande título carreriano. Em Sombra severa, o ficcionista volta a trabalhar com a retomada de episódios bíblicos, mas, desta vez, substitui as reflexões sobre os Testamentos pelas análises interpretativas de cartas de baralho, que – por vezes – também poderiam ser suprimidas. Todas as narrativas desse primeiro bloco se passam no sertão, duas dialogam de forma preponderante com episódios das Escrituras, duas abordam o incesto, todas têm como cenário principal a casa comumente decrépita em harmonia com a situação e/ou o íntimo das personagens (em Félix Gurgel deve-se considerar também a carceragem) e, nas quatro, o centro dos conflitos está no ambiente familiar, embora em Bernarda Soledade e, sobretudo, em A dupla face do baralho, a intriga englobe outras esferas. Ainda que haja divergências, diante da totalidade, esses títulos parecem formar um grupo razoavelmente coeso. A quebra dessa suposta coesão se dá (de certo modo) com a publicação de Viagem no ventre da baleia. As questões sociais tomam conta do romance, fatos históricos invadem a trama, o espaço se amplia, são estabelecidas relações paralelas entre o urbano e o rural. Entretanto, como já apontado, é o conflituoso universo familiar que impulsiona a intriga, o desejo de justiça (ou de vingança). Além disso, as personagens, após experiência citadina, retornam ao campo. Carrero avança, mas, sobretudo, retorna. Essa Viagem tem o grande mérito da estruturação simultaneamente paralelística e circular: em todos os lugares e em todos os tempos, o homem é o mesmo, culpado e inocente. Contudo, o excesso de citações (especialmente no interior dos diálogos) torna a narrativa exaustiva. O embate dialógico com arsenal teórico político-religioso pode enriquecer o texto com a multiplicidade de pontos de vista, mas enfraquece o enredo com pausas longas e extenuantes. Deve-se notar ainda que Carrero procura experimentar novas maneiras de composição, ampliando dentro do romance de narrador heterodiegético, por exemplo, a autonomia das personagens. Em Viagem no ventre da baleia, há, na verdade, inúmeras narrativas e múltiplos narradores, além do embrião metalinguístico e da presença de dados biográficos: o escritor sertanejo começa a se amoldar com mais precisão às feições pós-modernas. Maçã agreste retoma a temática do incesto e mantém a abordagem social (embora de modo brando). A nova família carreriana, que então se inaugura, de diferentes formas, vai integrar Somos pedras que se consomem, As sombrias ruínas da alma (em “Discurso aos cães”, ressurgem Alvarenga e Raquel), Ao redor do escorpião (porque Jeremias é – e não é – Leonardo), O amor não tem bons sentimentos, Minha alma é irmã de Deus e Seria uma sombria noite secreta, compondo uma grande teia intratextual. Vale ressaltar ainda a presença da intertextualidade explícita e endoliterária: Quincas Borba é o principal romance com o qual Maçã agreste dialoga com intenções, sobretudo, metalinguísticas. O escritor pernambucano se distancia (parcialmente) das questões religiosas (tão marcantes em As sementes do sol, Sombra severa e Viagem no ventre da baleia), políticas ou sociais (tão intensas em Viagem no ventre da baleia) e se volta para o universo literário. Esse sétimo título tem uma composição mais harmônica do que o antecessor além, talvez por conta da família decadente, de parecer mais alinhado aos primeiros romances. No entanto, é com ele que Carrero ocupa o espaço citadino (com o sertão atrelado ao passado das personagens). A arquitetura de Maçã agreste, edificada sobre cinco pilares, os pontos de vista de Dolores, Ernesto, Raquel, Jeremias e Sofia, demonstra o fôlego carreriano na busca por novas formas. Todavia, há pequenas brincadeiras textuais (como o jogo de palavras cruzadas para que o leitor preencha), típicas de narrativas pós-modernas, de que o romance poderia prescindir. A linguagem, possivelmente pela proximidade com o espaço urbano, torna-se mais escatológica e a violência, gratuita. Essa metamorfose constitui um ganho (o encontro com novas estruturas, personagens, espaços...) e uma perda (nesse processo de urbanização, pouco a pouco, o teor lírico-simbólico se atrofia, sobretudo em Somos pedras). Em Sinfonia para vagabundos, Carrero mergulha na discussão sobre o fazer literário e (também) cria o seu narrador-escritor-professor e sua personagem-professor-escritorintelectual. Embora o discurso metaficcional e a criação desses seres de papel ligados às letras deem hoje sinais de esgotamento, não se pode negar que espelharam uma época e a necessidade de levar para literatura as questões que envolvem sua produção. Mas também é preciso ressaltar que a metaficção, explorada de modo ostensivo, atrofia o enredo, renegando a história a um plano secundário. Esse oitavo título mantém o gosto pela violência, agora fruto do caos urbano. Sinfonia para vagabundos é ainda a narrativa que separa, levando em conta a sequência das publicações carrerianas, Maçã agreste dos romances com os quais se relaciona ao compartilhar personagens. Somos pedras que se consomem é o finalista do Jabuti, responsável pela projeção do nome de Carrero em nível nacional. E também um título urbano, violento, febril, escatológico, luxurioso, em harmonia com boa parte da produção literária do sul do país. As citações agora não têm o intuito de pôr em evidência os andaimes da construção literária, mas iluminar personagens e situações discursivas – o que é positivo, sem dúvida. Entretanto, o excesso de excertos também compromete o fluir do enredo assim como a enigmática proposta de leitura da obra. O realismo cru, delineado em Maçã agreste e fortalecido (de certo modo) em Sinfonia para vagabundos, tem seu ápice nesse romance no qual seres de pedra se entrechocam. O Jabuti, porém, vai para o lírico livro de contos As sombrias ruínas da alma. Em várias narrativas, encontra-se o Carrero dos primeiros títulos com inquietantes histórias capazes de levar o leitor à reflexão sobre o que constitui o humano, sempre culpado, sempre vítima. E, ao invés das citações, as relações textuais estão costuradas às narrativas, como na retomada da obra de Thomas Hardy em “O pequeno pai do tempo”. Ao redor do escorpião, livro (simbólico, surrealista) no qual duas perspectivas se alternam e contaminam o narrador (essa é a palavra, porque ele narra entre o sono e a vigília, no mesmo estado das personagens) não recebeu a merecida atenção de crítica e público. Sim, de fato o texto repetitivo pode provocar cansaço, mas a retomada constante de sons, de palavras, de frases, de circunstâncias, ápice da estética em redemunho, em consonância com a ideia de que tudo é cíclico (correspondência e reintegração) constitui um dos maiores méritos da produção carreriana (embora haja arestas a aparar). Neste título, toda a movimentação interior e do próprio texto, em espirais, contrasta com a cena (quase) estática de Alice e Leonardo – cena que também se repete continuamente. O amor não tem bons sentimentos, outra grande realização do escritor sertanejo, fecha o ciclo das obras aqui analisadas. O texto lírico e trágico apresenta uma multiplicidade de pontos de vista em redemoinho (aqui do mesmo personagem, Mateus/Matheus). Vale a pena ressaltar, no entanto, que não houve, no diálogo entre narrativas, uma preocupação com a continuidade. Fica difícil crer, por exemplo, que Ísis é irmã de Jeremias (e de Raquel) já que ela não aparece em Maçã agreste. Todavia, esse fato não compromete a qualidade da narrativa. Carrero elaborou, sem dúvida, uma obra densa e multifacetada. Se houvesse a possibilidade de analisar cada título na época de sua publicação, talvez a profusão de citações em Viagem no ventre da baleia, o amplo discurso metaficcional de Sinfonia para vagabundos ou a violência transbordante de Somos pedras fossem considerados elementos que qualificariam positivamente os textos. Mas o olhar da segunda década do século XXI carrega a percepção das estruturas já desgastadas e, embora elas não constituam erro ou falha, é inegável que, por comparação, a primeira leva ficcional carreriana e a última (curiosamente mais distanciadas dessas obsessões pós-modernas que marcaram, sobretudo, a segunda metade da década de 80 e primeira metade da década de 90) compreendem as maiores realizações estéticas do escritor sertanejo. É preciso ressaltar que, após a aprovação do anteprojeto “Raimundo Carrero: a estética do redemunho”, em 2008, o autor pernambucano publicou Minha alma é irmã de Deus (2009) e Seria uma sombria noite secreta (2011). E já está previsto o lançamento de mais um título também pela Record (provisoriam
Download