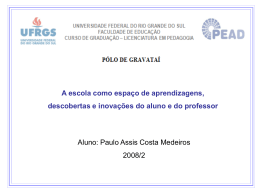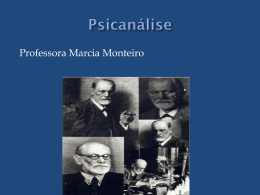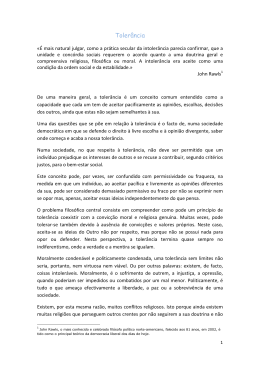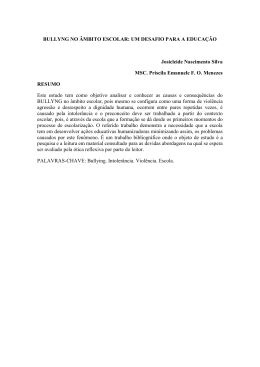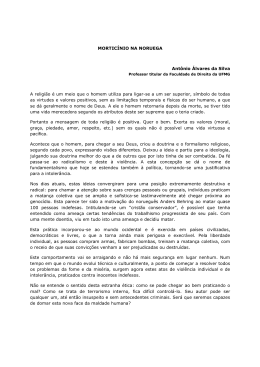Nasce-se intolerante? O que é que nos faz intolerantes? Fundação Calouste Gulbenkian, 15/10/12 Diogo Pires Aurélio (Universidade Nova de Lisboa) Há uma carta escrita por Freud a Einstein, em 1932, que dá uma ideia da dificuldade inerente à questão que me foi proposto tratar nesta conferência e que se desdobra em duas perguntas: «Nasce-se intolerante? O que é que nos faz intolerantes?». Na referida carta, falando do pacifismo e dos riscos de uma guerra, já então prestes a eclodir, o fundador da psicanálise desenvolve um argumento aparentemente contraditório. Por um lado, considera que a guerra tem as suas raízes na natureza biológica do homem: «ela é o natural, o que parece estar de acordo com a natureza, muito longe, decerto, do paraíso que sonhámos, biologicamente fundada e, na prática, inevitável»; por outro lado, afirma de modo claro que não podemos senão opor-nos à guerra, não por razões morais ou ideológicas, mas por razões igualmente enraizadas na nossa natureza: «A principal razão por que nos revoltamos contra a guerra», diz Freud, «é o facto de não podermos fazer outra coisa. Somos pacifistas porque estamos obrigados a sê-lo por razões orgânicas»1 (sublinhado meu). Semelhante resposta dada por Freud à questão que lhe colocara Einstein O que pode fazer-se para poupar os homens ao amargo destino da guerra? – afigura-se contraditória, quer aos olhos de pacifistas como Einstein ou Bertrand Russell, seus contemporâneos e igualmente herdeiros do iluminismo, que acreditam na possibilidade de um mundo governado por instituições racionais e capaz de resolver os conflitos sem recurso à guerra; quer aos olhos de naturalistas como Komrad Lorenz, discípulo de Darwin, para quem a guerra é uma fatalidade, visto ser a seleção natural e a consequente luta pela sobrevivência o factor que 1 Sigmund Freud, Résultats, idées, problems, (trad. franc. Dirigida por Jean Laplanche), Paris, PUF, 1985, tomo II, p. 214 (Carta vulgarmente apresentada nas edições de Freud sob o título «Porquê a guerra?») determina a evolução das culturas, da mesma forma que determina a evolução das espécies. Para o pacifismo de cariz iluminista, a solução psicanalítica esqueceria o essencial do ser humano, que é a sua possibilidade de se orientar por padrões éticos, universalmente acessíveis e contrários à intolerância e à guerra. Pelo contrário, para o evolucionismo naturalista, a constituição biológica do homem seria uma premissa da qual não se pode deduzir senão a confrontação necessária, da qual resulta a sobrevivência apenas dos mais aptos, em conformidade com a vulgata do chamado «darwinismo social». Na verdade, se Freud considera, como resulta de vários dos seus textos, que a agressividade e a intolerância –a pulsão de morte - são parte integrante da natureza do indivíduo, como poderá ao mesmo tempo afirmar que há «razões orgânicas» que nos impelem a ser contra a guerra? Numa palavra, se temos de ser tolerantes porque somos seres racionais, como crê o iluminista, de onde nasce a intolerância? Em contrapartida, se nascemos intolerantes, se é através da luta entre as várias espécies e da luta entre os indivíduos da mesma espécie que a natureza evolui, de acordo com o «darwinismo social», como se explica que sejamos levados por «razões orgânicas» a revoltarnos contra a guerra, a ser filantropos e, em última análise, tolerantes para com os outros? Antes de passar a uma apresentação mais desenvolvida da ideia de Freud e da razão de ser da sua aparente contradição, tentarei, muito brevemente, expor o essencial das duas conceções atrás aludidas sobre a génese da intolerância, das quais, a meu ver, a tese do fundador da psicanálise constitui uma síntese e, ao mesmo tempo, uma superação. 1- A intolerância segundo o humanismo liberal Comecemos pela explicação apresentada pelo que podemos genericamente chamar de «humanismo liberal», muito embora esse tipo de explicação seja partilhado por personalidades, como os citados Einstein e Bertrand Russell, com posições políticas frequentemente heterodoxas do ponto de vista de um liberalismo stricto sensu, tal como este tem sido comummente entendido no mundo ocidental. De acordo com a versão liberal - democrática e tolerante – do humanismo, aquilo que a natureza determina, pelo menos ao nível dos seres humanos, seria a tolerância e não a intolerância. Nas conhecidas e sempre citadas palavras de Voltaire, a tolerância «é o apanágio da humanidade. Nós somos todos feitos de fraquezas e erros; a primeira lei da natureza é perdoarmo-nos reciprocamente as nossas loucuras»2. Dito de outro modo, e interpretando agora Voltaire, a condenação e perseguição dos que pensam diferentemente escapa ao domínio do racional e contraria a própria natureza humana, na medida em que, estando todos os homens sujeitos ao erro, a condenação de uma convicção alheia será sempre destituída de fundamento lógico. A conhecida fragilidade das convicções racionais retira a qualquer um a legitimidade para impor a sua crença aos outros, ou para condenar as tradições e culturas específicas de um outro povo, pela simples razão de que ninguém pode garantir que não esteja equivocado em relação à fé e aos valores por que norteia a sua vida. A única atitude racional é, por conseguinte, a tolerância, porquanto só ela é coerente com a natureza, racional e universal, do homem. Como diz Nathan der Weise, o personagem judeu da peça de Lessing que tem o mesmo nome, dirigindo-se a um cavaleiro da Ordem dos Templários: «Nenhum de nós escolheu o seu povo. (...) Acaso o cristão e o judeu serão cristão e judeu antes de serem homens?»3. Dado o seu tom assertivo e à primeira vista inquestionável, a conceção liberal da tolerância acabou por se impor, pelo menos no Ocidente, tendo funcionado como referência nos últimos dois séculos e informando ainda o discurso dominante nos organismos internacionais, a partir, sobretudo, do fim da II Guerra Mundial. Mais do que um valor ético, a tolerância constitui nesta perspectiva um verdadeiro recurso estratégico, destinado a afastar a questão religiosa do espaço público e, deste modo, sobrepor o valor da paz ao valor da verdade. Deste ponto de vista, o lema da tolerância poderia perfeitamente ser a conhecida expressão atribuída a Henrique IV, rei de França, retirando-lhe obviamente a conotação pejorativa que se lhe associa: «Paris vale bem uma missa». Não admira, por isso, que esta versão da tolerância tenha sido, apesar de seu sucesso, 2 3 Voltaire, Dictionnaire Philosophique et portative, Paris, Garnier Flammarion, 1964, pp. 362-3. Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise, II acto, cena 5. objeto de sucessivas reticências por parte das mais diversas confissões e sensibilidades, mesmo em espíritos que, não sendo propriamente fanáticos, se vão insurgir contra a sua pretensa neutralidade. O espanhol Menendez Pelayo, por exemplo, chamava desdenhosamente à tolerância «eunuquismo», e Paul Claudel não resistiu à tão conhecida quão duvidosa boutade: «Tolerância? Há casas para isso!». Porém, a principal interrogação que a ideia de tolerância apresentada por Voltaire suscita é a de saber se ela tem correspondência na realidade efetiva, ou, pelo contrário, se limita a ser um mero princípio deontológico. A tolerância é racional? Certamente. Mas dizer isto significa apenas uma obrigação, um dever que podemos não respeitar: para ser coerente com o que dita a razão, o homem deve tolerar, pelo menos até àquele limite em que a tolerância deixa de ser racional. Mas tal não significa, longe disso, que a natureza humana seja tolerante na sua génese e na sua essência, como facilmente se demonstra pelo caudal de intolerância que sempre correu na história e que se expõe todos os dias perante os nossos olhos, mais ou menos incrédulos, indignados ou indiferentes. Como se explica tanta intolerância, ou «de onde vem tanto mal»? A esta pergunta, o humanismo liberal responde com três razões, todas elas imputáveis a um défice de informação e esclarecimento dos indivíduos e das populações em geral: a primeira é a arbitrariedade dos tiranos ou ditadores, que gera a intolerância à crítica e à liberdade de opinião; a segunda é o fanatismo das religiões, que gera a intolerância aos herejes e aos que praticam uma outra religião; a terceira, finalmente, é a ignorância e o atraso civilizacional, que são causa da intolerância ao diferente, ao estrangeiro, ao imigrante. Em qualquer destes casos, o humanismo considera estar-se perante um entorse à natureza humana na sua verdadeira expressão, racional e universal, entorse este que a história tem por destino corrigir. À primeira vista, dir-se-ia estarmos no domínio apenas dos princípios, ou, mais cinicamente, no plano retórico e das proclamações sem substância, à qual recorrem sempre os organismos internacionais quando confrontados com a sua impotência perante situações intoleráveis. A verdade é que o tolerantismo liberal nem sempre esteve imune à tentação, experimentada por vários Estados, de se constituir em verdadeiro programa político e de convocar princípios universais para legitimar ingerências e atuações em função de interesses exclusivamente particulares. Se um povo é refém de uma tirania ou da intolerância de um conjunto de fanáticos, não será legítimo tentar remover esses obstáculos que o impedem de aceder à liberdade, à emancipação e ao progresso? Como sabemos, era já este este o argumento invocado pelos arautos do Terror, em 1789, tal como seria depois o argumento de todas as ditaduras pretensamente esclarecidas e realmente empenhadas na eliminação dos seus adversários. Mas não só. Um autor tão convictamente liberal e tolerante como John Stuart Mill, por exemplo, defensor insofismável quer da liberdade individual e da privacidade face à intolerância das pressões sociais, quer dos direitos das mulheres, declara no entanto, sem qualquer rebuço, que «o despotismo é um modo legítimo de governo quando se tem de tratar com selvagens, contanto que o objetivo seja o seu próprio aperfeiçoamento, estando os meios justificados se esse fim for alcançado»4. Manifestamente – e a história, passada e recente, aí está para o demonstrar – a tolerância pode metamorfosear-se de muitos modos,inclusive no seu contrário, a intolerância. Mais ainda, se assumirmos a racionalidade como critério para definir e separar uma e outra, conforme requer o iluminismo, tolerância e intolerância confundem-se no horinzonte concreto da sociedade e da política, tornando-se indiscerníveis. Ao longo dos tempos modernos, a tolerância gerou sempre desconfiança, pelo facto de se apresentar, ambiguamente, como sendo um erro, ou um mal, e ao mesmo tempo um mal perdoável, senão compreensível. Na realidade, o verdadeiro crente, no seu íntimo, não compreenderá nunca a discordância e a descrença dos que duvidam daquilo em que ele acredita, mesmo que possa não ir ao exagero de um Oviedo y Valdez, o célebre governador de Cartagena de las Indias, que dizia que «a pólvora contra os infiéis era incenso a Nosso Senhor»5. Porém, uma tal ambiguidade, que se verifica com atolerância, verifica-se igualmente, e nos mesmos termos, com a intolerância: se houver uma razão, se for por bem do indivíduo ou do país, podemos ou até devemos 4 John Stuart Mill, On Liberty, Londres, Penguin Classics, 1974, p. 69 Citado in Tzvetan Todorov, A conquista da América. A questão do outro, trad., Lisboa, Litoral, 1990, p. 185 5 ser intolerantes. Quem é que avalia essa razão? Em casos limite, talvez seja fácil: qualquer um compreende o absurdo daquele homem que era tão tolerante que alimentava o sonho de encostar todos os intolerantes ao paredão de fuzilamento. Porém a realidade raramente se apresenta assim, a preto e branco. A maioria das vezes, é impossível escapar à pluralidade de perspectivas em que a razão e a consequente avaliação se enreda nestas matérias. Dito de outro modo, a base em que o pensamento liberal e democrático equaciona a questão da tolerância, afirmando-a como um critério em nome do qual os comportamentos e atitudes intolerantes seriam racionalmente inadmissíveis, é tudo menos incontroversa. Longe de ser um postulado inquestionável e, deste modo, assegurar uma legitimidade universalmente reconhecida, a tolerância presta-se, pelo contrário, ao jogo das interpretações e dos interesses em presença. Pode ser-se intolerante na defesa da tolerância, e vice-versa. Uma clara elucidação desta ambiguidade, e da dialética que lhe está subjacente, pode ver-se naquilo que diz, a este respeito, o pensamento marxista. Contra as proclamações de princípios universais, como os direitos humanos e a tolerância, que constituem as traves mestras do humanismo liberal e democrático, a tradição marxista vincou sempre a natureza instrumental de tais princípios. Conforme já havia sido assinalado pelo jovem Marx, em A Questão Judaica, a alegada universalidade dos valores da democracia liberal e tolerante não é senão um dispositivo ideológico destinado a legitimar as forças hegemónicas do capital. Já nos anos 60 do século XX, Marcuse insurgia-se contra a tolerância, associada à liberdade de expressão, que o capitalismo exibe como seu valor matricial e que, na realidade, não passaria de uma tolerância repressiva, título de um dos seus trabalhos publicados6. Mais recentemente, o esloveno Slavoj Zizek publicou, sem qualquer sombra de ironia, um livro intitulado Elogio da intolerância7. Para Marcuse, a tolerância das sociedades capitalistas e liberais é represssiva, porque embora garanta a liberdade de expressão para todas as ideias, não questiona a forma como a concentração do poder económico e 6 Herbert Marcuse, «Repressive Tolerance», in R. P. Wolf. B. Moore jr. and H. Marcuse, A critique of Pure Tolerance, Londres, Jonathan Cape, 1974 7 Slavoj Zizek, Elogio da intolerância, Lisboa, Relógio d’Água, 2004 tecnológico molda as opiniões, através sobretudo dos meios de comunicação social, bloqueando o caminho para a dissidência e a emancipação. Uma verdadeira tolerância, acrescenta o autor, é inseparável de uma busca da liberdade e da igualdade. Em consequência, escreve Marcuse, inspirando-se na história das revoluções dos últimos dois séculos, «uma tolerância libertadora tem de significar a intolerância para com os movimentos da direita e a tolerância para com os movimentos da esquerda»8. A equivalência entre tolerância e intolerância fica, assim, explicitada com toda a clareza: o mesmo tipo de ações tanto pode ser uma coisa como outra, dependendo da qualidade do agente – se é a direita ou se é a esquerda - e dos fins a que se destina. Porém, os fins em política – e, consequentemente, a natureza de esquerda ou de direita de uma decisão - não se definem a partir de categorias abstratas e princípios universais; pelo contrário, eles estão sempre eivados de particularismos ditados pelas circunstânccias, e precisam de ser enunciados por uma autoridade, seja a autoridade do poder ou a do contra-poder, da direita ou da esquerda, do Estado ou da revolução. Chegados aí, falar de intolerância ou de tolerância será totalmente aleatório, pois não depende senão da perspetiva ideológica, longe, portanto do universalismo em que Voltaire e toda a tradição liberal quer situar a discussão. Como diria Mao-Tse Tung, «da mesma forma que todas as contradições no seio do povo só se resolvem por meios democráticos (leia-se tolerantes), todas as contradições entre o povo e os seus inimigos só se resolvem por meios ditatoriais (leia-se intolerantes)». De igual modo, e por razões mais ou menos idênticas, salvas as devidas proporções, Zizek insurge-se hoje contra a esquerda moderada e tolerante, por esta, ao recusar-se a pôr um limite à liberdade do Capital, estar a alinhar na despolitização da economia. «A tolerância multicultural» – diz Zizek - «é a ideologia hegemónica do capitalismo global. (...) A única via de saída deste beco, e o primeiro passo, portanto, a caminho de uma renovação da esquerda, é a reafirmação de uma crítica virulenta, fortemente intolerante, da civilização capitalista global»9. Uma vez mais, a semântica sobrepõe-se à compreensão, dando lugar à retórica e a uma 8 9 Cit., p. 123 Cit., pp. 18-19. dialética onde a tolerância, para ser verdadeira, terá de ser intolerante. Manifestamente, o tema esgueira-se por entre os conceitos, e a tentativa de fundamentar racionalmente quer a tolerância, quer a intolerância, esfuma-se por entre o fogo cruzado das opiniões ou interesses em jogo, como é, de resto, normal acontecer em questões políticas. Não há como escapar à conclusão: a questão da tolerância e da intolerância é insusceptível de equacionar em termos estritamente lógicos e abstratos, como demonstra à saciedade a discussão recorrente entre liberais e antiliberais. Teremos, então, de nos render à evidência de que estamos face a uma questão meramente pragmática e de prudência, que apela mais ao bom-senso do que a certezas inquestionáveis? 2 – A intolerância segundo o naturalismo Conforme sugerimos no início, a propósito de Freud, a questão da origem da tolerãncia e da intolerância é também objeto de análise no plano estritamente científico, em registo, portanto, muito distante do racionalismo setencentista ainda hoje comummente utilizado, tanto na linguagem corrente, como na retórica política. É nesse o registo que se situa, aliás, a explicação dada peloproprio Freud para o fenómeno da agressividade e da intolerância, a qual remete para o domínio da ciência experimental, em particular para a biologia darwinista, colocando-se, portanto, à margem das especulações tradicionais, mais ou menos silogísticas, sobre a matéria. Foi, com efeito, Darwin, com a sua teoria da origem das espécies por meio da seleção natural, ou, como ele próprio diz no subtítulo do mais conhecido dos seus livros, da «preservação das raças favorecidas na luta pela sobrevivência», foi Darwin, dizíamos, quem colocou a questão da intolerância versus tolerância como núcleo problemático da teoria da evolução em sede de antropologia. Darwin, recorde-se, não refere logo as questões sociais, nem sequer a questão da espécie humana, no livro A origem das espécies10, decerto prevendo as reticências que as suas ideias nesse capítulo iriam causar. Tal 10 Charles Darwin, The origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, Londres, John Murray, 1859; trad. port. Lisboa, Editorial Verbo, 2011 precaução, diga-se de passagem, revelar-se-ia mais ou menos inútil: tanto na imprensa, como nos meios científicos, a polémica que o livro provocou de imediato iria centrar-se exatamente no tema em que Darwin ainda não ousara, sequer, entrar, ou seja, nas consequências da teoria da seleção natural das espécies para a sociobiologia e, por arrastamento, para as instituições e a moral. Mas, independentemente desse mal-entendido, elucidativo, aliás, das implicações da doutrina de Freud no domínio social e das apreensões que esta provoca, o facto é que a simples hipótese de extrapolar as conclusões da teoria evolucionista até à espécie humana levanta uma quetão adicional no interior mesmo da teoria, à qual Darwin irá responder, só 12 anos mais tarde, no livro The Descent of man11. Resumidamente, a questão é a seguinte: se o princípio da evolução é a luta pela sobrevivência entre cada organismo e o seu meio, entre os diversos indivíduos da mesma espécie, e, finalmente, entre as diversas espécies, luta em que se eliminam os mais fracos e se apuram as capacidades mais aptas para subsistir em determinado contexto, como se explica, então, o aparecimento de condutas tolerantes e de sentimentos altruístas, tais como o perdão, o respeito pelos outros, ou até a humanidade para com os animais, que observamos em todas as sociedades? Como se explica esta espécie de regressão da agressividade e da intolerância, que aparece não apenas a título ocasional, mas interiorizada em costumes, tabus e valores, os quais induzem instintos e comportamentos, no mínimo, sem utilidade para a sobrevivência do próprio? Numa palavra, como é que os instintos de sobrevivência se convertem no seu oposto, os instintos sociais? A questão só se coloca, evidentemente, porque o darwinismo pretende ser, por um lado, uma teoria global, com a pretensão de explicar não só os fenómenos biológicos, mas também os fenómenos sociais, e, por outro lado, uma teoria naturalista, onde não há lugar para uma dedução da ética e dos valores a partir unicamente de princípios abstratos. Enquanto teoria global e naturalista, o darwinismo pretende explicar os fenómenos morais e sociais com base no mesmo princípio com que explica os fenómenos biológicos, negando que exista uma ruptura de uns para os outros. 11 Charles Darwin, The descent of man and selection in relation to sex (1871), Londres, Penguin Books, 2004 Conforme Darwin observa, o altruismo, e até mesmo o heroismo, são visíveis também em outras espécies zoológicas, que não o homem. Ora, aquilo a que chamamos a moral de um indivíduo exprime-se por comportamentos que são ooposto da intolerância e que não só toleram, como até favorecem, os mais fracos. O grau de civilização de um povo não se mede apenas pelo avanço científico e cultural, mede-se também pela atenção que nele se presta aos velhos e aos pobres, pelos cuidados de saúde que se garante aos mais carenciados, em suma, por um conjunto de procedimentos que, à partida, dir-se-ia oporem-se à seleção natural, na medida em que enfraquecem a capacidade de combate que possuem os mais aptos e aumentam as possibilidades de sobrevivência e reprodução dos mais fracos, com a consequente redução da potência do grupo. Dito por outras palavras, o mecanismo da seleção natural, teoricamente responsável pela eliminação quer dos organismos, quer dos indivíduos e dos grupos menos aptos para sobreviver não explica a civilização e os instintos sociais, que induzem comportamentos auto-repressivos, como a tolerância, o sacrifício em prol dos outros, o remorso e a vergonha por comportamentos egoístas ou intolerantes. Tal dificuldade não parece, contudo, perturbar os adeptos do chamado «darwinismo social», os quais argumentam que a competição entre os indivíduos, isto é, o funcionamento do mecanismo da seleção natural, é realmente a única forma de obviar a um declínio do grupo. Mesmo que nem todos considerem legítimas certas formas de intolerância extrema, tais como os programas de eugenismo e limpeza étnica, o racismo e as recorrentes vagas de xenofobia, a matriz doutrinária que perfilham os defensores do darwinismo social é sempre a luta pela vida e a competição, mais ou menos intolerante, à luz da qual é utópico pensar a sociedade em termos de igualdade, fraternidade e tolerância universais. Nesta perspetiva, o instinto de sobrevivência prevalece sempre idêntico a si mesmo e, com ele, a seleção natural. Será possível imputar a Darwin semelhante perspetiva, tornando assim a teoria da seleção das espécies incapaz de explicar, sem contradição, a reconhecida existência de fenómenos de solidariedade e filantropia? Lendo os textos, não parece que tal possa concluir-se. Darwin enfatiza, primeiro, que se observam condutas altruístas em qualquer sociedade, por mais primitiva, e que tais condutas não resultam forçosamente de escolhas racionais, uma vez que elas, primeiro, se desencadeiam por instinto e, segundo, se observam igualmente em comunidades de irracionais. Sendo, portanto, instintivos, o altruismo e a simpatia têm de considerar-se incorporados na espécie, como aptidão que foi apurada no processo de seleção natural. Não existe, de um ponto de vista meramente naturalista e empírico, outro princípio a que recorrer para explicar esse facto. Darwin tem por isso de concluir que a seleção não seleciona unicamente as variações orgânicas; seleciona também os instintos mais aptos à sobrevivência, sejam eles agressivos ou altruístas, designadamente os instintos sociais, o sentimento de simpatia e, posteriormente, a moral, as instituições e os costumes. A ideia de que a seleção continuaria a processar-se na sociedade do mesmo modo que se processa na natureza, convertendo a intolerância, o conflito e o triunfo dos mais aptos em autêntica lei de bronze da natureza humana, conforme pretende o darwinismo social, estaria para Darwin completamente à revelia da observação empírica. O que a observação obriga a reconhecer é que a lógica e a dinâmica da seleção natural conduzem à seleção de condutas altruístas, que vão sendo percebidas como operadores de sobrevivência e, nessa medida, incorporadas em determinadas espécies. Não se trata de uma qualquer ruptura da espécie humana em relação à sua genealogia. O princípio continua a ser o da sobrevivência, a luta pela vida e o egoísmo. Simplesmente, a sobrevivência pode passar também por gestos de entreajuda, facilmente memorizados, que a prazo se vão cristalizando e transmitindo como instintos. Chega-se, assim, à conclusão paradoxal que a seleção natural selecionou mecanismos que inibem a eliminação dos menos aptos. Por definição, uma sociedade civilizada é aquela em que a seleção natural deu lugar a condutas que se opõem à seleção natural. Esta espécie de reorientação que o processo evolutivo conhece leva a admitir, em primeiro lugar, que a seleção, na fase civilizacional, pode ser condicionada, à semelhança do que Drawin já observara na domesticação e mutação das espécies em cativeiro, fazendo da educação um dos seus operadores, senão mesmo o principal. Em segundo lugar, e contrariamente às teses do darwinismo social, a zoologia de Darwin estabelece uma ponte com o racionalismo iluminista, sob a qual é possível abrigar-se a crença no progresso, comum a boa parte das ideologias oitocentistas, por mais diferente que seja o modo como cada uma delas encara esse progresso e as vias de o concretizar. Na verdade, embora reconheça que os instintos sociais se desenvolvem, primeiro, ao nível do núcleo familiar e tribal, só depois podendo estender-se a desconhecidos do mesmo país – o nacionalismo -, Darwin não hesita em concuir que, uma vez chegados a essa fase, não há nenhuma razão para crer que o altruísmo e a simpatia não possam abarcar a humanidade inteira. É certo que esses instintos se debatem, no interior do indivíduo, com outros menos nobres e igualmente fortes, podendo ser duvidoso quais irão prevalecer no processo evolutivo. Darwin, contudo, não duvida. Pelo contrário, vai mesmo ao ponto de subscrever, em The descent of Man, um otimismo tipicamente iluminista, muito para lá do que a simples observação permitiria deduzir: «Olhando para as gerações futuras, não há motivo para temer que os institntos sociais se desenvolvam menos, pelo contrário, podemos ter esperança que os hábitos virtuosos serão os que mais se irão desenvolver, tornando-se talvez definitivos, através da hereditariedade. Nesse caso, a luta entre os nossos instintos mais elevados e os mais baixos será menos intensa, e a virtude acabará por triunfar»12. 3 – A intolerância à luz da psicanálise Este resíduo de voluntarismo e ideologia que ainda se deteta na teoria evolucionista, segundo a versão do próprio autor, tornar-se-á problemático mais tarde, quando confrontado com a hecatombe de 1914: «A guerra em que nós não queríamos acreditar estalou,e foi para nós uma fonte de ... decepção»13. Face à tragédia da guerra, poderia, talvez, confirmar-se nas trincheiras algum altruismo e até o sacrifício da vida em prol de uma nação. Mas a violência do conflito que opõe as nações entre si, designadamente as mais civilizadas de entre elas, faz suspeitar que haja progresso da simpatia a nível universal, como prognosticado por Darwin. 12 13 Cit., p. 150. Sigmund Freud, Éssais de Psychanalyse, trad., Paris, Payot, 1973, p. 239. Na realidade, contra todo o progressismo e o utopismo oitocentistas, a intolerância exibe-se aí em toda a sua nudez, com uma intensidade tal que não deixa margem para qualquer esperança no reino da tolerância. Niguém melhor do que Freud irá teorizar essa desilusão, ou, como ele proprio diz, esse «mal-estar na civilização». Como assinalámos a princípio, Freud diz-se pacifista, mas considera, já em 1932, «inevitável» a eclosão de uma nova guerra, porque, conforme se pode ler, ainda na mesma carta a Einstein, «é inútil pretender suprimir as inclinações agressivas do homem»14. Ao contrário de Darwin, o fundador da psicanálise não vê razões para acreditar num futuro em que a tolerância triunfará universalmente: «Temos tendência para atribuir ao que há de inato na inclinação para a vida civilizada um valor exagerado (...) relativamente àquilo que, na nossa vida afetiva, permaneceu primitivo. Por outras palavras, temos tendência a considear o homem melhor do que ele é na realidade»15. E conforme a guerra abundantemente demonstra, a intolerância, enquanto expressão da agressividade instintiva, permanece intacta, seja qual for o grau de civilização. Porquê esta persistência de um sentimento que, metamorfoseado embora, resiste a todos os avanços da civilização? Freud aborda esta questão em vários textos dedicados aos psiquismo das massas, vendo na intolerância uma manifestação de narcisismo: «Nos sentimentos de repulsa e de aversão que se experimenta pelos estranhos com quem se entra em contacto, podemos ver a expressão de um egotismo, de um narcisismo que procura afirmar-se e que se comporta como se o menor desvio relativamente às suas propredades particulares individuais implicasse uma crítica»16. Assente sobre o narcisismo e constantemente alimentada por ele, a intolerância confunde o estranho, o estrangeiro, o outro, com o hostil, prolongando ao longo da vida a angústia face ao desconhecido, o pânico da castração que se guarda da primeira infância. Aparentemente, a existência de laços sociais seria a prova de que a agressividade da horda primitiva teria vindo sucessivamente a dar lugar, 14 Sigmund Freud, Résultats, idées, problèmes, vol. II, cit., p. 212. Sigmund Freud, Essais de psychanalyse, cit., p. 245 16 Ibidem, pp. 122-123 15 como Darwin acreditava, à tolerância e aos demais sentimentos que chamamos de civilizados. Freud, porém, considera não haver razão para semelhante otimismo. Na verdade, longe de representar a diluição dos narcisismos individuais, uma sociedade é, pelo contrário, a sua sublimação e elevação a um nível superior. Um grupo é tanto mais coeso quanto mais os narcisismos indivíduos se identificarem e fundirem no seu interior, recalcando os seus instintos por amor de um ideal que se interiorizou como ética ou simples lei, sobretudo se esse ideal for incarnado por um chefe a quem todos temem por igual e no qual todos se projetam. Mergulhados na indistinção da massa, os narcisismos individuais sentemse irmanados na submissão que os uniformiza e, desse modo, lhes dá a sensação de identidade, «o calor do estábulo», como lhe chamava Nietzsche. Trata-se, evidentemente, de uma coesão por natureza frágil e sempre em risco de se desfazer em conflitos, na medida em que todo o corpo social resulta do sentimento primitivamente hostil pelo qual se definem os narcisismos individuais. Mas pode ser o bastante para que o resultado dessa metamorfose, a simples massa, venha a consolidar-se como nação, cultura, ou religião, em redor da qual se traça uma fronteira imaginária com o exterior. Nessa altura, toda a diferença que surja, real ou imaginariamente, assumirá o rosto do estrangeiro, o qual se encontra a um passo de se confundir com o inimigo e que, por isso mesmo, se quer anular, fazer desaparecer, seja por assimilação, seja por eliminação pura e simples. É isso que explica o sempre latente fanatismo das massas; é isso que explica a necessidade de o comunismo se fundar na luta de classes; é o facto de o ideal unificador do grupo ser por natureza narcisista que explica, na opinião de Freud, a intolerância das religiões, em particuloar as monoteístas, reproduzida em cada uma das suas seitas. De facto, se, por um lado, o ideal subsume e recalca toda a hostilidade latente no interior do grupo, por outro, sublima-a enquanto amor a um ideal – a fé ou a pátria - e projeta-a para o exterior. Como diz Freud, «é sempre possivel unir uma grande massa de homens uns aos outros por laços de amor, na condição, porém, de haver outros de fora sobre quem fazer recair os golpes»17. Pouco importa, para este efeito, o conteúdo específico do ideal. O fenómeno verifica-se em todos eles, mais ainda em ideais como o amor, 17 Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation (trad.), Paris, PUF, 1971, p. 68. a fraternidade e a tolerância universais, que prefiguram, sob o utópico manto do desaparecimento do narcisismo individual, uma sociedade completamente reconciliada consigo mesma e expurgada de conflitos. Recorde-se a conhecida observação de Freud em Mal-estar na civilização: «Uma pessoa pergunta-se, com ansiedade, o que farão os sovietes quando tiverem exterminado todos os seus burgueses»18. (Sublinhado meu). Ao contrário, porém, do que deixaria supor este seu pessimismo e a genealogia da intolerância por ele traçada, Freud permanecerá sempre um iluminista, um Aufklärer, como o classifica Horkeimer. Tanto ou mais que os iluministas do século XVIII, acredita na razão, como uma espécie de último recurso contra a barbárie. Desconfia, no entanto, da ambiguidade do seu potencial e aponta-lhe os limites: a razão mergulha também as suas raízes no narcisismo, isto é, na mesma lava de sexualidade onde estão mergulhados os instintos. Por debaixo da racionalidade abstrata, supostamente neutra e universalmente válida, latejam pulsões alimentadas ora pelo princípio do prazer, ora pelo instinto de morte, ora pela necessidade de afirmar o narcisismo do indivíduo, ora pela necessidade de eliminar tudo quanto se ininue como ameaça. Tal como Freud observa, comentando os tempos da guerra, «a própria ciência perdeu a sua serena imparcialidade; os seus servidores, exasperados ao máximo, fornecem-lhe armas, a fim de poderem dar também o seu contributo para arrasar o inimigo. O antropólogo tenta provar que o adversário pertence a uma raça inferior e degenerada; o psiquiatra diagnostica-lhe perturbações intelectuais e psíquicas»19. No racionalismo de Freud não há, pois, qualquer lugar para um otimismo que toda a realidade parece desmentir, por maior que seja o progresso técnico e a elevação das proclamações éticas em que a sociedade contemporânea é pródiga. Na realidade, «as más inclinações não desaparecem, nem são jamais arrancadas à sua raíz»20. Podem inibir-se, orientar-se noutra direção e para outro domínio, retroceder, inclusive, sobre o próprio como auto-censura, consolidando assim a divisão no interior do indivíduo entre um eu consciente, moldado aos valores da 18 Ibidem, p. 69 Sigmund Freud, Éssais de Psychanalyse, cit., p. 235. 20 Ibidem, p. 242 19 convivência pacífica e tolerante, e um eu inconsciente, recalcado mas não inerte, que força por todos os meios as amarras em que a sociedade prende a sua agressividade e a sua intolerância. Tudo quanto a observação permite concluir é que os instintos sociais convivem em cada homem com instintos de hostilidade e ódio. Com uma agravante: é que não estamos aqui perante o tradicional combate entre o bem e o mal, entre a lucidez da razão e a lama das pulsões animais, mas antes perante dois tipos de desenvolvimento, duas metamorfoses do narcismo e da libido, que procura sempre afirmar-se e conservar-se de todos os modos. Se, de facto, se pode pensar que os sentimentos altruístas têm vindo a desenvolver-se e a interiorizar-se na espécie humana, é, antes de mais, por virtude do seu fundo erótico, que rapidamente leva a «constatar que ser amado é uma vantagem à qual se podem e devem sacrificar muitas outras»21. Além desta pressão interior, há também, é certo, uma pressão exterior, seja da educação, seja das recompensas com que a sociedade premeia os que obedecem às suas normas e dos castigos que reserva a quem os viola. Em si mesma, a ideia do progresso social e do papel que nele desempenham as instituições, em particular a escola, não é, portanto, errada. Contudo, ela padece de duas limitações, bem diagnosticadas por Freud. Em primeiro lugar, a ideologia do progresso não leva em conta a natureza libidinal e narcisista dos instintos sociais, imaginando-os como produto de uma razão indiferente ao prazer ou desprazer que resulta do altruismo. Deste modo, ao impor comportamentos que forçam a verdadeira natureza dos indivíduos, a sociedade desenvolve no seu interior patologias de todo o tipo e estimula a hipocrisia generalizada. Podemos até, diz Freud, «perguntarmo-nos se um certo grau de hipocrisia não é necessário para a manutenção e a conservação da civilização, tendo em conta o pequeno número de homens em quem a inclinação para a vida socal se tornou já uma propriedade orgânica»22. Para que verdadeiramente os instintos sociais se interiorizem e evoluam como património da espécie, tornandose «orgânicos», é necessário «uma educação tendo em vista a 21 22 Ibidem, p. 244. Ibidem, p. 247. realidade»23. Só uma educação que leve em conta a natureza libidinal do indivíduo pode contribuir para a tarefa, sempre em risco de retrocesso, de transformar os instintos sociais numa «razão orgânica» e acelerar aquilo a que Freud chama, significativamente, não o Progresso, mas «o processo civilizacional». Em segundo lugar, a ideia de progresso, sobretudo na versão linear que se difundiu a partir do século XVIII, ignora a distância que vai da educação do indivíduo à educação de um povo. Na verdade, embora se encontrem muitos indivíduos em quem a civilização, a tolerância e a paz já se encontram interiorizadas, «de momento, os povos obedecem mais à voz das suas paixões do que à dos seus interesses. (...) Dir-se-ia bastar que um grande número, que milhões de homens se encontrem reunidos, para que todas as aquisições morais dos indivíduos que os compõem desapareçam de imediato e que, em seu lugar, não restem senão as atitudes mais primitivas, mais antigas, mais brutais»24. Compreender a verdadeira natureza das massas, diz Freud, é a única forma de «suportarmos a decepção que nos causaram os povos, esses grandes indivíduos da humanidade, a respeito dos quais devemos, aliás, moderar as nossas exigências»25. Pacifista sem ilusões, racionalista consciente dos limites e da exata natureza da razão e da ciência, Freud é porventura o melhor guia para os tempos de proliferação de intolerâncias várias em que nos foi dado viver. Hoje, porventura mais do que há um século, temos a experiência clara do escasso e efémero alcance, quando não do falhanço, das grandes proclamações sobre a paz, a fraternidade e a tolerância, que se ouviram, em todos os cantos do mundo, logo a seguir à II Grande Guerra. Aprendemos – alguns penosamente – que por detrás de valores universalmente proclamados se esconde, por vezes, uma realidade que é o seu oposto, e que a razão e a ciência podem exponenciar a intolerância a níveis que jamais imagináramos. Resta-nos, por isso, aprender com os factos. E, como sugeriu Freud, «educar tendo em vista a realidade». 23 Sigmund Freud, L’avenir d’une ilusion, Paris PUF, 1971, p, 78. Sigmund Freud, Éssais de Psychanalyse, cit., p. 252. 25 Ibidem, p. 251. 24
Download