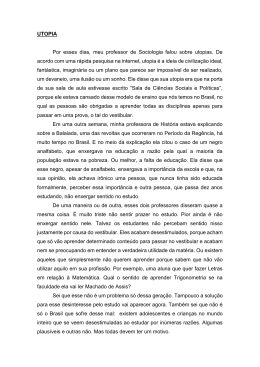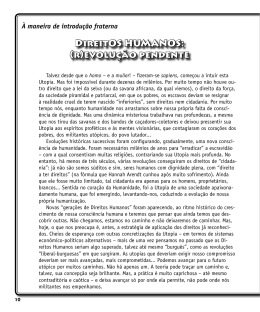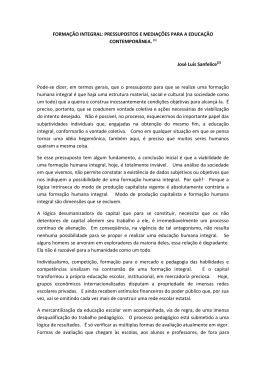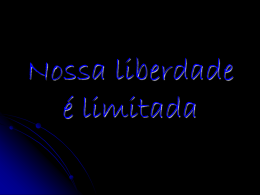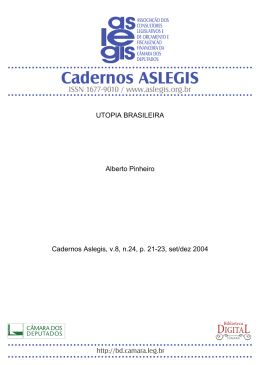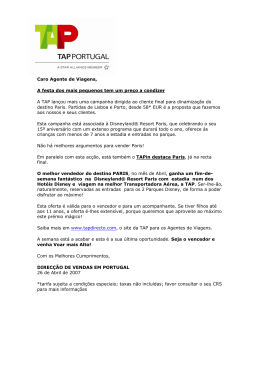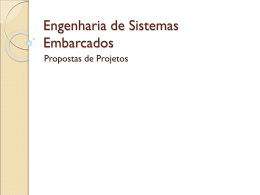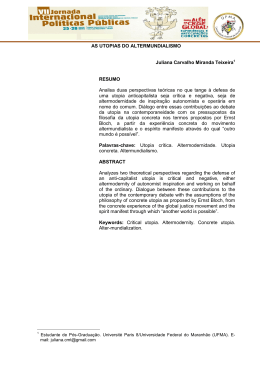1968 O ANO EM QUE A UTOPIA DESCEU ÀS RUAS Jorge E. Silva Olhar para trás, quase sempre nos condena aos destino da mulher de Loth, o personagem mítica da Bíblia. Passados trinta anos é esse o risco que corremos quando procuramos os sinais ou pistas do maio de 68, o mês em que a utopia desceu às ruas. Restam-nos os rostos que vemos nas fotos, os cartazes amarelecidos, os livros comidos do sol, saídos dum tempo que não parece mais o nosso. Foram muitos os maios ou os sessenta e oitos, talvez tantos quantos os personagens que os viveram. Não foi só na Europa que a explosão das lutas juvenis marcaram essa época, também nos EUA e na América Latina, esse ano emblemático foi agitado. No entanto, o epicentro do abalo foi Paris, a cidade marcada pelas grandes revoluções modernas: da Grande Revolução de 1789, à Comuna de Paris de 1871, primeira tentativa de autogestão social da polis moderna. Passadas as agitações sociais do começo do século e os conflitos da luta antifascista, a França e a Europa ocidental estavam estabilizadas na rotina da representatividade democrática e com um capitalismo florescente que dava os primeiros passos na direção de uma sociedade de consumo. A única coisa que alguém esperava é que de repente, quase sem pretexto, numa Primavera se iniciasse uma agitação que incendiaria Paris e se estenderia pela França agitando em seguida quase toda Europa, de Leste a Oeste. O pretexto foi uma vulgar reforma do ensino, pensada pelos donos do poder. Mas as razões profundas eram tensões, tédios e insatisfações que se haviam acumulado na sociedade, particularmente entre os jovens; sem elas maio não teria sido possível e as ruas não se teriam enchido, nem o movimento ultrapassaria os muros das universidades, se espalhando como uma mancha de azeite pelas periferias operárias. Olhando para aqueles que foram símbolos desse movimento, constatamos que o inevitável envelhecimento biológico talvez não seja tão marcante quanto a decadência ideológica dos que hoje só exigem o possível, quando chegaram a imaginar reproduzir as barricadas da Comuna de 1871, no Quartier Latin, trocando o "sejamos realistas, exijamos o impossível" pela pacata administração dos seus mais ou menos importantes cargos num sistema que juraram desprezar. Poucos mantiveram alguma coerência com os desejos e paixões juvenis dessa época. O próprio Daniel Cohn-Bendit, símbolo de uma época, é exemplo de alguém que procura ainda manter alguma lucidez e crítica, num mundo onde não cabe mais sua utopia juvenil. Outros nem isso, o que já era manifesto à 10 anos atrás quando Cohn-Bendit, pelo mundo, procurou alguns dos personagens que viveram de forma central essa época, reunindo seus depoimentos no "Nós que Amávamos tanto a Revolução". Só uns quantos, como o libertário Jean-Pierre Duteuil, companheiro de Bendit no Movimento 22 de março que desempenhou um papel importante nas agitações de Paris, e Barbara Koster, persistiam, a pesar de tudo, na crítica radical. Outros, como Jerry Rubin, que acenava com o seu cartão de crédito, mostravam até que ponto o seu Do It (Aja) tinham um sentido bem mais pragmático de conquistar um pequeno lugar ao sol da América. A um deles, Serge July, o ex-dirigente maoista que se tinha transformado em diretor do jornal Libération, Cohn–Bendit, naquela ironia que alguma vez recupera dos seus discursos dos anos 60, perguntou-lhe: "Antigamente você dirigia uma organização revolucionária, atualmente você dirige um jornal. Sua paixão não seria a de dirigir?". Serge July responde com uma realista justificativa do poder, demonstrando que certamente a recuperação de muitos dos personagens dos anos 60 tem raízes nos próprios projetos políticos e desejos pessoais que pouco têm a ver com uma imagem idealizada de pessoas e episódios onde não deixaram de estar presentes as mais velhas e vulgares manias do ser humano de riqueza, fama e poder, mesmo que legitimados por discursos ideológicos. À véspera da comemoração destes trintas anos, outros personagens como Cornelius Castoriadis e Thimoty Leary, importantes, cada um da sua forma para toda uma geração dos anos 60-70, desapareceram vítimas do inexorável processo biológico que não se compadece com a utopia ou o realismo: a morte. Muitos outros vegetam na sua condição de fantasmas de uma época que não irá regressar, mas à qual ficaram irremediavelmente presos, mesmo quando procuram recusar, pelo seu atual quotidiano, sonhos que foram capazes de ter e hoje se esgotaram, na vã busca de encontrar lugar num mundo sobre o qual já vomitaram. Tem também aqueles que continuam a recusa, uns anonimamente, outros mais conhecidos, como Raoul Vaneigem, o autor de "A Arte de Viver para a Nova Geração", um dos intelectuais críticos que mantém seu solitário combate contra a sociedade do espetáculo, que foram capazes de entender e denunciar numa época em que o entendimento do capitalismo e do socialismo de estado ainda estava preso a velhas e já decadentes análises do século XIX. Guy Debord, o mais enigemático símbolo dessa época, solitariamente, com a sua genial arrogância despediu-se da vida, em 30 de novembro de 1994, com um tiro que interrompia como ato de liberdade sua irremediável decadência física. Desaparecendo assim, aquele que foi um dos principais personagens desses anos, mesmo quando esteve ausente do centro dos acontecimentos, autor do livro "A Sociedade do Espetáculo", que marcou uma época e é ainda hoje um poderoso documento de autópsia do cadáver adiado, que é a sociedade massificada pelo consumo e pelo espetáculo. Uma geração que produziu tais personagens e tais acontecimentos, mesmo que reduzidos a uma breve primavera, em Paris ou Praga, certamente tem a certeza que viveu uma das raras oportunidades que a história dá aos seres humanos de se sentirem realmente atores e donos de seus próprios destinos. Pode, essa geração, carregar consigo o vazio dos desejos não satisfeitos; pode até iludir-se sobre a irrelevância dos momentos vividos, até ter-se arrependido mas, esses anos ou para muitos essas semanas ou meses, ficarão para sempre na forma de mito, como aqueles momentos que muitos de nós e muitas gerações futuras lamentarão não ter vivido. Viver com paixão, viver com prazer, viver com utopia, é cada vez mais uma impossibilidade numa sociedade que segue os ensinamentos do romance Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, sabendo que a estabilidade social só é viável pela impossibilidade da emoção e do desejo. Certamente, não nos enganaremos, se afirmarmos que, de forma espontânea, elas retornarão, possibilitando que tal como em Paris as barricadas reabram o caminho da festa imprevisível, onde tudo pode ser possível. Paris foi símbolo dessa possibilidade histórica de realizar o impossível, as semanas ou meses em que o povo desceu às ruas, as velhas tutelas e dominações se desagregaram sozinhas. Mostrando que não existe uma fronteira intransponível entre o possível e o impossível, entre o real e a utopia, e que as sociedades e o mundo podem mudar restituindo ou nos dando aquilo que sistematicamente nos é negado, sejam os direitos, a justiça ou o prazer da liberdade sem coações. Por isso é que o maio francês é a mais moderna e a mais radical das revoluções: a revolução espontânea, imprevisível e total, numa sociedade, onde todas as velhas reivindicações se conjugaram com o vazio, que nenhuma sociedade de consumo poderá preencher porque é a vital insatisfação do ser humano ante um mundo cada vez mais centrado sobre coisas e onde se perde o sentido individual e coletivo de uma existência verdadeiramente humana. Pouco importa hoje se a revolução de maio de 68 era possível, ou era impossível, naquele velho sentido militar e estratégico dos velhos burocratas leninistas. Até porque eles foram os últimos a entender o que estava em causa e os primeiros a afirmar explicitamente a necessidade de impedir que a utopia descesse às ruas. A CGT, os sindicatos comunistas, e o PCF desempenharam um papel decisivo na domesticação rápida do movimento, num momento em que os partidários conservadores do regime do General De Gaulle estavam estupefactos ante a insólita e inesperada possibilidade de uma nova Comuna de Paris. Não era para menos, as idéias que fervilhavam em Paris a partir dos anos 50, seja através de grupos como Socialisme et Barbarie, International Situacioniste ou de grupos anarquistas, eram uma ameaça pela denúncia sistemática das satisfeitas sociedades de consumo, mas também dos regimes perversos que criados em nome da insatisfação dos povos e do desejo de justiça e liberdade tinham criado o mais kafkiano universo totalitário. O renascimento de uma nova utopia, de um novo projeto de mudança social só podia ser visto também como ameaça pelos comunistas, sejam os que no Leste europeu estavam dispostos até a usar as armas para tirar essa juventude das ruas de Praga; sejam os comunistas ocidentais dispostos a tudo para chegar ao poder, mas que a última coisa que desejavam era reabrir crises sociais que expusessem a sua insuperável contradição de serem historicamente partidos de oposição a um sistema que, eram obrigados a aceitar por disciplina partidária em relação ao impronunciável acordo de Yalta, que dividiu o mundo entre as superpotências vitoriosas no final da Segunda Guerra Mundial. O maio de 68, ou se quisermos o período que vai do final dos anos 60 ao começo da década de 70, foi um dos momentos decisivos que o sistema capitalista viveu neste século, porque se configurou a convergência de grupos e classes sociais, em vários locais do mundo, insatisfeitas com um regime visivelmente injusto e absurdo, reforçadas por uma nova crítica social que dissecava impiedosamente esse regime, possibilitando a sua compreensão. Debord, Marcuse, Castoriadis, Fromm apontavam novas formas de entendimento sobre o modelo de sociedade capitalista que se estava então constituindo. Os estrategas do poder compreenderam a ameaça. Os anos seguintes foram dedicados a meticulosa e engenhosa missão de desarmar a bomba: as reformas educacionais na Europa, as coptações ideológicas, a repressão e posterior liberalização da América Latina e principalmente a constituição de uma nova integração e solidariedade entre as elites e donos do poder sobre as fronteiras e a priorização da sujeição das mentes, ao invés do domínio sobre as pessoas, contribuiu para alicerçar a sociedade global que temos ante nossos olhos neste final do século. Um mundo onde a vitória de um sistema abjeto e visceralmente injusto se legitima na nossa falta de esperança e na nossa impossibilidade de acreditar em utopias, manifestação do imensurável desejo de mudança social incompreendido numa sociedade onde tudo necessita ser quantificado para se crer realizável. No entanto, onde, contraditoriamente, mitos como o do maio de 68, são uma explícita demonstração histórica – e esse é o seu mais definitivo contributo crítico – de que o tudo é possível, até mesmo que as tranqüilas ruas de um grande cidade em abril se podem transformar inexplicavelmente em maio em barricadas, onde flutuam as bandeiras, ontem esquecidas, da utopia. (*) Membro do Centro de Estudos Cultura e Cidadania–Florianópolis (CECCA) Fotos: Cohn-Bendit em maio de 68 - Primavera de Praga 1968
Download