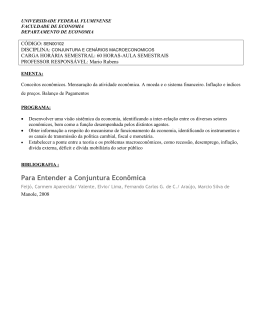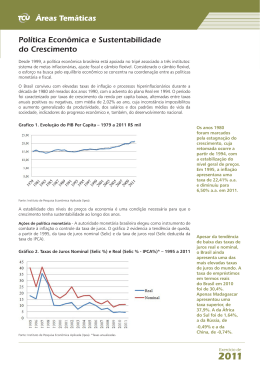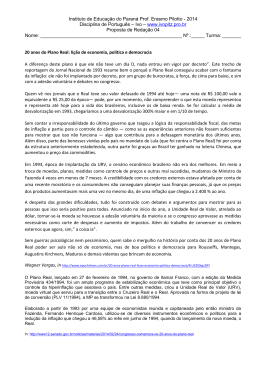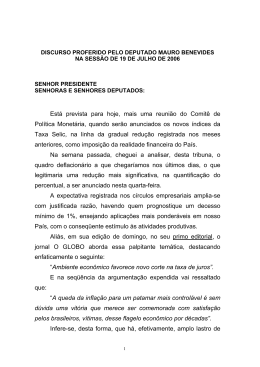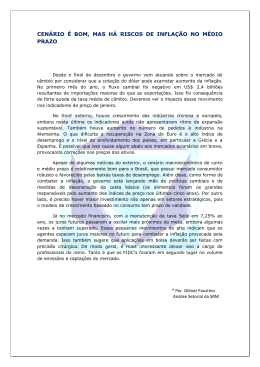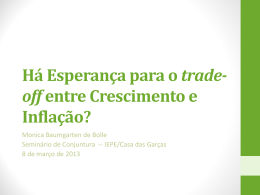Pensamento do Dia Economistas analisam a Economia, o Brasil e o mundo, mundo, na mídia diária 01 a 03 05 2010 ------------------------------------------------------------------Valor Econômico - 03/05/2010 Esquizofrênica política econômica Gustavo Loyola O Banco Central iniciou na semana passada o processo de ajuste da taxa de juro básica, tendo em vista o aquecimento da economia e a piora persistente das expectativas inflacionárias. Apesar da choradeira de praxe, não há reparos a fazer ao BC. Uma política monetária mais restritiva se faz necessária neste momento, com vistas a evitar a aceleração da inflação, cujas consequências poderiam ser muito mais graves para o crescimento futuro da economia. Porém, em que pese o BC ter agido de acordo com os bons manuais, há certamente uma patologia grave na política econômica atual, em que uma autoridade monetária empenhada no controle da demanda convive com instituições governamentais que trabalham sem descanso e a todo custo para aquecer a economia, por meio de estímulos fiscais e creditícios. Essa esquizofrenia, obviamente, dá munição aos críticos das decisões do BC, pois essas acabam parecendo fora de contexto, tal é a confusão dos sinais emitidos de Brasília. Os principais indicadores de atividade econômica surpreenderam no primeiro trimestre do ano, mostrando um crescimento robusto na margem, o que está levando a um reajuste generalizado para cima das previsões de PIB para o corrente ano. O problema é que a persistência do crescimento a essas taxas levará rapidamente a economia a operar acima de seu potencial, o que implica aumento imediato dos riscos inflacionários. Não é por outra razão que as expectativas inflacionárias se deterioram bastante nas últimas semanas, ainda que se reconheça que parte da aceleração inflacionária recente é resultado de choques isolados de oferta. Desse modo, uma ação preventiva do Banco Central já tardava, não tendo havido surpresa na decisão adotada na última reunião do Copom. A questão básica se refere ao grau de efetividade da medida, na presença de uma política fiscal e creditícia francamente expansionista que vem sendo perseguida pelo ministério da Fazenda e pelo BNDES. No que concerne às despesas primárias do governo federal, os dados mais recentes indicam sua crescente expansão, seja pela influência do ciclo eleitoral, seja como efeito retardado das benesses concedidas na área do funcionalismo e da previdência social. Nesse ritmo, nem mesmo a modesta meta de superávit primário será cumprida em 2010, o que deve levar o governo a se utilizar de maquiagens numéricas como a dedução de alguns investimentos do cálculo do resultado primário. Essa tendência não apenas é preocupante a médio e longo prazos, como também demonstra a pressão expansionista que os gastos públicos continuam exercendo sobre a demanda agregada, já agora no contexto de uma política monetária contracionista. Esse cenário é o pior possível sob o prisma da atividade do setor privado, que fica imprensado entre a prodigalidade fiscal e a frugalidade monetária. Mais deletéria ainda é a atuação dos bancos públicos, principalmente do BNDES, fortemente vitaminada por recursos do Tesouro captados com emissão de dívida pública. Há pelo menos três grandes problemas derivados da política de crédito dos bancos oficiais. O primeiro se relaciona ao seu papel na anulação dos efeitos da política monetária contracionista sobre a oferta agregada de crédito na economia. O segundo diz respeito à perda de transparência e de disciplina na área fiscal, com a recriação da malfadada "conta de movimento". Por fim, sob o ângulo microeconômico, tal política contribui para elevar o custo do crédito livre, agravando a cunha entre o custo pago pelos mutuários privilegiados que acessam o crédito oficial e o enfrentado pelos demais mortais. No que tange ao primeiro desses efeitos, é sabido que um dos canais mais importantes de atuação da política monetária é pelo crédito. A elevação dos juros pelo BC encarece o uso do capital de terceiros pelas firmas e indivíduos, afetando suas decisões de investimento e de consumo. Esse efeito não se transmite a grande parcela do crédito oficial, cuja remuneração baseia-se na TJLP, taxa administrativamente fixada e que, na prática, guarda pouca relação com a trajetória da Selic. Ademais, a oferta de crédito pelos bancos oficiais, notadamente pelo BNDES, segue lógica própria em que aparentemente estão ausentes preocupações com a demanda agregada e com as pressões inflacionárias. No caso do BNDES, a comunicação dos dirigentes do banco não deixa dúvidas que o objetivo é o de maximizar os seus desembolsos, com pouca atenção sendo dada aos efeitos macroeconômicos dessa política. Quanto à questão do repasse de recursos do Tesouro Nacional ao BNDES, trata-se de uma recriação disfarçada da conta movimento, mecanismo que abastecia as operações de crédito do setor público. Não mais se faz o saque direto na conta do Tesouro no BC, mas se emite títulos públicos, entregues ao BNDES, que acabam monetizados (direta ou indiretamente) pela mesa de mercado aberto do BC. Nessas operações ocorre expansão do endividamento bruto do Tesouro e criação simultânea de um direito contra o banco. Sob a ótica da dívida líquida do setor público tal operação parece inofensiva, porém suas implicações fiscais e monetárias são bem menos benignas. Por último, a segmentação do mercado de crédito brasileiro - entre operações direcionadas e "livres" - é uma das responsáveis pelo elevado "spread" bancário aqui verificado. A exagerada expansão do crédito direcionado com recursos do Tesouro apenas contribui para o agravamento do problema. Em resumo, a esquizofrenia da política econômica atual leva ao aumento dos custos da política monetária, o que potencializa as críticas ao Banco Central. Embora esteja do lado certo, o BC acaba alvo dos empresários por causa das incoerências da política econômica do governo Lula. Como disse Milton Friedman, não existe almoço grátis. Os juros baratos do banco saem caro para a economia. Gustavo Loyola, doutor em Economia pela EPGE/FGV, ex-presidente do BC do Brasil, é sócio-diretor da Tendências Consultoria Integrada, em São Paulo. -------------------------------- Correio Braziliense - 01/05/2010 A Selic por dentro Antonio Machado Se o BC acertar, juros de prazo curto vão subir, os longos, cair, e a inflação voltará à meta Ainda que muita gente não visse razão alguma para a Selic subir, decisão, segundo o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Skaf, tomada “por um Banco Central acuado, refém de certos setores do mercado”, o fato é que a inflação acumulada em doze meses até março, de 5,17%, e a projetada para 2010, de 5,41%, eram como se o governo tivesse sido apeado do controle da situação. A inflação é sempre a que resulta do aumento de preços promovido pelas empresas e, nesse sentido, se compreende a bronca de Skaf — hoje dublê de político, já que tenta sair candidato ao governo de São Paulo pelo PSB. Para ele, a capacidade instalada da indústria pode atender a demanda “sem que aconteça pressão sobre os preços”. Para a Fiesp, haveria uma capacidade “escondida” de 15% acima do nível de produção medido em março, da ordem de 69,2%, considerada uma amostra de 247 empresas. A tanto se chegaria com horas extras, turnos adicionais e a ativação de novas máquinas. É possível, mas isso é o que as empresas já fazem e está dentro do índice medido. O quadro da oferta pela chamada “economia real”, o contraponto de tijolo e aço ao mundo virtual das finanças, está em crescimento em duas frentes: da ocupação da capacidade instalada, tornada ociosa pela recessão breve do ano passado, e expansão da produção física, resultado de investimentos que tem feito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) o endereço mais quente da praça, complementado pela tomada de recursos externos. Entre a ativação do maquinário existente e novas instalações, há um atraso em processo, que chega, em média, a 18 meses, segundo as estimativas usuais, com ambos, além disso, correndo atrás do ritmo da demanda impulsionada pelo aumento da renda, emprego e crédito. Seria um quadro administrável em termos de controle inflacionário se não estivesse a demanda agregada também vitaminada pelos gastos fiscais do governo em expansão acelerada. E isso em meio a um dado pouco falado da realidade empresarial brasileira: a oligopolização da maioria dos setores, com poucas e grandes empresas com poder de mercado para impor preços — além de favorecidas por uma estrutura tarifária protecionista de uma época em que o dólar era escasso e a substituição de importações, uma política de governo. Pragmatismo sindical Com inflação ninguém brinca, nem os sindicalistas que também, a cada reunião do BC para discutir a Selic, unem-se aos industriais para criticar em coro a decisão, seja ela qual for. Confiantes de que o BC, escorado no presidente Lula, que é do meio e conhece as manhas de seus pares, jamais deixará o balde entornar, eles falam grosso contra os juros altos. Mas mudarão o disco, se precisarem. Como? À menor cobrança das suas “bases”, se o salário começar a terminar antes que o mês acabe. É o que já está acontecendo. Salário já é corroído Conforme a Pesquisa Mensal do Emprego do IBGE relativa a março, a massa de rendimento real cresceu 5,2% em relação a março de 2009, quando aumentou mais, 5,8% sobre 2008. Foi a menor expansão para o mês de março desde 2006, segundo análise da consultoria LCA. “A aceleração da inflação corrente tem mitigado em alguma medida a evolução dos ganhos reais dos salários”, diz. “Não por acaso, o rendimento médio real registrou alta interanual de 1,5% em março contra 5% nessa mesma comparação em março de 2009.” Inflação bate direto no bolso. Mas o mercado financeiro a pressente bem antes. A mecânica dos juros O aumento dos juros no interbancário já estava consolidado antes de o BC elevar a Selic de 8,75% ao ano para 9,5%. Como parâmetro do espectro dos juros, conforme o prazo de vencimento dos papéis de dívida de emissão de bancos, empresas e do Tesouro, a Selic já mal dava para repor o capital aplicado, abatida a inflação realizada. E o levava ao prejuízo, se descontado também o Imposto de Renda. Os juros no Brasil são dos mais altos no mundo. Mas também são a carga tributária e a inflação, 2ª maior do mundo nos últimos vinte anos até 2008. Para a Selic ser contracionista, objetivo do ciclo iniciado quarta-feira, quando passou de 8,75% para 9,5% — ou 4,1%, abatida a inflação e antes do IR —, ela precisa alinhar-se à taxa do interbancário, 11,5% na mesma data. Assim era como reflexo da inflação então prevista. O interbancário é que impacta a inflação. Se a Selic for competitiva, a banca estaciona mais que de hábito suas disponibilidades na manjedoura do BC e começa o aperto. Os juros de prazo curto sobem, os longos caem e a inflação tenderá à meta definida pelo governo (4,5%). Para ser diferente, o governo deveria contribuir com o lado fiscal. Mas isso não vai acontecer. Caos na fila do gasto A política fiscal, no Brasil, é rígida para baixo e elástica para cima. Sua contribuição para a estabilidade tem sido nula. E quando tudo expande a demanda, não acompanhada pela oferta crescendo a um ritmo maior — fruto do investimento que enquanto em curso também a impulsiona —, abre-se um buraco nas contas externas, decorrente da importação avançar sobre a exportação. E muitos ficam com vontade, das grandes empresas às bibocas da esquina, de faturar em cima da vontade do consumidor de gastar. A política econômica deveria dar ordem ao gasto conforme prioridades, que por ora é o investimento. Como não tem feito isso, todo o peso do ajuste recai sobre o BC. ----------------------------O Estado de S.Paulo - 02/05/2010 É pegar ou largar Celso Ming O aperto dos juros decidido quarta-feira pelo Copom está levantando as críticas tribais que sempre se fazem, sejam quais forem a decisão tomada e a dosagem adotada. O Banco Central pode estar errado uma, duas ou mais vezes. Mas não pode estar sempre. Mal ou bem, cumpre a função de administrar o sistema de metas de inflação, que é, no Brasil, o critério adotado para definição da política monetária (política de juros). No regime de câmbio flutuante e de relativa liberdade de fluxo de capitais não se conhece sistema melhor. É mais eficiente e mais moderno do que o sistema de controle dos agregados monetários anteriormente adotado. Qualquer política de controle inflacionário lida com um fator muito delicado, que é o da expectativa de inflação. Se os marcadores de preços não estão convencidos de que a autoridade controla o volume de moeda na economia e se, ao mesmo tempo, não confiam no trabalho do banco central, a inflação tende a descarrilar. Essa é tarefa em que o banco central não pode vacilar. No Brasil, é o governo federal, por meio do Conselho Monetário Nacional, que decide qual a inflação a ser tolerada no ano. E o Banco Central é a instituição que cuida de ajustar a economia (o que implica definir o tamanho dos juros) de maneira a garantir a meta estabelecida. É regra de jogo que exige de toda economia uma atitude radical. É pegar ou largar. Como avisa o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o sistema de metas é ou não é. Não há sistema parcial de metas, como não há meia gravidez. Às vezes, aparece gente que pede certa flexibilização que, na prática, consiste em aceitar uma inflaçãozinha a mais, como se esse extra não tivesse nenhuma consequência sobre a arrumação. Num primeiro momento, pode não ter. No entanto, o jogo mais importante se passa na cabeça dos formadores de preço. Se eles se convencem de que o Banco Central está afrouxando, lá vem remarcação em cima de remarcação e a inflação tende a levantar voo. Se, ao contrário, veem que o Banco Central mantém o controle, sabem que serão punidos com encalhe de mercadoria se ousarem remarcar demais. Isso não significa que o sistema de metas não dê lugar a manejos diferenciados. Há três maneiras de conduzi-lo. A primeira é a do Fed (o banco central americano) que trabalha com uma meta de inflação de 2% ao ano. No entanto, o ponto de referência não é propriamente a inflação cheia, mas o núcleo dela (core inflation). Ou seja, da inflação cheia expurgam-se as variações mais ou menos aleatórias de preços que não têm relação com o volume de dinheiro na economia, mas se devem a fatores diversos (choque de oferta, alta de commodities, clima adverso, etc.). A segunda maneira de trabalhar é a que estabelece a meta de inflação no período móvel de 12 meses, que não tem a ver com o ano-calendário. É como funciona no Reino Unido cujo banco central persegue a meta em determinado prazo e depois trata de mantê-la. Eventuais desvios são corrigidos ao longo do curso. A terceira modalidade é a do Brasil, em que a meta deve ser atingida dentro do anocalendário. Como nem sempre é possível segurar a inflação na mosca do alvo, a meta anual comporta desvios tanto para cima como para baixo, que, aqui, são de 2 pontos porcentuais. Enquanto não aparecer cão melhor, é preciso caçar inflação com esse aí. Goste-se dele ou não. ----------------------------------- O Estado de S.Paulo - 03/05/2010 Capitalismo dos amigos, prejuízo dos outros Carlos Alberto Sardenberg Segurança jurídica é assim: a empresa ou a pessoa faz um negócio e confia que o contrato será cumprido; as mercadorias, fabricadas e entregues; o serviço prestado, e o pagamento, feito. No caso de algum problema, recorre-se aos tribunais, cujos juízes saberão como determinar o cumprimento do contrato e as eventuais indenizações. Mas as companhias brasileiras que não conseguem receber de seus clientes venezuelanos nem pensam em recorrer aos tribunais. Muito menos as empresas da Venezuela que não conseguem comprar os dólares para pagar os fornecedores brasileiros. Todos têm medo de provocar a ira e as represálias do presidente Hugo Chávez. Qual a saída? No caso dos brasileiros, trata-se de conseguir uma interlocução com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mandar o recado: que ele faça o favor de levar uma conversinha particular com o companheiro Chávez para cobrar. Já aconteceu uma vez, está acontecendo de novo. É capaz que funcione, mas isso dá bem uma ideia do regime econômico e político vigente na Venezuela. O capitalismo - pois ainda há propriedades privadas - é o dos compadres. A democracia é para os amigos. O presidente Lula, porém, acha que não há nenhum problema grave com a Venezuela e Chávez. Dificuldades aqui e ali aparecem, mas onde não existem? É isso, Lula e seu pessoal não estranham esse capitalismo com os amigos nem acham errado que o governo interfira abertamente nos negócios das empresas privadas. As instituições brasileiras são incomparavelmente melhores e mais sólidas. Um exemplo, que vem ao caso: na Venezuela, pessoas e empresas só podem comprar dólares no banco central, conforme cotações fixadas pelo governo. Como há falta da moeda americana, mesmo com as exportações de petróleo para os Estados Unidos, forma-se uma fila no banco central, cuja ordem se faz por escolha do governo, por corrupção ou pelas duas coisas. Já foi assim ou parecido no Brasil. Hoje, estamos longe disso, qualquer um compra os dólares que quiser no banco de sua preferência. Quer dizer, o mercado não é tão livre assim, mas é quase. Além disso, ninguém morre de medo de levar o governo aos tribunais ou de discutir com a Receita Federal. Mas por isso mesmo, por serem as instituições e a economia brasileiras mais consistentes e sofisticadas, o capitalismo da turma também precisa mostrar, digamos, um nível mais elaborado. Um bom exemplo está na montagem do consórcio que vai construir a Usina de Belo Monte. O governo brasileiro seleciona e/ou pressiona grandes companhias privadas para que entrem no negócio, escala empresas e fundos de pensão estatais para turbinar a operação e determina quanto os bancos públicos vão financiar. E por que as grandes companhias privadas topam, mesmo sabendo, como declararam, que a Usina de Belo Monte sairá mais cara do que o estimado pelo governo e que, portanto, o preço licitado da energia não paga o empreendimento? Por dois motivos: primeiro, porque não querem ficar de mal com um governo que acena com muitos outros negócios, como o trem-bala, por exemplo, estimado em cobiçados R$ 35 bilhões. E, segundo, porque acreditam que o governo vai dar um jeito de acertar preços e pagamentos mais à frente. Esse tipo de regime econômico não é uma criação do lulismo. Pratica-se por boa parte do mundo, há muito tempo. Funciona? Imaginemos que dará tudo certo, naquele esquema, com a construção de Belo Monte. Daqui a quatro anos, a usina está pronta, gerando energia ao preço baratinho fixado no leilão. Quem terá ganho? As empreiteiras e as demais companhias privadas envolvidas, como as fornecedoras de equipamentos e serviços, recebendo o preço, digamos, correto. Também estarão ganhando os consumidores dessa energia barata, famílias, certamente, mas, sobretudo, grandes empresas. E o governo estará pagando boa parte dos custos, na forma de empréstimos subsidiados, isenção de impostos e atuações "baratas" de companhias e fundos estatais. Ou seja, toda a população estará pagando pela energia uma parte muito, mas muito menor. E daí? Como responderiam Lula e seu pessoal, a obra terá gerado atividade econômica, renda, empregos, de modo que terá sido bom para o País. Pode até ser verdade num caso específico, mas as consequências serão desastrosas na ampliação do regime. As hidrelétricas, as usinas nucleares, o trem-bala, o subsídio para a Petrobrás no pré-sal, as estradas com pedágios baratinhos, o subsídio para o BNDES financiar os negócios escolhidos, as obras que atrasam ou não vingam - vai somando tudo isso e... o Estado quebra debaixo de dívidas enormes. Tudo isso é simplesmente gasto público, que se soma às despesas com pessoal, previdência, programas sociais, custeio, todas em alta forte, que têm de ser pagas de algum modo, com mais impostos, mais dívida ou mais inflação, ou uma mistura disso tudo. Foi assim que terminou a política econômica do regime militar, que montou e tocou obras como o governo Lula está fazendo. Demora para quebrar, há fases de milagre do crescimento, mas, quando quebra, leva décadas para consertar. E a conta não vai para os amigos. ------------------------------Folha de S.Paulo - 01/05/2010 Anacronismo americano Cesar Benjamin O DEBATE sobre a política cambial chinesa se intensificou desde que 130 congressistas solicitaram que o governo americano declare, em relatório oficial, que a China manipula o valor da sua moeda, produzindo uma concorrência desleal que prejudica empresas e elimina empregos nos EUA. Se a solicitação for aceita, estará aberto o caminho legal para medidas de retaliação que podem gerar mais incerteza econômica em um mundo já bastante estressado. Estão em curso negociações delicadas. A mania dos EUA de produzir relatórios unilaterais que colocam outros países no banco dos réus já criou grande número de situações ridículas, que agora podem se repetir. Os americanos deveriam ser os últimos a tocar no assunto de manipulação cambial, pois são os únicos que arbitram praticamente sem restrições o valor da sua moeda, emitida a rodo para financiar deficit que têm enorme impacto sobre todo o sistema internacional. Os demais países têm reagido de diferentes maneiras à hegemonia desse dólar errante. Alguns, como o Brasil, liberaram a movimentação de capitais e entregaram a um mercado intrinsecamente especulativo a tarefa de fixar o valor de suas moedas, mesmo à custa de remessas crescentes e de danos aos sistemas produtivos locais. Outros, como a China, promovem uma abertura cautelosa e ordenada: sua moeda acompanha a trajetória da moeda de referência internacional, sem experimentar flutuações bruscas e sem gerar um desalinhamento cambial que comprometa o crescimento do país. Não há movimentações especulativas de riqueza financeira na economia chinesa. E os recursos em moeda estrangeira, provenientes de exportações e de investimentos, são obrigatoriamente vendidos ao governo, que os paga em yuan, a uma taxa fixada pelo banco central. Por isso o yuan não se aprecia, gerando protestos. A contrapartida chinesa ao sistema internacional é considerável. O país é, também, um grande importador. Suas reservas, atualmente de US$ 2,4 trilhões, são investidas, em grande parte, em títulos americanos de longo prazo, garantindo que os EUA se financiem com baixas taxas de juros. Mais de 70% das suas exportações são produzidas por companhias estrangeiras ou joint ventures. E, por causa da integração das cadeias produtivas, a produção "made in China" movimenta todas as economias do Leste da Ásia, incluindo aliados importantes dos EUA, como Japão, Coreia do Sul, Cingapura e até mesmo Taiwan. Estamos diante de uma disputa de novo tipo pela hegemonia, diferente dos confrontos diretos do século 20. A competição convive com uma intricada teia de interesses complementares, que ainda predominam. Os EUA não podem ameaçar todo esse arranjo, do qual também dependem. Parecem ter dificuldades em se reposicionar. Os políticos insistem em explicações fáceis para o eleitorado, enquanto o governo mantém em vigor medidas anacrônicas. Adota, por exemplo, uma política comercial altamente discriminatória, que proíbe a venda de produtos de alta tecnologia ao país asiático. Ao decidirem exportar para a China apenas produtos industriais comuns e bens agrícolas, os EUA abrem mão da sua maior vantagem e se condenam a ter grandes deficit. A avareza da política comercial americana, além de anacrônica, é cada vez mais inócua: neste ano, a China ultrapassará os EUA na formação de doutores em ciências e nas engenharias. Parece que o pensamento chinês se adapta melhor a esse jogo complexo em que o tempo é um fator decisivo. CESAR BENJAMIN, 55, editor da Editora Contraponto e doutor honoris causa da Universidade Bicentenária de Aragua (Venezuela), é autor de "Bom Combate" (Contraponto, 2006). Escreve aos sábados, a cada 15 dias, nesta coluna. ------------------------------------ O Globo - 01/05/2010 Armadilha monetária e cambial Paulo Nogueira Batista JR. Anteontem, o Copom deu uma pancada nos juros, aumentando a taxa básica para 9,5%. Com isso, ampliouse ainda mais o já elevado diferencial entre os juros brasileiros e os praticados pelos principais bancos centrais do mundo. O Comitê de Mercado Aberto do Fed confirmou, na quartafeira, que manterá a taxa básica entre zero e 0,25%. O Banco Central Europeu vem mantendo a taxa de juro em 1%; o Banco da Inglaterra, em 0,5%; o Banco do Japão, em 0,1%. No Brasil, criou-se a expectativa de que esse aumento é o início de um ciclo de alta dos juros. O Fed, em contraste, continua empenhado em sinalizar que praticará juros excepcionalmente baixos por um período prolongado. No Japão e na Europa, os bancos centrais fazem o mesmo. Não quero discutir, neste momento, se o Copom tem ou não razão em aumentar os juros. Digo apenas o seguinte: dificilmente escaparemos ilesos dessa combinação de juros altos e expectativa de juros ainda maiores no Brasil, de um lado, e juros próximos de zero e expectativa de juros muito baixos por muito tempo nos centros emissores de moeda de liquidez internacional, de outro. É a receita para a sobrevalorização persistente do real, com efeitos adversos sobre as exportações, as contas externas e o setor industrial. Nos países avançados, ou na maioria deles, o quadro macroeconômico pode ser resumido da seguinte maneira. A recuperação das economias começou, mas não está consolidada. O desemprego se mantém em níveis elevados. Não há grande risco de inflação à vista. Por outro lado, a crise de 2008-2009 destrocou as finanças públicas de grande parte do Primeiro Mundo. O caso da Grécia é extremo, mas muitos países desenvolvidos, grandes e pequenos, estão com sérios problemas fiscais. A grande recessão, os pacotes fiscais de reativação e os programas de salvamento do sistema financeiro desestabilizaram as finanças governamentais. Os mercados começaram a especular agressivamente contra governos com contas frágeis, começando pela Grécia, mas já afetando Portugal, Espanha e outros europeus. Conclusão: apesar de a recuperação da economia não estar consolidada, os governos terão que apressar os seus planos de ajustamento fiscal, cortando gastos ou aumentando impostos. Alguns podem adiar um pouco mais o ajuste, mas os que estão na mira dos mercados financeiros terão de tomar medidas já. O tamanho do ajuste fiscal exigido da Grécia será de rachar quarteirão. Como evitar que o ajuste fiscal provoque a recaída na recessão? A Grécia e outros não têm essa opção. Mas os principais países desenvolvidos, os EUA à frente, já desenharam uma estratégia de saída da crise. Manterão políticas monetárias frouxas, com juros baixos, próximos de zero. Além de estimular a demanda privada interna, essa política monetária frouxa tende a provocar depreciação da moeda nacional, favorecendo as exportações e encarecendo as importações. Querem sair da crise exportando para o resto do mundo. Em outras palavras, haverá provavelmente superabundância de liquidez em dólares para os países emergentes e em desenvolvimento — principalmente para aqueles que praticarem juros muito altos. Qual o papel previsto para países como o Brasil nessa estratégia? Aceitar a apreciação da moeda nacional, importar mais, exportar menos e acumular déficits crescentes nas contas externas. Já começamos a dar a nossa contribuição. O superávit comercial deve cair para US$ 10 bilhões em 2010; o déficit em conta corrente deve subir para quase US$ 50 bilhões, segundo projeções do Banco Central. A China resiste a cair nesse conto do vigário. O Brasil também não tem por que aceitar esse jogo. O ideal seria moderar o impeto da política de juros, manter as contas públicas em ordem e controlar a expansão do crédito. Além disso, será provavelmente recomendável acumular reservas internacionais, adotar medidas prudenciais no sistema financeiro e reforçar os controles sobre a entrada de capital e as operações financeiras externas (inclusive derivativos). ------------------------------Valor Econômico - 03/05/2010 Mercado desafia o Banco Central Eduardo Campos A curva de juros futuros mostrou um embate entre o mercado e o Banco Central na sexta-feira. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2011, que funciona como referência, subiu 0,11 ponto, para 11,12%, maior taxa desde março de 2009. "O mercado está colocando o BC em córner, ou seja, o BC não tem mais a capacidade de induzir a formação de preço", disse um operador que preferiu não se identificar. De acordo com o especialista, os agentes viram que o Banco Central não tinha saída para retomar as rédeas do mercado, pois qualquer posição adotada na reunião da última quarta-feira resultaria em aumento nos prêmios de risco. A alta de 0,75 ponto definida na última reunião apenas estimulou as apostas de que em junho o Comitê de Política Monetária (Copom) terá que aumentar o passo de alta para um ponto percentual. Se o BC desse uma alta ainda mais forte, a interpretação seria de que o cenário é ainda pior, e os investidores pediriam mais prêmio. Se a saída fosse pelo meio ponto, ficaria a ideia de decisão política, o que também levaria a aumento de prêmio. "Os agentes estão forçando um ambiente ruim. Não existe uma degradação de cenário que justifique tamanha inclinação da curva", diz o especialista. Já um gestor, que também prefere ficar no anonimato, aponta que o mercado se aproveita do erro de estratégia do BC. "A alta de 0,75 ponto na Selic foi uma sinalização muito ruim. O mercado pediu e o Banco Central atendeu. Então, é natural que o mercado peça ainda mais taxa agora", disse. Segundo esse gestor, como a autoridade monetária mostrou falta de confiança na sua estratégia, ao ceder às pressões do mercado, o movimento dos agentes, que pedem mais prêmio na curva, está correto. "O mercado não está exagerando. Ele está vendo a atuação do BC, que em vez de fazer um plano e seguir esse plano, vai junto com o mercado." Com tal cenário, a ata do Copom, que será apresentada na quinta-feira, ganha mais peso, pois o BC pode utilizar a comunicação como forma de conter tal movimentação do mercado. Outra saída para o BC, diz o especialista, é lançar mão de medidas administrativas, como contingência de crédito e aumento de compulsório. Com visão parecida, a empresa de análises de mercado 4Cast aponta que o mercado sentiu o cheiro de sangue e está correndo atrás dele. A alta de 0,75 ponto percentual na Selic, ao invés de dar maior confiança, abriu as portas da incerteza. "Os dados de atividade não ajudaram, mas acreditamos que problema, de fato, está na comunicação do BC com o mercado", disse o economista-sênior para a América Latina da 4Cast, Pedro Tuesta. Os erros de comunicação apontados pelo economista são a ata da reunião de março, que teve um tom completamente descolado da decisão, e as declarações recentes do presidente do BC, Henrique Meirelles. "Isso foi uma clara lição de como se confundir o mercado." Na visão de Tuesta, no sistema de metas, não se pode confiar completamente nos números. Tem que se levar em conta, também, a forma de comunicação com o mercado. "Por mais correto que o BC esteja ao subir 0,75 ponto, o fato é que isso não foi suficiente para aplacar a visão do mercado de que há um prêmio a ser pago por sua confiança", diz o economista. No mercado de câmbio, apesar de duas entradas diárias no Banco Central no mercado à vista e de algumas ameaças de que o Tesouro irá acelerar o ritmo de compras, o dólar comercial encerrou o mês na faixa de R$ 1,73, acumulando perda de 2,41% no mês de abril. "A ação do governo sugere que ele está preocupado com a queda do dólar. Essa é razão das intervenções no mercado. Mas uma leitura mais atenta mostra uma atuação em busca de dólar mais baixo", afirma o diretor-executivo da NGO Corretora, Sidnei Moura Nehme. Soa paradoxal, mas o ponto defendido por Nehme é que o BC, ao continuar comprando moeda em quantidades superiores ao fluxo, força os bancos a ficarem com posições vendidas, ou seja, a carregarem apostas pró-real. Com isso, o BC estimula indiretamente a queda da moeda, pois as instituições vão trabalhar pela baixa do preço do dólar para rentabilizar essas posições. "No mercado de câmbio brasileiro nem tem tudo o que aparenta ser é o que realmente é", afirma o especialista. Eduardo Campos, de São Paulo ----------------------------- Folha de S.Paulo - 03/05/2010 O nível da taxa de juros Luiz Carlos Bresser-Pereira COMO SE esperava, depois de haver mantido a taxa de juros estável por um bom tempo, o Banco Central a aumentou na última quarta-feira. Respondeu, assim, ao evidente aquecimento da demanda interna. Pode-se, portanto, concluir que o Banco Central agiu corretamente? Não é essa a política que se espera de uma autoridade monetária quando a inflação está um pouco acima da meta? A resposta, entretanto, não é um mero "sim", não obstante a boa teoria econômica sugir a tal resposta para a segunda pergunta. Na verdade, as duas questões configuram uma armadilha que me leva sempre a recusar responder a jornalistas que querem saber minha opinião sobre a próxima ou a última alteração da taxa de juros realizada pelo BC. A posição que tenho adotado em relação à política de juros do Banco Central desde o Plano Real tem sido sempre de desacordo. A discordância, porém, não é em relação a esta ou àquela decisão de aumentar ou de deixar de baixar a taxa Selic. Embora também nesse ponto o Banco Central algumas vezes erre de forma clamorosa, na maioria dos casos acerta. O último erro óbvio foi o de haver continuado a aumentar a taxa de juros depois do desencadear da crise, em outubro de 2008. Já existe pelo menos um bom estudo (de José Luís Oreiro e associados) demonstrando, Em termos teóricos e econométricos, esse fato.Mas, em geral, e, em particular, no momento atual, o Banco Central tem mudado a taxa de juros no momento correto. A razão da minha discordância em relação à política "ortodoxa" (na verdade, "rentista") do BC em relação à taxa de juros não é contra a direção nem contra o momento das mudanças de taxa,mas em relação a seu nível. Ainda que o tenha baixado através dos anos, esse nível continua alto e se constitui em entrave ao investimento e ao desenvolvimento e em uma forma de concentrar renda nas mãos dos rentistas. Mas teria sido possível baixar mais o nível da taxa de juros? Não resultaria em mais inflação? De forma nenhuma, desde que a baixa dos juros ocorresse quando a economia estivesse desaquecida e se aproveitasse para reduzir a taxa para um nível baixo-de 1% a 2% (um nível ainda mais alto do que o praticado pelos países ricos nessas ocasiões). Já vimos que nesses momentos o Banco Central baixa sua taxa de juros, mas sua baixa é sempre tímida, a conta-gotas. Dessa maneira, quando a economia volta a dar qualquer sinal de restabelecimento, a baixa é interrompida em um nível ainda alto da taxa de juros. Se a redução fosse mais determinada, o Brasil estaria há muito convivendo com uma taxa de juros em um nível civilizado. Os brasileiros não compreendem esse fato. Ficaram estigmatizados coma alta inflação e, por isso, continuam a acreditar que a política de juros é necessária para manter a inflação sob controle.Dessa forma, legitimam a grande transferência de renda das pequenas e médias empresas e de seus trabalhadores para o setor que vive de juros. Entretanto, desde que,há cerca de nove anos, teve início a luta sistemática dos macroeconomistas keynesianos contra essa política, houve avanços. Seus custos ficaram mais claros, as alternativas ganharam legitimidade, enquanto a ortodoxia se desmoralizava no plano internacional. A hemorragia representada pela política de juros não foi estancada, mas foi reduzida. No começo da década, a ortodoxia falava em uma taxa "natural" real de juros de 9%; hoje, a taxa de juros real continua a maior do mundo, mas está em torno de 4,5%. Houve progresso. LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA, 75, professor emérito da Fundação Getulio Vargas, ex-ministro da Fazenda (governo Sarney), da Administração e Reforma do Estado (primeiro governo FHC) e da Ciência e Tecnologia (segundo governo FHC), é autor de "Globalização e Competição". -----------------------------O Globo - 03/05/2010 O joio e o trigo George Vidor A elevação dos juros básicos era inevitável para desarmar, principalmente, a formação de expectativas pessimistas quanto ao cumprimento das metas de inflação. Juros mais altos causam efeitos colaterais negativos e, por isso, alguns ajustes já estão em andamento, em especial os relacionados com o câmbio. Tesouro e BC, por exemplo, estão comprando mais dólares dentro do país. A crise que afeta as dívidas soberanas de nações da União Europeia não deve atingir o Brasil no curto prazo. Ao contrário, tem muita gente no mercado achando que o fluxo de capital para economias que se mostraram mais resistentes às turbulências financeiras internacionais pode até aumentar. A nova Taxa Selic, de 9,5% ao ano, que empurra para cima toda a estrutura de rendimentos das aplicações em renda fixa, é agora um fator adicional de atração de capitais nômades. O chamado risco Brasil vem se mantendo em menos de dois pontos percentuais acima dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. Com a Selic a 9,5% o espaço para operações de arbitragem de taxas de juros (diferença entre o que se paga lá fora e internamente no Brasil) e de moedas cresceu ainda mais - vale frisar que já vinham se avolumando nos últimos meses, o que explica a valorização do real, mesmo com o superávit da balança comercial (exportações menos importações) encolhendo e o déficit com o pagamento de juros, remessa de lucros, fretes, seguros, turismo, e outros serviços, aumentando. Esse capital nômade é indesejável porque agita os mercados; as oscilações de preços de ativos financeiros (entre os quais, ações), e até de mercadorias, se acentuam. Mas é difícil barrá-lo em uma economia que precisa de investimentos diretos estrangeiros produtivos. Nesse caso não é fácil separar o joio do trigo. O jeito é, por meio de operações no próprio mercado (o que leva o Banco Central e o Tesouro a serem mais atuantes no câmbio), ir neutralizando essa oferta crescente de divisas. Pode-se dizer que é um bom problema a resolver. Em encontro casual com Ary Waddington - que atualmente divide o tempo entre fins de semana prolongados na sedutora Búzios e os demais dias em São Paulo, onde participa de conselhos de quatro empresas - ele se revela otimista com o futuro do país, mas também se diz muito preocupado com uma certa tendência de desindustrialização em decorrência da valorização do real frente a outras moedas. Ary foi um dos formuladores da lei de mercado de capitais, em meados da década de 60, e por vários anos presidiu a Anbid, associação dos bancos de investimento (que se fundiu há poucos meses com a Andima, formando a Anbima). Por força do hábito, Ary continua estudando o sistema financeiro e observa que os bancos brasileiros, por mais rentáveis que sejam, continuam com custos bem acima da média registrada em mercados mais ricos. Se comparados com seus ativos, os custos dos bancos brasileiros estão na faixa de 15% a 16%. Os maiores bancos no exterior estão faixa de 8%, sendo que alguns conseguem segurar os custos em até 5%. Os custos elevados dos bancos também contribuem para que as taxas de juros no Brasil se mantenham além do razoável. A tese de Ary sobre a desindustrialização faz todo o sentido quando se observa o que vem acontecendo em segmentos que estão perdendo mercado internamente, mesmo com a economia crescendo a todo vapor. Embora as vendas de veículos e máquinas sejam apontadas como demonstração evidente do aquecimento da economia brasileira, o número de empregos nas indústrias de autopeças, por exemplo, vem diminuindo. Nas de produtos eletrônicos, idem. Segundo dados da Força Sindical, a indústria de autopeças emprega atualmente dez mil trabalhadores a menos que em 2007 (cujo total era de 217 mil trabalhadores). Nesta sexta--feira o auditório da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) será palco de um formatura especial: 20 novas pedreiras e 40 carpinteiras de fôrmas receberão seus diplomas do Senai. Além de diploma, ganharão um kit de ferramentas. Desde 2008, um projeto denominado Mãos na Massa, com patrocínio de grandes empresas, tem preparado mulheres para trabalhar na construção civil. A iniciativa foi de instituições beneficentes, que se surpreenderam com esse interesse de um grupo de moradoras de uma comunidade pobre de um subúrbio do Rio. A construção civil sempre foi vista como área exclusiva para a mão de obra masculina, por causa do trabalho pesado e inadequado para a natureza física das mulheres. Mas, além das técnicas de construção terem avançado, há diversas tarefas no setor nas quais as mulheres treinadas têm se saído melhor que os homens, pois são mais atentas aos detalhes. A proposta inicial das instituições beneficentes era oferecer cursos para cabeleireiras e manicures, mas o grupo selecionado achou que já havia concorrência demais onde moravam e iriam acabar brigando com as vizinhas. Escolheram a construção civil; se depois do treinamento não conseguissem emprego, ao menos poderiam usar o que aprenderam para acabar de construir suas próprias casas. Mas 70% das 210 que se formaram estão hoje empregadas, com carteira assinada, ou trabalham como autônomas. A renda média familiar mensal dessas mulheres, na faixa de 18 a 45 anos, saltou de R$44 para R$630. As que agora vão se formar vêm ajudando em reformas na Pequena Cruzada, na Lagoa, e no Abrigo Maria Imaculada, no Rocha. ------------------------------O Globo - 02/05/2010 Contra os fatos Míriam Leitão A empresa tem que fornecer água potável para os trabalhadores. Essa é uma das 252 normas do Ministério do Trabalho para as fazendas. Por que escrever uma exigência óbvia? Entre 2003 a 2008, em 451 fazendas ficou constatado que os trabalhadores não tinham acesso à água minimamente aceitável. Há regras que não precisariam ser escritas desde o fim das senzalas. Exemplos de regras espantosamente básicas: é preciso haver banheiro nos alojamentos; água para lavar o agrotóxico das mãos antes das refeições; os alojamentos têm que ser divididos por sexo; alojamentos de famílias não podem ser coletivos; trabalhador não pode pagar pelo equipamento de trabalho; se sofrer acidente, tem que receber primeiros socorros. Não deveria existir instruções assim tão detalhistas. O normal é que não houvesse. Mas os relatórios dos grupos móveis de fiscalização, que foram a quase 1.800 fazendas desde 2003, mostram que o que deveria ser normal numa sociedade civilizada, nem sempre é oferecido ao trabalhador de certas propriedades rurais. A senadora Kátia Abreu (DEM-TO), presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), disse à “Veja” que é impossível cumprir essa lista de 252 itens, conhecida como NR-31. Sugeriu que o descumprimento de qualquer dessas normas levaria a empresa rural a ser enquadrada por praticar o crime. Citou como exemplo de distorções o impedimento de que o trabalhador cuide do gado, depois das galinhas e depois limpe o pasto. Quem acompanha o tema tem dificuldade de entender a senadora, ou de encontrar o nexo entre o que ela diz e os fatos. Primeiro, a Norma Regulamentadora 31 foi discutida, durante quatro anos, por uma comissão tripartite da qual a CNA participou; segundo, o que configura o trabalho escravo ou degradante é o artigo 149 do Código Penal e não essa instrução; terceiro, não há na lista nada que impeça que um trabalhador tenha várias funções na fazenda. Até 2003, o artigo do Código Penal que condenava o trabalho análogo à escravidão era genérico, e isso favorecia as fazendas irregulares. Mas o Congresso alterou o texto — com voto contrário da então deputada Kátia Abreu. O Código, agora, descreve quatro condutas que configuram o crime de reduzir alguém à condição análoga à de escravo: trabalho forçado; servidão por dívida; jornada exaustiva; trabalho degradante. A senadora reclama dessas normas dizendo que elas são fruto de preconceito ideológico contra a propriedade privada. Na verdade, não parecem ser contra o capitalismo, mas sim a favor do trabalho assalariado e, com garantias e direitos, que é da natureza do próprio capitalismo. Não cumprir essas regras seria restituir uma ordem medieval do trabalho. Só uma minoria das empresas é encontrada com trabalho escravo, mas os casos não deixam dúvidas de que o país não está diante de uma picuinha de fiscais preconceituosos, ou de normatização compulsiva do governo. Os flagrantes são repulsivos. E o Ministério do Trabalho admite que só se fixa em 30% daquelas normas, as que são mais elementares. Em 2005, a destilaria Gameleira, em Mato Grosso, foi autuada com mil trabalhadores com salários atrasados, em condições de moradia e alimentação inaceitáveis. A empresa foi autuada quatro vezes pelo mesmo crime. Não mudou de conduta, mas mudou de nome. Em julho de 2007, 1.064 trabalhadores foram encontrados na fazenda Pagrisa, no Pará, em alojamentos superlotados, esgoto a céu aberto, salário com descontos de remédios ao preço seis vezes mais alto que nas farmácias da cidade, e água de beber “da cor de caldo de feijão”, como diz o relatório. No dia 13 de novembro de 2007, os fiscais encontraram 820 índios trabalhando numa das sete fazendas do grupo José Pessoa de Queiroz Bisneto, em Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Eles trabalhavam com agrotóxico e depois comiam, sob o sol, sem ter, ao menos, água para retirar o produto das mãos. Entre várias cenas grotescas, os fiscais encontraram os trabalhadores amontoados em alojamentos mínimos. Em um deles, eram 20 pessoas em 26 metros quadrados. Em abril de 2010, em Aragarças, Goiás, 143 cortadores de cana vindos de vários estados eram obrigados a pagar pela comida e habitação, dormiam em barracos, e foram pagos com cheques sem fundo, não tinham repouso remunerado. Ao todo, de 2003 para 2009, foram encontrados 30 mil trabalhadores em condições análogas às da escravidão nas fazendas inspecionadas. Uma minoria é autuada. Outras são simplesmente advertidas ou orientadas sobre o cumprimento da lei. Nestas, em geral a fiscalização depois encontra tudo resolvido. A dúvida é: se não houvesse a fiscalização, elas mudariam a atitude? No caso de J. Pessoa de Queiroz Bisneto, no dia seguinte à operação ele me contou que tinha contratado banheiros químicos para os trabalhadores, instalado local com sombra para eles almoçarem e garantiu que reformaria os alojamentos. A senadora sabe que o problema existe. Algumas dessas fazendas, como a Pagrisa, ela até visitou para prestar solidariedade aos proprietários. A melhor defesa dos produtores rurais seria separar a minoria criminosa e lutar contra essa prática. Em vez disso, a líder ruralista ataca as exigências feitas pela fiscalização. Com ações assim, ela acabará convencendo o país que os empresários rurais são todos iguais. Se a CNA quiser falar sério sobre modernização, tem que começar desistindo de lutar no Supremo contra a lista que informa quem são as empresas criminosas. -------------------------------Valor Econômico - 03/05/2010 Royalties e redistribuição Por Joaquim Levy A atual produção de 2 milhões de barris por dia vale no máximo R$ 100 bilhões por ano, menos de 3% do PIB. Vencida a discussão sobre a fragilidade da Emenda Ibsen, que previa uma drástica e inviável repartição de todas as participações governamentais sobre a produção de petróleo e gás, cabe ao Senado propor uma forma adequada para a distribuição dos recursos do pré-sal não licitados. Essa proposta deverá obrigatoriamente garantir a atual divisão de recursos sobre os campos já licitados, em produção ou não, visto se tratar de direitos já existentes. Mas, sobre a eventual divisão de recursos dos campos não licitados, pode-se iluminar a discussão com algumas observações. A primeira é que a discussão do papel redistributivo das receitas da produção de petróleo e gás tem que se dar à luz de todos os mecanismos de redistribuição de recursos fiscais existentes, e não isoladamente. A segunda observação é que a motivação de mudar o marco do petróleo introduzindo a partilha é a presunção de que o setor público passaria a capturar talvez o dobro dos atuais 20% do valor de cada barril obtidos pela combinação de royalties e participações especiais. Portanto, qualquer discussão do pré-sal deve partir da premissa de que há mais a ser repartido entre os entes da federação. A terceira observação - núcleo deste artigo - é que o uso das receitas fiscais sobre a produção de petróleo e gás para fins redistributivos, especialmente mediante repartição da base de cálculo dessas receitas, só faz sentido se essas receitas forem significativas dentro do total das receitas públicas. Caso contrário, a experiência internacional é de se usar essas receitas principalmente para compensar produtores, sendo os objetivos nacionais alcançados com o uso da parte do governo central, e.g., por meio de fundos especiais. De fato, nos Estados Unidos, os Estados produtores ficam com 27% dos royalties, o resto indo para fundos de pesquisa e proteção ambiental da União. No Canadá, a Província de Alberta fica com 80%, e a província da Nova Escócia tem mesmo o poder de regular a produção e a cobrança de royalties (em conjunto com o governo central). Nessas federações, onde a produção de petróleo é grande em valor absoluto, mas compõe apenas uma pequena parte do PIB e das receitas públicas, as províncias produtoras são as principais beneficiárias dos royalties. Pode haver apenas uma repercussão na fórmula de repartição de transferências federais, com as províncias produtoras ganhando menos transferências porque têm maior renda própria. Ao se olhar para países menos desenvolvidos como a Indonésia, México, Rússia ou Nigéria, em quase todos eles parte significativa dos recursos fica na região produtora, apesar do maior peso da receita de petróleo nas receitas públicas totais desses países. Na Indonésia, os estados e municípios produtores ficam com 15% da receita, e o resto vai para o governo central (com exceção de Papua, que tem regime especial e fica com 70% das receitas). No México e Rússia as províncias produtoras também têm receitas próprias, ainda que o governo central redistribua parte do que recebe entre os entes não produtores. De todo modo, na Rússia, cinco províncias ficam com quase toda a receita. Na Nigéria, por outro lado, a falha em compensar as províncias do delta do rio Niger, em frente do qual se dá a maior parte da produção, é há anos causa de uma séria guerrilha, que não se conforma em ficar apenas com o impacto ambiental e a visão das torres das plataformas queimando gás em frente às suas belas praias, enquanto falta energia nas cidades da costa e os royalties parecem ir para a elite que controla a empresa especialmente formada para administrar os contratos com as concessionárias. Esses exemplos são relevantes para o Brasil, porque o total de royalties e participações somou menos de R$ 20 bilhões em 2009, enquanto a receita do governo central excedeu R$ 600 bilhões e a arrecadação do ICMS ficou na faixa de R$ 200 bilhões. Ou seja, a receita de petróleo somou menos de 2,5% das receitas públicas do país, sendo que metade já pode ser usada pela União para atender estados e municípios. É evidente que não se faz política de redistribuição com uma quantidade tão ínfima de recursos, especialmente os 1% que ficam com o Estado do Rio de Janeiro. Mais ainda, os recursos de redistribuição incluem R$ 11 bilhões de renúncia fiscal da Zona Franca de Manaus, R$ 30 bilhões de alíquota interestadual de ICMS favorecida para o Norte e Nordeste, o crédito subsidiado para a agricultura e outras atividades, além dos R$ 100 bilhões dos Fundos de Participação de Estados e Municípios-FPE e FPM. Assinalese que, enquanto, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo ficam com menos de 5% do FPE (4,03%, mais especificamente), há vários estados em que esses recursos correspondem a mais de 1/3 do orçamento estadual. O pré-sal não muda essa equação. Imagine-se que a produção de petróleo duplique e que a receita por barril também dobre por conta da partilha. Nesse caso, as participações governamentais aumentariam para R$ 80 bilhões. Portanto, a proposta original do Estado do Rio de Janeiro, pela qual o governo estadual ficaria com entre R$ 10 e R$ 12 bilhões e os municípios fluminenses com R$ 3 a 5 bilhões, deixando os outros R$ 60 bilhões para a União e, eventualmente, para os entes não produtores continua válida. O Rio chegou a propor e o Senado pode ratificar que 25% do Fundo Social previsto pelo governo sejam transferidos para aplicação autônoma por estados e municípios nas áreas prioritárias do Fundo. Isso daria consistência intertemporal e dimensão redisitributiva às receitas, finitas, do petróleo, ainda que não se deva criar a ilusão entre eleitores e cidadãos de que esses recursos serão tão vultosos quando comparados com o conjunto das receitas fiscais ou da economia. De fato, sempre é bom lembrar que a atual produção de 2 milhões de barris por dia, vale no máximo R$ 100 bilhões por ano, ou menos de 3% do PIB. Mesmo com o pré-sal, supondo que a Petrobras desenvolva rapidamente as reservas que tem e que receberá, levando a produção para 5 milhões de barris dia, estaria se falando de 5% do PIB de hoje, ou 3% do PIB de 2020. Então a divisão das receitas de petróleo tem que se basear em realidades econômicas e não nas fantasias que parecem se incendiar quando se fala no "ouro negro". Joaquim Levy é secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. ------------------------------Correio Braziliense - 02/05/2010 O outro Fome Zero Antonio Machado Crescimento sem poupança equivale a consumir a comida da despensa, esvaziando-a para o sucessor O que será da economia no novo governo depende de quem se elegerá presidente em outubro. Mas algo é sabido: o sucessor do presidente Lula vai assumir com a economia bombando. E isso será problema. Do Produto Interno Bruto (PIB) se espera crescimento roçando os 6% a 7% na passagem para 2011, um salto só visto em 1986, o ano da euforia e frustração do Plano Cruzado, tendo como contrapartida a inflação. Quanto mais o PIB deslanchar, mais a inflação se soltará em relação à meta imposta pelo governo ao Banco Central: 4,5%. A inflação passada e a prevista para 2010 estão acima de 5% e há quem diga que ela poderá passar de 6%. Não só a inflação, também o deficit das contas externas, que tende a saltar de 1,55% do PIB em 2009 para 2,5% este ano e seguir em frente. Não há o risco de que vá desembocar em crise cambial. O câmbio flutuante se encarrega de restaurar o equilíbrio desvalorizando o real. É o que o exportador deseja. É também o que o presidenciável José Serra defende. Câmbio depreciado, porém, é como carboidrato para a inflação e a engorda de modo ruim, tipo fast food, pois corrói o salário real e só atende ao exportador se tiver efeito duradouro. Isso implica à política econômica segurar a inflação à custa da transferência de renda do consumo de famílias e de setores que não são liquidamente exportadores, como serviços. Trata-se de uma escolha política. Se em economia o que acontece de um lado da equação de equilíbrio se compensa com outro resultado em sentido contrário, e é assim, ou a inflação promove o ajuste na marra, melhor que se faça antes que os desajustes se consumam. É o que o crítico do BC não quer ver. É também o que omite quem prega moeda fraca: que isso traz perda real de renda, especialmente de salários. Não há outro jeito, caso se precise de divisas e da demanda externa para haver crescimento econômico sustentado. Mas há sequelas. Elas deveriam ser assumidas com transparência, não vendidas como indolores e progressistas. Por que tais impasses da economia não se fazem ainda presentes? A primeira resposta é que isso vem com o tempo. O mercado financeiro é que já antecipa tal cenário. A segunda é que assim seria em 2008 para 2009, sem a crise global. Já se saiu dela, e voltou a contradição de uma economia carente de mais infraestrutura e produção para atender a demanda interna — alavancada pela ascensão social — e a externa. Lula parou reformas... A produção e a infraestrutura são insuficientes para a demanda em crescimento, a etapa superior depois do longo ajuste econômico que vem desde o Plano Real, em 1994. Ao governo Lula, caberia continuá-lo na direção do investimento. Ele o fez no segundo mandato, sob a marca do PAC, mas sem a agenda de reformas (como da Previdência e a tributária) pensadas para amoldar o maior investimento no PIB. Até este ano, a economia veio sem explodir devido ao intervalo da recessão importada. Difícil que vá mais longe sem que os gastos do Estado e de famílias deem passagem para o investimento produtivo. ...e se pôs a acelerar É a opção conflituosa do crescimento, ou trade-off, como dizem os economistas, resultante da baixa taxa de poupança nacional sobre o PIB. “A restrição real não é a pouca demanda do investimento”, diz o economista Fernando Montero. “Isso é falso. Restrição é a pouca oferta de poupança, definida como o espaço aberto na economia para acomodar o investimento.” O governo não deve pensar assim. Lula quer tudo. Da universalização de banda larga à megausina de Belo Monte, da ampla cobertura dos programas sociais aos aumentos reais do salário mínimo todos os anos, da exploração do pré-sal em regime de monopólio pela Petrobras à expansão do Banco do Brasil. A dieta que engorda É como se estivesse consumindo toda a comida da despensa. Quem vier depois dele, vai achá-la vazia. Recompô-la exigirá escolhas. A dos investimentos está tomada. Seria pior paralisá-los, e expansão do parque industrial e da infraestrutura é de que o país mais precisa. O investimento deverá expandir-se mais que o consumo de famílias, invertendo a ênfase que move o crescimento. Mas só se o BC tiver sucesso em postergar a demanda apertando a Selic. Não há certeza de que consiga. Os fatores que a inflam estão fortes e ganham massa. O investimento é um deles. O gasto público e o de famílias são os outros dois. Não dá para os três apostarem corrida.O aumento de juros pelo BC, neste cenário, equivale à dieta que prescreve exercícios e não corta calorias. O que o sujeito perde na academia recupera na mesa. Sem contenção fiscal, fica difícil. Um faz, outro desfaz O problema é que o governo, como que tomado pela fome de carimbar todos os investimentos que puder, trocou a reativação da poupança por dívida pública emitida pelo Tesouro. Nem deu a chance a que os fundos voluntários disponíveis no mercado se exibissem ao freguês. O governo quer para si o mérito, devido à crença de que falta ao empresariado vontade de investir e, quando há, só o faz com dinheiro subsidiado. O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que conhece como poucos a alma empresarial, sabe que não é bem assim. Falta é tirar os óbices ao financiamento voluntário de longo prazo, o que já vem sendo estudado. As ideias devem maturar depois de 2010. Como o governo tem pressa, fica assim: o Tesouro faz, o BC desfaz — e o próximo governo que refaça o que não deveria ter sido feito. ----------------------------O Estado de S.Paulo - 03/05/2010 Estado mínimo e o patrimonialismo Pedro Cavalcanti Ferreira Amplos setores da sociedade brasileira, como a esquerda e parte da burocracia governamental, rejeitam a ideia do Estado mínimo, que seria ideologia advogada, entre outros, por economistas de formação mais tradicional, como eu. Para nós desse grupo, porém, ela não é nem considerada, entre outras razões, pelo simples fato de o Estado mínimo não existir. Sua defesa não faz sentido dentro da moderna teoria econômica. É um mito. Então por que utilizá-la como argumento? Por manipulação ideológica e recurso de retórica. O ataque àqueles que supostamente o defendem serve, em essência, para dissimular interesses equivocados, quando não escusos. Os que defendem o capitalismo de Estado inventaram esse fictício inimigo, socialmente insensível e politicamente fraco, para evitar defender seus reais motivos. O contrário do Estado mínimo, por tal retórica, seria a presença estatal nos "setoreschave" ou "estratégicos" da sociedade, grande o suficiente para defender interesses nacionais, gerar desenvolvimento, combater males sociais e resolver os problemas do povo tão sofrido. Aqueles que atacam o fantasma do Estado mínimo e defendem o Estado máximo ignoram ou fingem ignorar que a tradição do Estado no Brasil, desde a Colônia, é de transferência de renda para grupos de interesses, associados, parentes e os próximos do poder. São capitanias, sesmarias e cartórios, concessões, rádios para os amigos, grandes (e pequenas) colocações ou rendas vitalícias, fortunas com fornecimentos ou monopólios, extração de renda por licitações, vantagens e outros recursos. É também certa burocracia coroada que considera seu direito arrumar empregos para parentes e amigos, que veem o governo como oportunidade natural e lícita de aumento patrimonial. Estado grande significa grandes oportunidades. Qualquer curso decente de Economia ensina que economias de mercado funcionam imperfeitamente. Ideias como a mão invisível de Adam Smith são perfeitas no papel espetaculares construções teóricas sujeitas a hipóteses drásticas, como inexistência de oligopólios e informação perfeita para os agentes. Para reproduzir melhor o funcionamento real observado dos mercados, é preciso relaxar hipóteses, resultando em alocações diferentes das ótimas. Nos últimos 30 anos, as áreas de estudo que mais se desenvolveram dentro da moderna teoria econômica foram as que tentam explicar o porquê das imperfeições e as soluções diante delas. Um bom exemplo é a teoria da regulação. Se, em certas transações econômicas, indivíduos têm informações que outros não têm, agências reguladoras podem e devem impor contratos que ou limitem comportamentos que beneficiam poucos ou disseminem informações. No caso, por exemplo, do banco Lehman Brothers, cuja falência esteve no centro da crise financeira de 2008, os diretores tinham informações que os clientes e acionistas não tinham - a excessiva exposição a ativos arriscados. Uma regulação de livro texto teria evitado ou diminuído os problemas causadores de sua quebra. Excesso de poder de mercado na mão de poucas empresas de um determinado setor pode implicar acordos de preço, prejudicando todos os seus consumidores. Por isso, agências regulatórias devem combater a cartelização e impedir fusões e "consolidações" setoriais que gerem excesso de concentração, como a fusão da Oi com a Brasil Telecom. Algumas decisões devem ser mediadas ou impostas pelo Estado. É o caso da educação pública. Ricos e pobres devem ter as mesmas chances, e a irresponsabilidade de pais não deve comprometer todo o futuro de uma criança. Assim, o Estado deve intervir oferecendo recursos, "nivelando o campo", igualando oportunidades ou obrigando as crianças a permanecerem na escola. Há muitos outros exemplos bem estabelecidos. Atividades de benefício coletivo e difícil financiamento privado, como segurança, justiça, defesa, infraestrutura (em certos casos), devem ser ofertadas pelo Estado e financiadas por impostos. Outras causam perdas coletivas e benefícios privados - poluição, por exemplo - e devem ser reguladas. Há questões sociais, como aposentadoria e renda mínima, que exigem alguma presença dos governos. São inúmeros exemplos, mas o ponto é que existe grande gama de atividades em que a atuação do Estado é essencial ou desejável. Disso resultará não o Estado mínimo, mas um tamanho ótimo do Estado. Há uma tradição do pensamento econômico, que se inicia no século 19 e passa pela escola estruturalista e pela Cepal, que defende intervenção pública na esfera produtiva com argumentos e lógica interna mais sólidos. Por vezes, o debate foi dominado por essas correntes e políticas do passado - como com JK e o governo militar - foram inspiradas em suas ideias. A discordância, nesses casos, é comum em debates científicos e políticos e faz parte do processo de evolução e embate de ideias. Está a quilômetros de distância da manipulação ideológica que observamos hoje. Por que mudar a regulação do petróleo que tem funcionado bem? Por que transferir R$ 200 bilhões para o BNDES subsidiar o setor privado? Por que não privatizar atividades que o setor privado opera melhor e a menor custo que estatais? Por que financiar educação superior de ricos? São questionamentos sobre a atividade governamental, atacados como impatrióticos ou antissociais por setores da esquerda que se vestem de defensores do interesse nacional, mas na verdade servem a interesses particulares. São instrumentos para a manutenção de um estado de coisas em que os perdedores não são os supostos defensores do Estado mínimo, mas a população, que assiste, recebendo migalhas, à grande festa patrimonialista brasileira que se perpetua há 500 anos. É PROFESSOR DA ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS ------------------------------Folha de S.Paulo - 02/05/2010 Solavancos na eurolândia Luiz Gonzaga Belluzzo AS BOLSAS de Valores andam aos solavancos no mundo inteiro. Dançam ao ritmo das expectativas e avaliações dos investidores a respeito da solução da crise grega. Pior ainda, diante das hesitações da liderança europeia, os mercados endurecem o jogo e transmitem o vírus da desconfiança para as demais economias frágeis da eurolândia e da Europa do Leste. Em meio às expectativas sombrias dos mercados financeiros quanto à solvência dos papéis soberanos da periferia europeia, os prêmios de risco dos infelizes vão às nuvens, e o euro declina diante do dólar. A edição da revista "The Economist" que chegou às bancas na sexta-feira faz coro à tese do contágio, diante da fragilidade da dupla ibérica -Portugal e Espanha, também encalacrados em deficit externos e fiscais elevados, endividamento público próximo ou superior a 100% do PIB (Produto Interno Bruto) e uma quase insanável deficiência competitiva. Na impossibilidade de uma desvalorização cambial, o ajustamento "made in Germany" vai requerer, além do corte de gastos, a redução de salários nominais, tanto no setor público como no privado. Isso tudo, dizem os alemães, para restaurar a competitividade dos combalidos compradores de seus produtos e devedores de seus bancos. Não vai funcionar, sugere a "The Economist". Em manobra de alto risco, os europeus criaram o euro, a moeda comum, sem construir um espaço fiscal comum e, assim, diante da crise financeira de seus membros mais frágeis, ficaram à mercê da boa vontade dos alemães, os grandes beneficiários da moeda única. Na ausência de um programa de refinanciamento e de transferências confiável, a "saída" mais provável é uma "corrida" contra os bancos gregos, portugueses e espanhóis, naturalmente com reverberações sobre os demais credores europeus, inclusive os alemães. Até ontem danificados em sua credibilidade por suas próprias façanhas, os "mercados" foram revigorados por formidáveis injeções de dinheiro, uma espetacular "inflação" de passivos monetários dos bancos centrais. Eles abrigaram em seus balanços a escumalha financeira do "subprime" e adjacências, montaram programas de troca de papéis podres por passivos de sua emissão, ou seja, dinheiro, enquanto os Tesouros emitiam títulos públicos para proteger a riqueza privada em estado periclitante. No auge da crise, os bancos centrais da cúspide capitalista cumpriram sua missão. Tão logo o pânico cedeu, os senhores da finança, montados na grana, não trepidaram em exigir prêmios de risco mais compensadores para rolar a dívida dos governos da Grécia, da Irlanda, da Itália, da Espanha e de Portugal. Os governos dos países supracitados, diga-se, são, ao mesmo tempo, vitimas e algozes da farra financeira e de seu triste destino, alvos e beneficiários da orgia de endividamento público e privado promovida pela internacionalização da "exuberância irracional". LUIZ GONZAGA BELLUZZO, 67, é professor titular de Economia da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Foi chefe da Secretaria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda (governo Sarney) e secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (governo Quércia). ----------------------------Valor Econômico - 03/05/2010 Mercado de carbono sem a ONU Karen Windham-Bellord Tentativa de leilão da BM&F Bovespa consolida o Brasil como um player no mercado global de carbono Nas discussões climáticas em Bonn, em Abril, com o objetivo de progredir nas negociações e definir questões organizacionais e metodológicas de trabalho, Yvo de Boer, presidente da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, afirmou que a próxima Conferência das Partes (COP), em Cancún, em novembro, não chegará a um instrumento definitivo para substituir o Protocolo de Kyoto, que expirará em 2012. A COP de Copenhague realizada em dezembro de 2009 não garantiu um acordo entre os 194 membros da Convenção do Clima (sendo que 190 ratificaram o Protocolo), mas a presidência da COP elaborou uma minuta de acordo, que tem sido criticado pela falta de transparência em sua elaboração. Todavia, até agora 112 países já o apoiaram. Para os mais otimistas, houve progresso porque houve promessa de financiamento de atividades de mitigação e adaptação em países em desenvolvimento de US$ 30 bilhões no período de 2010 a 2012 e de mais US$ 100 bilhões pós 2020. A possível falta de regulamentação das Nações Unidas para 2013 gera grande insegurança no mercado de carbono ligado a Kyoto. Tal mercado foi desenvolvido para que os países que se obrigaram a uma meta de emissão de gases causadores do efeito estufa (GEE) pudessem cumpri-las. O Protocolo de Kyoto serviu de inspiração para os mercados voluntários onde empresas estabelecem metas voluntárias de redução vão ao mercado para alcançá-las, por meio da compra de créditos (caso o preço da redução de suas emissões esteja acima do preço de venda do crédito) ou da venda de créditos (caso consigam diminuir as emissões de forma mais barata que o preço do crédito comercializado). Essa alocação de recursos promove a redução eficiente de GEE, sendo esse o grande mérito do mercado de créditos de carbono. O mercado de carbono de Kyoto tem movimentado menos recursos após a COP de Copenhague. A falta de consenso reside em questões básicas, tais como, se haverá um ou dois instrumentos sucessores de Kyoto, dividindo ou não as obrigações dos países desenvolvidos, em desenvolvimento e daqueles em economia de transição. Os países em desenvolvimento até há pouco tempo favoreciam a inexistência de qualquer forma de limitação em suas emissões uma vez que historicamente foram os países desenvolvidos que mais emitiram GEE. Todavia, na preparação para a COP, China, Índia e Brasil mudaram de posição e enviaram sinais positivos de sua disposição a assumir obrigações voluntárias. O grande problema a ser superado em Cancun é a total falta de confiança entre as partes devido ao fato de o Acordo de Copenhague ter sido fruto de uma negociação de alto nível com participação limitada, protegendo interesses limitados. Esta falta de confiança fez com que as conversas pós-Copenhague não atingissem resultados. O mercado voluntário por sua vez não sofre dessas incertezas, pois suas regras estão bem definidas e independem dos resultados das negociações nas Nações Unidas. Em 2009, os volumes negociados no mercado global de carbono foi de 82 bilhões de gigatoneladas, representando um aumento em 68% do volume negociado em 2008, ano em que o mercado havia aumentado o volume de negociações em 83% se comparado a 2007. Importante notar que esses aumentos representam um grande feito para o mercado de carbono pois várias commodities mundiais, no mesmo período, sofreram drásticas reduções em volumes negociados. Apesar do impressionante aumento no volume, os valores negociados em 2009, 2008 e 2007 são respectivamente US$ 136, US$ 133 e US$ 40 bilhões. A redução nos preços dos créditos voluntários não siginifica uma queda no interesse por tais títulos. No Brasil, a criação de um mercado voluntário vem sendo planejada pela BM&FBovespa desde 2005. Houve duas tentativas frustrada de leilão em 2007 e 2008 que ofereciam créditos da Prefeitura de São Paulo em relação a projetos de aterros sanitários sob os auspícios do Protocolo de Kyoto. Em 08 de Abril de 2010, a BM&FBovespa realizou um leilão, desta vez de créditos voluntários (não regulamentados por Kyoto) de 180 mil unidades. Tais créditos se originaram de nove projetos de biomassa gerenciados pela Carbon Social Serviços Ambientais em cerâmicas brasileiras espalhados por seis estados. Tais reduções foram verificadas por entidades credenciadas com preço entre R$ 10,00 e R$ 12,00 por unidade. O leilão terminou sem arrematações. Essa tentativa de estabelecer no Brasil um mercado voluntário de carbono pode parecer evidências de fracasso. Mas seria uma conclusão a que apressados chegariam. Os mais atentos sabem que tais tentativas representam um sucesso de empreendedorismo, consolidando o Brasil como um player no mercado global e fomentando o comércio de carbono dentro de um ambiente organizado. Também fornece aos geradores de créditos a opção de os venderem dentro do país com segurança, transparência e preços interessantes. Essas conclusões são bastante factíveis se compararmos o mercado de carbono com o Novo Mercado, também voluntário. O Novo Mercado demorou três anos para consubstanciar sua importância em aumentar e diversificar os investidores na Bolsa. Agora, os investidores exigem o selo da governança corporativa com regras transparentes, câmara de arbitragem para resolução de conflitos e maiores garantias para os acionistas minoritários. Em 2009, todas as ofertas públicas iniciais realizadas escolheram o Novo Mercado. Assim como o Novo Mercado demorou para decolar, acredito que as negociações de carbono na Bolsa seguirão o mesmo caminho até chegar o dia em que investidores darão preferência para empresas que possuam metas voluntárias de reduções, fomentando o volume de negociações de tais créditos. Karen Alvarenga Windham-Bellord, Universidade de Cambridge. é Ph.D em Economia Agrária pela ---------------------------------Folha de S.Paulo - 02/05/2010 Salários fracos e dívida bruta Vinicius Torres Freire O EMPREGO e o salário não se recuperam tão bem em São Paulo como noutras partes do país. O mercado de trabalho paulista parece mais fraco que o da média nacional, ao menos segundo as estatísticas disponíveis. Na média nacional, a massa dos rendimentos cresceu 5,2% em março, segundo dados do IBGE divulgados na quinta-feira. Isto é, a soma dos rendimentos do trabalho de março foi esse tanto maior que faz 12 meses. Na região metropolitana de São Paulo, o crescimento da massa salarial foi um quarto disso: 1,3%. O avanço da massa salarial em São Paulo perde para os de Recife (15,7%), Salvador (4,3%), Belo Horizonte (12,4%), Rio de Janeiro (7,5%) e Porto Alegre (7%). São Paulo puxou a média nacional para baixo. Faz um ano, as coisas não eram assim. Em março de 2009, o avanço da massa salarial em 12 meses havia sido de 5,8% na média nacional. Em São Paulo, de 6,2%. Em março de 2008, a expansão da massa salarial havia sido outra vez de 5,8%. Em São Paulo, de 5,9%, praticamente a mesma coisa. Ainda segundo a pesquisa de emprego do IBGE, o salário médio caiu nos últimos três meses, sempre na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Caiu 1% em janeiro, 2,6% em fevereiro, 4,5% em março. Na média nacional, a média dos salários caiu 0,4% em janeiro, mas subiu 0,9% em fevereiro e aumentou ainda 1,5% em março. Sim, parece que São Paulo está criando empregos, mas com salários menores. Nos dados do Ministério do Trabalho, isso fica aparente. Trata-se dos números do Caged, a respeito do saldo de empregos formais (contratações menos demissões). O Caged não é uma pesquisa, mas um registro do emprego com carteira assinada. Nos últimos 12 meses, o número de empregos formais cresceu 5,16% no Estado de São Paulo, ante 5,35% da média nacional. No primeiro trimestre deste ano, o crescimento do emprego com carteira assinada na região metropolitana de São Paulo também acompanhou o das demais metrópoles. Dívida do governo Muito se falou, após a crise, que a dívida bruta do setor público no Brasil havia crescido muito. Em geral, no Brasil se acompanha a dívida líquida (a dívida bruta menos os haveres dos governos). Em março, a dívida líquida era equivalente a 42,4% do PIB. No mesmo mês, a dívida bruta era de 60,4%. A dívida bruta subiu porque o governo tomou empréstimos no mercado para injetar dinheiro em bancos públicos, o grosso no BNDES, de modo a sustentar a continuidade do investimento e evitar recessão mais feia. Esses empréstimos aparecem apenas na dívida bruta. Mas o pessoal do mercado começou a dizer que esse aumento era preocupante, embora a dívida líquida permanecesse comportada. Mas essa dívida que o governo fez tem muita chance de ser paga. São empréstimos do BNDES, de baixíssima inadimplência. E a dívida bruta já tombou: de 63,1% para 60,4% do PIB, de fevereiro para março, segundo lembram os economistas do Bradesco. Começa a voltar para um nível anterior ao da crise (em dezembro de 2008, era de 56,3% do PIB). O mercado exagerou. ------------------------------O Globo - 03/05/2010 O paraíso perdido Paulo Guedes Humanos, demasiadamente humanos são os excessos, a falta de moderação, as ambições desmedidas. Essas manifestações ocorrem espontaneamente nos mercados, mas são também muitas vezes o resultado do destempero de governos. E as grandes catástrofes ocorrem quando erram todos juntos. Na crise atual, as primeiras manifestações dessa falta de comedimento foram os excessos dos bancos centrais, das agências de crédito imobiliário e dos financistas anglosaxões. Houve mesmo quem apressadamente anunciasse o último suspiro do capitalismo global. Particularmente no Brasil, muita gente saltou de uma conveniente política fiscal contracíclica, com o governo gastando mais quando a economia está retraída, para a defesa de uma nova era de expansão permanente dos gastos públicos. Nada mais equivocado. Uma coisa é o remédio de curto prazo: a economia americana, como também a brasileira, reagindo favoravelmente às políticas de reaquecimento da demanda prescritas por Keynes. Mas os novos sintomas da crise se manifestam agora exatamente no antigo paraíso da social-democracia europeia. Que por décadas não soube ou não quis enfrentar os gastos públicos exagerados, a rigidez de seus mercados de trabalho, os benefícios sociais abusivos e a vergonhosa discriminação contra imigrantes. O euro trouxe, no início, crédito fácil e barato para todos. Mas, quando baixou a maré do crédito, apareceu quem nadava pelado. Os anjos caídos do paraíso, como Grécia e Portugal, não têm mesmo para onde fugir. Pois a disciplina fiscal imposta pela moeda única exige inapelavelmente a correção dos abusos. A crise é por enquanto dos países com finanças frágeis, que não podem mais desvalorizar suas também frágeis moedas como instrumento de ajuste (diriam os gregos) ou como rota de fuga à disciplina exigida (diriam os alemães). Adotando o euro, perderam sua taxa de câmbio como instrumento para correção de rumos. Terão de recuperar suas finanças públicas sob a terrível ameaça de deflação. Os alemães se recusam a financiar a farra dos gregos. Mas terão de pagar impostos para salvar seus próprios bancos em caso de calote da dívida grega. Por isso são tão prestativos os franceses. Mas, por baixo do véu da moeda única, são insustentáveis os fundamentos econômicos do paraíso social-democrata europeu, como será amplamente demonstrado nos próximos anos pelo suplício de gregos, portugueses e outros mais. --------------------------------- Folha de S.Paulo - 02/05/2010 A crise europeia Albert Fishlow A GRÉCIA , e mais recentemente Portugal e Espanha, dominaram a imprensa financeira nas últimas semanas. As dívidas soberanas desses países tiveram sua classificação rebaixada, mais radicalmente no caso da Grécia, cujos títulos a Standard & Poor"s agora classifica como "junk bonds". Os juros sobre eles, com isso, dispararam. Para as pessoas que se interessam por história, os acontecimentos atuais dificilmente constituem surpresa. Afinal, no século 4 a.C., as cidades gregas declararam moratória sobre os empréstimos tomados para construir o templo de Delos; e, no século 19, depois de conquistar a independência política, a Grécia deu mais quatro calotes. As circunstâncias modernas são um pouco mais complicadas. Todos os países mencionados fazem parte da União Europeia e adotaram o euro. O Tratado de Maastricht fixa um conjunto de condições a satisfazer quanto a um nível de deficit fiscal inferior a 3%, uma magnitude de dívida pública inferior a 60% do PIB, bem como baixa inflação. No início, as coisas pareciam estar funcionando bem, e a convergência estava funcionando. O valor do euro subiu de modo impressionante ante o dólar. Com a recente crise de 2007/8, a situação escapou completamente ao controle. Um indicativo das dimensões do problema está em a Grécia ter registrado no ano passado deficit fiscal superior a 14%, relação entre dívida pública e PIB superior a 100% e inflação em queda após índice superior a 4% em 2008. Outros países enfrentaram problemas, mas não dessa magnitude, e tentaram resolvêlos. Um bom exemplo é a Irlanda. Também infelizmente, o problema persiste há meses. Os líderes da União Europeia se reúnem e fazem promessas a cada crise, mas estão sempre atrasados. Os pacotes de assistência prometidos foram sempre insuficientes, e o FMI se envolveu tarde demais, e apenas por iniciativa do primeiro-ministro grego, George Papandreou. A Alemanha demonstrou claramente que é um líder relutante na União Europeia. O motivo é compreensível. O público alemão não vê grandes motivos para fornecer os recursos requeridos. Até recentemente, claro, os alemães estavam felizes com a venda continuada de exportações de seu país à Grécia. Isso resultava em empregos na Alemanha. E a Grécia não está sozinha em seus problemas. A Alemanha mantém superavit em seu comércio com os demais países da União Europeia e financia a crescente dívida de muitos dos demais países. Historicamente, uma situação como essa teria resultado em valorização do marco, mas com o euro essa possibilidade desapareceu. Um ajuste conduzido por meio de taxas de câmbio já não é possível. Isso força a Grécia a reduzir diretamente a demanda interna e a renda disponível. Não surpreende que haja, no país, grande resistência a esse desfecho. Os sindicatos estão resistindo vigorosamente. Preferem o passado de altos salários, consumo ampliado e maior endividamento. Resolver a situação não será fácil. Fundamentalmente, a Alemanha terá de consumir e importar mais, enquanto os demais países poupam e exportam mais. Mais fácil falar sobre um equilíbrio sustentável como esse do que atingi-lo. Não avançamos muito nesse sentido, até agora. Existe um indicador claro da importância internacional dessa questão. Depois que o Banco Central brasileiro elevou a taxa Selic em 0,75 ponto percentual, na quarta, a edição de quinta do "Financial Times" não teve espaço para um artigo sobre o assunto. A preocupação com a Europa era intensa demais. Tradução de PAULO MIGLIACCI ALBERT FISHLOW, 74, é professor emérito da Universidade Columbia e da Universidade Berkeley. ----------------------------------- ECONOMIA & OUTRAS NOTÍCIAS O Estado de S.Paulo - 02/05/2010 Déficit da indústria já supera US$ 7 bilhões Real valorizado, demanda forte e baixo investimento em tecnologia estão ampliando o déficit da balança comercial da indústria. No primeiro trimestre do ano, o rombo chegou a US$ 7,1 bilhões, na comparação com os US$ 2,7 bilhões de igual período de 2009. No caso de produtos mais sofisticados, como eletrônicos, carros ou máquinas, chegou a US$ 13,6 bilhões, superando os US$ 12,7 bilhões de 2006. Saldo comercial com produtos básicos esconde rombo bilionário da indústria Raquel Landim O saldo da balança comercial está no azul, mas esconde um "rombo" nas trocas da indústria brasileira com o exterior. Só nos primeiros três meses deste ano, os fabricantes de produtos mais sofisticados - como eletrônicos, remédios, químicos, carros ou máquinas - amargaram um déficit recorde de US$ 13,6 bilhões. O déficit é 42% mais alto que o do primeiro trimestre de 2009, revela o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi). O valor supera os US$ 12,7 bilhões de todo o ano de 2006, apenas quatro anos atrás. A conta não inclui itens que passam por poucos processos industriais, como alimentos, combustíveis ou celulose. Influenciados pelas commodities, os produtos acima reduzem quase pela metade o déficit total da indústria. Ainda assim, o saldo negativo chegou a US$ 7,1 bilhão no primeiro trimestre, acima dos US$ 2,7 bilhões de igual período em 2009. "A indústria brasileira está perdendo espaço no mundo", disse o economista do Iedi, Rogério Cesar Souza. Para o vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, o déficit é resultado de fatores conjunturais (crescimento e real forte) e estruturais. "O investimento em tecnologia é baixo." Com uma alta de até 7% prevista para o Produto Interno Bruto (PIB) este ano, o Brasil está ávido por importados, que ficaram mais baratos graças ao real forte. As famílias brasileiras consomem mais carros, eletrônicos e cosméticos. Boa parte desses produtos é feita no País, mas precisa de insumos importados. Explosão. Dados do Ministério do Desenvolvimento apontam uma explosão nas importações das grandes empresas. No primeiro trimestre, as compras externas cresceram 82% na LG, 70% na Dell, 111% na Roche e 80% na Caterpillar. Nas montadoras, a alta chega a 43% na Fiat, 56% na Volks, 49% na Ford, 128% na Peugeot e 252% na Renault. As importações da Philips aumentaram 436% no primeiro trimestre em relação a igual período de 2009. O diretor industrial para América Latina, Julio Pacini, atribui a alta ao mercado aquecido por causa da Copa do Mundo e às mudanças de tecnologia. As TVs com telas de cristal líquido (LCD) estão substituindo os aparelhos com tubo. O problema é que o tubo é feito no País, enquanto as LCDs são importadas. A Philips é a primeira a montar TVs de LCD no Brasil, o que permite usar plástico, metais, placas e embalagens nacionais. Mas não resolve a questão, porque as telas respondem pela maior parte do valor do produto. As importações da Samsung subiram 111% no primeiro trimestre. Segundo o vicepresidente da Samsung, Benjamin Sicsú, a empresa ganhou participação em celulares, começou a vender máquinas fotográficas, desativou a fábrica de tubos televisivos e está importando LCDs. Troca de fornecedores. O coordenador do grupo de indústria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), David Kupfer, avalia que as empresas estão substituindo insumos nacionais por importados para aproveitar o câmbio valorizado. "A indústria desenvolveu uma grande flexibilidade de fornecimento. Quando compensa, importa." Outro fator que piora o déficit da indústria é o desejo das pessoas por produtos importados - um sonho que se torna mais palpável com o aumento da renda e do crédito. As importações da Caoa, que traz para o País os carros da Hyundai, cresceram 137% no primeiro trimestre. Segundo a assessoria de imprensa da Mercedes-Benz, as vendas de carros importados com preço médio de R$ 400 mil cresceram muito. A empresa vendeu 80% mais caminhões e ônibus, que são feitos no País, mas utilizam peças importadas. As importações da Mercedes avançaram 69% no trimestre. Para o chefe do departamento de pesquisa econômica do BNDES, Fernando Puga, há um forte ciclo de investimentos em curso, o que é um sinal positivo da indústria, apesar do déficit na balança. "Quem está em má situação financeira, não compra uma casa", compara. Ele avalia que esses investimentos vão gerar uma maior oferta de produtos e ajudar a "conter as importações". O déficit da indústria de alta e média tecnologia vem crescendo consistentemente. Saiu de US$ 15,2 bilhões em 2000 para US$ 51,9 bilhões em 2008 e US$ 44,8 bilhões em 2009 - um pequeno recuo por causa da crise. -------------------------------------- O Globo - 03/05/2010 Grécia recebe da Europa e do FMI a maior ajuda da história Resgate à Grécia de 110 bilhões busca frear contágio na zona do euro ATENAS, BERLIM e BRUXELAS No maior socorro já concedido por organismos multilaterais a um país, a Grécia fechou ontem um acordo que prevê financiamentos recordes de 110 bilhões em três anos. O pacote, negociado com a União Europeia (UE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), visa a salvar o país de sua gigante crise de dívida pública - que já pode estar perto de 150% do PIB -, ainda frear abalos financeiros na zona do euro, a começar por Portugal e Espanha e proteger a moeda única do bloco. Em contrapartida, a Grécia precisará cumprir rígidas medidas de austeridade, que incluem congelamento de salários e mais impostos, que levariam o país a um corte orçamentário de 30 bilhões em três anos. A população, contudo, não ficou nada satisfeita com os sacrifícios para a obtenção do resgate e, ontem mesmo Atenas foi palco de protestos de milhares gregos. Sindicatos planejam greves gerais Dos 110 bilhões, 80 bilhões serão bancados pelos 16 países da zona do euro a um taxa de juros ao redor de 5% - metade do juro exigido pelos mercados na semana passada para a compra de títulos da dívida grega, mas quase dois pontos percentuais acima da exigida dos bônus alemães, referência do mercado europeu. O restante a juro menor virá do FMI. Ainda neste ano, a Grécia receberá 30 bilhões da zona do euro. O país receberá os primeiros recursos antes do dia 19, quando o governo grego tem de honrar 8,5 bilhões em dívida. Para tanto, os parceiros europeus se reunirão na próxima sexta-feira para liberar o resgate, após aprovação parlamentar onde necessário - como na Alemanha, o maior credor, que participará com 22 bilhões. O conselho do FMI deve aprovar esta semana sua parcela de 30 bilhões, segundo Dominique Strauss-Kahn, diretor gerente do fundo. - É um pacote de apoio sem precedentes para um esforço sem precedentes do povo grego - disse ontem o primeiro ministro da Grécia, George Papandreou. Em troca do primeiro resgate de um membro da zona do euro, Papandreou anunciou mais cortes de gastos e impostos. Salários e aposentadorias do setor público ficam congelados até 2012. Pretende-se reduzir o déficit orçamentário, que em 2009 era 13,6%, para os limites da UE (de 3%) até 2014. A Comissão Europeia e o FMI vão monitorar trimestralmente a Grécia, e os desembolsos estão condicionados às revisões. Caso não consiga cumprir as obrigações, o país enfrentará sanções, segundo fontes do governo. - Hoje temos que desenvolver um programa econômico que prevê esforços fiscais para recortar o déficit em 11 pontos (percentuais) do PIB ou 30 bilhões, começando agora e pelos próximos três anos - explicou George Papaconstantinou, ministro de Finanças da Grécia. Mas os gregos não concordam com as medidas que podem ser aprovadas pelo Parlamento na próxima sexta-feira, e, por isso, houve protestos em Atenas - alguns com episódios de violência. Os sindicatos já planejam iniciar greves gerais a partir de quartafeira numa reação aos cortes salariais. A eles Papandreou pediu que aceitem os "grandes sacrifícios" para evitar uma "catástrofe". - Estes sacrifícios nos darão espaço para respirar e o tempo de que necessitamos para realizar grandes mudanças - disse. - Quero dizer muito honestamente aos gregos que temos um grande teste à frente. Segundo Strauss-Kahn, o programa vai conduzir a uma economia mais dinâmica que trará mais crescimento, emprego e prosperidade: - Nosso esforço coletivo vai também contribuir para a estabilidade do euro e beneficiar toda a Europa. O Banco Central Europeu (BCE) acredita que o pacote financeiro vai "contribuir para restaurar a confiança e salvaguardar a estabilidade financeira da zona do euro". Em comunicado, o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, recomendou à Europa ativar a ajuda, classificando o plano de austeridade como "sólido e de credibilidade". - Essa ajuda será decisiva para ajudar a Grécia a colocar sua economia de volta nos trilhos e preservar a estabilidade da área do euro. A chanceler alemã, Angela Merkel, finalmente expressou seu apoio ao pacote grego, considerando o plano muito ambicioso e prometendo lutar pela aprovação parlamentar até a sexta-feira. O presidente americano Barack Obama ligou para Papandreou, dando apoio ao programa.
Download